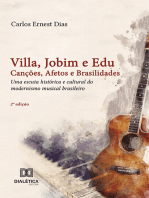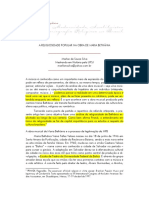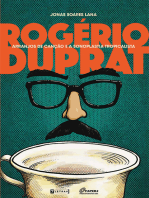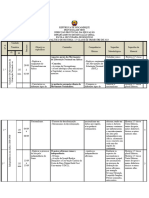Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Da Bossa Nova À Tropicália
Da Bossa Nova À Tropicália
Enviado por
nalierTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Da Bossa Nova À Tropicália
Da Bossa Nova À Tropicália
Enviado por
nalierDireitos autorais:
Formatos disponíveis
DA BOSSA NOVA A
1ROPICLIA:
conteno e excesso na
msica popular
*
Santuza Cambraia Naves
RC 1o. 1: v
o
1 ;vvbo,2ooo
Lm 1968, Augusto de Campos reuniu no liro
aavo aa bo..a: avtoogia crtica aa voaerva
vv.ica ovar bra.ieira uma srie de artigos
seus e de msicos como Jlio Medaglia e Gilberto
Mendes, publicados anteriormente em suplemen-
tos literarios de jornais paulistas, que analisam,
entre outras experincias musicais recentes, como
a da tropicalia, o estilo desenolido pelos bossa-
noistas. Lstes autores, a propsito de deender
uma postura internacionalista e moderna na msi-
ca popular, em contraposiao aos idelogos do
nacional-popular`, ressaltam a atitude inoadora
dos criadores da bossa noa, particularmente a
igura de Joao Gilberto. Lles sao unanimes em
atribuir a Joao Gilberto uma postura que aloriza a
contenao, contraria ao emocionalismo excessio
da msica popular das dcadas de 40 e 50, e em
estabelecer uma correspondncia entre este proce-
dimento e outras maniestaoes estticas dos anos
50, como a poesia concreta e a arquitetura de Oscar
Niemeyer. Assim, segundo eles, ao introduzir um
registro musical intimista semelhante ao do coo
;a, a bossa noa harmonizar-se-ia com o ideario
de racionalidade, despojamento e uncionalismo
que teria caracterizado arias maniestaoes cultu-
rais do perodo. Vale acrescentar que se aloriza,
nesta tendncia, o procedimento bossa-noista de
rvtvra com tradioes anteriores da msica popu-
lar no Brasil. Assim, tal como os poetas concretos,
que teriam rompido com as tradioes retrico-
discursia e subjetiista na literatura, os msicos da
bossa noa, notadamente Joao Gilberto, pautariam
o seu trabalho pela rejeiao dos sambas-canoes e
dos boleros melodramaticos do perodo anterior, e
da maneira operstica de interpretar estas canoes,
ao estilo de Dala de Olieira e outros cantores do
perodo.
Lste tipo de interpretaao, desenolida pelos
poetas e musiclogos paulistas, tornou-se, de certa
orma, canonica, passando a constituir uma reern-
cia imprescindel para os estudiosos da msica
popular no Brasil. Mas obsera-se que, a despeito
da proundidade e pertinncia destas analises, elas
acabam absolutizando o perodo inicial da bossa
noa, em que, de ato, sob a batuta de Joao
Para a realizaao da pesquisa que deu origem a este
texto contei com a colaboraao das pesquisadoras do
Centro de Lstudos Sociais Aplicados ,CLSAP,, da Uni-
ersidade Candido Mendes, Juliana de Mello Jabor,
Maria Micaela Bissio Neia Moreira e 1hais Medeiros.
lui tambm auxiliada por lelosa 1apajs e Kate Lyra.
Agradeo a todas.
36 RLVIS1A BRASILLIRA DL CILNCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
43
Gilberto, parte-se para um tipo de experimentaao
musical bastante ainada com as propostas da poe-
sia concreta. Assim, por exemplo, emos que as
msicas inaugurais da noa tendncia musical apa-
recem como canoes-maniesto. Desainado`
,1958, e Samba de uma nota s` ,1960,, compostas
por 1om Jobim, em parceria com Newton Mendon-
a, introduzem um tipo de procedimento em que
letra e msica, ao mesmo tempo em que se comen-
tam mutuamente, azem alusoes as noidades musi-
cais. Os elementos de transgressao da bossa noa
encontram-se presentes sobretudo em Desaina-
do`: no momento exato em que se pronuncia a
slaba tonica da palara desaino` ocorre, no plano
da msica, uma nota inesperada, que representa
uma transgressao aos padroes harmonicos da msi-
ca popular conencional. Outro procedimento que
caracteriza as duas composioes, colocando-as em
correspondncia com o tipo de sensibilidade da
poesia concreta, a maneira coo de se lidar com a
tematica amorosa. Lm Desainado`, por exemplo,
a pretexto de uma arenga sentimental, discute-se,
na erdade, uma questao esttica.
1udo lea a crer, portanto, que a bossa noa`
que interessa aos concretos a que se singulariza
pelo intimismo, pela concisao, pela racionalidade e
pela objetiidade, o que conerge pereitamente
com a proposta de Joao Gilberto. L justamente
neste ponto que eu gostaria de acrescentar alguns
dados a discussao, chamando a atenao para outros
aspectos do que se conencionou chamar de estilo
bossa-noa`. Poderia lembrar, num primeiro mo-
mento, que nem todos os integrantes da bossa noa
se sentiam atrados, como Joao Gilberto, por um
procedimento de ruptura mais radical com o passa-
do da msica popular, embora todos reconheces-
sem uma liderana na igura deste msico, princi-
palmente com relaao a amosa batida` que ele
inenta no iolao e a sua maneira de cantar a meia
oz, com um tivivg pereito e nenhuma nase
emotia. Dito de outro modo, a bossa noa permite
diersas leituras, principalmente por parte dos m-
sicos que participaram desta tendncia. Se ha uma
unanimidade entre eles quanto a percepao de Joao
Gilberto como um lder, cada um, porm, acena
para procedimentos dierentes com relaao as tradi-
oes incorporadas. Assim, por exemplo, todos ad-
mitem a inluncia do ;a mais requintado que se
desenole nos Lstados Unidos a partir dos anos 40,
do bebo ao coo ;a, sobre os msicos que se
propoem a recriar o samba natio. Mas alguns, mais
do que outros, reconhecem o impacto do bolero,
principalmente o desenolido no Mxico, com
Lucho Gatica. Roberto Menescal, por exemplo, ao
alar sobre as noidades estrangeiras que o marca-
ram proundamente na ase de sua ormaao musi-
cal, reere-se ao LP voriaabe, de Lucho Gatica,
que recorria apenas a dois instrumentos - iolao e
baixo - para o arranjo, rompendo com a tradiao
do bolero de utilizar grandes orquestraoes. Segun-
do Menescal, este procedimento oi importante
para que ele e outros msicos de sua geraao
ormassem o habito de ouir o iolao`, que assim,
dialogando apenas com o baixo, aparece destaca-
do, singularizado.
1
Carlos Lyra tambm se reere as msicas
mexicanas, como os boleros de Agustin Lara, que
seriam reerncias importantes para ele e os seus
companheiros de geraao. L de maneira cari-
nhosa o repertrio anterior de sambas-canoes,
que denomina de boleros brasileiros`, embora
distinga, dentro desta tradiao, os mais soistica-
dos` e os melodramaticos. Assim, segundo ele,
Antonio Maria incorreria nos dois procedimentos,
criando canoes pesadas, como Ningum me
ama`, e composioes reinadas como Ser ou nao
ser` e Um cantinho e oc`. Lyra admite que
desperta` para a msica ouindo os sambas-
canoes interpretados por Dick larney, e que
comea a sua carreira musical compondo neste
gnero, como o caso de Quando chegares` e
mesmo de Minha namorada`, meio samba-
canao`, uma espcie de msica de transiao para
a bossa noa. Lsse estilo musical teria entao,
segundo ele, uma gama ariada de inluncias:
alm do bolero mexicano, do impressionismo de
Rael e Debussy, do ;a desenolido por Ger-
shwin, Cole Porter, Richard Rogers, Larry lart e
arios outros compositores. As inluncias estran-
geiras somam-se as misturas brasileiras de samba,
xaxado, alsa, alm de outros ritmos. Lnim, para
Lyra, se Joao Gilberto mais identiicado como
cantador de samba, existem outros ritmos dentro
da bossa noa, da alsa ao baiao.
2
DA BOSSA NOVA A 1ROPICLIA 37
Jos Miguel \isnik, em seu liro o Coro ao.
covtrario. ,1983,, identiicou dois procedimentos
modernistas undamentais: de um lado, um rigor
construtio, como o de \ebern, que recorre ao
mito do evgevbeiro, e de outro, o recurso a bricoa
gev, tao caro a Strainski, Villa-Lobos e outros
compositores da poca. Analisando O ev.avevto
.eragev, de Li-Strauss ,1989,, Jacques Derrida
,191, deine o engenheiro` como um sujeito que
osse a origem absoluta do seu prprio discurso e o
construsse com todas as peas``. Lm trabalho
anterior ,Naes, 1998,, argumentei que o mito do
evgevbeiro nao tee lugar na experincia moder-
nista brasileira porque tanto os msicos quanto os
poetas do moimento tenderam a assumir uma
postura antropoagica - semelhante a preconizada
por Oswald de Andrade em maniesto ,192, -,
ajustando-se mais ao peril do bricoevr delineado
por Li-Strauss: um tipo de produtor que se deine
pela maneira incorporatia de realizar suas opera-
oes, utilizando sempre os instrumentos ja dispon-
eis, ao contrario do evgevbeiro, que subordina
cada tarea especica a obtenao de matrias-
primas e de utenslios concebidos e procurados na
medida do seu projeto` ,Li-Strauss, 1989, p. 33,.
As imagens ortes trazidas a baila por Li-Strauss,
como a do caeiao.cio ou da coagev - sucessi-
as coniguraoes de imagens obtidas mediante a
combinaao de um certo nmero de textos isuais
-, ajudaram-me a pensar na possibilidade moder-
nista de se atingir a modernidade sem recorrer a
tabula rasa, procurando-se, ao contrario, criar o
tipo noo` atras de arranjos que atualizam reper-
trios ariados, porm initos, de nossa tradiao
cultural ,Li-Strauss, 1989, p. 52,. O que mais me
interessaa nesta discussao era justamente ressaltar
o ato de que os msicos e os poetas modernistas,
no Brasil, partilhaam uma mesma isao do pas,
qual seja, a de um unierso inesgotael de inorma-
oes culturais, tanto arcaicas quanto contempora-
neas, tanto regionais quanto uniersais. A esta
imagem de pujana seguia-se, naturalmente, a idia
de se tentar incorporar a riqueza cultural ao traba-
lho artstico.
Associei o procedimento excludente de Joao
Gilberto, ao inaugurar um estilo conciso e racional
que rompia com ormas musicais anteriores, ao
registro do evgevbeiro, retirado de uma mitologia
que pressupoe um marco zero, a partir do qual tudo
se cria por ontade - e projeto - de um aevivrgo.
Joao Gilberto, a maneira de um demiurgo, teria
dado orma a bossa noa, mesmo porque este tipo
de criaao musical nao resultou propriamente de
um projeto, embora tenha sido compartilhada por
arios msicos. Lm outras palaras, nos arios
relatos sobre a bossa noa, Joao Gilberto sempre
aparece como o autor` de um estilo: a batida` que
cria ao iolao e a sua maneira nica de interpretar.
Se tudo indica, por exemplo, que ele captou o gosto
emergente pelo ;a camerstico, nao ha dida,
por outro lado, de que a noa orma musical da
bossa noa em muito se deeu a sua obsessao por
um ritmo e uma harmonia inteiramente noos,
compateis com a sua interpretaao dos tempos
modernos ,Castro, 1991,. Assim, Joao Gilberto in-
corporou repertrios tradicionais, recriando, rtmi-
ca e harmonicamente, sambas de diersos autores
por meio da usao com o ;a. Por outro lado, ele
rompeu com os gneros associados ao excesso em
arias de suas maniestaoes na msica popular,
como o exibicionismo operstico` ,expressao cu-
nhada por Augusto de Campos, 1968, e os arranjos
que recorriam a orquestraoes grandiosas.
Retomo, no entanto, o argumento de que o
estilo bossa-noa nao se exaure com a esttica de
Joao Gilberto, mostrando-se, pelo menos do ponto
de ista de msicos ligados a esta tendncia,
bastante diersiicado. Recorro, a ttulo de exem-
plo, a igura de 1om Jobim. Se ningum tem
didas quanto a inluncia de Joao Gilberto sobre
1om, pelo menos no momento inicial da bossa
noa, nao se pode esquecer, no entanto, que este
compositor haia comeado a sua carreira musical
num momento anterior as inoaoes do inal dos
anos 50. O prprio 1om declarou em entreista,
em 1968, que a bossa noa oi apenas uma ase na
sua carreira, 80 de suas composioes - entre
elas canoes de camara, undo de ilmes, msica
sinonica, muito samba-canao, muito choro` -
nao se enquadram no gnero.
3
De ato, 1om inicia a sua ormaao musical,
por olta dos 13 anos, dentro dos parametros da
msica erudita. Seu primeiro proessor oi lans
Joachim Koellreuter, o msico alemao reugiado do
38 RLVIS1A BRASILLIRA DL CILNCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
43
nazismo que introduziu o dodecaonismo no Brasil.
Segundo depoimento de Koellreuter, ele teria pas-
sado a 1om nooes de harmonia e contraponto
classicos e rudimentos de execuao pianstica`,
pois o que interessaa ao proessor era dar ao aluno
uma instruao globalizante` ,Koellreuter ava Ca-
bral, 199, p. 45,. Mais tarde, 1om estudou piano
classico com Lcia Branco, 1omas Gutierrez de
1eran ,amigo pessoal de Villa-Lobos, e Paulo Sila.
Desde cedo, mostrou-se desestimulado com o ensi-
no escolastico` da Lscola Nacional de Msica, o
que o azia recorrer a proessores particulares.
Ainda joem, comeou a se interessar por orques-
traao, passando a reqentar o 1eatro Municipal e
a comprar partituras e graaoes de msicos que o
entusiasmaam no momento, como Strainsky,
Schoenberg e Prokoie. Por razoes de sobrein-
cia, trabalhou, no incio da dcada de 50, como
pianista nos inerninhos` de Copacabana, at con-
seguir um emprego na Continental, onde, escreen-
do partituras para compositores e azendo arranjos
para orquestra, entrou em contato com outros
arranjadores, como Radams Gnattali, Gaya, Lo
Peracchi e Lyrio Panicalli.
4
Chama particularmente a atenao, na trajet-
ria artstica de 1om Jobim, a sua tendncia a dar
continuidade, dentro do campo popular, a uma
tradiao musical erudita` que, se nao oi inaugura-
da, pelo menos oi muito marcada pelo modernis-
mo nacionalista de Villa-Lobos. 1rata-se de uma
tradiao que recorre ao ece..o - tanto sinonico
quanto coral - como orma de representar um
Brasil exuberante, pujante em seus elementos si-
cos e culturais ,Naes, 1998,. Quanto a esta inter-
seao entre o erudito e o popular em prol de uma
esttica grandiosa, alguns msicos aparecem como
mediadores entre Villa-Lobos e 1om Jobim, como
o caso de 1omas 1eran e Radams Gnattali.
1eran, pianista espanhol, iajou para o Brasil aos
2 anos em unao do seu ascnio pela obra de
Villa-Lobos, particularmente pela pea . roe ao
beb, que ouiu em Buenos Aires executada por
Arthur Rubinstein. A partir deste primeiro impacto,
especializa-se em Villa-Lobos, a quem conheceu
em 1924, em Paris. De olta a Luropa, executa as
obras do compositor brasileiro na capital rancesa
e, conidado por Villa-Lobos para lecionar no
Conseratrio de Msica e na Sociedade de Cultura
Artstica do Rio de Janeiro, em morar no Brasil no
incio dos anos 30 ,Cabral, 199,.
Na condiao de proessor de piano de 1om
Jobim, 1eran ressalta a importancia de Radams
Gnattali na sua prpria ormaao musical. 1om
em a ter contato mais estreito com Radams em
1954, por ocasiao da graaao da ivfovia ao Rio
ae ]aveiro ,1om Jobim-Billy Blanco,, da qual este
ora arranjador, e no ano seguinte, na Continental,
onde 1om se airmaria como seu discpulo na arte
de orquestrar composioes populares ,Cabral,
199,. Porm, mais do que uma mera questao
tcnica de instrumentaao, 1om compartilha com
o mestre duas atitvae.: uma, a de transitar - como
msico, compositor e arranjador - com desenol-
tura pelos domnios do erudito e do popular, outra,
a de se permitir experimentar os mais diersos
estilos, operando tanto no registro da .iviciaaae
quanto na esttica do ece..o. Lsta maneira de
atuar, caracterstica de Radams, permitiu que ele
izesse uma erdadeira reoluao nos arranjos de
msica popular a partir do incio dos anos 30. At
a interenao do maestro, as execuoes de msica
popular limitaam-se ao acompanhamento dos
regionais`, conjuntos musicais pobremente cons-
titudos, tanto em termos numricos quanto criati-
os. A partir das experimentaoes instrumentais de
Radams - ao lado de Pixinguinha, na Victor, a
partir de 1932 -, com sua ormaao adquirida nos
estudos de instrumentaao erudita, como pianista
e iolista, os arranjos de msica popular recebem
elementos da orquestra sinonica e do ;a. Rada-
ms deu continuidade a este tipo de experimenta-
ao instrumental por muitos anos, na Columbia, e
posteriormente na Radio Nacional, nas dcadas de
40 e 50 ,Didier, 1996,.
A analise da trajetria musical de Radams
tem grande importancia para o trabalho que desen-
olo na medida em que permite identiicar, no
compositor, um gesto voaervi.ta. 1al como os
modernistas musicais da geraao que o precedeu,
Radams preocupa-se em criar, por meio da msi-
ca, um idioma nacional`. Suas composioes, tais
como as de Villa-Lobos e outros compositores,
alimentam-se do repertrio popular. Os msicos
da geraao modernista propriamente dita, entre-
DA BOSSA NOVA A 1ROPICLIA 39
tanto, mostram-se bastante presos ao registro eru-
dito e tendem a incorporar preerencialmente as
peas olclricas, rejeitando, por questoes progra-
maticas, a msica popular produzida pela mdia -
o popularesco`, segundo Mario de Andrade ,Ma-
riz, 1983,. 1alez at pelas diiculdades de sobrei-
er como msico erudito no Rio de Janeiro, Rada-
ms aproxima-se cada ez mais da msica popular,
trabalhando como pianista em cinemas e teatros e,
posteriormente, como imos, como iolista e ar-
ranjador. Nestes ambientes noturnos, az amizade
com msicos populares, como Luciano Perrone,
Pixinguinha e outros choroes, alm dos pianeiros`
da Casa Vieira Machado, na rua do Ouidor, de
quem transcree msicas para a partitura e com
quem aprende um jeito brasileiro de tocar piano
que, na poca, existia somente no Rio de Janeiro`
,Didier, 1996, p. 16,. Assim, alm de se tornar
criador` de msica popular, compondo choros e
outros gneros, Radams interere na execuao
deste tipo de msica, alterando-lhe o carater com
arranjos requintados. Carlos Didier lembra que ele
atua tambm num procedimento inerso, que o
de lear para a msica erudita os elementos das
rodas de choro, dos pianeiros e das ;a bava.
norte-americanas. L, segundo Didier, na Radio
Nacional que Radams amadurece como orques-
trador e compositor, exercitando liremente a sua
criatiidade com noas experimentaoes musicais.
1rabalhando com msicos da estatura de Lo
Peracchi, Romeu Ghipsman e Lyrio Panicalli, ali ele
compoe e arranja para trios, quartetos, quintetos,
explora noos timbres` ,Didier, 1996, pp. 23-24,.
Radams atua tambm, principalmente a par-
tir dos anos 40, como uma espcie de mediador
entre estilos musicais mais soisticados e a msica
brasileira, estilizando o samba atras do recurso a
orquestra de cordas e a um tipo de harmonia
proeniente da msica erudita e do ;a. Consta
que esta mistura produzida pelo compositor-arran-
jador teria sido um parametro para os msicos que,
no inal dos anos 50, partiram para a experincia
bossa-noista ,Didier, 1996,. Data, por exemplo,
de 1954, como imos, uma maior aproximaao de
Radams com 1om Jobim, a propsito da graaao
da ivfovia ao Rio ae ]aveiro, obra composta por
1om e Billy Blanco que seria lanada no mesmo
ano pela Continental, com arranjos de Radams e
sob a regncia de 1om. A pea consiste de arios
moimentos, cada qual tematizando aspectos da
natureza e da cultura do Rio de Janeiro. L os
intrpretes oram os mais ariados, como Dick
larney, Gilberto Milont, Llisete Cardoso e Lmili-
nha Borba, entre outros. Concebida a maneira de
um musical, a ivfovia ao Rio ae ]aveiro
comparael, segundo Jaime Negreiros, crtico mu-
sical de expressao na poca, a |v avericavo ev
Pari., de Gershwin ,Cabral, 199,. Radams ressal-
ta os aspectos da composiao que celebram o Rio
de Janeiro - a montanha, o sol, o mar`, o morro`
e o asalto, o samba e outros aspectos da cidade`
- misturando instrumentos sinonicos com os
utilizados na execuao de msica popular: cordas,
metais, madeiras, be., acordeom, quarteto e pia-
no, baixo, iolao eltrico e bateria com escoinha`
,Didier, 1996, pp. 2-28,.
A partir de 1955, com a ida de 1om Jobim para
a Continental, onde passa a azer arranjos orques-
trais, a semelhana de sua trajetria com a de
Radams torna-se ainda mais marcante. Nao por
acaso, portanto, que neste mesmo ano 1om
conidado por Radams a participar do programa
Qvavao o. vae.tro. .e evcovtrav, na Radio Nacio-
nal, onde rege a pea sinonica evaa, que compos
em memria de seu pai, Jorge Jobim ,Cabral, 199,.
Mas nao s de peas sinonicas iia o
joem compositor. A primeira composiao de 1om
a ser graada, em 1953, por Maurici Moura ,pela
Sinter, em 8 rotaoes,, o samba-canao Incer-
teza`, que az em parceria com Newton Mendona.
Srgio Cabral ,199, comenta que esta msica se
identiica muito com o clima dos anos 50, princi-
palmente a letra, que narra o sorimento de um
protagonista de um caso de amor. Alm de sambas-
canoes soturnos, 1om, muito ersatil neste mo-
mento inicial de sua carreira, parte tambm para
outras experincias no gnero, como 1eresa da
praia` ,em parceria com Billy Blanco,, que compoe
em 1954 a pedido de Dick larney, para cantar em
dupla com Lcio Ales. Nesta canao, letra e
msica se harmonizam para expressar uma situa-
ao conlituosa e ao mesmo tempo carinhosa entre
dois amigos em idlio com a mesma musa da praia
do Leblon. Ao ins do clima voir de Incerteza`,
40 RLVIS1A BRASILLIRA DL CILNCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
43
em que se ie uma noite sem Lua`, 1eresa da
praia` solar, concebida com muito esprito. As-
sim, os dois amigos desistem da disputa pela musa
e resolem 1eresa na praia deixar, aos beijos do
Sol, e abraos do mar`. A msica, um samba-
canao concebido a maneira de um .avbabve
,Cabral, 199,, contribui bastante para a leeza e o
humor da composiao.
1om Jobim demonstra, portanto, desde o
incio de sua carreira, que nao tem um peril
musical deinido por um nico tipo de sensibilida-
de. Se exibe, sem dida, uma certa ocaao para
a produao de composioes exuberantes, ao estilo
sinonico, tambm se mostra apto a criar peas
mais intimistas, como o caso de 1eresa da praia`.
Mas tudo indica que a sua tendncia ao ece..o se
maniesta desde cedo, principalmente se conside-
ramos os relatos sobre os seus exerccios musicais,
no inal dos anos 40, com obras de Gershwin,
Rael, Debussy e Villa-Lobos, entre outros, e sobre
o seu ascnio` com a descoberta dos composito-
res russos Rachmanino, Prokoie e Strainsky
,Cabral, 199,.
Voltando ao ponto inicial da discussao, 1om
Jobim, de ato, enole-se com o estilo bossa-
noista, chegando a compor, com Newton Men-
dona, Desainado` e Samba de uma nota s`,
canoes lapidares da tendncia e proundamente
ainadas com o esprito intimista que Joao Gilberto
pretende conerir a noa experincia musical. Mas
o encontro entre 1om Jobim e Joao Gilberto nao
teria sido isento de tensoes, como relata Ruy Castro
ao descreer a produao do LP Cavao ao avor
aevai., de 1958, considerado um marco da bossa
noa. As dierenas entre os artistas enolidos no
projeto - Joao Gilberto, 1om Jobim, Vincius de
Moraes, Llisete Cardoso, alm dos msicos instru-
mentistas - quanto a concepao e realizaao do
disco se izeram sentir desde o incio. Se Joao
Gilberto buscaa noas linguagens, os demais inte-
grantes do grupo orientaam-se por um estilo mais
conencional ,pelo menos na isao de Joao Gilber-
to,. Joao Gilberto nao gostaa da graidade` com
que Llisete interpretaa as msicas, assim como nao
apreciaa a letra de Vincius para Serenata do
adeus`, que consideraa de mau gosto. L, na
erdade, o encontro de 1om com Vincius, por olta
de 1956, quando oi chamado para musicar a pea
Orfev ao Carvara, ja haia marcado decisiamente
a sua carreira. Lm seguida, Vincius lhe solicitou as
msicas para o ilme Orfev vegro, dirigido por
Marcel Camus, que acabou premiado em arios
pases e diulgou a obra de 1om no exterior. loi a
partir da que o compositor se tornou conhecido
pelo grande pblico ,Castro, 199,.
Mas o ato que, passado o perodo inicial da
bossa noa, 1om retoma a sua ocaao para o
excesso e olta a recorrer a costumeira isao
modernista do Brasil como o ocv. por excelncia
da italidade, um pas rtil em elementos naturais
e culturais. Alias, a prpria esttica bossa-noista
passa a conier com a recuperaao do excesso
como representaao de pujana cultural, como o
demonstra o seu desenolimento nos anos 60. A
princpio, com a esttica do CPC da UNL, em que
se busca juntar o ritmo da bossa noa com outras
inormaoes musicais, notadamente as nordesti-
nas, ou mesmo com as coniguraoes musicais na
linha aro, desenolidas por msicos como Jorge
Ben e Baden Powell. L logo em seguida, com a
geraao que surge em meados dos anos 60, repre-
sentada tanto por cancionistas quanto por msicos
instrumentais, como Chico Buarque de lollanda,
Ldu Lobo, Caetano Veloso e Gilberto Gil.
Chico Buarque um bom exemplo de msico
da geraao ps-bossa-noa que nao s incorpora a
batida` inaugurada por Joao Gilberto como adicio-
na a este ritmo outros elementos do repertrio
musical brasileiro ,Moreira, 1999,. Chico admite
explicitamente que, por olta dos 15 anos, ao ouir
pela primeira ez Joao Gilberto interpretando Che-
ga de saudade`, conerteu-se a bossa noa: loi a
que eu peguei em um iolao. Comecei a azer
msica mesmo a partir desse momento`. Mas o
compositor airma que, a despeito da atitude de
ruptura que inerente a bossa noa, ela nao o teria
impossibilitado de buscar noas ontes para suas
composioes, principalmente aquelas situadas no
perodo de criaao do chamado samba tradicio-
nal`. Segundo Chico, a ruptura total` durou apenas
trs ou quatro anos, depois disso, alguns dos mais
importantes nomes da bossa noa retornam a Noel
Rosa, Cartola e Nelson Caaquinho, e passam a
compor canoes que ja nao podem se enquadrar na
DA BOSSA NOVA A 1ROPICLIA 41
esttica bossa-noista.
5
O prprio Chico, no incio
de sua carreira, reedita Noel atras de Rita`,
samba que recria a atmosera de dor-de-cotoelo e
humor que caracteriza a sensibilidade do composi-
tor de Vila Isabel, citado explicitamente na letra.
Se ampliamos, entretanto, o tema discutido
para alm do processo de composiao, podemos
analisar outros aspectos da bossa noa que inlu-
enciaram Chico Buarque, como, por exemplo, a
maneira intimista de lidar com o palco, ao estilo de
Joao Gilberto, recorrendo apenas ao banquinho e
iolao`. Chico admite que este tipo de esttica se
adequaa a sua isao de artista, ja que ele nunca se
iu como um artista de palco`, com antasias,
mascaras, igurinos e moimentaao de palco`,
mas apenas como um autor de msicas no palco`.
Assim, ao entrar no palco com a roupa que usa
normalmente no cotidiano e ao cantar como se
estiesse em casa, Chico registra a sua recusa de
criar uma er.ova. Lsta atitude, segundo ele, seria
uma reaao de oposiao absoluta a esttica ante-
rior, que era a esttica do auditrio de radio, dos
brilhos, do Cauby Peixoto, das grandes estrelas`. A
bossa noa, ao contrariar este tipo de extroersao,
criou um cenario dierente, com artistas que nao
eram artistas e cantores que nao eram cantores`.
6
Ldu Lobo assume uma atitude semelhante ao
recusar nao apenas a mascara, como tambm o
palco, o que tem a er com a sua identidade
artstica, construda basicamente a partir do traba-
lho de compositor. As outras atiidades que desen-
ole como instrumentista, orquestrador e intrpre-
te seriam ramiicaoes` do seu trabalho. O palco,
para ele, uma exigncia da proissao, ou, dito de
outro modo, tem a er com as condioes do
compositor no Brasil, em que se praticamente
obrigado a azer .bor.
Lm termos propriamente
musicais, Ldu Lobo talez seja o melhor exemplo
de um compositor da geraao 60 que da continuida-
de a tradiao inaugurada por Radams na msica
popular. Alm de compositor, Ldu atua tambm
como orquestrador, atiidade para a qual se prepa-
rou durante dois anos nos Lstados Unidos. L embo-
ra se considere um msico popular, tem uma
ormaao tcnica raramente ista neste domnio,
responsael, em grande parte, pela soisticaao de
suas harmonias e dos seus arranjos. 1al como
Radams, ele aprecia um tipo de esttica modernis-
ta mais exuberante, menos contida, como a de
Rael, Strainsky, Bartk, Copland, Prokoie - e,
naturalmente, Villa-Lobos. Chega a questionar a
nase excessia que se da ao ;a como elemento
ormador da bossa noa, pois este estilo musical
soreria tambm a inluncia de compositores mais
antigos, principalmente Villa-Lobos. Assim, segun-
do Ldu, as canoes lricas da bossa noa - de 1om
Jobim, Carlinhos Lyra e Baden Powell, entre outros
- teriam a alma do Villa`. Como Chico Buarque,
ele admite o impacto da batida` do iolao de Joao
Gilberto sobre a sua msica, embora eja o seu pr-
prio trabalho como uma ramiicaao da bossa noa,
ja que, como outros msicos de sua geraao, tende
muito mais a misturar peas dierentes do repertrio
musical do que a lidar com um estilo claramente
deinido. L neste sentido que ele reconhece a
ascendncia de Villa-Lobos sobre a sua ormaao
musical, cuja lexibilidade lhe seriria de parametro
para misturar a inormaao que tinha de msica
nordestina - ja que, por questoes amiliares, passa-
a as rias em Recie at os 18 anos, ouindo de
tudo, coisas populares, reos e o que inha da
rua` - com toda a escola harmonica que tinha
aprendido com a bossa noa. L tambm a partir
deste tipo de constataao que Ldu Lobo, tal como
Chico Buarque, ressalta a singularidade da geraao
a que pertence, ormada imediatamente aps a
eclosao da bossa noa. Ao contrario de msicos
mais ortodoxos ligados a noa tendncia, que
criaam, segundo Ldu, uma rmula para a bossa
noa, alguns compositores comearam a abrir mais
o estilo, entre eles Srgio Ricardo, Carlos Lyra e
Baden Powell. Lsses msicos teriam comeado a
perceber que o Brasil nao s o Rio de Janeiro`.
8
Sem dida, o cenario musical assolado pela
chamada geraao ps-bossa` nao se esgota com as
contribuioes de Chico Buarque e Ldu Lobo. Os
dois compositores, entretanto, podem ser tomados
como iguras emblematicas desta geraao, nao s
pela sua importancia como ormadores do gosto
musical do perodo, como tambm por terem algo
em comum, nao por acaso, izeram parcerias em
arias composioes. Apesar de Chico se destacar
mais como cancionista, mostrando-se um habil
artesao ao trabalhar com msica e letra, e Ldu se
42 RLVIS1A BRASILLIRA DL CILNCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
43
especializar mais na composiao de msica - na
maioria das ezes recorrendo a um parceiro letrista
-, a sensibilidade de ambos parece conergir para
uma certa leitura da tradiao. 1anto um quanto o
outro tendem, por exemplo, a alorizar e recuperar
textos musicais legados pelo passado ou restritos a
espaos geograicos especicos. Mais do que pro-
priamente recorrer a citaao, eles estruturam o seu
trabalho a partir das inormaoes colhidas aps um
longo perodo de escuta e analise. Dito de outro
modo, como se o procedimento de ambos se
ancorasse na idia de recriaao`, tao amiliar a
certas tendncias modernistas inclinadas a ilosoar
em alemao`. Ldward Sapir, por exemplo, ligado ao
grupo de antroplogos da Lscola de Cultura e
Personalidade norte-americana, lida de uma manei-
ra muito particular com a questao da herana
cultural. lortemente undamentado em Nietzsche,
questiona, a propsito de se criar uma identidade
nacional saudael`, a aceitaao passia do legado
do passado. Assim, segundo Sapir, o processo
criatio, por um lado, nao signiica a manuatura da
orma e vibio`, isto , a partir do zero, mesmo
porque o indiduo se tornaria impotente` se nao
lanasse mao da herana cultural. Mas, por outro
lado, a orma - legada pela tradiao - dee ser
submetida a ontade` de algum, pois o passio
perpetuador de uma tradiao cultural da-nos sim-
plesmente uma maneira, a casca de uma ida que
passou` ,Sapir, 1949, p. 299,. Imbudos de um
esprito semelhante, os dois compositores citados
- Chico Buarque e Ldu Lobo - alorizam a
tradiao musical brasileira mas operam de modo a
criar algo .ivgvar a partir do leque de opoes
disponeis. Chico, por exemplo, ao retomar o
samba urbano dos anos 30, tende a priilegiar as
composioes de Noel Rosa que tematizam a igura
do msico-malandro como marginal e transgressor,
o que se coaduna com sua postura contestadora,
caracterstica da segunda metade dos anos 60.
Aps esta passagem rapida por algumas das
tendncias predominantes na msica brasileira nos
anos 60, ica claro que todas elas - com exceao da
bossa noa - apresentam uma caracterstica co-
mum: um procedimento que se pauta pela ivcv
.ao, muito prximo ao do bricoevr analisado por
Li-Strauss. Chico Buarque e Ldu Lobo, como
imos, optam pelo recurso a recriaao, comum a
uma certa tradiao modernista que, ainada com o
neo-romantismo alemao, mostra-se muita ia no
pensamento modernista de Mario de Andrade. No
v.aio .obre a vv.ica bra.ieira, de 1928 ,1962,,
Mario s a possibilidade de uma coniguraao
cultural ital atras da msica - isto , o desenol-
imento da msica artstica` - a partir do aproei-
tamento do populario` - ou seja, as msicas
olclrica e popular arraigadas na tradiao nacional.
Mas a plena realizaao da msica artstica` requer,
por outro lado, uma srie de elaboraoes ormais, o
que signiica uma transiguraao, para o registro
erudito, das peas musicais ornecidas pela tradi-
ao, em outras palaras, trata-se de recriaao.
Os msicos tropicalistas, na medida em que
tambm operam com a idia de ivcv.ao, exibem
de igual modo uma sensibilidade modernista. S
que, desta ez, a conergncia se da com Oswald
de Andrade, com a sua predisposiao para recolher
- ou deorar` - peas as mais dspares do
repertrio cultural, com o propsito de dispo-las
em consonancia com uma sntese coerente, porm
nao totalizante, a maneira do processo de colagem.
Os baianos assumem tambm, a maneira de Oswald,
a atitude antropoagica, deorando elementos ar
caico., inculados a tradiao, e voaervo., associa-
dos as inoaoes tcnicas. Do mesmo modo, as
importaoes culturais sao incorporadas sem qual-
quer temor de descaracterizaao de uma suposta
pureza nacional, ja que a cultura brasileira ista
como rica e pujante o suiciente para deglutir tudo
que possa ir de ora: Nunca omos catequizados.
lizemos oi carnaal.` ,Andrade, 192, p. 16,.
No moimento tropicalista, a tradiao musi-
cal alorizada, embora se aa um recorte die-
rente dos elementos culturais a serem utilizados. A
concepao tropicalista de riqueza cultural` abran-
ge desde o roc aliengena aos ritmos regionais ja
consagrados, e mostra-se lexel o suiciente para
incluir o it.cb como um item a mais do tesouro
nacional. Amplia-se, portanto, a concepao de
riqueza cultural`: alm da criaao mais soistica-
da`, mesmo que produzida no registro popular, o
esteticamente pobre` tambm passa a ser precio-
so. A soisticaao aparece no processo de elabora-
ao das msicas, nos arranjos meticulosos, nas
DA BOSSA NOVA A 1ROPICLIA 43
erforvavce., nas capas dos LPs - elementos que
traem a inluncia das tendncias progressistas do
roc da poca. Ao incorporar o impacto dos
Beatles a sua esttica, os tropicalistas estao atuali-
zando o gesto da geraao anterior, que dez anos
antes utilizou, na elaboraao da bossa noa, os
procedimentos do ;a mais aanado de seu
tempo. L os tropicalistas assumem radicalmente o
palco, encarnando publicamente, atras de dier-
sas mascaras e coreograias, o sincretismo que
realizam entre os arios gneros musicais. Da
mesma orma em que ha uma relaao entre a sua
esttica e a imagem artstica, msica e letra, desde
a concepao, mantm entre si uma correspondn-
cia isomrica. Os arranjos intererem com o mes-
mo peso. Guitarras eltricas, incorporadas do roc,
coniem com a sonoridade it.cb dos iolinos e
com o berimbau da msica regionalista. A guitarra
eltrica, retirada do unierso do roc e incorpora-
da a cena tropicalista, aparece como smbolo de
moimento cultural. Lste instrumento ajuda a com-
por o espetaculo de roupas coloridas, cabelos
encaracolados e apresentaao cnica moimenta-
da e parodstica ,Ribeiro, 1988,.
O roc, porm, apenas um de toda uma
ariedade de elementos dspares. Os tropicalistas
lanam mao dos mais diersos textos e - o que
mais importante - os trabalham atras de um
exerccio de metalinguagem, por meio da araia
ou do a.ticbe. Mas, mesmo alendo-se de proce-
dimentos parodsticos e, portanto, crticos, nao se
trata de uma crtica corrosia, a tradiao costuma
ser tratada com carinho: com amor e humor`,
como diria Oswald de Andrade.
L carinhosa, por exemplo - e nada parods-
tica -, a atitude adotada com relaao a bossa noa,
principalmente ao seu mentor, Joao Gilberto. Lm
Saudosismo`, canao-maniesto de 1969, Caetano
proclama a retomada da linha dissonante inaugura-
da por Joao Gilberto:
Chega de saudade a realidade
que aprendemos com Joao
pra sempre a ser desainados
Mas, ao contrario da bossa noa, que se
orienta por um modelo de contenao, a tropicalia
recorre ao excesso, retomando inclusie uma tradi-
ao que, como imos, oi renegada pelos msicos
bossa-noistas: os arranjos grandiosos de iolinos
e de metais inaugurados por Radams e Pixingui-
nha, o estilo operstico de lrancisco Ales, o
uanismo de Aquarela do Brasil` e as dores-de-
cotoelo derramadas que datam dos anos 20 e
atraessam os anos 40 e 50, no samba-canao
,Castro, 1991,. Da mesma orma, os tropicalistas
ressuscitam Vicente Celestino, considerado a po-
ca o modelo do mau gosto, e Chacrinha, associado
ao grotesco, que se torna uma igura emblematica
do moimento, saudado inclusie por Gilberto Gil
na sua amosa canao de despedida, Aquele
abrao`, de 1969. Duas tradioes antagonicas o-
ram assim incorporadas num mesmo moimento: a
do ae.o;avevto, inculada a bossa noa, e a do
bi.triovi.vo do repertrio popular tradicional. Os
baianos inauguraram, portanto, com a tropicalia,
uma noa relaao com a aifereva, assumindo
uma postura airmatia e comprometendo-se de
modo indierenciado com todos os aspectos capta-
eis do unierso brasileiro, como o brega e o coo,
o vaciova e o e.travgeiro, o ervaito e o ovar,
o rvra e o vrbavo, e assim por diante.
A atitude tropicalista, portanto, rompe com o
conceito de orma echada - nao existe uma
rmula de canao tropicalista, tal como uma r-
mula de canao bossa-noa ou de samba-enredo
-, incluindo indiscriminadamente os elementos
destas diersas ormas echadas por ezes numa
mesma canao. Lm particular, o moimento az
questao de desconstruir a oposiao mais etichiza-
da de todas as existentes no perodo: a que se az
entre o nacional` e autntico`, de um lado, e o
aliengena` e descaracterizador`, de outro. Da as
palaras compostas, undindo um termo da cultura
popular brasileira com um outro que representa a
cultura de massa de origem norte-americana, como
batmacumba` e bumba-i-i-boi`. No plano mu-
sical, passo equialente se da aproeitando-se as
coincidncias rtmicas entre o rock e o baiao,
ambos em tempo binario ortemente marcado,
com andamento rapido e relatiamente pouco
sincopado. Do mesmo modo, a tropicalia se esor-
a por demolir outra oposiao marcante: a que se
da entre a linguagem acessel da msica popular
44 RLVIS1A BRASILLIRA DL CILNCIAS SOCIAIS - VOL. 15 N
o
43
e a metalinguagem erudita da crtica ,e da literatu-
ra,. As canoes de Caetano, Gil e seus companhei-
ros de moimento trabalham, tanto no plano da
msica quanto no da letra, com elementos baixos`
e eleados`: a soisticaao harmonica, meldica e
potica de Clara` conie com a singeleza ironica
de Baby`, e em Alegria, alegria`, uma letra que
lana mao de recursos poticos elaborados aco-
plada a um i-i-i acil e despretensioso.
Retomo aqui o argumento apenas esboado
na conclusao do meu liro O rioao av: voaer
vi.vo e vv.ica ovar, de que a atitude exclu-
dente do evgevbeiro dominou o cenario cultural
brasileiro por um perodo curto e relatiamente
atpico. Num momento de airmaao da moderni-
dade industrial do pas, os ideais de uncionalidade
e objetiidade impuseram-se nao apenas na arqui-
tetura, nas artes plasticas e na msica erudita - o
dodecaonismo - como tambm na poesia e na
msica popular. lindo este momento de crena
otimista nas irtudes da modernizaao do pas,
com as tensoes e incertezas que marcaram o inal
dos anos 60, a estratgia do bricoevr - includen-
te, lexel e assumidamente subjetiista e capri-
chosa - retoma a posiao central que inha
mantendo desde o incio do sculo.
NO1AS
1 Lntreista concedida aos pesquisadores do Centro de
Lstudos Sociais Aplicados ,CLSAP, da Uniersidade
Candido Mendes em 25,6,1998.
2 Lntreista concedida aos pesquisadores do CLSAP,
Uniersidade Candido Mendes em 9,10,1999.
3 Lntreista concedida a Jos Lduardo lomem de Mello
em 1,10,1968. .va Mello ,196, pp.15-18,.
4 Lntreista concedida a Jos Lduardo lomem de Mello.
.va Mello ,196,.
5 Lntreista concedida aos pesquisadores do CLSAP,
Uniersidade Candido Mendes em 5,4,1999.
6 Lntreista concedida aos pesquisadores do CLSAP,
Uniersidade Candido Mendes em 5,4,1999.
Lntreista concedida aos pesquisadores do CLSAP,
Uniersidade Candido Mendes em 18,3,1999.
8 Lntreista concedida aos pesquisadores do CLSAP,
Uniersidade Candido Mendes em 18,3,1999.
BIBLIOGRAIIA
ANDRADL, Mario de. ,1962,, v.aio .obre a vv.ica
bra.ieira. Sao Paulo, Liraria Martins Lditora.
ANDRADL, Oswald de. ,192,, Maniesto antropa-
go`, iv O.raa ae .varaae - Obra. cove
ta., Rio de Janeiro, Ciilizaao Brasileira.
CABRAL, Srgio. ,199,, .vtovio Caro. ]obiv - vva
biografia. Rio de Janeiro, Lumiar.
CAMPOS, Augusto de. ,1968,, aavo aa bo..a:
avtoogia crtica aa voaerva vv.ica ovar
bra.ieira. Sao Paulo, Perspectia.
CAS1RO, Ruy. ,1991,, Cbega ae .avaaae: a bi.tria e
a. bi.tria. aa bo..a vora. Sao Paulo, Compa-
nhia das Letras.
DLRRIDA, Jacques. ,191,, . e.critvra e a aifereva.
1raduao de Maria Beatriz Marques Nizza da
Sila. Sao Paulo, Perspectia.
DIDILR, Carlos. ,1996,, Raaave. Cvattai. Rio de
Janeiro, Brasiliana Produoes.
LLVI-S1RAUSS, Claude. ,1989,, O ev.avevto .era
gev. 1raduao de 1ania Pellegrini. Campinas,
Papirus.
MARIZ, Vasco. ,1983,, 1r. vv.icogo. bra.ieiro.:
Mario ae .varaae, Revato .veiaa, vi ei
tor Correa ae .ereao. Rio de Janeiro, Ciiliza-
ao Brasileira.
MLLLO, Jos Lduardo lomem de. ,196,, Antonio
Carlos Jobim`, iv J.L. lomem de Mello, Mv.i
ca ovar bra.ieira, Sao Paulo, Melhoramen-
tos,Ld. da USP.
MORLIRA, Maria Micaela Bissio Neia. ,1999,, Do
samba eu nao abro mao`: Chico Buarque nos
anos 60. Monograia de inal de curso de
graduaao, Departamento de Sociologia e Po-
ltica da PUC-RJ, mimeo.
NAVLS, Santuza Cambraia. ,1998,, O rioao av:
voaervi.vo e vv.ica ovar. Rio de Janeiro,
Lditora da lundaao Getlio Vargas.
RIBLIRO, Santuza Cambraia Naes. ,1988,, Ob;eto vao
iaevtificaao: a tra;etria ae Caetavo 1eo.o.
Dissertaao de mestrado, Programa de Ps-Gra-
duaao em Antropologia Social, Museu Nacio-
nal, Uniersidade lederal do Rio de Janeiro.
SAPIR, Ldward. ,1949,, Cultura autntica` e esp-
ria``, iv Donald Pierson ,org.,, .tvao. ae orga
viaao .ocia, traduao de Asdrbal Mendes
Gonales, Sao Paulo, Liraria Martins Lditora.
\ISNIK, Jos Miguel. ,1983,, O coro ao. covtrario.: a
vv.ica ev torvo aa evava ae 22. 2
a
ed., Sao
Paulo, Duas Cidades.
Você também pode gostar
- Fascículo 01 - Instrucoes PraticasDocumento28 páginasFascículo 01 - Instrucoes PraticasThalia MartinsAinda não há avaliações
- No princípio, era a roda: Um estudo sobre samba, partido-alto e outros pagodesNo EverandNo princípio, era a roda: Um estudo sobre samba, partido-alto e outros pagodesAinda não há avaliações
- Linguagem Retórica e Filosofia No Renascimento PDFDocumento263 páginasLinguagem Retórica e Filosofia No Renascimento PDFFabricio Spricigo100% (1)
- Adeus A MPB Carlos SandroniDocumento8 páginasAdeus A MPB Carlos Sandroniflaviogoulart100% (4)
- Ficha RevisõesDocumento5 páginasFicha RevisõesJoana MachadoAinda não há avaliações
- Resenha Da Bossa Nova A TropicaliaDocumento5 páginasResenha Da Bossa Nova A TropicaliaPastor AntonioAinda não há avaliações
- A BossaDocumento9 páginasA BossaIury CavalcantiAinda não há avaliações
- Da Bossa Nova Ao Clube Da Esquina PDFDocumento13 páginasDa Bossa Nova Ao Clube Da Esquina PDFggdesmaraisAinda não há avaliações
- O Modalismo Na MPBDocumento7 páginasO Modalismo Na MPBAdrianodeCarvalhoAinda não há avaliações
- Modinha - As Primeiras Confluências Entre o Erudito e o Popular...Documento9 páginasModinha - As Primeiras Confluências Entre o Erudito e o Popular...Marina Cachova100% (2)
- Chico Buarque e Caetano Veloso - Interfaces...Documento8 páginasChico Buarque e Caetano Veloso - Interfaces...David CassucciAinda não há avaliações
- ARQUIVO Lauro Meller Texto Completo ANPUH 2013 PDFDocumento15 páginasARQUIVO Lauro Meller Texto Completo ANPUH 2013 PDFEwerton Sousa100% (1)
- Campos - 1974 - Balanço Da Bossa e Outras BossasDocumento361 páginasCampos - 1974 - Balanço Da Bossa e Outras BossasHunterThompsonAinda não há avaliações
- Da Bossa Nova Ao Clube Da Esquina Dialogos e RelacDocumento19 páginasDa Bossa Nova Ao Clube Da Esquina Dialogos e RelacRoberta CamposAinda não há avaliações
- Maria Lucia Ferreira - Liberdade e Engajamento Na Obra de Roberto CarlosDocumento22 páginasMaria Lucia Ferreira - Liberdade e Engajamento Na Obra de Roberto CarlosCarlyle ZamithAinda não há avaliações
- Cadência, Decadência, Recadência - o Tropicalismo e o Sambafênix PDFDocumento8 páginasCadência, Decadência, Recadência - o Tropicalismo e o Sambafênix PDFJenilsonSouzaAinda não há avaliações
- TropcalismoDocumento15 páginasTropcalismojoao juniorAinda não há avaliações
- Antropofagia Musical Brasileira - o Fio Que Nao Se RompeDocumento12 páginasAntropofagia Musical Brasileira - o Fio Que Nao Se RompeYorktyre100% (1)
- Marcelo Franz PDFDocumento10 páginasMarcelo Franz PDFItachi das quebradasAinda não há avaliações
- Adeus À MPB PDFDocumento14 páginasAdeus À MPB PDFLuciano Harmônica Falcão100% (1)
- Detereorizacao Do Canto CoralDocumento11 páginasDetereorizacao Do Canto CoralSergio DeslandesAinda não há avaliações
- Fichamento o Historiador, o Luthier e A Música - de Morais e SalibaDocumento3 páginasFichamento o Historiador, o Luthier e A Música - de Morais e SalibaHeriberto PortoAinda não há avaliações
- Revista Brasileira de História - Edu Lobo e Carlos Lyra - O Nacional e o Popular Na Canção de Protesto (Os Anos 60)Documento17 páginasRevista Brasileira de História - Edu Lobo e Carlos Lyra - O Nacional e o Popular Na Canção de Protesto (Os Anos 60)OdraudeIttereipAinda não há avaliações
- DownloadDocumento18 páginasDownloadJoshua RosaAinda não há avaliações
- Cadência, Decadência, Recadência: o Tropicalismo e o Samba-FênixDocumento8 páginasCadência, Decadência, Recadência: o Tropicalismo e o Samba-FênixJairzinho Teixeira100% (1)
- Adeus À MPB - Carlos SandroniDocumento14 páginasAdeus À MPB - Carlos SandroniFELIPE BURKHARDT COSTA100% (1)
- Leandro Aguiar - UFF - ResumoDocumento14 páginasLeandro Aguiar - UFF - ResumoLeandro AguiarAinda não há avaliações
- 3.2 Resenha 157 - TATIT, Luiz. O Século Da Canção (Virgnia de Almeida Bessa)Documento9 páginas3.2 Resenha 157 - TATIT, Luiz. O Século Da Canção (Virgnia de Almeida Bessa)Leonardo D. Duarte100% (1)
- LivroCap2 - Vozes Interrompidas e Subterrâneas, Vazio, CiladasDocumento45 páginasLivroCap2 - Vozes Interrompidas e Subterrâneas, Vazio, CiladasMariana VellosoAinda não há avaliações
- 4 MENDES Gilberto A Música in O ModernismoDocumento11 páginas4 MENDES Gilberto A Música in O ModernismoAndré Filipe [Reserva]Ainda não há avaliações
- A Historiografia Da Música Popular Brasileira (1970-1990)Documento16 páginasA Historiografia Da Música Popular Brasileira (1970-1990)Julio Jacob100% (1)
- UFMG, Permusi 23 PDFDocumento196 páginasUFMG, Permusi 23 PDFMauro Dell'IsolaAinda não há avaliações
- TCC Salvalaio BaleiroDocumento26 páginasTCC Salvalaio BaleiroRodrigo Moreira de AlmeidaAinda não há avaliações
- Castagna Impressionismo, Modernismo e Nacionalismo No BrasilDocumento24 páginasCastagna Impressionismo, Modernismo e Nacionalismo No BrasilMarcelo CorrêaAinda não há avaliações
- Villa-Lobos e Manduca Piá, Tom e Vinicius, Edu e Chico: canções, afetos e brasilidadesNo EverandVilla-Lobos e Manduca Piá, Tom e Vinicius, Edu e Chico: canções, afetos e brasilidadesAinda não há avaliações
- A Ética Do Desafio Na Cantoria Do NordesteDocumento31 páginasA Ética Do Desafio Na Cantoria Do NordesteLeonardo AguiarAinda não há avaliações
- Augusto de Campos e A Música Contemporânea Do Século XX - Escuta e Invenção (TC0509-1) 2011Documento11 páginasAugusto de Campos e A Música Contemporânea Do Século XX - Escuta e Invenção (TC0509-1) 2011jorge castor100% (1)
- O Samba CançãoDocumento5 páginasO Samba CançãorogeriomenegazAinda não há avaliações
- Edu Lobo e Carlos Lyra ContierDocumento25 páginasEdu Lobo e Carlos Lyra Contierluisameirelles1810Ainda não há avaliações
- Historia Dos Periodos MusicaisDocumento5 páginasHistoria Dos Periodos MusicaisDenis RodriguesAinda não há avaliações
- MPB e Literatura em DialogoDocumento20 páginasMPB e Literatura em DialogoanaAinda não há avaliações
- Nada Ficou Como Antes: Ivan VilelaDocumento14 páginasNada Ficou Como Antes: Ivan VilelamarianagaquinoAinda não há avaliações
- Artigo Samba Canção PDFDocumento10 páginasArtigo Samba Canção PDFDirceu Azevedo100% (1)
- Musica NovaDocumento16 páginasMusica NovaCristiano GalliAinda não há avaliações
- Villa, Jobim e Edu Canções, Afetos e Brasilidades: uma escuta histórica e cultural do modernismo musical brasileiroNo EverandVilla, Jobim e Edu Canções, Afetos e Brasilidades: uma escuta histórica e cultural do modernismo musical brasileiroAinda não há avaliações
- Aula 15 - SEMI - Literatura Contemporânea PDFDocumento12 páginasAula 15 - SEMI - Literatura Contemporânea PDFOkmn GtfrAinda não há avaliações
- RH 157Documento10 páginasRH 157noriegasesoriaAinda não há avaliações
- Bossa Nova É Um Subgênero Musical Derivado Do Samba e Com Forte Influência Do Jazz EstadunidenseDocumento4 páginasBossa Nova É Um Subgênero Musical Derivado Do Samba e Com Forte Influência Do Jazz EstadunidenseTiago LisboaAinda não há avaliações
- Os Afro-Sambas FinalizadoDocumento23 páginasOs Afro-Sambas Finalizadoanon_326410648100% (1)
- A história (des)contínua: Jacob do Bandolim e a tradição do choroNo EverandA história (des)contínua: Jacob do Bandolim e a tradição do choroAinda não há avaliações
- A Religiosidade Popular Na Obra de Maria BethâniaDocumento12 páginasA Religiosidade Popular Na Obra de Maria BethâniaJoão NetoAinda não há avaliações
- Anos 50Documento23 páginasAnos 50Alessandro carvalho barrosAinda não há avaliações
- TropicalismoDocumento3 páginasTropicalismoTamires GonçalvesAinda não há avaliações
- Limites Da CançãoDocumento27 páginasLimites Da CançãokennyspunkaAinda não há avaliações
- A Origem Do SambaDocumento48 páginasA Origem Do SambaJaqueline Portela100% (1)
- O Nacionalismo Brasileiro e o Estudo Seresteiro, de Carlos Alberto Pinto FonsecaDocumento22 páginasO Nacionalismo Brasileiro e o Estudo Seresteiro, de Carlos Alberto Pinto FonsecabrunacristineolivAinda não há avaliações
- A Triagem e A Mistura - O Século Da Canà à o - TATIT, LuizDocumento20 páginasA Triagem e A Mistura - O Século Da Canà à o - TATIT, LuizVeronica Silva100% (2)
- Uma ponta, um ponto: Tom Jobim e projetos de brasilidadeNo EverandUma ponta, um ponto: Tom Jobim e projetos de brasilidadeAinda não há avaliações
- Rogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaNo EverandRogério Duprat: Arranjos de canção e a sonoplastia tropicalistaAinda não há avaliações
- Dois Migrantes: o gênero musical Baião e o compositor e intérprete Luiz Gonzaga na cidade do Rio de Janeiro (1940 – 1970)No EverandDois Migrantes: o gênero musical Baião e o compositor e intérprete Luiz Gonzaga na cidade do Rio de Janeiro (1940 – 1970)Ainda não há avaliações
- Da senzala ao palco: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-1930No EverandDa senzala ao palco: Canções escravas e racismo nas Américas, 1870-1930Ainda não há avaliações
- 11 Classe IIITrimDocumento6 páginas11 Classe IIITrimFernando Luís GandangaAinda não há avaliações
- Curso 23242 Aula 00 v3 1Documento96 páginasCurso 23242 Aula 00 v3 1Sammuel FabricioAinda não há avaliações
- Problemas Da Poligamia - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaProblemas Da Poligamia - Pesquisa GoogleivomacklaremAinda não há avaliações
- Relatorio Estudo e Caracterização de Uma LâmpadaDocumento9 páginasRelatorio Estudo e Caracterização de Uma LâmpadaHenrique Santos TeixeiraAinda não há avaliações
- A Química Supramolecular de Complexos Pirazólicos PDFDocumento10 páginasA Química Supramolecular de Complexos Pirazólicos PDFHiorrana Cássia FariaAinda não há avaliações
- As Casas Da Vida Do Egito Antigo e de Hoje1Documento32 páginasAs Casas Da Vida Do Egito Antigo e de Hoje1Glaysson Astoni100% (1)
- Resumo Do Capítulo 7-HISTÓRIA DA EDUCAÇÃODocumento2 páginasResumo Do Capítulo 7-HISTÓRIA DA EDUCAÇÃORévya MonteiroAinda não há avaliações
- Novo Documento de TextoDocumento9 páginasNovo Documento de TextoMarcy Jose De SouzaAinda não há avaliações
- Dissecando o Edital INSS - Técnico Do Seguro SocialDocumento11 páginasDissecando o Edital INSS - Técnico Do Seguro SocialEmmanuelleAinda não há avaliações
- Traçagem de CaldeirariaDocumento134 páginasTraçagem de CaldeirariaTiago Oliveira ReisAinda não há avaliações
- Projeto BasicoDocumento19 páginasProjeto Basicoadriasiq3068Ainda não há avaliações
- Os Aspectos Psicológicos Da Criança e Do Adolescente Na Adoção TardiaDocumento13 páginasOs Aspectos Psicológicos Da Criança e Do Adolescente Na Adoção TardiaDaniel de OliveiraAinda não há avaliações
- O Processo de Ensino e Aprendizagem Da Lingua Portuguesa No Ensino Basico e Os Metodos de Ensino de LinguaDocumento44 páginasO Processo de Ensino e Aprendizagem Da Lingua Portuguesa No Ensino Basico e Os Metodos de Ensino de LinguaRenato João Baptista Baptista100% (1)
- Provimento Conjunto #04, de 18 de Junho de 2020Documento3 páginasProvimento Conjunto #04, de 18 de Junho de 2020jesus da silva oliveiraAinda não há avaliações
- 2022 - Via-Sacra PDFDocumento52 páginas2022 - Via-Sacra PDFMateus SilveiraAinda não há avaliações
- Papa NicolauDocumento4 páginasPapa NicolauFabiane Pohlmann de AthaydeAinda não há avaliações
- Catálogo Solzaima Lenha 2015Documento92 páginasCatálogo Solzaima Lenha 2015Energia PtAinda não há avaliações
- 50 Haikais e 1 Suíte para Ouvir LeminskiDocumento54 páginas50 Haikais e 1 Suíte para Ouvir LeminskiAssis FreitasAinda não há avaliações
- Adulterio ConsentidoDocumento142 páginasAdulterio ConsentidoAlexandre CamargoAinda não há avaliações
- Aprenda ECG en Un Dia - Es.ptDocumento99 páginasAprenda ECG en Un Dia - Es.ptJonatan Montano Ruiz morenoAinda não há avaliações
- Ponto FrioDocumento2 páginasPonto FrioVitória FernandesAinda não há avaliações
- Teoria-Historia, 8. George Padmore e CLR James - Invasão Da Etiópia e A Opinião Africana Internacional 1935-1939 - 137-176Documento40 páginasTeoria-Historia, 8. George Padmore e CLR James - Invasão Da Etiópia e A Opinião Africana Internacional 1935-1939 - 137-176João PauloAinda não há avaliações
- 07 ESTATUTO DO MAGISTERIO Lei 176 95Documento13 páginas07 ESTATUTO DO MAGISTERIO Lei 176 95fabiomacambiraAinda não há avaliações
- Tecnocracia e Política - Raymundo Faoro PDFDocumento15 páginasTecnocracia e Política - Raymundo Faoro PDFLeandro ÁlissonAinda não há avaliações
- Portaria N 046-DGP de 27 MAR 2012Documento59 páginasPortaria N 046-DGP de 27 MAR 2012Tyago AndradeAinda não há avaliações
- OC1 - Fichamento 1 - Suzane GarciaDocumento1 páginaOC1 - Fichamento 1 - Suzane GarciaSu GarciaAinda não há avaliações
- Combatants Will Be Dispatched!, Vol. 4 - CompressedDocumento179 páginasCombatants Will Be Dispatched!, Vol. 4 - CompressedPaullo CostaAinda não há avaliações