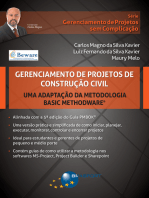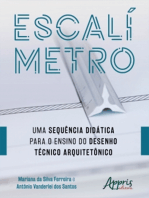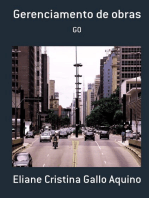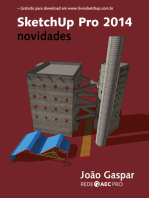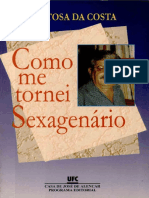Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Apostila Inedi
Apostila Inedi
Enviado por
Rafael MouraTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Apostila Inedi
Apostila Inedi
Enviado por
Rafael MouraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
INEDI Cursos Profissionalizantes
BRASLIA 2005
Noes de
Desenho Arquitetnico
e Construo Civil
Tcnico em Transaes Imobilirias
MDULO 06
Os textos do presente Mdulo no podem ser reproduzidos sem autorizao do
INEDI Instituto Nacional de Ensino a Distncia INEDI Instituto Nacional de Ensino a Distncia INEDI Instituto Nacional de Ensino a Distncia INEDI Instituto Nacional de Ensino a Distncia INEDI Instituto Nacional de Ensino a Distncia
SDS Ed. Boulevard Center SDS Ed. Boulevard Center SDS Ed. Boulevard Center SDS Ed. Boulevard Center SDS Ed. Boulevard Center, Salas 405/410 Braslia - DF , Salas 405/410 Braslia - DF , Salas 405/410 Braslia - DF , Salas 405/410 Braslia - DF , Salas 405/410 Braslia - DF
T TT TTelefax: (0XX61) 3321-6614 elefax: (0XX61) 3321-6614 elefax: (0XX61) 3321-6614 elefax: (0XX61) 3321-6614 elefax: (0XX61) 3321-6614
CURSO DE FORMAO DE TCNICOS EM TRANSAES IMOBILIRIAS TTI
COORDENAO NACIONAL
Andr Luiz Bravim Diretor Administrativo
Antnio Armando Cavalcante Soares Diretor Secretrio
COORDENAO PEDAGGICA
Maria Alzira Dalla Bernardina Corassa Pedagoga
COORDENAO DIDTICA COM ADAPTAO PARA EAD
Neuma Melo da Cruz Santos Bacharel em Cincias da Educao
COORDENAO DE CONTEDO
Jos de Oliveira Rodrigues Extenso em Didtica
Joslio Lopes da Silva Bacharel em Letras
EQUIPE DE APOIO TCNICO: INEDI/DF
Andr Luiz Bravim
Rogrio Ferreira Colho
Robson dos Santos Souza
Francisco de Assis de Souza Martins
PRODUO EDITORIAL
Luiz Ges
EDITORAO ELETRNICA E CAPA
Vicente Jnior
IMPRESSO GRFICA
Grfica e Editora Equipe Ltda
________________, INEDI, Noes de Desenho Arquitetnico e
Construo Civil, mdulo VI, Curso de Formao de Tcnicos em
Transaes Imobilirias, 4 Unidades. Braslia. Disponvel em:
www.inedidf.com.br. 2005.
Contedo: Unidade I: histrico; normas tcnicas Unidade II: etapas
do projeto Unidade III: esquadrias Unidade IV: projetos
Exerccios
347.46:659
C837m
Caro Aluno
O incio de qualquer curso uma oportunidade repleta de expectativas. Mas um
curso a distncia, alm disso, impe ao aluno um comportamento diferente, ensejando
mudanas no seu hbito de estudo e na sua rotina diria, porque estar envolvido com
uma metodologia de ensino moderna e diferenciada, proporcionando absoro de
conhecimentos e preparao para um mercado de trabalho competitivo e dinmico.
O curso Tcnico em Transaes Imobilirias ora iniciado est dividido em nove
mdulos. Este mdulo 06 traz para voc a bsica disciplina Desenho Arquitetnico e
Construo Civil que, dividida em quatro grandes unidades de estudo, apresenta, dentre
outros itens essenciais, a nomeclatura de normas tcnicas, as etapas de um projeto
arquitetnico e os principais termos utilizados na arquitetura e na construo civil, e
com certeza ser indispensvel no seu desempenho profissional.Trata-se, como voc
pode perceber, de uma completa, embora sinttica, habilitao no mbito desse
conhecimento to decisivo para o futuro profissional do mercado imobilirio.
Se o ensino a distncia garante maior flexibilidade na rotina de estudos tambm
verdade que exige do aluno mais responsabilidade. Ns, do INEDI, proporcionamos as
condies didticas necessrias para que voc obtenha xito em seus estudos, mas o
sucesso completo e definitivo depende do seu esforo pessoal. Colocamos a sua
disposio, alm dos mdulos impressos, um completo site (www.inedidf.com.br) com
salas de aula virtuais, frum com alunos, professores e tutores, biblioteca virtual e salas
para debates especficos e orientao de estudos.
Em sntese, caro aluno, o estudo dedicado do contedo deste mdulo lhe permitir
no s o domnio dos conceitos mais elementares da Arquitetura e Construo Civil,
como tambm os termos adequados para conversao com os clientes, alm do
conhecimento dos instrumentos bsicos para que o futuro profissional possa atingir os
seus objetivos no mercado de imveis. Enfim, ao concluir seus estudos neste mdulo
voc ter vencido uma importante etapa para atuar com destaque neste seguimento da
economia nacional.
Boa sorte!
INTRODUO..........................................................................................................09
UNIDADE I
1. O DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA ..................................................13
2. NORMAS TCNICAS ............................................................................................15
2.1 ABNT..........................................................................................................15
2.2 Formatos de Papel ........................................................................................ 16
2.3 Dobraduras das Pranchas.............................................................................. 17
2.4 Caligrafia Tcnica ........................................................................................ 17
2.5 Carimbo ou Legenda ....................................................................................18
2.6 Tipos de papel ..............................................................................................19
2.7 Tipos de linhas .............................................................................................19
2.8 Tipos de escalas ............................................................................................20
2.9 Linhas de Cotas ............................................................................................22
3 - PROJEES ORTOGONAIS ...............................................................................23
UNIDADE II
4 - ETAPAS DO PROJETO......................................................................................... 27
4.1 Escolha do Lote ou Terreno ..........................................................................27
4.2 Compra do Lote...........................................................................................27
4.3 Contratao do Arquiteto............................................................................. 27
4.4 Encomenda do Projeto .................................................................................27
4.5 Estudo Preliminar ........................................................................................ 27
4.6 Anteprojeto ..................................................................................................27
4.7 Projeto Final .................................................................................................27
4.8 CREA ..........................................................................................................27
4.9 Prefeitura ..................................................................................................... 27
5 - LEVANTAMENTO TOPOGRFICO .................................................................. 29
5.1 Planimtrico.................................................................................................29
5.2 Altimtrico ................................................................................................... 29
5.3 Planialtimtrico............................................................................................29
5.4 Curvas de Nvel ............................................................................................29
5.5 Orientao ................................................................................................... 29
5.6 Termos Tcnicos...........................................................................................29
6. PROJETO DE ARQUITETURA ............................................................................ 30
6.1 Planta Baixa .................................................................................................30
SUMRIO SUMRIO SUMRIO SUMRIO SUMRIO
6.2 Fachadas ou Elevaes .................................................................................. 31
6.3 Corte ........................................................................................................... 31
6.4 Planta de Cobertura ..................................................................................... 31
6.5 Planta de Situao ........................................................................................ 31
6.6 Implantao e Locao ................................................................................. 31
6.7 Quadro de Aberturas .................................................................................... 31
6.8 Quadro de reas .......................................................................................... 32
7. CONTRATAO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES................................ 32
7.1 Projeto de Estrutura ..................................................................................... 32
7.2 Projeto Hidro-Sanitrio ................................................................................ 33
7.3 Projeto Eltrico ............................................................................................ 33
7.4 Projeto Telefnico ........................................................................................ 34
UNIDADE III
8. PORTAS E PORTES ............................................................................................ 39
9. JANELAS...... ........................................................................................................... 41
9.1 Tipos de Aberturas das Janelas ..................................................................... 41
9.1.1. Basculante............................................................................................ 41
9.1.2. Mximo-Ar .......................................................................................... 41
9.1.3. Guilhotina ........................................................................................... 41
9.1.4. Correr .................................................................................................. 41
9.1.5. Veneziana............................................................................................. 42
9.1.6. Janela com Bandeirola.......................................................................... 42
10. FASE DE TRANSIO......................................................................................... 42
10.1 Mtodo Tradicional de Desenho................................................................. 42
10.1.1. Prancheta ........................................................................................... 42
10.1.2. Rgua T ......................................................................................... 43
10.1.3. Rgua Paralela.................................................................................... 43
10.1.4. Escala ................................................................................................ 43
10.1.5. Esquadros .......................................................................................... 43
10.1.6. Transferidores..................................................................................... 43
10.1.7. Rguas de Normgrafo ...................................................................... 44
10.1.8. Gabaritos ........................................................................................... 44
10.1.9. Rgua Flexvel .................................................................................... 44
10.1.10. Achuriador Rpido .......................................................................... 44
10.1.11. Pantgrafo ....................................................................................... 45
10.1.12. Lpis Lapiseiras ............................................................................. 45
10.1.13. Curva Francesa ................................................................................ 45
10.1.14. Bigode ............................................................................................. 45
10.1.15. Compasso ........................................................................................ 45
10.2 Mtodo Atual de Desenho - CAD, uma nova filosofia de trabalho ............. 45
UNIDADE IV
11. OBRA............ .........................................................................................................49
11.1 Ao de Adjudicao Compulsria .............................................................49
11.2 Alvar.........................................................................................................49
11.3 Cartrio de Notas....................................................................................... 49
11.4 Certido Negativa ......................................................................................49
11.5 Cdigo de Obras ........................................................................................ 49
11.6 Habite-se.................................................................................................... 49
11.7 Imposto de Transmisso de Bens Imobilirios (ITBI) ..................................49
11.8 Juizado Especial Cvel ................................................................................50
11.9 Lei de Zoneamento ....................................................................................50
11.10 Memorial Descritivo ................................................................................50
11.11 Plano Diretor ...........................................................................................50
12. PROJETOS DE RESIDNCIAS ........................................................................... 50
12.1 Classificao ...............................................................................................50
12.1.1. Classificao quanto ao tipo............................................................... 50
12.1.2. Classificao quanto edificao........................................................51
13. FUNDAES E ESTRUTURAS ..........................................................................53
13.1 Fundaes ..................................................................................................53
13.2 Estruturas ................................................................................................... 53
13.2.1. Tipos de Estruturas ............................................................................ 53
13.3 Instalaes de esgoto ..................................................................................56
14. REVESTIMENTOS...............................................................................................60
14.1 Soleiras, rodaps, peitoris............................................................................ 60
14.2 Ferragens .................................................................................................... 61
14.3 Vidros ........................................................................................................61
15. APARELHOS.........................................................................................................61
16. ELEMENTOS DECORATIVOS........................................................................... 62
TESTE SEU CONHECIMENTO .............................................................................. 65
GLOSSRIO .............................................................................................................69
BIBLIOGRAFIA.. ........................................................................................................79
GABARITO........ .........................................................................................................80
INTRODUO INTRODUO INTRODUO INTRODUO INTRODUO
Este mdulo de desenho Arquitetnico contm ilustraes que
ajudaro o aluno a melhorar interpretao dos tpicos abordados, facilitan-
do sua compreenso no momento de apresentar um empreendimento para
cliente.
O desenho arquitetnico possui uma linguagem prpria de ex-
presso, a qual ser apresentada no decorrer dos tpicos. O aluno ter co-
nhecimento de todo o processo de desenvolvimento de um projeto arquite-
tnico, passando a ter intimidade com seus smbolos e termos bsicos para
a leitura deste mdulo.
importante que o aluno esteja consciente que o aprendiza-
do flui com mais facilidade, quando existe o esprito de equipe. A troca
de informaes se faz necessria: saber ouvir, saber falar, respeitar a opi-
nio do prximo fundamental, para que todos, no final do curso atin-
jam o objetivo. Aprender no s acumulo de informaes, mas sim
saber interpret-las de acordo com a realidade da vida, saber aproveitar,
explorar do comeo ao fim da vida.
O homem nasce sem nenhuma estrutura e morre inacabado,
por isso um ser em construo.
Os Pilares do Conhecimento:
Aprender a viver juntos
Aprender a conhecer
Aprender a fazer
Aprender a ser
Aprender uma funo permanente do seu organismo, a ati-
vidade pela qual o homem cresce, mesmo quando o seu desenvolvimento
biolgico h muito se completou. Essa capacidade de aprender permite
uma educao indefinida, um indefinido crescimento ao ser humano.
Unidade
I
Conceituar normas tcnicas, ABNT;
Reconhecer caractersticas das principais exigncias
estabelecidas pela ABNT para a rea de arquitetura;
Reconhecer a importncia das normas tcnicas para o exerccio de
uma profisso.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
12
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
13
1. O DESENVOLVIMENTO DA
ARQUITETURA
O escritor francs Andr Moreux defi-
niu que a Arquitetura a arte de construir sob
o signo da beleza.
Nem sempre foi assim.
A necessidade primitiva e inata de to-
dos os animais de buscarem um abrigo no
foi diferente no homem. A chuva, o vento, o
frio, os predadores fizeram com que os pri-
meiros homens buscassem abrigos seguros.
Era o instinto de conservao que os compe-
lia a essa busca.
Nos primrdios da formao das civili-
zaes humanas, a noo de habitao no ti-
nha o sentido de permanncia e as moradias
eram transitrias. Esse conceito foi aos pou-
cos se desenvolvendo e paulatinamente o ho-
mem passou a cuidar com mais desvelo dos
seus abrigos: desenhava nas paredes das caver-
nas, usava materiais mais duradouros nas cons-
trues e, para se proteger, cuidar dos reba-
nhos recm domesticados e a agricultura inci-
piente, agrupava-se. Assim, por necessidade de
sobrevivncia, passou a ser um animal greg-
rio, logo, um animal social.
A medida que o homem evoluiu, suas
construes, alm de serem locais de ref-
gio, passaram a ser tambm lugares onde ele
tem prazer em estar. A sua preocupao no
se restringia apenas a se proteger, ele queria
estar em local ao mesmo tempo seguro, agra-
dvel e belo. Suas emoes no se restringi-
am s ao medo, mas tambm ao prazer e
sua religiosidade. Homenageavam os seus
mortos e reverenciavam as suas divindades.
Suas construes eram mais slidas e dura-
douras, mais limpas e arejadas e, sobretudo,
o homem passava a ocupar-se com o estti-
co, isto , procurava construir com a preo-
cupao voltada para o belo. Surgem as pin-
turas rupestres, como as das grutas de Alta-
mira, na Espanha, e as belas e simtricas
construes monolticas, como as de Sto-
nehenge, na Inglaterra.
Das construes eminentemente utili-
trias da pr-histria, passamos pela arquite-
tura monumental do Egito e da Mesopot-
mia ou ento aos estilos arquitetnicos to
peculiares da ndia, do Japo, da China ou
mesmo das Amricas, cada qual com suas
particularidades culturais. Do harmnico dos
estilos greco-romano, vamos ao soberbo do
gtico e o barroco na Idade Mdia e Renas-
cena, depois de passar pelo neoclssico, che-
gamos hoje Arquitetura contempornea.
Se, nos primrdios da histria, o homem
tinha na arte de construir a essncia de se res-
guardar, passando posteriormente a ser ele-
mento de tributo aos deuses e a Deus, hoje, o
homem volta a si e consubstancia suas edifi-
caes ao seu conforto e bem-estar, enfim ao
seu prazer.
Nesta busca incessante, nesta inquietu-
de humana, conclumos que a Arquitetura,
como a arte de edificar, , ao mesmo tempo,
uma cincia dinmica e ilimitada em sua ca-
pacidade criadora, que aliou as necessidades
fundamentais do homem, como:
a) fsicas: de abrigo;
b) emocionais: de segurana e proteo;
c) estticas: de beleza e funcionalidade.
O instinto de conservao levou o homem a bus-
car abrigos seguros que se foram modificando com
o passar dos tempos.
Com a evoluo do homem, as construes, alm
de locais de refgio, passaram a ser, tambm, lo-
cais agradveis e belos.
Das construes utilitrias da pr-histria, pas-
samos por diversos estilos at a arquitetura con-
tempornea.
A Arquitetura a arte de edificar; uma cincia
dinmica e ilimitada em sua capacidade criadora.
A Arquitetura aliou as necessidades fundamen-
tais do homem: fsicas, emocionais e estticas.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
14
1 . E s t a a f i r m a t i v a f a l s a . A A r q u i t e t u r a , a l m d e s e r u m a a r t e
p r e o c u p a d a c o m a f o r m a e a e s t t i c a , b u s c a t a m b m o c o n -
f o r t o e a s a t i s f a o i n d i v i d u a l o u c o l e t i v a . A d e c o r a o , s e j a
e l a r e a l i z a d a p a r a e m b e l e z a r i n t e r i o r e s o u n a b u s c a d e f o r -
m a s p l s t i c a s , e l e m e n t o c o m p l e m e n t a r d a A r q u i t e t u r a .
2 . V e r d a d e i r a . A b u s c a p o r a b r i g o a i n d a h o j e s e f a z m o v i d a
p e l a n e c e s s i d a d e d e p r o t e o , s e j a d a s i n t e m p r i e s c l i m -
t i c a s , s e j a d o s a g r e s s o r e s e x t e r n o s .
3 . V e r d a d e i r a . A s o b r a s m o d e r n a s e s t o m a i s p r e o c u p a d a s
c o m o c o n f o r t o p e s s o a l .
4 . V e r d a d e i r a . D e n t r e o s p a r m e t r o s
m a i s c o n s i s t e n t e s p a r a s e m e d i r o n -
v e l e v o l u t i v o d e u m p o v o , e s t o s u a s
e d i f i c a e s , o a p u r o d a s t c n i c a s
c o n s t r u t i v a s e , n a t u r a l m e n t e , a e v o -
l u o d o s e s t i l o s .
Assinale, com um X nos parnteses, se as afir-
mativas so verdadeiras ou falsas. Justifique
suas respostas.
1. Quando Andr Moreux definiu que a Ar-
quitetura a arte de construir sob o signo da
beleza, deu a entender que a Arquitetura
uma arte eminentemente decorativa.
( ) Verdadeira
( ) Falsa
2. O homem primitivo procurava os abrigos
porque este era o seu instinto de preservao.
( ) Verdadeira
( ) Falsa
3. At recentemente, a primordial preocupa-
o ao construir grandes obras arquitetnicas
era homenagear os mortos e reverenciar os
deuses (ou Deus); hoje no mais esta a preo-
cupao do homem.
( ) Verdadeira
( ) Falsa
4. Os estilos arquitetnicos mostram o grau
de evoluo de um povo em pocas diversas.
( ) Verdadeira
( ) Falsa
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
15
As normas tcnicas so um processo de simpli-
ficao de procedimentos e produtos.
As normas fixam padres de qualidade, padroni-
zam produtos, processos e procedimentos consoli-
dam, difundem e estabelecem parmetros consensu-
ais entre produtores, consumidores e especialistas,
bem como regulam as relaes de compra e venda.
O rgo responsvel pela normalizao tcnica,
no pas, a ABNT.
2. NORMAS TCNICAS
2.1 ABNT - ASSOCIAO BRASILEIRA
DE NORMAS TCNICAS
O sistema de padronizao o ali-
cerce para garantir a qualidade de
um projeto. Para facilitar a com-
preenso do projeto em nvel naci-
onal, todos os componentes que envolvem o de-
senho de arquitetura e engenharia so padroni-
zados e normalizados em todo o pas. Para isto
existem normas especficas para cada elemento
do projeto, assim como: caligrafia, formatos do
papel e outros. O objetivo conseguir melhores
resultados a partir do uso de padres que supos-
tamente descrevem o projeto de maneira mais
adequada e permitem a sua compreenso e exe-
cuo por profissionais diferentes independen-
te da presena daquele que o concebeu.
Como instrumento, as normas tcnicas
contribuem em quatro aspectos:
Qualidade: fixando padres que levam
em conta as necessidades e os desejos
dos usurios.
Produtividade: padronizando produtos,
processos e procedimentos.
Tecnologia: consolidando, difundindo
e estabelecendo parmetros consensu-
ais entre produtores, consumidores e
especialistas, colocando os resultados
disposio da sociedade.
Marketing: regulando de forma equili-
brada as relaes de compra e venda.
1. Pesquise e cite os quatro aspectos relativos
s normas tcnicas.
________________________________________
________________________________________
2. Volte ao texto e transcreva a definio do
que vem a ser ABNT.
________________________________________
________________________________________
1 . Q u a l i d a d e , p r o d u t i v i d a d e , t e c n o l o g i a
e m a r k e t i n g .
2 . A B N T - A s s o c i a o B r a s i l e i r a d e
N o r m a s T c n i c a s o r g o r e s p o n -
s v e l p e l a n o r m a t i z a o t c n i c a n o
B r a s i l .
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
16
2.2 FORMATOS DO PAPEL
As Normas Brasileiras de Desenho Tc-
nico estabelecem como padro a srie A. A
NBR 10.068 tem o objetivo de padronizar as
dimenses, layout, dobraduras e a posio da
legenda, garantindo desta forma uniformida-
de e legibilidade.
Os itens a serem observados na NBR,
so os seguintes:
posio e dimenses da legenda;
margem e quadro;
marcas de centro;
escala mtrica de referncia;
sistema de referncia por malhas;
marcas de corte.
A0 1189 x 841mm 25mm 10mm 175mm 1,4mm
A1 841 x 594mm 25mm 10mm 175mm 1,0mm
A2 594 x 420mm 25mm 7mm 178mm 0,7mm
A3 420 x 297mm 25mm 7mm 178mm 0,5mm
A4 297 x 210mm 25mm 7mm 178mm 0,5mm
Formato Dimenses
Margens
Esquerda Outras
Largura do
Carimbo
Esp. Linhas
das margens
Os formatos da srie A tem como base
o Formato A0, cujas dimenses guardam en-
tre si a mesma relao que existe entre o lado
de um quadrado e sua diagonal
(841 2 =1189), e que corresponde a um re-
tngulo de rea igual a 1 m
2.
A NBR10068 complementada com a
NBR 8402, referente execuo de caracteres
para escrita em desenhos tcnicos e procedi-
mentos, e pela NBR 8403, que cuida da apli-
cao de linhas em desenhos tipos de linhas
largura das linhas e procedimentos.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
17
2.3 DOBRADURAS DAS PRANCHAS
Os projeto de Arquitetura e Engenharia
aps serem executados, devem ser dobrados
conforme as figuras abaixo:
Formato A0
Formato A1
Formato A2
Formato A3
Cabides para projetos
Formato A1
Formato A1 com medidas
2.4 CALIGRAFIA TCNICA
Existe uma padronizao tambm para
a caligrafia tcnica, para evitar que os projetos
desenvolvidos em localidades diferentes sejam
interpretados de formas distintas. Desta for-
ma, adquire-se maior agilidade na interpreta-
o e execuo do projeto.
Indicao das
dobras
Moldura de 10mm
Carimbo
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
18
A NBR 8402 tem a finalidade de fixar
caractersticas da escrita a mo livre ou por ins-
trumentos usados para a elaborao dos pro-
jetos.
Segundo a norma, as letras devem ser
sempre em maisculas e no inclinadas. Os
nmeros no devem estar inclinados
LETRAS
A B C D E F G H...
A B C D E F G H...
NMEROS
1 2 3 4 5 6 7 8 9...
1 2 3 4 5 6 7 8 9...
(2,0mm Rgua 80 CL Pena 0,2mm)
(2,5mm Rgua 100 CL Pena 0,3mm)
(3,5mm Rgua 140 CL Pena 0,4mm)
(4,5mm Rgua 175 CL Pena 0,8mm)
2.5 CARIMBO OU LEGENDA
Em um projeto de Arquitetura ou En-
genharia, faz-se necessrio a identificao de
alguns elementos, tais como: tipo de projeto,
endereo, autor do projeto, responsvel tcni-
co pela obra, tipo de escala empregada, rea
do lote, rea de construo, nmero da pran-
cha, nmeros de prancha, espao reservado
para a aprovao da prefeitura e pelo Conse-
lho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA, entre outros.
1. Relacione abaixo quais os elementos fre-
qentemente usados no desenho tcnico.
_________________________________________
_________________________________________
2. O carimbo, localizado no canto esquerdo das
pranchas, possuiu alguns itens obrigatrios de-
finidos pela ABNT. Relacione-os abaixo.
_________________________________________
_________________________________________
3. Qual o objetivo dos smbolos e das conven-
es em um projeto?
_________________________________________
_________________________________________
4. Como denominamos as linhas indicativas
das dimenses do objeto desenhado?
_________________________________________
1 . O s e l e m e n t o s f r e q e n t e m e n t e u t i l i z a d o s n o d e s e n h o
t c n i c o s o : a ) c a r i m b o s , b ) s m b o l o s o u c o n v e n e s ,
c ) c o t a s ;
2 . D e v e m c o n s t a r e m u m c a r i m b o i n f o r m a e s s o b r e :
e n d e r e o d a o b r a , a u t o r d o p r o j e t o e r e s p o n s v e l t c n i -
c o , p r o p r i e t r i o , n o m e d o d e s e n h o , e s c a l a , d e s e n h i s t a ,
d a t a e e t c ;
3 . O s s m b o l o s e a s c o n v e n e s s o u t i l i z a d o s p a r a m a i o r
c l a r e z a o u s i m p l i c i d a d e d o p r o j e t o ;
4 . A s l i n h a s i n d i c a t i v a s d a s d i m e n -
s e s d o p r o j e t o d e s e n h a d o s o d e -
n o m i n a d a s " c o t a s " .
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
19
2.6 TIPOS DE PAPEL
Existem duas categorias de papel para a
elaborao do projeto de arquitetura: opacos
e transparentes.
Papis transparentes: Antes do advento do
software para projetos, os projetos originais eram
elaborados em papel-vegetal, por ser um papel
transparente e de fcil manuseio e tambm, por
proporcionar cpias idnticas aos originais.
Papis Opacos:
Apresentam uso varivel,
para desenhos em geral; os
projetos de Arquitetura e
Engenharia abandonaram
o uso do papel vegetal
para os originais, abrindo
espao para o papel sulfi-
te. Com o uso do com-
putador para a elaborao
dos projetos, possvel imprimir em papel sulfi-
te tantas vezes quantas forem necessrias.
2.7 TIPOS DE LINHAS
Os projetos utilizam uma variedade de
tipos de linhas, para representar objetos em
vrias situaes.
J as instalaes prediais requerem no-
menclatura e convenes prprias. Vejamos
algumas das convenes mais usuais:
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
20
2.8 ESCALAS - consideraes de alguns
autores:
"Toda representao est numa propor-
o definida com o objeto representado. Esta
proporo chamada de escala". ( Raisz,
1969:47)
"Escala , ento, a relao que existe en-
tre os comprimentos de um desenho e seus
correspondentes no objeto; portanto, escala
nada mais do que uma razo de semelhana.
Sendo assim, toda escala expressa por uma
frao; essa frao chamada escala numri-
ca; sua representao grfica chama-se escala
grfica. Os comprimentos considerados no
desenho so chamados distncias grficas e os
considerados no objetos so chamados distn-
cias naturais" (Rangel, 1965:11)
Existem trs tipos de escalas: Escala
Natural, Escalas de Reduo e Escalas de
ampliao.
2.8.1. Escala Natural: Quando o objeto que est
sendo representado no desenho, apresenta a mes-
ma medida do real, chamamos de escala natural.
A escala natural est na razo 1 para 1, ou seja, o
real est para o desenho na razo de uma medida
do real para uma medida do desenho.
2.8.2. Escala de Reduo: Quando o objeto
que est sendo representado de grandes di-
menses, usamos escala de reduo, para pos-
sibilitar sua representao no papel. Por exem-
plo, quando projetamos uma residncia, um
prdio ou uma cidade.
Escala de reduo so representadas da
seguinte forma:
1/10 1/20 1/50 1/100 1/200 1/100
e outras.
O nmero 1 indica o desenho e o prxi-
mo o real.
Exemplo: 1/50 (um por cinqenta)
Significa que um centmetro do papel
representar 50 cm do real, ou seja, o desenho
ser reduzido 50 vezes.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
21
2.8.3. Escala de Ampliao: Quando o
objeto que est sendo representado muito
pequeno, necessitando ser ampliado para me-
lhor interpretao do projeto. Esta escala
empregada nas reas de mecnica, eletrnica,
desenho de jias, entre outras.
OBS - Escala real - Usa-se este tipo de
escala quando o desenho deve ser igual ao ob-
jeto desenhado. A representao desta escala
sempre 1:1 (l-se um por um).
I - Responda as alternativas.
1. Pense um pouco e responda: qual a finali-
dade das escalas de reduo?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. E as escalas de ampliao? Para que servem?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Veja no texto e descreva para que servem as
escala reais.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
II - Dadas as escalas abaixo, escreva-as por
extenso e identifique se so de ampliao,
reduo ou real.
1) 1 : 1
2) 1 : 1
3) 5: 5
4) 1 : 1.000
5) 1.000 : 1
III. Um pouco mais de teoria: descreva como
procedemos nas escalas grficas.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
As escalas numricas podem ser: de reduo, de
ampliao e real.
A escala de reduo significa que o desenho
menor que o objeto desenhado. usada quando o
objeto muito grande e no temos como repre-
sent-la graficamente.
A escala de ampliao significa que o desenho
maior que o objeto desenhado. usada quando o
objeto muito pequeno e sua representao no
ser ntida,
A escala real significa que o desenho igual ao
objeto desenhado.
As escalas numricas so assim representadas:
- de reduo -1:2 (l-se um por dois), ou seja, o
desenho a metade do objeto desenhado;
- de ampliao -2:1 (l-se dois por um), isto , o dese-
nho duas vezes maior que o objeto desenhado;
- real -1:1 (l-se um por um), ou seja, o desenho
igual ao objeto desenhado.
Escala grfica aquela em que seccionamos um seg-
mento de reta em vrias partes iguais, obedecendo a
um plano de desenho previamente estabelecido.
I - 1 ) C o m o o p r p r i o n o m e i n d i c a , a s e s c a l a s d e r e d u o
s o u s a d a s p a r a r e d u z i r , n o d e s e n h o , u m d e t e r m i n a d o o b -
j e t o ; 2 ) A o c o n t r r i o d a s e s c a l a s d e r e d u o , a s d e a m p l i a -
o s o u t i l i z a d a s p a r a a u m e n t a r o d e s e n h o d e u m o b j e t o ;
3 ) A s e s c a l a s r e a i s s e r v e m p a r a r e p r o d u z i r o o b j e t o e m s e u
t a m a n h o n a t u r a l o u r e a l .
I I - 1 ) U m e m e i o p o r u m . u m a e s c a l a d e a m p l i a o , p o i s o
o b j e t o n o d e s e n h o f o i a u m e n t a d o u m a v e z e m e i a ; 2 ) U m
p o r u m e m e i o . u m a e s c a l a d e r e d u o e o c o n t r r i o d a
a n t e r i o r ; 3 ) C i n c o p o r c i n c o . A r a z o 5 : 5 i g u a l r a z o 1 : 1 ,
l o g o , u m a e s c a l a r e a l ; 4 ) U m p o r m i l . u m a e s c a l a d e
r e d u o ; o o b j e t o f o i r e d u z i d o m i l v e z e s n o d e s e n h o ; 5 ) M i l
p o r u m . u m a e s c a l a d e a m p l i a o ; o o b j e t o f o i a u m e n t a -
d o m i l v e z e s n o d e s e n h o .
I I I - N a s e s c a l a s g r f i c a s , s e c c i o n a m o s u m s e g m e n t o d e
r e t a e m v r i a s p a r t e s i g u a i s , o b e d e c e n d o a u m p l a n o d e
d e s e n h o p r e v i a m e n t e e s t a b e l e c i d o .
A s e s c a l a s g r f i c a s s o s e m p r e p a r -
t e s o u m l t i p l o s d o m e t r o , o u d e
o u t r o s i s t e m a d e m e d i d a e s t a b e -
l e c i d o .
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
22
2.9 LINHAS DE COTA
Cotagem em Desenho Tcnico
(NBR - 10126)
Representao grfica das dimenses no
desenho tcnico de um elemento, atravs de
linhas, smbolos, notas e valor numrico numa
unidade de medida.
Elementos grficos para representao de
cotas
Recomendaes
a caracterstica da linha de cota e linha
auxiliar: linha estreita e contnua.
linha auxiliar deve ser prolongada ligei-
ramente alm da linha de cota.
deixar um pequeno espao entre a li-
nha auxiliar e o elemento ou detalhe a
ser cotado.
linhas auxiliares devem ser perpendicu-
lares aos elementos a serem cotados e
paralelas entre si.
linhas de centro no devem ser utilizadas
como linhas de cota ou auxiliares porm
podem ser prolongadas at o contorno do
elemento representado e a partir da com
linha auxiliar (contnua estreita).
sempre que o espao disponvel for ade-
quado colocar as setas entre as linhas
auxiliares, quando no for pode-se re-
presentar externamente.
cotagem de raios, a linha de cota parte
do centro do arco e uma nica seta e
representada onde a linha de cota toca
o contorno do arco, a letra R (erre mai-
scula) deve ser representada na frente
do valor da cota.
Linha de cota ou de
dimensionamento
Dimenso do
objeto
Linhas de chamada
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
23
Tcnica de Cotar
a) as cotas devem ser representadas aci-
ma e paralelamente linha de cota e aproxi-
madamente no seu ponto mdio.
b) as cotas devem ser lidas da base da
folha de papel. As linhas de cotas devem ser
interrompidas prximas ao meio para repre-
sentao da cota.
Smbolos para as cotas
Utilizamos alguns smbolos, para faci-
litar e identificar das formas dos elemen-
tos cotados.
- dimetro
R - raio
3. PROJEES
ORTOGONAIS
O desenho arquitetni-
co consiste em representar as
edificaes, levando em con-
siderao as projees, vistas,
elevaes, detalhes e cortes.
Estas projees nos proporci-
onam uma viso espacial, ou
melhor, volumtrica da edi-
ficao.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
24
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
25
Unidade
II
Conceituar projeo, projeo ortogonal, levantamento
topogrfico;
Identificar o significado de termos tcnicos da rea de arquitetura
e engenharia, geralmente, utilizados durante o processo de
transao imobiliria;
Reconhecer caractersticas do levantamento topogrfico e das
diversas eta-pas de um projeto.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
26
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade II
INEDI - Cursos Profissionalizantes
27
4. ETAPAS DO PROJETO
importante conhecer a linguagem do
projeto arquitetnico, com seus smbolos e
convenes, assim como, para saber ler e
escrever corretamente, temos necessidade
dos conhecimentos e regras de gramtica.
O desenho arquitetnico apresenta uma s-
rie de peculiaridades, que veremos a seguir,
no sentido de instruir o aluno e torn-lo
capaz de fazer uma leitura completa do pro-
jeto. Iniciaremos, passo a passo, as etapas
de elaborao de um projeto, desde a esco-
lha do lote at a aprovao nos rgos com-
petentes.
4.1 ESCOLHA DO LOTE OU TERRE-
NO - importante levar em considerao al-
guns itens como:
Localizao
Edificaes vizinhas
Posio em relao ao Norte
Situao topogrfica do lote (feito pelo
topgrafo)
Afastamentos exigidos pela prefeitura
(Uso do Solo)
ndice de ocupao (Uso do Solo)
Resistncia do solo (Projeto de Funda-
o)
4.2 COMPRA DO LOTE - Certificar-se
de que toda a documentao est correta e
passar imediatamente a escritura para o nome
do comprador.
4.3 CONTRATAO DO ARQUITE-
TO - de fundamental importncia a
contratao deste profissional, at mesmo
antes da negociao do lote, quando ele
poder orientar na escolha e adequao do
terreno.
4.4 ENCOMENDA DO PROJETO -
Antes de dar incio ao projeto de arquite-
tura, necessrio uma conversa detalhada
entre o cliente e o arquiteto. Neste momen-
to o arquiteto solicitar ao cliente o Uso
do Solo, fornecido pela Prefeitura e o Le-
vantamento Topogrfico, que dever ser
executado por um topgrafo. Nesta etapa
o profissional colher dados do cliente, co-
nhecer suas necessidades e expectativas,
para a elaborao do Programa de Necessi-
dades, colhendo todas as informaes ne-
cessrias para dar incio fase, a qual cha-
mamos de Estudo Preliminar.
4.5 ESTUDO PRELIMINAR - A partir
do momento em que o arquiteto fica ciente
dos objetivos e necessidades de seu cliente,
comea a elaborao de um croqui, ou me-
lhor, de um esboo, que dar incio a nova
fase, denominada de Anteprojeto.
4.6 ANTEPROJETO - o projeto dese-
nhado, seguindo todas as normas do desenho
tcnico e da ABNT.
4.7 PROJETO FINAL - Logo aps a apro-
vao do projeto pelo cliente, o arquiteto pas-
sa a finaliz-lo, incluindo todos os desenho
necessrios para a aprovao na prefeitura e
no CREA.
4.8 CREA - O Conselho Regional de Enge-
nharia, Arquitetura e Agronomia o rgo onde
o arquiteto registra um documento denomina-
do ART Anotao de Responsabilidade Tc-
nica, no qual assume total responsabilidade pelo
projeto que assina. O CREA fiscaliza a atua-
o dos profissionais formados nas reas de en-
genharia, arquitetura e agronomia. Regulamen-
tadas, essas profisses tm direitos e deveres que
devem ser respeitados por quem as exerce. O
CREA verifica se a conduta desses trabalhado-
res est adequada os que cometem erros gra-
ves correm o risco de perder o registro no Con-
selho e ficar em situao irregular.
4.9 PREFEITURA O cliente ou o profis-
sional dever levar o projeto para ser aprova-
do pela prefeitura; caso seja aprovado, dever
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
28
providenciar cinco jogos de cpia para serem
registrados e carimbados.
I. Assinale, com um X nos parnteses, as afir-
maes verdadeiras.
1. ( ) Somente as edificaes de menor
complexidade exigem planejamento.
2. ( ) na fase de programa da obra
que o profissional responsvel pelo projeto
capta os desejos do cliente e determina as di-
retrizes para o incio de seus trabalhos.
3. ( ) O objetivo do planejar resume-
se na unio perfeita entre o lucro, o tempo e o
trabalho propriamente dito.
4. ( ) Alm de outros fatores, o clima, a
aerao, a insolao, o estilo e a topografia so
observados num projeto.
II. Relacione as reas de forma correta.
1. ( ) quartos
2. ( ) banheiros
3. ( ) varanda
4. ( ) piscina
5. ( ) cozinha
6. ( ) sala
7. ( ) dependncias de empregada
8. ( ) escritrio
9. ( ) lavabo
10. ( ) sala de televiso
A - ntima B - social C - servio
Toda obra exige um planejamento que vai desde
o momento dos primeiros contatos, que chama-
mos de fase de programa da obra, at a sua concre-
tizao.
O objetivo deste planejamento o de obter mai-
or lucro, com o menor dispndio de tempo e tra-
balho.
Os espaos da obra so definidos levando-se em
considerao fatores tais como: clima, aerao, in-
solao, estilo e topografia.
Um programa bem simples de uma residncia
abrange as seguintes reas:
- ntima: quartos, banheiros, sala ntima;
- social: sala, varanda, lavabo, piscina, escritrio,
garagem;
- servio: rea de servio, cozinha, copa, quarto de
empregada e despensa.
I - 1 . ( ) Q u a l q u e r p r o j e t o e x i g e u m p l a n e j a m e n t o ; 2 . ( x ) ; 3 .
( x ) ; 4 . ( x )
I I - 1 . ( A ) ; 2 . ( A ) ; 3 . ( B ) ; 4 . ( B ) ; 5 .
( C ) ; 6 . ( B ) ; 7 . ( C ) ; 8 . ( B ) ; 9 . ( B ) ;
1 0 . ( A )
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade II
INEDI - Cursos Profissionalizantes
29
5. LEVANTAMENTO
TOPOGRFICO
o estudo do terreno, visando verificar
as divisas do terreno, suas as dimenses e des-
nveis. O levantamento topogrfico dividi-
do em trs etapas:
5.1 PLANIALTIMTRICO - abrange so-
mente as divisas e os ngulos.
5.2 ALTIMTRICO - abrange as curvas
de nvel e alturas do terreno.
5.3 PLANIMTRICO - o levantamen-
to topogrfico, propriamente dito; apresenta
o estudo planialtimtrico e altimtrico do
terreno.
5.4 CURVAS DE NVEL - So linhas cur-
vas que indicam as alturas e a inclinao do
terreno. As curvas de nveis devem ser repre-
sentadas metro a metro em um levantamento
topogrfico. Estas curvas so definidas de acor-
do com a sinuosidade do terreno: quanto mais
prximas indicam que o terreno possui incli-
nao, quando so mais espaadas, indicam
que o terreno pouco inclinado ou at mes-
mo plano. Conforme podemos notar na figu-
ra abaixo, o setor A o mais ingrime e o setor
B o menos inclinado.
5.5 ORIENTAO - a posio do norte
em relao ao terreno; este deve constar no
Levantamento Topogrfico, pois de funda-
mental importncia para o arquiteto elaborar
o projeto.
Existem dois tipos de orientao, a mag-
ntica (bssola) e a verdadei-
ra, que a geogrfica. No
Levantamento Topogrfico
utilizada a verdadeira , pois
a magntica apresenta vari-
aes no decorrer dos anos.
5.6 TERMOS TCNICOS - Para me-
lhor compreenso do estudo topogrfico, o
Tcnico em Transaes Imobilirias precisa
estar por dentro de alguns termos tcnicos
relacionados situao do terreno, para ter
argumentos em uma explanao para o cli-
ente. Os principais so:
Terraplanagem Processo de prepa-
rao do terreno, para dar incio a
construo.
Aterro Preenchimento de uma rea
em desnvel, com terra ou entulho.
Desaterro Retirada de terra de uma
rea.
Declive Quando a inclinao do ter-
reno est abaixo do nvel da rua.
Aclive Quando a inclinao do ter-
reno est acima do nvel da rua.
Logradouro Locais pblicos, como
praas, ruas, avenidas, parques etc...
Arruamento Processo de criao das
ruas.
Caixa de Rolamento Parte da rua
destinada para o trnsito de veculos.
Passeio Parte da rua destinada para
o passeio de pedestre.
Afastamento Distncias exigidas
pelo Uso do Solo, da edificao em
relao ao terreno.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
30
6. PROJETO DE ARQUITETURA
O projeto de arquitetura constitudo
pelos seguintes desenhos:
Planta Baixa ou Pavimento Trreo
Pavimento Superior (quando for sobra-
do ou prdio)
Layout
Corte Transversal
Corte Longitudinal
Fachadas
Planta de Cobertura
Planta de Situao
Implantao e Locao
Quadro de Aberturas
Quadro de reas
6.1 PLANTA BAIXA - um corte trans-
versal edificao, a uma altura de 1,50m.
Atravs da planta baixa, podemos visualizar
os ambientes que compe o projeto. Feche os
olhos e imagine uma casa, visualizando da rua.
Agora imagine se fosse possvel, tirar o telha-
do e visualiz-la de cima.
Itens que compe a planta baixa:
Paredes
Janelas
Portas
Cotas
Cotas de Nvel
Projees
Indicao dos Cortes
Indicao do Norte
Escada
Rampas
Pergolado
Espelho dgua
Layout
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade II
INEDI - Cursos Profissionalizantes
31
Perspectiva
6.2 FACHADAS OU ELEVAES - So
elevaes verticais, frontal, lateral ou posteri-
or, para se ter noo da edificao.
6.3 CORTES - So elevaes verticais fei-
tas no sentido transversal e longitudinal den-
tro da edificao, para medir as alturas dos ele-
mentos arquitetnicos, portas, telhados, esca-
das, rampas e outros.
6.4 PLANTA DE COBERTURA - Este
desenho define a situao do telhado, nme-
ro de guas, tipo de telha, lado da queda
dagua e a largura do beiral.
6.5 PLANTA DE SITUAO Define a
situao do lote em relao quadra, s ruas e
aos lotes vizinhos.
6.6 PLANTA DE IMPLANTAO E
LOCAO - Define a situao do projeto em
relao ao terreno, incluindo as medidas dos
afastamentos.
Implantao e Locao
6.7 QUADRO DE ABERTURAS - Legen-
da a qual possui informaes sobre as abertu-
ras, portas e janelas.Quando a referencia para
janela, denominamos a sigla J , e para porta P.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
32
Conforme o tipo e as dimenses numeramos
como no exemplo:
J1 P1
J2 P2
J3 P3
6.8 QUADRO DE REAS - Legenda que
apresenta a rea do terreno, rea de cons-
truo e a rea de permeabilidade (rea de
jardim).
7. CONTRATAO DOS
PROJETOS COMPLEMENTARES
Estes projetos devem ser contratados
aps ter sido concludo o projeto arquitet-
nico. Os projetos complementares so os
seguintes:
7.1 PROJETO DE ESTRUTURA - Este
projeto dever ser elaborado pelo engenheiro
civil.
Uma construo segura depende do pro-
jeto de estrutura que, por sua vez, depende do
projeto de fundaes, elaborado segundo a re-
sistncia do solo.
Laje - Estrutura plana e horizontal de concre-
to armado, apoiada em vigas e pilares.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade II
INEDI - Cursos Profissionalizantes
33
Pilares - Elemento estrutural vertical de con-
creto, madeira, alvenaria ou pedra.
7.2 PROJETO HIDRO-SANITRIO - O
objetivo deste projeto dimensionar as tubu-
laes necessrias, para cada rea
molhada(banheiros, lavabos, rea de servio,
cozinha e outros). O projeto hidro-sanitrio
apresenta os pontos e as tubulaes de gua
fria, quente, esgoto e pluvial.
gua Fria
Esgoto
7.3 PROJETO ELTRICO - O engenhei-
ro eltrico define o caminho das tubulaes
eltricas desde a caixa de entrada de energia
que vem da rua at a sua chegada aos equipa-
mentos eltricos.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
34
SMBOLOS E CONVENES NOS
PROJETOS ARQUITETNICOS
7.4 PROJETO TELEFNICO - O enge-
nheiro eltrico define o caminho das tubula-
es dos cabos de telefone.
O projeto em si a finalizao das fases que o ante-
cedem, So elementos constantes de um projeto: si-
tuao, locao, cobertura, planta baixa, corte e fa-
chada.
Situao o estudo da edificao no contexto da
cidade, do bairro e da rua.
Locao o estudo do terreno propriamente dito.
Cobertura a parte da projeo que protege a
edificao das intempries climticas e que, para
cumprir tal finalidade, deve ter as propriedades de
estanqueidade, isolamento trmico e ainda ser in-
deformvel, resistente, leve, no absorver peso, per-
mitir fcil escoamento com secagem rpida.
Planta baixa o desenho que recebe a maior
carga de informaes, ou seja, contm as dimen-
ses em tamanho real, obedecendo as escalas do
projeto.
Corte a seco feita na obra para se obter uma
viso diferente do projeto, A escolha da seco
aleatria, destacando o que se deseja mostrar e sem
Iimite quanto ao nmero de cortes. Recomenda-
se, para melhor compreenso de um projeto, no
mnimo, dois cortes: um transversal e outro lon-
gitudinal.
Fachada a viso externa do projeto, a forma
que a obra adquire.
Os estudos do terreno propriamente dito abran-
gem: a altimetria (inclinao ou, no, do terreno),
tipo de solo, a orientao quanto a posio do sol e
ventos, afastamento que dever existir em relao
ao lote do vizinho, a forma do lote, a dimenso de
suas medidas, a compatibilizao entre o projeto
concebido e o valor do lote, orientao esta presta-
da pelo arquiteto.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade II
INEDI - Cursos Profissionalizantes
35
I - Relacione de forma correta os elementos
de um projeto.
A - Planta de Situao
B - Planta de Locao
C - Planta de Cobertura
D - Planta baixa
E - Corte
F - Fachada
1. ( ) o estudo que abrange sete itens
sobre o terreno propriamente dito.
2. ( ) Tem como finalidade proteger as
edificaes das intempries climticas.
3. ( ) Estuda a edificao no contexto
da cidade, bairro e rua.
4. ( ) o desenho que recebe maior
carga de informaes.
5. ( ) Pode ser de dois tipos: o trans-
versal e o longitudinal - e serve para a
melhor compreenso do projeto.
6. ( ) a exteriorizao do projeto, a
sua forma.
II - Pense e responda.
1. Ao estudarmos um terreno, quais os ele-
mentos devem ser prioritariamente exami-
nados?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Que transtornos as situaes relaciona-
das a seguir traro, se no forem devidamen-
te observadas?
a) A altimetria do lote
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) A posio do sol e dos ventos
_________________________________________________________________
________________________________________________________________
c) A distncia de um lote para o outro
________________________________________________________________
________________________________________________________________
d) A forma do lote
________________________________________________________________
________________________________________________________________
e) As dimenses do lote
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
f ) O valor devido do lote
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
I - 1 . ( B ) 2 . ( C ) 3 . ( A ) 4 . ( D ) 5 . ( E ) 6 . ( F )
I I - a ) U m t e r r e n o n o p l a n o c o m p l i c a r o p r o j e t o d o a r -
q u i t e t o , a n o s e r q u a n d o o p r o j e t i s t a c o n s e g u e t i r a r p a r -
t i d o d o s d e s n v e i s .
b ) S e a s p o s i e s d o s o l e d o s v e n t o s n o f o r e m o b s e r -
v a d a s , o c o r r e r d e s c o n f o r t o p a r a o p r o p r i e t r i o e , m u i -
t a s v e z e s , o a u m e n t o d o s c u s t o s c o m o e m p r e g o d e s o -
l u e s a r t i f i c i a i s .
c ) A d i s t n c i a d e u m l o t e p a r a o o u t r o d e v e s e r r e s p e i t a -
d a , p o i s h m a t r i a q u e d i s c i p l i n a o a s s u n t o .
d ) O s t e r r e n o s , q u a n d o n o s o r e t a n g u l a r e s , d i f i c u l t a m
o t r a b a l h o d o a r q u i t e t o .
e ) A s d i m e n s e s m n i m a s s o e s t a b e l e c i d a s p e l a L e i
F e d e r a l q u e u m a v e z d e s r e s p e i t a d a p o d e c r i a r p r o b l e -
m a s .
f ) E s t e f a t o r , s e n o t r a t a d o c o m g r a n d e s e r i e d a d e p e l o
a r q u i t e t o , p o d e r p r o v o c a r u m a i n v e r -
s o d e v a l o r e s f a z e n d o c o m q u e o
p r e o d o t e r r e n o s e s o b r e p o n h a a o
d a o b r a d e a r q u i t e t u r a .
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
36
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
37
Unidade
III
Conceituar Projeto de Arquitetura, Alvar, "Habite-
se", "ITBI", Memorial Des-critivo, Plano Diretor;
Identificar as exigncias estabelecidas para a construo de uma
obra;
Identificar os locais de registro;
Reconhecer caractersticas bsicas de um projeto de arquitetura,
de projetos complementares, do levantamento topogrfico;
Reconhecer o processo utilizado para a elaborao do projeto;
Explicar as caractersticas bsicas de uma construo;
Reconhecer o significado dos termos mais usados na rea
arquitetnica.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
38
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade III
INEDI - Cursos Profissionalizantes
39
8. PORTAS E PORTES
Existe grande variedade de tipos de por-
tas e portes, e o TTI precisa identificar as aber-
turas das portas e portes em um desenho ar-
quitetnico. Para isto, seguem algumas figuras
das portas com representao em planta.
Porta giratria
Porta de Abrir
Porta Sanfonada
Porta Pantogrfica
Porta de Correr
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
40
PORTES
Porto Basculante
Corte
Planta
Porto de Enrolar
Corte
Planta
Porto Pivotante Vertical
Corte
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade III
INEDI - Cursos Profissionalizantes
41
Planta
9. JANELAS
As janelas em planta, geralmente so re-
presentadas conforme a figura abaixo:
Representao em planta (para janelas abaixo
de 1,50m)
Representao em planta (para janelas acima
de 1,50m)
9.1 TIPOS DE ABERTURAS DAS
JANELAS
9.1.1. BASCULANTE - as peas das janelas
giram em torno de um eixo superior, tendo o
movimento limitado por hastes laterais.
9.1.2. MXIMO-AR - Janela cuja abertura
deixa os vidros numa posio perpendicular
ao caixilho, permitindo total ventilao e ilu-
minao em relao ao batente.
9.1.3. ABERTURA TIPO GUILHOTINA
- a abertura da janela na posio vertical.
9.1.4. JANELA DE CORRER - a abertura
da janela na posio horizontal.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
42
9.1.5. JANELA TIPO VENEZIANA - per-
mite a ventilao permanente dos ambientes,
impedindo a visibilidade do exterior e a en-
trada de gua da chuva. formada por palhe-
tas inclinadas e paralelas
9.1.6. JANELA COM BANDEIROLA , si-
tuado na parte superior das janelas ou das por-
tas. Fixo ou mvel, favorecendo a iluminao
e ventilao dos ambientes.
10. FASE DE TRANSIO
O processo de elaborao de projetos de
Arquitetura e Engenharia est passando por
uma fase de transio, na qual ainda encon-
tram-se profissionais que utilizam o mtodo
tradicional, fazendo uso da prancheta, rgua,
escala, esquadros e outros materiais de dese-
nho, ao mesmo tempo em que ocorre uma sig-
nificativa procura por uma nova ferramenta
de trabalho, representada pelo CAD - Com-
puter Aided Design, que significa Projeto ou
Desenho Auxiliado por Computador. Cada
vez mais os profissionais esto se conscienti-
zando da praticidade, agilidade e convenin-
cia oferecidas pelo sistema, facilitando, inclu-
sive, a comunicao entre o profissional e seus
clientes.
10.1 MTODO TRADICIONAL DE
DESENHO
Relacionamos, a seguir, alguns equipa-
mentos, utenslios e mobilirio tradicional-
mente utilizados pelos profissionais para ela-
borao de projetos.
Mobilirio
10.1.1. PRANCHETA - Mesa para desenho,
com alavancas de acionamento da inclinao
e da altura. Geralmente revestida com plsti-
co de cor verde, branco ou azul.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade III
INEDI - Cursos Profissionalizantes
43
10.1.2. RGUA T - Usada em dese-
nho tcnico para o traado de linhas paralelas.
As linhas perpendiculares so obtidas com au-
xlio de esquadro apoiado na rgua T. Pode ser
fabricada em madeira, com bordas de plstico
inquebrvel ou acrlico. A rgua T pode ser
fixa ou acoplada a um cabeote mvel, com
transferidor, permitindo o traado de linhas
inclinadas.
10.1.3. RGUA PARALELA - rgua parale-
la surgiu depois da rgua T. confeccionada
em acrlico cristal com espessura de 3,2mm,
podendo ter proteo de alumnio anodizado.
fixada na prancheta atravs de parafusos e
cordoamentos de nylon especial. A rgua des-
loca-se sobre a prancheta no sentido transver-
sal, proporcionando o traado de linhas para-
lelas
10.1.4. ESCALA - uma rgua utilizada em
desenho tcnico para reduzir ou ampliar o
objeto. O manuseio deste equipamento ser
detalhado, mais a frente.
10.1.5. ESQUADROS - Os esquadros so
utilizados em conjunto com a rgua T ou com
a paralela, para traar linhas perpendiculares
e paralelas. Existem esquadros de 30 e de 45.
So fabricados em acrlico cristal com 2mm
ou 3mm de espessura, com escala em mil-
metros, ou sem escala, podendo, ainda, apre-
sentar rebaixo para traado a nanquim.
O tamanho dos esquadros varia de 16cm
a 50cm.
10.1.6. TRANSFERIDORES - Transferido-
res so utilizados para aferir os ngulos do de-
senho. So fabricados em acrlico cristal com
dimetro variando entre 10cm e 25cm.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
44
10.1.7. RGUAS DE NORMGRAFO -
Estas rguas so utilizadas em conjunto com
um instrumento, conhecido por aranha,
onde so fixadas canetas tinta e a ponta seca
na rgua, possibilitando assim o desenho arte-
sanal das letras.
10.1.8. GABARITOS - So utenslios de pls-
ticos ou acrlico que apresentam os contornos
de objetos variados utilizados em desenho tc-
nico de construes.
Gabarito de letras.
Gabarito Sanitrio
Gabarito de Telhas
Gabarito de portas/sanitrios/eltrico/crcu-
los e retngulos
Gabarito de Vegetao
10.1.9. RGUA FLEXIVEL - A rgua flex-
vel serve para o traado de qualquer tipo de
curva. fabricada de borracha especial com
alma interna de chumbo com liga especial.
Possui rebaixo nas bordas para desenho nan-
quim. O comprimento varia de 40cm a 1m.
10.1.10. ACHURIADOR RPIDO - Ideal
para traar linhas ou figuras perfeitamente
paralelas com qualquer espaamento. Pos-
sui dispositivo para acoplar qualquer tipo
de gabarito o que amplia muito seu campo
de utilizao.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade III
INEDI - Cursos Profissionalizantes
45
10.1.11. PANTGRAFO - Concebido para
executar redues ou ampliaes com bastan-
te preciso, dentro de uma tolerncia mxi-
ma de 5% de erro, nas propores de: 1/12,
1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5,
2/3, 3/4, 4/5, etc. Braos leves de alumnio
anodizado e ferragens de lato finamente cro-
madas formam a estrutura.
10.1.12. LPIS LAPISEIRAS - Os
lpis e lapiseiras (minas ou grafites) so
classificados por meio de letras ou n-
meros segundo o seu grau de dureza.
Quanto maior for o seu nmero ou
classificao de sua letra maior ser a
sua rigidez.
A srie B compreende, de forma
geral, os lpis macios e a srie F os l-
pis duros. Para o desenho preliminar pode-se
usar o lpis HB ou grafite equivalente para
uso em lapiseira. Existe no mercado uma gran-
de variedade de tipos de lapiseiras.
Classificao alfabtica para tipos de
grafite (macios e duros)
Lpis macios: 7B, 6B, 5B, 4B, 3B, 2B
Lpis rijos: H, 2H, 3H, 4H, 5H, 6H.
Lpis de dureza intermediria: B, HB, F.
Classificao numrica
Nmero 1 equivalente 3B;
Nmero 2 equivalente B;
Nmero 3 equivalente F;
Nmero 4 equivalente 2H;
Nmero 5 equivalente 4H;
Nmero 6 equivalente 6H;
10.1.13. CURVA FRANCESA
10.1.14. BIGODE - Indispensvel na rotina
de trabalho de estudantes e profissionais. De
tamanho compacto, fcil da acomodar, pos-
sui cerdas naturais (crina animal) e cabo ana-
tmico em madeira de lei com fino acabamen-
to, medindo, aproximadamente 25 cm.
10.1.15. COMPASSO - Instrumento para
desenhar arcos ou crculos.
10.2 MTODO ATUAL DE DESE-
NHO CAD UMA NOVA FILOSO-
FIA DE TRABALHO
Filosofia de trabalho inovadora em
projeto e construo, o CAD representa,
sem dvida, uma ferramenta essencial para
o arquiteto e o engenheiro, bem como para
todos os profissionais dedicados rea de
desenho tcnico. Com o crescente interes-
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
46
se e conscientizao das empresas com re-
lao ao uso do CAD e seus efeitos sobre a
melhoria da eficincia e da qualidade do
trabalho oferecido clientela, evidencia-se,
no futuro prximo, a diminuio do espa-
o reservado queles profissionais que no
adotarem esta tecnologia de ponta. O en-
sino e aprendizado dessa ferramenta deve
ser pautado pelas necessidades de cada pro-
fissional, Ao arquiteto, por exemplo, im-
portante o profundo conhecimento dos
comandos e facilidades oferecidas pelo pro-
grama, pois, medida que vai desvendan-
do suas quase ilimitadas possibilidades,
passa a ter maior desenvoltura de trabalho,
ganhando em produtividade e conseguin-
do, at mesmo conceber e materializar sua
idia diretamente no computador. Uma vez
que a idia criativa origina-se na mente do
profissional, o que acontece, neste caso,
a transferncia de idias do homem, dire-
tamente para a mquina.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
47
Unidade
IV
Conhecer a documentao necessria para incio de
uma obra, incluindo alvar, certides negativas, habite-se e
ITBI;
Conhecer a classificao dos projetos residenciais quanto aos tipos
de edificaes;
Descrever os tipos mais comuns de fundaes e de estruturas de
uma obra;
Descrever as instalaes de esgoto de uma residncia, incluindo
caixa de esgoto;
Conhecer os vrios tipos de revestimentos usados em uma obra,
incluindo elementos decorativos.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
48
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
49
11. OBRA
Uma obra envolve mais que tijolos, ci-
mento ou argamassa. H documentos, enti-
dades, impostos e conjuntos de leis que, mui-
tas vezes, o pblico leigo jamais suspeitou que
existissem.
11.1 AO DE ADJUDICAO
COMPULSRIA
utilizado para que se cumpra a trans-
ferncia de propriedade de um bem imvel
quando o antigo proprietrio no pode ou
no quer faz-la. Nessa ao, o novo dono
deve comprovar que comprou e pagou por
ele. Para isso, pode-se usar o compromisso
de compra e venda, recibos, promissrias e
testemunhas.
11.2 ALVAR
Essa licena, expedida pela prefeitura,
autoriza a construo ou a reforma de um
imvel. O poder municipal fica obrigado a li-
berar a permisso sempre que um pedido for
feito, desde que respeite todas as regras e apre-
sente todos os documentos requeridos.
11.3 CARTRIO DE NOTAS
O registro de todas as declaraes ou
documentos que precisam tornar-se pblicos,
por exigncia ou no da lei, feito nesses
cartrios. Contratos de compra e venda, por
exemplo, s viram escrituras quando lavrados
ali. Assim, deixam de ser um instrumento par-
ticular para confirmar, de modo formal, a ven-
da de um imvel.
11.4 CERTIDO NEGATIVA
Qualquer documento que comprove a
iseno de nus ou as dvidas de todos os
tipos com a Justia, os rgos pblicos, a
prefeitura e at o comrcio e os credores leva
esse nome. Tais papis podem ser emitidos
em nome de pessoas fsicas ou jurdicas e
em favor de um imvel. O termo negativa
nas certides mostra que no houve nenhum
registro de ocorrncia nos rgos consulta-
dos.
11.5 CDIGO DE OBRAS
So leis municipais que determinam a
forma de ocupao do solo, mais especifica-
mente, estabelecendo detalhes tcnicos para
as construes, como a quantidade mnima de
janelas e o dimensionamento das escadas e das
sadas de emergncia. Se essas regras forem
desrespeitadas, a obra no ser aprovada pela
prefeitura. Nas capitais e grandes cidades, o
Cdigo de Obras vendido em livrarias. Em
outros municpios, ele pode ser obtido na pre-
feitura.
11.6 HABITE-SE
Expedido pela prefeitura, a licena que
libera o imvel construdo ou reformado para
a moradia ou para a permanncia e circula-
o de pessoas (como cinemas, teatros e es-
critrios). Essa autorizao s concedida
aps a entrega de todos os documentos refe-
rentes obra, como o alvar e o memorial
descritivo, alm dos comprovantes de paga-
mento dos impostos (INSS e ISS). Se houver
qualquer divergncia, um fiscal vai at a cons-
truo: ele pode multar o construtor e impe-
dir que pessoas entrem no edifcio at que as
correes sejam feitas.
11.7 IMPOSTO DE TRANSMISSO DE
BENS IMOBILIRIOS (ITBI)
cobrado sempre que h a transfern-
cia de propriedade de um bem imvel feita
de forma pblica, ou seja, quando se lavra a
escritura. A alquota a ser paga varia entre
2% e 6% do preo do imvel declarado no
Cartrio de Notas.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
50
11.8 JUIZADO ESPECIAL CVEL
So os antigos Juizados de Pequenas
Causas, aos quais recorrem apenas as pessoas
fsicas. Servem para julgar causas civis de me-
nor complexidade, com valores at quarenta
salrios mnimos. Para casos que no excedam
vinte salrios mnimos, dispensada a presen-
a de um advogado. H excees para os rus:
nesses juizados no podem ser julgados, entre
outros, os rgos pblicos.
11.9 LEI DE ZONEAMENTO
Esse conjunto de leis e decretos munici-
pais responsvel por ordenar e direcionar o
crescimento de uma cidade. Por essa legisla-
o, o mapa oficial de um municpio dividi-
do em zonas, que por sua vez so repartidas
em usos. Uma zona pode ter uso nico (quan-
do somente residencial, por exemplo) ou
misto (comrcio e casas). Essa lei tambm es-
tabelece padres urbansticos que variam con-
forme a zona, como os recuos legais.
11.10 MEMORIAL DESCRITIVO
Trata-se de um documento que descre-
ve um imvel ou um empreendimento imo-
bilirio de forma completa (rea total, rea
construda, metragem dos ambientes e at ma-
teriais de acabamento). necessrio para a re-
quisio do habite-se na prefeitura.
11.11 PLANO DIRETOR
o conjunto das diretrizes legais que or-
denam o crescimento e preservam a harmonia
visual de uma cidade. Ele define linhas claras e
rigorosas para projetos arquitetnicos e urba-
nsticos e, por isso, serve de referncia s cons-
trues que interferem no traado da cidade.
Acompanhando o desenvolvimento do muni-
cpio, esse plano sofre modificaes ao longo
do tempo, que devem ser aprovadas pela C-
mara Municipal e pelo prefeito. s vezes, essas
mudanas provocam conflitos de interesses
(como a abertura de uma nova avenida onde
existam casas). Assim, sempre que uma pessoa
ou um grupo de cidados se sentir lesados, po-
dem entrar na Justia contra aspectos do plano
diretor.
12. PROJETOS DE RESIDNCIA
12.1 RESIDNCIAS -
CLASSIFICAO
importante estabelecer certos critrios
classificatrios porque, em caso de financiamen-
tos, as normas disciplinadoras tratam de forma
diferenciada cada tipo de habitao.
As moradias podem ser classificadas
quanto ao tipo e quanto edificao. Vejamos
estas classificaes.
12.1.1. Classificao quanto ao tipo - As
moradias podem ser classificadas quanto ao
tipo em habitao unifamiliar, habitao po-
pular e habitao residencial.
1. Habitao unifamiliar a constituda
de, no mnimo, um quarto, uma sala,
um banheiro, uma cozinha e rea de
servio coberta e descoberta.
2. Habitao popular a que tem as mes-
mas caractersticas da habitao unifa-
miliar, podendo, contudo, ter at trs
dormitrios e a rea total mxima no
deve exceder aos 68m
2
, de acordo com
o Cdigo de Obras de Braslia. Esta rea
poder sofrer pequenas variaes, de
acordo com o Cdigo de Obras de ou-
tras regies.
3. Habitao residencial a que possui
rea com mais de 68m
2
(Cdigo de
Obras de Braslia).
Alguns cdigos de edificaes estabele-
cem um coeficiente para classificar as residn-
cias, so os chamados coeficientes de leito e
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
51
referem-se relao existente entre a rea to-
tal da residncia e o nmero de leitos que esta
pode abrigar. Define-se que o coeficiente de
leito para as casas populares igual ou inferior
a 10 (dez).
Tomemos como exemplo uma casa com
58m e trs quartos (9 camas). O coeficiente
de leito igual a 58 : 9 = 6,44 que inferior a
10; portanto, trata-se de uma casa popular.
J uma outra casa com os mesmos 58m
2
,
porem com um nico quarto, no poder ser
enquadrada como casa popular, pois seu coe-
ficiente de leito igual a 19,33 (58 : 3), quase
o dobro de 10 (parmetro para casa popular) .
No vamos apresentar um desenho para
este tipo de moradia, pois o que importa nela
so as dimenses e no a forma.
12.1.2. Classificao quanto edifica-
o - As residncias classificam-se quan-
to edificao em isoladas, geminadas,
em srie, conjuntos residenciais e edif-
cios. Vejamos cada uma delas.
1. Residncias isoladas so as que, como
o nome indica, so separadas umas das
outras.
2. Residncias geminadas so as ligadas
por uma parede comum.
3. Residncias em srie so as constru-
das em seqncia.
4. Conjuntos residenciais so agrupamen-
tos de moradia que tm no mnimo 20
unidades residenciais. Os conjuntos re-
sidenciais podem ser compostos de uni-
dades isoladas e/ou prdios de aparta-
mentos, dependendo do programa ha-
bitacional.
Qualquer ncleo habitacional de-
ver ser servido de todos os comple-
mentos necessrios ao seu pleno fun-
cionamento, tais como comrcio, es-
cola, lazer, servios pblicos, etc., na-
turalmente mantendo as devidas pro-
pores em relao ao nmero de usu-
rios e legislao de cada municpio.
5. Edifcios so edificaes de dois ou mais
pavimentos destinados a residncia, co-
mrcio ou s duas finalidades (mista).
Cada projeto para edifcio dever seguir
normas prprias em funo de seu zoneamen-
to, destinao, altura, nmero de unidades,
alm das legislaes especficas do municpio.
Contudo, em todo e qualquer edifcio
dever sempre existir uma preocupao cons-
tante quanto aos acessos verticais (escadas e
elevadores), definidos por normas prprias,
proteo contra incndio, estacionamentos
(mnimo 25m
2
/veculo), coleta de lixo, etc.
De acordo com as normas de financia-
mento, necessita-se freqentemente
classificar as obras. As moradias so co-
mumente classificadas quanto ao tipo e
quanto edificao.
Quanto ao tipo, as habitaes classifi-
cam-se unifamiliares, populares e resi-
denciais.
Habitao unifamiliar aquela consti-
tuda de um quarto, uma sala, um ba-
nheiro, uma cozinha e uma rea coberta
e descoberta.
Habitao popular a que tem as mes-
mas caractersticas da unifamiIiar, mas
pode ter at trs dormitrios, perfazen-
do uma rea mxima de 68m2, segun-
do o Cdigo de Edificaes de Braslia.
A habitao residencial ultrapassa a
68m
2
.
Alguns cdigos de edificaes estabele-
cem um coeficiente para classificao
das residncias, denominados coeficien-
tes de leito, que se referem relao exis-
tente entre a rea total da residncia e o
nmero de leitos que esta residncia
pode abrigar.
Quanto edificao, as habitaes clas-
sificam-se em isoladas, geminadas, em
srie, conjuntos residenciais e edifcios.
As habitaes isoladas so separadas
umas das outras.
As habitaes geminadas so unidas por
uma parede comum.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
52
As habitaes em srie so vrias residn-
cias construdas num mesmo local, com
um mesmo projeto. So subdivididas em
transversais e paralelas ao alinhamento
predial.
Conjunto residencial o agrupamen-
to de moradias que tem, no mnimo,
vinte unidades residenciais. com-
posto de unidades isoladas ou prdi-
os de apartamentos.
Edifcios so edificaes de dois ou mais
pavimentos, destinadas a residncia,
comrcio ou mistas.
Todo e qualquer ncleo habitacional
dever ser servido de uma certa infra-
estrutura, como comrcio, hospital,
servios pblicos, escola, etc.
Antes de olhar as respostas, consulte o texto e
descreva as caractersticas das edificaes a se-
guir:
1. Conjunto residencial: ________________
_____________________________________
___________________________________
2. Edifcio:__________________________
___________________________________
___________________________________
1 . O c o n j u n t o r e s i d e n c i a l d e v e t e r , n o m n i m o , 2 0 u n i d a -
d e s r e s i d e n c i a i s q u e p o d e m s e r c a s a s o u p r d i o s . T a l
e d i f i c a o d e v e r s e r s e r v i d a d e t o d a e s t r u t u r a n e c e s s -
r i a p a r a o s e u f u n c i o n a m e n t o .
2 . O e d i f c i o p o d e s e r d e d o i s o u m a i s p a v i m e n t o s e s e r v i r
p a r a c o m r c i o , r e s i d n c i a o u p a r a a s d u a s f i n a l i d a d e s
( m i s t a ) . D e v e s e m p r e e x i s t i r p r e o c u p a o c o m o s a c e s -
s o s v e r t i c a i s ( e s c a d a s , e l e v a d o r e s ) ,
d e f i n i d o s p o r n o r m a s p r p r i a s : p r o -
t e o c o n t r a i n c n d i o , e s t a c i o n a -
m e n t o , c o l e t a d e l i x o , e t c .
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
53
13. FUNDAO E ESTRUTURA
13.1 FUNDAO
Elaborados os projetos de Arquitetura e
Estrutura, cabe ao proprietrio/construtor dar
incio obra. Esta dever estar assentada de
tal forma que no venha a tombar ou afundar
no terreno. neste momento que se realizam
as fundaes ou, como dizem os leigos, o ali-
cerce da obra.
A primeira vista, poder parecer que este
estgio constitui uma atividade de importn-
cia relativa na Engenharia. Na verdade as fun-
daes so e sempre foram essenciais no con-
texto de toda a edificao.
Define-se como fundao o processo
pelo qual se cria no terreno uma resistncia
igual e em sentido contrrio ao do peso (ou
fora) que dever atuar sobre ele, para garan-
tir a sustentao da obra.
Exemplificando: se uma obra pesa 500
toneladas e o terreno no suporta este peso,
preciso criar artificialmente um sistema de
sustentao para suportar este peso, ou ento,
a obra no ficar de p. Este sistema chama-
do de fundao.
Observe os desenhos:
As fundaes evitam que a obra tombe pela
ao do vento
As fundaes evitam que a obra afunde por
ao do peso prprio ou adicional.
13.2 ESTRUTURA
Falar em estrutura de uma edificao o
mesmo que falar do esqueleto humano. o sis-
tema rgido que lhe assegura manter-se de p,
ou seja, a parte do corpo que recebe todas as
cargas (peso) prprias ou adicionais, e as trans-
mite para os ps, isto , para a fundao. Os
homens tm uma srie de articulaes, que Ihes
permitem movimentos. Nas edificaes tam-
bm existem estes movimentos, embora mni-
mos. As juntas de dilatao permitem obra,
movimentar-se em decorrncia da variao de
temperatura ou outras solicitaes.
O sistema estrutural das edificaes, que
hoje conhecemos, tem pouco mais de uma
centena de anos e s lhe foi possvel esta ma-
turidade, com o advento de novos materiais
construtivos, como o ao e o cimento. E, aci-
ma de tudo, com a explorao destes e outros
materiais, pelas pesquisas tcnicas de resistn-
cia e aplicao dos conhecimentos matemti-
cos que constituem a alavanca da evoluo da
Engenharia nas Edificaes.
13.2.1. Tipos de estrutura
Costuma-se classificar as estruturas, em
funo do material usado, em estruturas de
madeira, de concreto e de metal.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
54
a) Estrutura de madeira - o tipo mais
antigo de estrutura, todavia, em decor-
rncia de sua pequena capacidade de
vencer vos e suportar grandes esforos,
empregada em obras de pequeno por-
te. Outros empecilhos aplicao e di-
fuso da madeira nos tempos modernos
a sua pouca durabilidade, alm de,
devido escassez, o seu custo tornar-se
proibitivo. Hoje, o uso mais trivial da
madeira em estrutura de cobertura
para telhas de barro.
b) Estrutura de concreto - Ao se falar em
concreto, estamos normalmente nos
referindo associao de cimento,
gua e agregados (areia + pedra).
Quando se usa o concreto com um
apoio, que normalmente feito de
ferro, d-se a esta combinao o nome
genrico de concreto armado.
A consistncia, resistncia ou plas-
ticidade do concreto so decorrentes da
proporcionalidade dos elementos que o
constituem e so fornecidos pelo calcu-
lista, pois cada estrutura requer um re-
sultado final distinto.
O cimento o elemento que d
resistncia ao concreto.
A gua, alm de ser o elemento que
fornece a plasticidade ao concreto, pro-
voca a reao qumica do cimento. Seu
uso deve ser muito bem controlado, sob
pena de lavar o concreto, fazendo-o per-
der suas caractersticas.
O fator gua/cimento to importante
que normatizado e existem estudos de
alto nvel sobre o assunto. Assim, a pro-
poro gua/cimento no pode ser es-
tabelecida sem um critrio tcnico pre-
viamente estabelecido.
A brita, cascalho e a areia so cha-
mados de agregados e sua funo prin-
cipal, alm de ocupar espao (diminuir
o custo da obra, j que so mais baratos
que o cimento) , tambm, de consor-
ciando-se com o cimento, oferecer mai-
or resistncia ao concreto.
Da dosagem de cada elemento na
composio do concreto dependero sua
plasticidade e resistncia.
Uma pea de concreto estar cura-
da, isto , estar com sua resistncia ple-
na depois de 28 dias; contudo, o con-
creto tem a propriedade de, medida
que envelhece, ficar mais resistente.
Existem no mercado, hoje, inme-
ros produtos qumicos que, adicionados
ao concreto, fazem com que o processo
de endurecimento seja acelerado -so os
aceleradores de pega. Existem, tambm,
produtos para retardar o endurecimen-
to - so os retardadores de pega. So
usados em casos excepcionais e sua apli-
cao e dosagem sempre obedecem re-
comendao tcnica.
c) Estrutura metlica - a estrutura ideal
para grandes obras ou para obras padro-
nizadas. uma estrutura limpa, rpida
e de baixo custo quando em grande
quantidade.
Em decorrncia da exigncia de
mo-de-obra mais especializada e, por-
tanto, mais cara, a indstria da cons-
truo civil tem, numa posio terceiro
mundista, oferecido, no Brasil, uma
grande resistncia ao seu emprego. Em
contrapartida, a indstria siderrgica
nacional, face reduzida procura, no
tem investido no seu desenvolvimento
tecnolgico e mercadolgico, criando-
se assim um crculo vicioso: no desen-
volve porque no vende; no vende por-
que no desenvolve.
As possibilidades tcnicas do ao
so ilimitadas, propiciando execues de
grandes vos (pontes) e edifcios muito
altos, haja vista a torre da Sears em Chi-
cago, com mais de 100 pavimentos.
Para finalizar este texto, citaremos
o arquiteto Srgio Bernardes que diz o
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
55
seguinte na apresentao de um traba-
lho da Aominas referente a estruturas
metlicas: O ao far um trabalho cul-
tural fantstico, dando um caminho
para cima ao operrio na exigncia de
uma mo-de-obra qualificada e qualifi-
cando em constante provocao a mo-
de-obra no qualificada, buscando cri-
ar uma poltica para a melhoria da qua-
lidade de vida na relao custo/benef-
cio, onde o dinheiro super qualificado
se encontra com o material adequado
dinmica das necessidades de criativi-
dade e mudanas..
I - Explique com suas palavras o que a es-
trutura de uma edificao.
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
II - Analise as afirmaes abaixo, escrevendo,
nos parnteses, SIM ou NO.
Reescreva corretamente as afirmaes
que voc assinalar de forma negativa.
1. ( ) A estrutura de madeira muito utiliza-
da nas edificaes por ser forte e barata.
_________________________________________________________________
2. ( ) Concreto armado o nome genrico
da combinao de cimento + gua + agrega-
dos + ferro.
_________________________________________________________________
3. ( ) A gua o elemento que tem como
funo ocupar espao e oferecer maior resis-
tncia ao concreto.
_________________________________________________________________
4. ( ) O cascalho e a areia so chamados de
agregados e tm como funo fornecer a plas-
ticidade ao concreto.
_________________________________________________________________
5. ( ) Da dosagem de cada elemento na com-
posio do concreto dependero a sua plasti-
cidade e a resistncia.
_________________________________________________________________
6. ( ) A estrutura metlica utiliza de mo-de-
obra barata.
_________________________________________________________________
7. ( ) A estrutura metlica ideal para gran-
des obras.
_________________________________________________________________
a estrutura de uma edificao que recebe todas
as cargas prprias ou adicionais e as transmite para
a base, ou seja, para a fundao.
O sistema estrutural das edificaes tornou-se
mais eficiente com o advento de novos materiais
construtivos, como o ao e o cimento, a explora-
o destes e outros materiais, a aplicao de co-
nhecimentos matemticos e, acima de tudo, o prin-
cpio elementar para os clculos estruturais de uma
edificao - a lei da ao e reao.
As estruturas so classificadas de acordo com o
material usado: madeira, concreto, metal.
A estrutura de madeira o sistema mais antigo e
devido a sua fragilidade, sua pequena capacidade
de vencer vos, de suportar pesos e seu alto custo,
empregada apenas em obras de pequeno vulto.
A estrutura de concreto composta de cimento,
gua e agregados e, em alguns casos, ferro muito
usada por ter consistncia, resistncia ou plastici-
dade. No entanto, tal estrutura exige clculos es-
pecficos, pois cada uma requer uma composio
distinta.
A estrutura metlica a ideal para grandes obras
ou para um volume grande de obras padronizadas.
uma estrutura limpa, rpida e que, em grande
quantidade possui baixo custo. Ela exige mo-de-
obra mais especializada e, portanto, mais cara.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
56
13.3 INSTALAES DE ESGOTO
A primeira idia que nos vem quando
tratamos de uma rede de esgoto que toda
gua usada sair em forma de esgoto. At as
concessionrias de servio pblico usam este
critrio para clculo de volume dos afluentes
em suas redes.
Esta idia relativamente correta, quan-
do se trata simplesmente do volume, pois os
esgotos domsticos tm em sua composio
99,9% de gua. O problema diz respeito ao
0,1% (um dcimo por cento) restante, consti-
tudo dos resduos oriundos das fezes, urina, lim-
peza corporal, lavagem de piso, roupas, utens-
lios de cozinha, etc. Neste processo de excreo
e higienizao que efetuamos diariamente, lan-
amos na rede de esgoto no s elementos or-
gnicos, fezes, urina e gorduras, como tambm
cidos, detergentes, p e muitos outros produ-
tos. O somatrio desses elementos cria os gran-
des complicadores de uma rede coletora de es-
goto, pois advm desta unio de compostos a
cultura e proliferao de microorganismos, a
formao de gases, a aglutinao das gorduras,
etc., em caso de esgoto residencial. Em outros
tipos de edificaes, podem existir elementos
que, pelas suas caractersticas poluentes, reque-
rem redes e tratamentos especiais, como por
exemplo, os hospitais, as indstrias e os frigor-
ficos.
Dessa forma, verificamos que o projeto
de esgoto tambm requer cuidados especiais,
no s como elemento de canalizao das guas
servidas, mas sobretudo para se evitar que es-
tas venham contaminar o ambiente com o
vazamento de lquidos ou gases, passagem de
animais e insetos, causando transtornos quanto
habitabilidade ou o comprometimento por
questes de sade.
Em decorrncia daquele 0,1% que men-
cionamos acima, a rede de esgoto no poder
ter o mesmo dimetro da rede de gua. Assim,
se em uma pia de cozinha a torneira de
13mm, a rede de esgoto ser no mnimo de
40mm, pois a tubulao de esgoto trabalha a
I - 1 . B e m s e m e l h a n t e e s t r u t u r a h u m a n a , a e s t r u t u r a d e
t o d a e d i f i c a o r e c e b e a s c a r g a s p r p r i a s o u a d i c i o n a i s
d a o b r a e a s t r a n s m i t e p a r a a s u a f u n d a o .
I I - V e j a s e v o c r e s p o n d e u c o r r e t a m e n t e .
1 . ( N O ) A e s t r u t u r a d e m a d e i r a p o u c o u s a d a p o r n o
s u p o r t a r g r a n d e s e s f o r o s , p e l a p e q u e n a c a p a c i d a d e d e
v e n c e r v o s e p e l o s e u a l t o c u s t o ; 2 . ( S I M ) ; 3 . ( N O ) A
g u a o e l e m e n t o q u e f o r n e c e a p l a s t i c i d a d e a o c o n c r e -
t o e p r o p o r c i o n a s u a r e a o q u m i c a ; 4 . ( N O ) O c a s c a -
l h o e a a r e i a s o r e a l m e n t e c h a m a d o s d e a g r e g a d o s , m a s
t m c o m o f u n o o c u p a r e s p a o e o f e -
r e c e r r e s i s t n c i a a o c o n c r e t o ; 5 .
( S I M ) ; 6 . ( N O ) A e s t r u t u r a m e t l i -
c a e x i g e m o - d e - o b r a e s p e c i a l i z a -
d a q u e n o b a r a t a ; 7 . ( S I M )
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
57
meia seo, enquanto a gua fornecida com
a tubulao cheia.
Veja, no final deste texto, uma relao
que transcrevemos para seu conhecimento, das
principais terminologias de esgotos sanitrio
adotada pela NBR 8160 de 1983, a qual dis-
ciplina e fixa as condies mnimas para os
projetos e execuo das referidas instalaes.
Antes, porm, de terminarmos este ttu-
lo, no poderemos deixar de lembrar a impor-
tncia do destino final dos esgotos para a sa-
de pblica e para o equilbrio ecolgico.
Boa parte de nossas cidades j dispem
da rede pblica de captao dos esgotos, en-
tretanto, pouqussimas esto aparelhadas com
os dispositivos tcnicos de tratamento deste
esgoto.
Lamentavelmente, estes so lanados in
natura nos crregos, rios ou lagos, com srios
e imediatos comprometimentos para as popu-
laes ribeirinhas e, a longo prazo, para toda a
populao regional, incluindo a, tambm,
aquelas causadoras da poluio.
Em regies onde no existe a rede p-
blica de captao, seja em cidades ou no cam-
po, deve se usar o sistema de fossas spticas e
sumidouros, sistema altamente eficiente, lar-
gamente comprovado e recomendado pelas
maiores autoridades sanitrias mundiais.
A seguir, alguns detalhes deste sistema:
a) Fossa sptica - destina-se a separar e
transformar a matria slida contida na gua
de esgoto, principalmente fezes, para em se-
guida descarregar esta gua no solo.
A transformao deste composto slido
feita por bactrias anaerbicas. Dessa forma,
deve ser evitado jogar na fossa sptica a gua
servida na cozinha, pois esta contm sabo e
detergentes, os quais so nocivos formao e
proliferao destas bactrias.
Veja o desenho:
b) Caixa de gordura - destina-se a receber
a gua servida na cozinha e separar a gordura.
Este procedimento necessrio, pois como vi-
mos antes, no se recomenda o lanamento des-
ta gua na fossa sptica nem o seu lanamento
diretamente no sumidouro sem a separao da
gordura, sob pena de, com o tempo, impermea-
bilizar as paredes do sumidouro, dificultando
assim a absoro natural. Veja o esquema para
construo de uma caixa de gordura.
A gordura fica em suspenso, permitin-
do a passagem da gua.
Tanto a caixa de gordura quanto a fossa
sptica necessitam de limpeza peridica para
remoo da gordura e da massa retidas.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
58
c) Sumidouro - simplesmente um bu-
raco no cho e destina-se a absorver a gua
proveniente da fossa sptica, da caixa de gor-
dura ou de outras origens.
Lembrete importante - seja na cidade ou
no campo, em rede pblica ou particular, as
guas de chuva (guas pluviais) nunca devem
ser canalizadas para a rede de esgoto, pois po-
der satur-la, irremediavelmente, comprome-
tendo todo o sistema.
I - Responda de forma correta.
1. Quais so as instalaes mais importantes
de uma edificao?
____________________________________
____________________________________
2. Dentre elas, qual a mais importante? Justi-
fique sua resposta.
____________________________________
____________________________________
a) Entre as instalaes mais importantes de uma
edificao (gua, esgoto, energia e telefonia), o sis-
tema de gua potvel o mais importante das ins-
talaes domiciliares. Sem ela no vivemos.
b) A gua quimicamente pura (H2O) imprpria
para ser bebida. A gua necessria ao nosso orga-
nismo a potvel que possui sais de clcio, mag-
nsio, iodo e uma gama enorme de outros mine-
rais variveis.
c) Na residncia, a gua deve ser depositada em
um reservatrio superior (caixa d'gua). Tais re-
servatrios so necessrios para manter o consu-
mo inalterado, a presso adequada em todas as
peas, por meio de uma distribuio racional; a
presso adequada ao funcionamento dos apare-
lhos, bem como, auxiliar na purificao da gua.
d) Toda gua usada expelida em forma de esgo-
to. O projeto de esgoto requer cuidados especiais,
pois os resduos que constituem o esgoto so
oriundos das fezes, urinas, limpezas corporais, la-
vagens de utenslios, gorduras, detergentes e ci-
dos, cujo somatrio complica a rede coletora de
esgoto.
e) Em regies onde no existe rede de esgoto, deve-
se usar o sistema de fossas spticas, caixas de gor-
dura e sumidouros.
f) A fossa sptica destina-se a separar e transfor-
mar a matria slida contida na gua de esgoto,
para em seguida descarregar esta gua no solo. A
transformao deste composto slido feita por
bactrias anaerbicas.
g) A caixa de gordura destina-se a receber a gua
utilizada na cozinha e para separar a gordura. Caso
no ocorra tal processo, a gordura, com o tempo,
impermeabiliza as paredes do sumidouro, dificul-
tando a absoro natural.
h) O sumidouro simplesmente um buraco no
cho destinado a absorver a gua proveniente da
fossa sptica, da caixa de gordura ou de outras ori-
gens. .Os trs princpios de energia eltrica so:
tensoou diferena de potencial, resistncia, inten-
sidade.
i) Existem dois tipos de sistemas telefnicos: liga-
es telefnicas e ligaes internas. As ligaes
telefnicas so as destinadas aos telefones propri-
amente ditos. Nesta rede podero ser ligados ou-
tros servios como telex, msica ambiente, com-
putadores, fax, etc. As tubulaes obedecem aos
critrios das concessionrias.
j) As ligaes internas pedem tubulaes indepen-
dentes das telefnicas. Referem-se a interfones, si-
nalizaes internas, antenas coletivas e outros sis-
temas de comunicao interna e exclusiva, como
as centrais de P(A)BX.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
59
3. Por que a gua quimicamente pura im-
prpria para ser bebida?
____________________________________
____________________________________
4. Numa residncia, a gua deve ser deposita-
da em um reservatrio superior. Para que so
necessrios tais reservatrios?
____________________________________
____________________________________
5. Como devem ser as tubulaes hidrulicas?
____________________________________
____________________________________
II - Escreva V ou F, nos parnteses, para as
afirmaes a seguir:
1. ( ) em regies onde no existe rede
de esgoto, deve-se usar o sistema de fossas sp-
ticas, caixas de gordura e sumidouros.
2. ( ) as guas pluviais devem ser cana-
lizadas para a rede de esgotos.
3. ( ) so quatro os princpios a serem
observados nas instalaes de energia eltrica:
tenso, resistncia, polaridade e intensidade.
4. ( ) nas ligaes telefnicas podero
ser ligados outros servios como telex, msica
ambiente, computadores, fax, etc.
5. ( ) cinemas, teatros, mercados, de-
psitos, armazns, hotis, hospitais, etc. reque-
rem estudos especiais para a instalao de te-
lefones.
III - Relacione adequadamente:
(A) Fossa sptica
(B) Caixa de gordura
(C) Sumidouro
1. ( ) um buraco no cho destinado
a absorver a gua proveniente da fossa sptica,
da caixa de gordura e outras origens.
2. ( ) Destina-se a separar e transformar
a matria slida contida na gua de esgoto para,
em seguida, descarregar esta gua no solo.
3. ( ) Destina-se a separar a gordura da
gua.
I - 1 . A s i n s t a l a e s m a i s i m p o r t a n t e s s o a s r e l a t i v a s
g u a , e s g o t o , e l t r i c a e t e l e f n i c a ; 2 . A i n s t a l a o m a i s i m -
p o r t a n t e a d e g u a . S e m e l a n o v i v e m o s ; 3 . A g u a q u i -
m i c a m e n t e p u r a n o p o s s u i o s e l e m e n t o s n e c e s s r i o s a o
n o s s o o r g a n i s m o , t a i s c o m o , c l c i o , m a g n s i o , i o d o e n t r e
o u t r o s m i n e r a i s ; 4 . O s r e s e r v a t r i o s s o n e c e s s r i o s p a r a
m a n t e r o c o n s u m o i n a l t e r a d o , a p r e s s o a d e q u a d a e m t o -
d a s a s p e a s p a r a u m a d i s t r i b u i o r a c i o n a l , a p r e s s o a d e -
q u a d a a o f u n c i o n a m e n t o d o s a p a r e l h o s e p a r a a u x i l i a r n a
p u r i f i c a o d a g u a ; 5 . A s t u b u l a e s h i d r u l i c a s d e v e m
s e r n o r m a l m e n t e d e P V C , a o g a l v a n i z a d o e c o b r e . N u n c a
s e d e v e u s a r o c h u m b o .
I I - 1 . ( V ) ; 2 . ( F ) A c a n a l i z a o d e g u a s p l u v i a i s p a r a a r e d e
d e e s g o t o p o d e s o b r e c a r r e g a r e c o m p r o m e t e r o s i s t e m a ; 3 .
( F ) S o t r s o s p r i n c p i o s a s e r e m o b s e r v a d o s n a s i n s t a l a -
e s e l t r i c a s : t e n s o , r e s i s t n c i a e i n -
t e n s i d a d e ; 4 . ( V ) ; 5 . ( V ) ;
I I I - 1 . ( C ) ; 2 . ( A ) ; 3 . ( B ) ;
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
60
14. REVESTIMENTO
enquadrado como revestimento, todo
acabamento das superfcies (paredes), sendo
excludas desta nomenclatura as pinturas.
Normalmente, os revestimentos inici-
am-se no chapisco, trao 1:4 (cimento e areia),
que tem a finalidade de servir como ancora-
gem ao emboo cujo trao varia de conformi-
dade com a finalidade; sua espessura no deve
ser superior a 2cm.
O emboo serve de base para outros re-
vestimentos, tais como o reboco, o azulejo, etc.
O reboco ou massa fina, normalmen-
te, usado para receber pintura; sua textura
pode ser rstica, camurada, lisa, com p de
pedra, etc.
Entre os revestimentos, o de maior des-
taque o azulejo. Para se extrair o mximo des-
te material, necessrio tomar alguns cuida-
dos, que resumimos para seu conhecimento.
Existem inmeras classificaes da qua-
lidade dos azulejos; estas variam de fabricante
para fabricante. Assim, um produto classifi-
cado como de primeira, na marca X, poder
corresponder na marca Y; de segunda, e na
marca W, de extra.
O esquadro e o nvel das peas so fato-
res determinantes para um acabamento har-
mnico da superfcie.
O operrio que ir assentar o azulejo
outro elemento fundamental no acabamen-
to final; no adianta dar azulejo extra a um
operrio despreparado, pois o acabamento
final ficar a desejar; o contrrio, s vezes,
funciona.
Um cuidado que sempre deve existir no
que concerne preparao dos azulejos, antes
de serem assentados, deix-los dentro dgua,
no mnimo, 24 horas.
As juntas devem ter de 0,5 a 1,5mm e o
reajuntamento ser feito com cimento bran-
co e gua, cuja plasticidade permite uma boa
penetrao nas juntas.
Com os demais revestimentos como la-
drilhos, pastilhas, pedras, mrmores, etc., os
cuidados de preparao das superfcies so se-
melhantes aos dos azulejos. Quanto aos re-
vestimentos com laminado melamnico (fr-
mica), a superfcie a receb-lo ser preparada
com emboo camurado, trao 1:3, aps o que
se procede conforme as recomendaes dos
fabricantes. Deve-se cuidar para no perma-
necer bolhas de ar sob as placas, pois estas,
alm de darem um aspecto feio, iro, com o
tempo, descolar toda a placa.
O processo de preparao para os lami-
nados melamnicos igual ao usado para as
chapas de ao, alumnio, vidro, papis, teci-
dos; todavia, deve sempre ser seguida a orien-
tao tcnica do fabricante.
A escolha do tipo adequado de revesti-
mento condicionada, alm do aspecto est-
tico, pela durabilidade, custo, adequao ao
ambiente, funo e ao uso.
14.1 SOLEIRAS, RODAPS E
PEITORIS
1) Soleira o tipo de arremate usado sob
os vos das portas e quando existe mu-
dana de tipo de pavimentao; os ti-
pos mais usuais de soleira so as de mr-
more, madeira, pedra, granito e cer-
mica. A largura normalmente a do
portal quando sob vos de portas ou,
em outra situao, a recomendada pelo
arquiteto.
2) Rodap o arremate da pavimentao
usado nas paredes. Normalmente, em-
prega-se para os rodaps o mesmo ma-
terial do piso e sua altura no deve ul-
trapassar a 10cm, a no ser que haja re-
comendao em contrrio do arquite-
to, autor do projeto.
3) Peitoril o acabamento na parte inferi-
or das janelas, que complementa a par-
te do marco com uma pequena pinga-
deira na parte exterior. Este acabamen-
to pode ser em chapa metlica, mrmo-
re, cermica, placa de cimento ou ou-
tros materiais.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
61
14.2 FERRAGENS
As ferragens so as peas metlicas (ao,
ferro, alumnio, bronze, cobre, etc.) encon-
tradas nas esquadrias metlicas ou de madei-
ra, responsveis pela fixao das mesmas (fe-
chos, fechaduras e cremonas). Permitem, tam-
bm, a articulao das esquadrias (gonzos, do-
bradias e alavancas).
Nesta classificao sucinta, existe uma
variedade de subprodutos, especficos ou no
para cada tipo de esquadria como, por exem-
plo, as ferragens para vidro temperado, cu-
jos desenhos so muito distintos, dependen-
do do fabricante. Citemos, como exemplo,
as fechaduras, cuja parte mecnica seme-
lhante em todas, porm o acabamento bas-
tante distinto, seja para os espelhos ou para
as maanetas.
14.3 VIDROS
O vidro um material cujo emprego
na arquitetura vem dia-a-dia se difundindo
nas construes, quer pelo aspecto plstico,
quer quanto ao aspecto tcnico. A supresso
de seu uso hoje um caso impensvel, mes-
mo com a grande variedade de produtos si-
milares como os derivados do petrleo, ou
seja, os plsticos.
A origem do vidro perde-se no tempo.
J era conhecido dos egpcios em sua forma
mais primitiva. Com o advento da tecnologia
no campo da qumica, da fsica e dos avanos
industriais, o vidro ganhou diversidade, pure-
za, resistncia, cor, textura e brilho.
Pela Norma Brasileira n 226 os vidros
podem ser classificados quanto (ao):
1. Tipo:
a) Recozido: vidro comum;
b) Temperado: por receber um resfriamen-
to brusco, sua resistncia aos impactos
aumentada e, ao partir-se, o faz em
pequenos pedaos;
c) Laminado: composto por diversas cha-
pas unidas por uma pelcula plstica
transparente;
d) Aramado: recebe uma armadura de fer-
ro, aumentando-lhe a resistncia ao es-
tilhaamento.
2. Transparncia:
a) Transparente: permite a passagem da luz
o que facilita a viso atravs dele;
b) Translcido: a luz no impedida de
passar, porm, difundida de tal forma
que as imagens no sejam ntidas;
c) opaco: no permite a passagem da luz.
15. APARELHOS
So utilizados em uma obra trs tipos
de aparelhos:
a) Aparelhos sanitrios - so todos os apa-
relhos usados em banheiros, tais como:
vaso, papeleira, saboneteira, bid, caixa
de descarga, lavatrio, mictrio, banhei-
ra e chuveiro.
b) Aparelhos de gua potvel - so aque-
les necessrios s instalaes hidrulicas,
porm de uso direto, como bebedouro,
filtro e torneira.
c) Aparelhos de iluminao - so os desti-
nados iluminao, como lmpadas,
calhas, arandelas, lustres, globos e re-
fletores.
Esses aparelhos so peas de acabamen-
to e, portanto, na sua escolha deve-se ter o
cuidado de no criar contrastes chocantes
com os demais elementos da obra, tanto em
termos do estilo quanto do padro de aca-
bamento e da cor.
A harmonia das cores e a coerncia do
estilo devem ser sempre a constante preocu-
pao por parte do arquiteto, do decorador e,
principalmente, do proprietrio. No devemos
nos iludir que peas vistosas, de cores fortes,
de desenhos arrojados sejam as melhores solu-
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
62
es, pelo contrrio, a sobriedade, quando bem
empregada, exerce efeitos estticos muito su-
periores, com a vantagem de no comprome-
ter por excesso.
16. ELEMENTOS DECORATIVOS
Todo trabalho artstico executado em
uma obra est classificado como elemento
decorativo. Esses trabalhos artsticos abrangem
as peas de serralheria, de madeira, de gesso,
de cermica, desde que a execuo dessas pe-
as requeira um requinte de projeto e de exe-
cuo especial.
neste item que se enquadram os ele-
mentos necessrios ao estudo e implantao
de sistemas de comunicao visual, quando a
obra assim o exige.
Esto inclusos tambm neste item to-
dos os trabalhos de paisagismo, tais como jar-
dins e arborizaes.
a) O Decreto n 52.147, de 25 de junho de 1963, da
Presidncia da Repblica, aprova as normas de pro-
jeto e mtodos de execuo de servios, a discrimi-
nao oramentria para obras de edifcios pblicos
e divide a obra em vinte itens: projeto; servios ge-
rais; preparao do terreno; fundaes; estrutura; ins-
talaes; elevadores; paredes; cobertura; esquadrias;
revestimentos; soleiras; rodaps; peitoris; ferragens;
vidros; tratamentos da obra, pavimentao; pintura;
aparelhos; elementos decorativos e limpeza.
b) Servios gerais so todas as providncias que
precedem o incio da obra: cercas, tabuletas, mate-
riais necessrios, alojamentos, aparelhos e mqui-
nas a serem usados, ligaes provisrias, etc.
c) Preparao do terreno a etapa das capinas,
demolies, remoo de entulhos, locao da obra,
movimentos de terra, etc.
d) Os elevadores so usados somente em obra de
certo vulto; suas montagens so efetuadas pelos
prprios fabricantes.
e) As paredes podem ser feitas de: tijolo, barro,
blocos de cimento e pedra, .A cobertura deve es-
tar muito bem ancorada na estrutura, Temos co-
bertura com telhas de amianto, de alumnio, cha-
pas de ao, de barro e outros materiais.
f) Esquadrias so todas as peas usadas na veda-
o das aberturas das edificaes. Classificam-se
em internas (portas) e externas (portas e janelas)
Podem ser de madeira ou metlicas.
g) Os revestimentos abrangem todo acabamento
das superfcies (paredes), excluindo as pinturas.
Entre eles, encontramos: azulejos, ladrilhos, pasti-
lhas, pedra, mrmore e frmica.
h) As soleiras so usadas sob os vos das portas e
nas mudanas de tipo de pavimentao. Os tipos
mais comuns so de mrmore, madeira, pedra, gra-
nito e cermica.
i) Rodap o arremate da pavimentao. O mate-
rial, normalmente, acompanha o do piso.
j) Peitoril o acabamento na parte inferior das ja-
nelas. Pode ser em chapa metlica, mrmore, cer-
mica e outros.
k) As ferragens so aquelas peas metlicas en-
contradas nas esquadrias metlicas ou de madeira.
So responsveis pela fixao e articulao das es-
quadrias.
l) Os vidros so classificados quanto ao tipo (reco-
zido, temperado, laminado e aramado), quanto
forma (chapa plana, chapa curva, chapa perfilada e
chapa ondulada), quanto transparncia (transpa-
rente, translcido e opaco), quanto superfcie (po-
lido, liso, impresso ou fantasia, fosco e espelhado) e
quanto colorao (incolor e colorido).
m) O tratamento refere-se proteo que se d
obra e que pode ser quanto ao vazamento d'gua,
ao calor ou tratamento trmico e aos rudos.
n) A pavimentao trata do piso, que deve estar
coerente com a funo do ambiente.
o) Os pisos podem ser de cermica, cimento, pe-
dra, madeira, borracha e cortia.
p) A pintura um elemento de decorao e prote-
o, e requer cuidados especiais na aplicao.
p.1 - As cores possuem a seguinte nomen-
clatura: cores primrias (amarelo, azul e vermelho),
secundrias (verde, laranja e violeta), complemen-
tares (2 secundrias ou 1 primria e 1 secundria),
neutras (preto, branco, cinza e beje), quentes (ver-
melho, laranja e amarelo) e frias (anil, roxo, lils,
verde e azul).
q) Os aparelhos da obra dizem respeito aos apare-
lhos sanitrios, de gua potvel e de iluminao.
r) Os elementos decorativos relacionam-se a todo
trabalho artstico executado em uma obra.
s) A limpeza em questo a chamada limpeza
fina, ou seja, a remoo de pequenos resduos ou
manchas.
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade IV
INEDI - Cursos Profissionalizantes
63
I - Relacionam-se como servios gerais todas
aquelas providncias que precedem ao incio
da obra. Cite cinco destas providncias.
1)____________________________________
2)____________________________________
3)____________________________________
4)____________________________________
5)____________________________________
II - Relacione as colunas abaixo corretamente:
(A) Preparao do terreno
(B) Paredes
(C) Cobertura
(D) Esquadrias
(E) Revestimentos
(F) Ferragens
(G) Tratamento
(H) Elementos decorativos
1. ( ) So usadas na vedao das aber-
turas das edificaes.
2. ( ) Diz respeito proteo da obra.
3. ( ) Trata-se de aterro e compactao
do solo.
4. ( ) Diz respeito a todo acabamento
das superfcies.
5. ( ) Destina-se a fechar vos ou divi-
ses de ambientes.
6. ( ) Necessita de uma estrutura cal-
culada para o seu sustento, com exceo da
autoportante.
7. ( ) Servem para a fixao e articula-
es das esquadrias.
8. ( ) Incluem, entre outros, os traba-
lhos de paisagismo.
III - Interprete as questes propostas abaixo e
responda:
1. Onde so usadas as soleiras e que materiais
so empregados na sua confeco?
____________________________________
2. Onde so usados os rodaps? De que mate-
riais so feitos?
____________________________________
3. O que peitoril? De que material pode ser
feito?
____________________________________
IV - Pela NB n 226, os vidros possuem in-
meras classificaes. Complete os esquemas.
1. Quanto ao tipo
a)________________________________
b)________________________________
c)________________________________
d)________________________________
2. Quanto transparncia
a)________________________________
b)________________________________
c)________________________________
d)________________________________
I - V o c d e v e t e r c i t a d o c i n c o e n t r e a s s e g u i n t e s p r o v i d n c i -
a s q u e p r e c e d e m o i n c i o d a o b r a : c o l o c a o d e t a p u m e s e
d e t a b u l e t a s c o m i n d i c a e s d e d a d o s d a o b r a , c o n s t r u e s
d e b a r r a c e s ; i n d i c a o d e d e p s i t o s d o s m a t e r i a i s a s e r e m
u s a d o s ; c o l o c a o d e a p a r e l h o s e m q u i n a s n e c e s s r i o s ;
l i g a e s p r o v i s r i a s ; p r e p a r a o d e a l o j a m e n t o s ; c o n t r a t a -
o d e m o - d e - o b r a ; p l a n e j a m e n t o d e e n t r a d a d e m a t e r i a l
a o l o n g o d a o b r a , e t c .
I I - 1 . ( D ) ; 2 . ( G ) ; 3 . ( A ) ; 4 . ( E ) ; 5 . ( D ) ; 6 . ( C ) ; 7 . ( F ) ; 8 . ( H )
I I I - 1 . A s s o l e i r a s s o u s a d a s s o b o s v o s d a s p o r t a s e n a s
m u d a n a s d e t i p o d e p a v i m e n t a o . A s m a i s c o m u n s s o
d e m r m o r e , m a d e i r a , p e d r a , g r a n i t o e c e r m i c a ; 2 . O s r o -
d a p s s o u s a d o s n a s p a r e d e s c o m o a r r e m a t e d a p a v i m e n -
t a o . O m a t e r i a l e m p r e g a d o o m e s m o u s a d o n o p i s o ; 3 .
P e i t o r i l o a c a b a m e n t o n a p a r t e i n f e r i o r d a s j a n e l a s . P o d e
s e r e m c h a p a m e t l i c a , m r m o r e , c e r m i c a , p l a c a d e c i m e n t o
o u o u t r o s m a t e r i a i s .
I V - 1 . Q u a n t o a o t i p o : a ) r e c o z i d o ; b ) t e m p e r a d o ; c ) l a m i n a -
d o
V - S u a s r e s p o s t a s d e v e m c o n t e r o
s e g u i n t e : 1 . A c o r b r a n c a r e s u l t a d a
c o m p o s i o d e t o d a s a s o u t r a s .
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
64
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
65
1. Qual a srie de papel, adotada pela ABNT,
para o Desenho Tcnico?
a) srie A
b) srie ABNT
c) srie P
d) srie AB
e) srie AA
2. A figura abaixo, representa qual formato de
papel?
a) formato A2
b) formato A0
c) formato A1
d) formato A3
e) formato A4
3. Relacione a coluna da direita de acordo com
a da esquerda e, a seguir, marque a resposta
numrica correspondente:
(1) A0 ( ) 841 X 594mm
(2) A1 ( ) 420 X 297mm
(3) A2 ( ) 594 X 420mm
(4) A3 ( ) 1189 X 841mm
(5) A4 ( ) 297 X 210mm
a) 2 4 3 1 5
b) 5 2 1 3 - 4
c) 4 2 1 5 3
d) 3 2 5 4 1
e) 2 3 4 1 - 5
4. Porque necessrio padronizao da cali-
grafia tcnica?
a) por exigncia da localidade
b) para facilitar o entendimento do pro-
jeto em qualquer localidade
c) por exigncia do engenheiro
d) por exigncia do arquiteto
e) por exigncia do cliente
5. Qual informao no faz parte do carimbo
no projeto de arquitetura?
a) informar a empresa, projeto, nmero de
pranchas
b) informar RT , proprietrio e o autor do
projeto
c) informar o endereo da obra rea do
lote rea de construo
d) nmero de ambientes
e) nmero da prancha escala
6. Qual a caracterstica do papel sulfite?
a) transparente
b) semifosco
c) amanteigado
d) opaco
e) translcido
7. A linha tracejada, conforme mostra a figura
abaixo utilizada para a representao de objetos:
a) no visveis
b) visveis
c) cortados
d) parcialmente visveis
e) somente em corte transversal
8 - O desenho arquitetnico geralmente utili-
za a escala de:
a) ampliao
b) natural
c) reduo
d) real
e) reproduo
9. O que significa escala 1/50?
a) significa que o desenho foi ampliado
50 vezes
b) significa que o desenho foi reduzido 50
vezes
c) significa que o desenho est na escala real
d) significa que o desenho foi reduzido
uma vez
e) significa que o desenho esta na escala
natural
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
66
10. Quando um objeto esta representado na
proporo 1 do papel est para 1 do real,
denominamos de escala:
a) natural
b) real
c) ampliada
d) reduzida
e) fictcia
11. Cotamos um desenho com a finalidade de:
a) indicar as dimenses do objeto
b) indicar as dimenses da espessura das linhas
c) indicar nmero de aberturas
d) indicar as reas dos ambientes
e) todas as respostas esto certas
12. A linha que contem o nmero do dimen-
sionamento denominada de:
a) linha de chamada
b) linha auxiliar
c) cota de nvel
d) linha espessa
e) linha de cota
13. O levantamento planimtrico tem como
objetivo:
a) definir as divisas e seus ngulos internos
b) definir as alturas do terreno
c) definir a orientao
d) definir somente a altimetria
14. Em um projeto de arquitetura, so exigi-
das distncias mnimas entre a construo e o
terreno.Estas distncias so denominadas de:
a) afastamentos
b) arruamento
c) declive
d) beirais
e) aclive
15. A figura que se segue representa:
a) afastamento
b) terraplangem
c) curvas de nveis
d) estudo planimtrico
e) orientao
16. Quando o estudo topogrfico apresenta
as curvas de nvel, prximas uma das outras,
identificamos o terreno como:
a) plano
b) semi-plano
c) pouco inclinado
d) nenhuma resposta correta
e) ngreme
17. Porque o projeto arquitetnico utiliza a
orientao verdadeira?
a) devido a sua variao em funo dos anos
b) por ser a orientao geogrfica, no apre-
sentando variaes no decorrer dos anos.
c) por ser magntica
d) por ser parcialmente estvel
e) todas as respostas esto erradas
18. O desenho no projeto de arquitetura, que
contem as medidas, largura e comprimento
de um ambiente denominado:
a) planta baixa
b) cobertura
c) corte
d) fachada
e) situao
19. O corte de um projeto, tem como finalidade:
a) definir a quantidade de portas, janelas,
peitoris, muros e muretas
b) definir as larguras dos ambientes, por-
tas, janelas e peitoris
c) definir os comprimentos dos ambientes
d) definir as larguras dos ambientes
e) definir as alturas dos ambientes, por-
tas, janelas, peitoris, muros e muretas
20. Qual o objetivo da planta de cobertura?
a) definir os caimentos, inclinaes do telhado.
b) definir a rea
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
67
c) definir o corte
d) definir a situao
e) todas as respostas esto corretas
21. O projeto estrutural atribudo para
qual profissional?
a) arquiteto
b) engenheiro eltrico
c) engenheiro civil
d) topgrafo
e) decorador
22. O projeto eltrico tem a finalidade de:
a) passar a tubulao eltrica
b) passar a tubulao de esgoto
c) passar a tubulao de gua fria
d) passar a tubulao de gua quente
e) todas as respostas esto certas
23. Onde fica localizada a Banderola?
a) na parte central da janela
b) na parte superior da porta ou janela
c) na parte inferior da porta ou janela
d) na parte central da porta
24 Como representada em planta a porta
sanfonada?
a)
b)
c)
d)
e) Todas as respostas esto corretas
25. A janela tipo guilhotina tem a abertura:
a) horizontal
b) inclinada
c) angular
d) sanfonada
e) vertical
26. A figura abaixo, representa :
a) mobilirio
b) pea sanitria
c) simbologia eltrica
d) calada
e) telha
27. O instrumento representado na figura
abaixo, utilizado
para medidas:
a) lineares
b) profundidade
c) angulares
d) volume
28. Qual a utilidade da rgua T.
a) desenhar linhas
b) desenhar linhas inclinadas
c) desenhar curvas
d) desenhar linhas paralelas e inclinadas
29. Qual a sigla em ingls que significa Proje-
to Auxiliado por Computador?
a) CAD
b) DDA
c) PAC
d) CAP
30. Marque a alternativa que melhor responda
as afirmativas abaixo:
a) marquise uma cobertura em balano;
b) mosaico um painel formado por
pequenos pedaos de vidro, cermica ou
pastilhas;
c) mo francesa sinnimo de mo-de-
fora;
d) mata-junta um material que cobre a
abertura formada pelo encontro de duas
ou mais peas;
e) todas esto corretas.
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
68
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL Unidade I
INEDI - Cursos Profissionalizantes
69
ABNT Associao Brasileira de Normas Tcnicas, cujas normas devem
ser obrigatoriamente seguidas pelos diversos setores abrangidos.
ABBADA cobertura de seco curva.
ACABAMENTO arremate final da estrutura e dos ambientes da casa,
feito com diversos tipos de materiais.
ADEGA compartimento, geralmente subterrneo que serve para guar-
dar bebidas, por suas condies de temperaturas.
ADOBE tijolo de barro seco ao ar e no cozido.
ADUELA pea da grade ou marco da portas e de janelas.
AFASTAMENTO distncia mnima a ser observada entre as paredes
externas da edificao e os limites do terreno.
GUA - termo que designa o plano do telhado. (quatro guas, duas
guas, etc).
ALAPO portinhola no piso ou no teto para acesso a pores ou stos.
ALGEROZ tubo de descida de gua pluviais, em geral embutido na
parede.
ALICERCE elemento da construo que transmite a carga da constru-
o ao solo.
ALINHAMENTO linha legal que serve de limite entre o terreno e o
logradouro para o qual faz limite.
ALIZAR guarnio de madeira que cobre a junta entre a esquadria/
portal e a parede.
ALPENDRE rea coberta, saliente de construo, cuja cobertura
sustentada por colunas, pilares ou consolos, geralmente na entrada da
edificao.
ALVENARIA conjunto de pedras, tijolos, blocos ou concreto, com ou
sem argamassa, para formao de paredes, muros etc.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
70
AMARRAO disposio entrelaada dos tijolos.
ANDAIME plataforma elevada, para sustentao dos materiais e os
operrios na execuo de obras ou reparos.
ANDAR pavimento acima do rs do cho.
APARELHO acabamento para dar s pedras e madeiras formas geo-
mtricas e aparncia adequada. Tambm usada para significar a primeira
demo de tinta.
APARTAMENTO unidade autnoma de moradia, em prdio de habi-
tao mltipla.
APICOAR desbastar com ferramenta, geralmente ponteiro de ao, uma
superfcie ou pedra.
ARAMADO rede ou tela de arame. Alambrado, segundo o Dicionrio
Aurlio.
ARANDELA aparelho de iluminao fixado na parede.
REA TOTAL soma de todas as reas de uma edificao, incluindo
todos os pavimentos.
REA TIL superfcie de utilizao de uma edificao fora as paredes.
ARGAMASSA mistura de aglutinante com areia e gua, suada para as-
sentamento de tijolos, cermicas, rebocos etc.
ARGILA silicatos hidratados, barro com que se faz tijolos, cermicas etc.
ARQUIBANCADA escalonamento sucessivo de assentos ordenados
em fila.
ARQUITETURA - (do latim architectura) os princpios, as normas, os
materiais e as tcnicas utilizadas para criar o espao arquitetnico.
ARQUITETURA DE INTERIORES obras em interiores que impli-
que criao de novos espaos internos ou modificaes na funo dos
mesmos ou nos elementos essenciais; ou das respectivas instalaes.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
71
AROEIRA rvore da famlia das anarcadceas, de grande dureza, muito
usada para cercas e colunas de sustentao de telhados e alpendres.
ASNA pea da tesoura de telhado. Ao francesa, escora.
ASSOALHO piso de tbuas. Soalho.
BALANO avano da edificao sobre alinhamentos ou recuos regula-
mentares.
BALAUSTRE elemento vertical que, empregado em srie, forma a ba-
laustrada.
BALDRAME parte do embasamento entre o alicerce e a parede. Soco.
BANDEIROLAS ou BANDEIRA abertura fixa ou mvel situado aci-
ma da porta.
BASCULANTE janela ou pea mvel em torno de eixo horizontal.
BATEDOR batente; rebaixo na aduela onde se encaixam as folhas dos
vos.
BEIRAL parte saliente da cobertura.
BOILER aquecedor, normalmente metlico, acumulando gua
aquecida.
BONECA salincia de alvenaria onde fixado o marco ou grade de
portas e de janelas.
BRITA pedra quebrada em tamanhos variveis.
BRISE quebra-sol; elemento horizontal ou vertical de proteo contra
o sol.
CAIBRO pea de madeira sobre a qual se pregam as ripas destinadas a
suportar as telhas.
CAIXILHO quadro de madeira ou metal que serve de estrutura para
vidro ou painel de vedao; esquadria.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
72
CALADAS pavimentao do terreno, dentro do lote.
CALHA conduto de guas pluviais.
CAPIAO acabamento de vos entre a grade (marco) e o paramento da
parede.
CARAMANCHO armao de madeira, tipo prgola, sustentada por
colunas.
CASCALHO seixo rolado; pedra britada.
CASA GEMINADA separada de outra edificao com uma parede comum.
CAVA o mesmo que escavao.
CHANFRO pequeno corte para eliminar arestas vivas.
CHAPISCO primeira camada de revestimento de paredes e de tetos
destinada a dar maior aderncia ao revestimento final.
CHUMBADOR pea que serve para fixar qualquer coisa numa parede.
CLARABIA vo nas coberturas, em geral protegido com vidros.
COBOG elemento vasado.
CDIGO DE OBRAS legislao vigente em cada cidade, que determi-
na as normas que o projeto arquitetnico deve obedecer.
COIFA cobertura acima do fogo para tirar a fumaa.
COLUNA suporte de seco cilndrica.
CONCRETO aglomerado de cimento, areia, brita e gua.
CONCRETO ARMADO o mesmo que acima, com ferragem.
CONDUITE conduto flexvel.
CORPO AVANADO balano fechado de mais de 20 cm.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
73
CORRIMO pea ao longo e nos lados das escadas servindo de apoio
a quem dela se serve.
COTA indicao ou registro numrico de dimenses.
COTA DE COROAMENTO ponto mais alto da edificao, permiti-
do pelo cdigo de obras local.
COTA DE SOLEIRA nvel mais baixo da edificao, permitido pelo
cdigo de obras local.
CROQUI rascunho inicial de um projeto arquitetnico.
CUMEEIRA parte reta mais alta dos telhados onde tem inicio as guas;
a pea de madeira que a forma.
CPULA abbada esfrica.
DECORAO obra em interiores com finalidade exclusivamente est-
tica, no implicando criao de novos espaos internos, ou modificaes
de funo dos mesmos, ou alteraes dos elementos essenciais.
DEMO camada de pintura.
DUPLEX apartamento de dois pisos superpostos.
EDCULA pequena casa; dependncia para empregados.
EMBASAMENTO parte inferior de um edifcio cestinada sua sustentao.
EMBOO a 1 camada de argamassa ou cal, aps o chapisco, que serve
de base ao reboco.
EMPENA parede em forma de tringulo acima do p direito.
ESCARIAR rebaixar a fim de nivelar a cabea de prego ou parafuso.
ESPELHO face vertical de um degrau; pea que cobre a fechadura ou
interruptor, quando embutido.
ESPIGO encontro saliente, em desnvel, de duas guas do telhado; tacania.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
74
ESQUADRIA fechamento dos vos; formada por grade ou marco e
folhas.
ESTACA pea de madeira, concreto ou ferro que se crava no terreno
como base da construo.
ESTRIBO pea de ferro destinada a sustentar um elemento de constru-
o em relao a outro.
ESTRONCA escora de madeira.
ESTUQUE argamassa muito fina usada para acabamento de paredes e
de forros; sistema para construo de forros ou paredes usando traados
de madeira como apoio.
FACHADAS elevaes das paredes externas de uma edificao.
FACHADA PRINCIPAL voltada para o logradouro pblico.
FMEA entalhe na madeira para receber o macho.
FLECHA distncia entre a posio reta e a fletida de uma viga ou pea.
FOLHA parte mvel da esquadria.
FORRO vedao da parte superior dos compartimentos da construo.
FORRO FALSO forro que se coloca aps a construo da laje ou co-
berta e independente dela.
FUNDAO conjunto dos elementos da construo que transmitem
cargas das edificaes ao solo.
GABARITO medida que limita largura de logradouros e altura das edi-
ficaes.
GALPO construo aberta e coberta.
GRADE elemento vasado que forma a esquadria; marco.
GUARDA-CORPO parapeito; proteo de um vo.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
75
JIRAU pequeno piso colocado meia altura.
JUNTA espao entre elementos.
LADRILHO pea de forma geomtrica, de pouca espessura, de cimen-
to ou barro cozido, em geral destinado a pisos.
LMINA bloco vertical numa construo de vrios pavimentos.
LANTERNIM pequena torre destinada iluminao e ventilao.
LINHA parte inferior da tesoura onde encaixam as pernas; tirante.
LONGARINA viga.
LOGRADOURO espao pblico (rua) compreendido entre dois ali-
nhamentos postos.
MO DE FORA ou MO FRANCESA elemento inclinado de apoio
destinado a reduzir o vo dos balanos. Semelhante asna.
MARQUISE balano constituindo cobertura.
MEIO-FIO bloco que separa o passeio da rua.
MDULO unidade de medida.
MONTANTE pea vertical de madeira.
MOSAICO painel formado por pequenos pedaos de vidro, cermica
ou pastilhas; montagem de fotografias areas em servios de cartografia.
NERVURA viga saliente ou no de uma laje;quando oculta chama-se
tambm viga chata.
OSSO sem revestimento. Medida no osso: antes de feito o revestimento.
PANO poro de superfcie plana de parede, compreendida entre duas
pilastras.
PAN painel decorativo de tecido, usado para complemento de cortinas.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
76
PARAPEITO resguardo de pequena altura, de sacadas, terraos e galerias.
PASSEIO parte do logradouro pblico, destinado ao trnsito de pedestre.
PASTILHA pequena pea cermica, usada para revestimento de pare-
des e pisos.
PATAMAR superfcie intermediria entre dois lances de escada.
P-DIREITO distncia vertical entre forro e piso.
PEITORIL parte inferior da janela / distncia entre o piso e o incio do
espao ocupado por ela.
PENDURAL viga ou barrote que, do vrtice da asna cai sobre a linha
da tesoura.
PRGOLA construo de carter decorativo para suporte de plantas,
sem constituir cobertura.
PILAR elemento de sustentao tendo seco quadrada ou retangular.
PILASTRA pilar incorporado parede e ressaltando.
PILOTIS elemento de sustentao de um pavimento trreo; nome que
se d ao pavimento trreo quando aberto.
PIVOTANTE folha mvel em torno de eixo vertical.
PLANTA projeo horizontal; vista superior; projeo de um corte ho-
rizontal numa edificao.
PLATIBANDA coroamento de uma edificao, formado pelo prolon-
gamento das paredes externas, acima do forro.
POO DE ILUMINAO/VENTILAO espao destinado a
ventilao e iluminao de ambientes (janelas).
PORO parte no usada para habitao, sob o trreo.
REBOCO revestimento final de argamassa.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
77
RESPINGADOR - rebaixo ou salincia para desviar as guas pluviais.
RINCO ngulo reentrante e em declive formado pelo encontro das
guas de um telhado; a calha que se coloca neste encontro.
RIPA pea de madeira sobre os caibros.
RODAP faixa de proteo entre a parte inferior da parede e o piso.
SACADA parte pouco saliente da construo.
SALINCIA - elemento ornamental da edificao, que avana alm do
plano da fachada.
SANCA - moldura na parte superior da parede, ligando-a ao teto.
SERTEIRA abertura estreita e vertical.
SOLEIRA elemento localizado no piso, no vo das portas, de marco a
marco.
STO espao situado entre o forro e a cobertura, aproveitvel como
dependncia de uso comum de uma edificao.
TABIQUE parede leve que serve para subdividir compartimentos, sem
atingir o forro.
TALUDE _ rampa inclinada de um terreno, normalmente feita pelo ho-
mem.
TAPUME vedao provisria usada durante a edificao.
TELHA elemento colocado na superfcie externa da cobertura para
proteg-la de chuva, sol, vento, etc.
TELHADO cobertura onde se usam as telhas.
- TELHADO DE DUAS GUAS cada lado se chama guas mestras
- TELHADO DE QUATRO GUAS os lados maiores se chamam
GUAS MESTRAS, e os menores TACANIAS.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
78
TERAS peas de madeira onde se pregam os caibros.
TERRAO cobertura total ou parcial de uma edificao, constituindo
piso acessvel.
TESOURA feita de vigas de madeira ou metal destinada a suportar a
cobertura.
TESTADA linha que separa o lote do logradouro pblica (rua).
TRAO DE ARGAMASSA proporo entre seus componentes.
TRELIA armao de madeira ou metal onde existem aberturas; viga.
VARANDA construo protegida pelo prolongamento da cobertura.
VASIO vo ou abertura.
VO abertura; distncia entre os apoios.
VERGA parte superior da porta ou janela, normalmente de alvenaria, ou
ainda, distncia compreendida entre o forro e a parte superior de qualquer
abertura.
ZENITAL no alto, no znite; iluminao zenital: feita atravs de abertu-
ra no teto.
GL GL GL GL GLOSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO OSSRIO
DESENHO ARQUITETNICO E NOES DE CONSTRUO CIVIL
INEDI - Cursos Profissionalizantes
79
DOMINGUES, F.A.A. Topografia e Astronomia de Posio para
Engenheiros e Arquitetos. So Paulo, Editora McGraw-Hill do Brasil, 1979.
FONSECA, R.S. Elementos de Desenho Topogrfico. So Paulo, Editora
McGraw-Hill do Brasil
FRENCH, T.E. Desenho Tcnico. Editora Globo, Porto Alegre, 1975.
MANF, G.; POZZA, R. e SCARATO, G. Desenho Tcnico Mecnico.
So Paulo, Editora Hemus, 1977. v.1.
MONTENEGRO, G.A. Desenho Arquitetnico. So Paulo, Editora
Edgard Blucher, 1978.
OBERG, L. Desenho Arquitetnico. Rio de Janeiro, Ao Livro Tcnico,
1973.
BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA BIBLIOGRAFIA
TCNICO EM TRANSAES IMOBILIRIAS
INEDI - Cursos Profissionalizantes
80
GABARIT GABARIT GABARIT GABARIT GABARITO OO OO
1-A
2-C
3-A
4-B
5-D
6-D
7-A
8-C
9-B
10-A
11-E
12-E
13-B
14-A
15-C
16-E
17-B
18-A
19-E
20-A
21-C
22-A
23-B
24-B
25-E
26-E
27-C
28-D
29-A
30-E
Você também pode gostar
- Como Gerenciar Projetos de Construção CivilNo EverandComo Gerenciar Projetos de Construção CivilNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Apostila de Leitura e Interpretação de Projetos - AperfeiçoamentoDocumento63 páginasApostila de Leitura e Interpretação de Projetos - Aperfeiçoamentousi_ft237180% (5)
- Tecnico Transacoes Imobiliarias ApostilaDocumento702 páginasTecnico Transacoes Imobiliarias Apostilakaiokaio100% (3)
- Norma de Desempenho de Edificações: Modelo de Aplicação em ConstrutorasNo EverandNorma de Desempenho de Edificações: Modelo de Aplicação em ConstrutorasAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Projetos de Construção Civil: uma adaptação da metodologia Basic Methodware®No EverandGerenciamento de Projetos de Construção Civil: uma adaptação da metodologia Basic Methodware®Ainda não há avaliações
- O Pequeno grande guia de Aprovação de Projetos de PrefeituraNo EverandO Pequeno grande guia de Aprovação de Projetos de PrefeituraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (6)
- Infantil II A - Prof. Eliane - (03 A 07 de Maio)Documento5 páginasInfantil II A - Prof. Eliane - (03 A 07 de Maio)valdete leonAinda não há avaliações
- Projeto Arquitetônico para Engenharia Civil PDFDocumento167 páginasProjeto Arquitetônico para Engenharia Civil PDFRafael Ribeiro100% (1)
- Carpinteiros da construção civil: um olhar etnomatemático sobre seus saberes e fazeresNo EverandCarpinteiros da construção civil: um olhar etnomatemático sobre seus saberes e fazeresNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Planejamento Anual ARTES 6° 7° 8° 9° Ano Atividades - Imagens - Imprimir - 001 - .OcrDocumento1 páginaPlanejamento Anual ARTES 6° 7° 8° 9° Ano Atividades - Imagens - Imprimir - 001 - .Ocrrozeirarocha83% (6)
- Manual Fórmulas Parâmetros Procedimentos IEFP PDFDocumento22 páginasManual Fórmulas Parâmetros Procedimentos IEFP PDFBruno Costa100% (1)
- Escalímetro: Uma Sequência Didática para o Ensino do Desenho Técnico ArquitetônicoNo EverandEscalímetro: Uma Sequência Didática para o Ensino do Desenho Técnico ArquitetônicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Desenho Arquitetônico & Construção CivilDocumento78 páginasDesenho Arquitetônico & Construção CivilMarinho Valdenio100% (1)
- 9 - Desenho ArquitetônicoDocumento102 páginas9 - Desenho ArquitetônicoGabriel Dias Figueiredo100% (5)
- Ebook 11 Dicas Projetos Arquitetonicos A ArquitetaDocumento82 páginasEbook 11 Dicas Projetos Arquitetonicos A ArquitetaVitor Castro100% (2)
- Leitura e Interpretação de Projetos ArquitetônicosDocumento33 páginasLeitura e Interpretação de Projetos Arquitetônicosalicate2007100% (1)
- Introdução Desenho de Arquitetura SENAC RN 2009 Curso TTIDocumento40 páginasIntrodução Desenho de Arquitetura SENAC RN 2009 Curso TTIpablugs100% (1)
- Apostila de Desenho ArquitetônicoDocumento86 páginasApostila de Desenho Arquitetôniconathyle100% (2)
- Desenho Tecnico 11Documento24 páginasDesenho Tecnico 11fernandomaceioAinda não há avaliações
- Desenho ArquitetonicoDocumento39 páginasDesenho ArquitetonicoElias Jorge100% (2)
- O Projeto ArquitetônicoDocumento36 páginasO Projeto ArquitetônicoJosé Antonio100% (4)
- Livro UnicoDocumento184 páginasLivro UnicoYasmim Araujo100% (3)
- AsBEA. Manual de Escopo de Projetos e Serviços de ImpermeabilizaçãoDocumento56 páginasAsBEA. Manual de Escopo de Projetos e Serviços de ImpermeabilizaçãoMauryas De Castro Manzoli100% (1)
- Iluminacao PDFDocumento271 páginasIluminacao PDFCassio de Moraes75% (4)
- Manual de Desenho UrbanoDocumento19 páginasManual de Desenho UrbanoAdriano Felipe Oliveira LopesAinda não há avaliações
- EscadasDocumento39 páginasEscadasKeicy Almeida100% (3)
- Disciplina DesenhoDocumento39 páginasDisciplina DesenhojanineAinda não há avaliações
- Aula 01 - Detalhes Construtivos PDFDocumento20 páginasAula 01 - Detalhes Construtivos PDFPriscila Saminy0% (1)
- Projeto ArquitetonicoDocumento34 páginasProjeto ArquitetonicowilliamcmartinsAinda não há avaliações
- Arquitetura Contemporânea e Automação: Prática e reflexãoNo EverandArquitetura Contemporânea e Automação: Prática e reflexãoAinda não há avaliações
- Engenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaNo EverandEngenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaAinda não há avaliações
- Da Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaNo EverandDa Semente à Paisagem: sensibilidade e técnica na Arquitetura PaisagísticaAinda não há avaliações
- Interfaces prediais: Hidráulica, gás, segurança contra incêndio, elétrica, telefonia, sanitários acessíveis, NBR 15575: edificações habitacionais – desempenho e BIM – nova forma de projetarNo EverandInterfaces prediais: Hidráulica, gás, segurança contra incêndio, elétrica, telefonia, sanitários acessíveis, NBR 15575: edificações habitacionais – desempenho e BIM – nova forma de projetarAinda não há avaliações
- Métricas Urbanas: Abordagens paramétricas para planejamento de bairros e cidades mais sustentáveisNo EverandMétricas Urbanas: Abordagens paramétricas para planejamento de bairros e cidades mais sustentáveisAinda não há avaliações
- Engenharia Civil: Estudo E AplicaçõesNo EverandEngenharia Civil: Estudo E AplicaçõesAinda não há avaliações
- Conforto: clientes de arquitetos e designers contam o que é conforto para eles em suas casasNo EverandConforto: clientes de arquitetos e designers contam o que é conforto para eles em suas casasAinda não há avaliações
- Imóveis de Luxo: entendendo o comportamento de consumidores para vender melhorNo EverandImóveis de Luxo: entendendo o comportamento de consumidores para vender melhorAinda não há avaliações
- Diálogos gráficos: Uma didática do ateliê de arquiteturaNo EverandDiálogos gráficos: Uma didática do ateliê de arquiteturaAinda não há avaliações
- Aluguel e casa própria: Entenda como funcionam e defenda-seNo EverandAluguel e casa própria: Entenda como funcionam e defenda-seAinda não há avaliações
- Estudo Da Viabilidade Técnica Da Construção CivilNo EverandEstudo Da Viabilidade Técnica Da Construção CivilAinda não há avaliações
- Projetos de infraestrutura: estudos inteligentesNo EverandProjetos de infraestrutura: estudos inteligentesAinda não há avaliações
- Numerologia dos Interiores e os Cinco Elementos do Feng ShuiNo EverandNumerologia dos Interiores e os Cinco Elementos do Feng ShuiAinda não há avaliações
- O Desenho Arquitetônico: fenomenologia e linguagem em Joan VillàNo EverandO Desenho Arquitetônico: fenomenologia e linguagem em Joan VillàNota: 2 de 5 estrelas2/5 (1)
- Apostila Operacoes - ImobiliariasDocumento84 páginasApostila Operacoes - Imobiliariasmeiri_morais1368Ainda não há avaliações
- Técnica ComercialDocumento82 páginasTécnica ComercialgisabcostaAinda não há avaliações
- Técnico em Transações ImobiliáriasDocumento84 páginasTécnico em Transações ImobiliáriasMariana Rotondano da SilvaAinda não há avaliações
- Técnico em Transações Imobiliárias: Organização e Técnica ComercialDocumento87 páginasTécnico em Transações Imobiliárias: Organização e Técnica ComercialMariana Rotondano da SilvaAinda não há avaliações
- LP PDFDocumento90 páginasLP PDFAntonio SilveiraAinda não há avaliações
- Noções de Língua PortuguesaDocumento90 páginasNoções de Língua PortuguesaHernandodeNoronhaAinda não há avaliações
- Técnico em Transações ImobiliáriasDocumento84 páginasTécnico em Transações ImobiliáriasJoão Lima50% (2)
- 6 - Direito e Legislacao - Inedi PDFDocumento132 páginas6 - Direito e Legislacao - Inedi PDFOdimarManoelAinda não há avaliações
- Crônica - A Escrita de Julia Lopes de Almeida PDFDocumento12 páginasCrônica - A Escrita de Julia Lopes de Almeida PDFPaula CamposAinda não há avaliações
- Projeto Hidro-Sanitário - Edificio 20 Andares - 2-2Documento1 páginaProjeto Hidro-Sanitário - Edificio 20 Andares - 2-2Tatiane RenataAinda não há avaliações
- Sequencia Bolinha de SabãoDocumento5 páginasSequencia Bolinha de SabãoS SS100% (1)
- A Orelha de Van Gogh - Interpretação de Conto e Autorretrato - Trabalho Interdisciplinar e Atividade Complementar 8º e 9º AnosDocumento4 páginasA Orelha de Van Gogh - Interpretação de Conto e Autorretrato - Trabalho Interdisciplinar e Atividade Complementar 8º e 9º Anosp9vvwrdgksAinda não há avaliações
- Understanding Animation by Paul Wells-94-101Documento8 páginasUnderstanding Animation by Paul Wells-94-101meph.postAinda não há avaliações
- Grafismo Infantil - 0 A 12 AnosDocumento65 páginasGrafismo Infantil - 0 A 12 AnosMaxsander Almeida de Souza100% (1)
- Arte 1º Ano EjaDocumento10 páginasArte 1º Ano EjaFLAVIO MENEZESAinda não há avaliações
- Cifra Club WHISKEY IN THE JAR - Metallica (Tablatura para Bateria Con Vídeo Au PDFDocumento11 páginasCifra Club WHISKEY IN THE JAR - Metallica (Tablatura para Bateria Con Vídeo Au PDFYerson ZambranoAinda não há avaliações
- 6º Kyu Chi Ryaku No MakiDocumento2 páginas6º Kyu Chi Ryaku No MakiValter Roberto Garcia JuniorAinda não há avaliações
- IT 08-01 - Instalação de Batente e PortaDocumento10 páginasIT 08-01 - Instalação de Batente e PortaLuciano DantasAinda não há avaliações
- Teste Das Múltiplas Inteligências - Aplicações e Recursos - Pós-Graduação IDAAMDocumento5 páginasTeste Das Múltiplas Inteligências - Aplicações e Recursos - Pós-Graduação IDAAMVandeir Lucio Motta100% (1)
- Sassá Mutema: A Construção de Personagens Protagonistas Na Teledramaturgia, A Partir Da Hermenêutica de ProfundidadeDocumento157 páginasSassá Mutema: A Construção de Personagens Protagonistas Na Teledramaturgia, A Partir Da Hermenêutica de ProfundidadePoli LopesAinda não há avaliações
- Bárbaros & Bruxos - MM 2 Edição (Incompleto) - 1Documento73 páginasBárbaros & Bruxos - MM 2 Edição (Incompleto) - 1Fernando Paes BarretoAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Dinossauro de Rolo de Papel Higienico - Pesquisa GoogleDocumento1 páginaComo Fazer Um Dinossauro de Rolo de Papel Higienico - Pesquisa GoogleBianca AguiarAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa de Arte Quintq 13Documento3 páginasAtividade Avaliativa de Arte Quintq 13Luana Fernandes100% (1)
- 6º Ano, Arte 11 SEMANA PDFDocumento1 página6º Ano, Arte 11 SEMANA PDFEutália Gomes100% (1)
- Arte 1º Ano Danca IndigenaDocumento4 páginasArte 1º Ano Danca IndigenaRebeca MarcondesAinda não há avaliações
- Arcadismo SlideDocumento4 páginasArcadismo SlideMelissa Da silvaAinda não há avaliações
- Geração de 45Documento33 páginasGeração de 45Mayra Andrade AlvesAinda não há avaliações
- Ebook Hectares DouradosDocumento50 páginasEbook Hectares DouradosVinicius PaesAinda não há avaliações
- Custo Obra - Agetop (06-21)Documento30 páginasCusto Obra - Agetop (06-21)Caio de Melo BandeiraAinda não há avaliações
- Bateria 4 CraseDocumento2 páginasBateria 4 CraseKeyla LellisAinda não há avaliações
- Lustosa Da Costa - Como Me Tornei SexagenárioDocumento220 páginasLustosa Da Costa - Como Me Tornei SexagenárioREVISTAS REVISTASAinda não há avaliações
- Lugares SagradosDocumento1 páginaLugares SagradosDiegoRibeiroAinda não há avaliações
- Gêneros TextuaisDocumento30 páginasGêneros TextuaisJulianne Rodrigues PitaAinda não há avaliações
- 7o-Ano 19Documento1 página7o-Ano 19Maria AliceAinda não há avaliações
- Regras para A Elaboração de Um RelatórioDocumento5 páginasRegras para A Elaboração de Um RelatórioMariana SimoesAinda não há avaliações