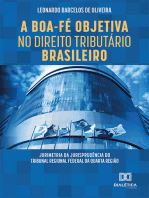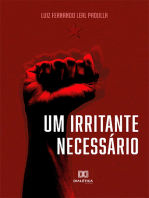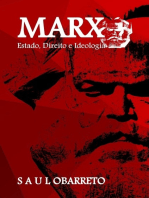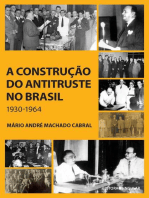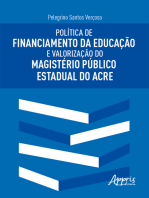Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Vilfredo Pareto - Manual de Economia Política
Vilfredo Pareto - Manual de Economia Política
Enviado por
Andressa DurãisDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Vilfredo Pareto - Manual de Economia Política
Vilfredo Pareto - Manual de Economia Política
Enviado por
Andressa DurãisDireitos autorais:
Formatos disponíveis
OS ECONOMISTAS
VILFREDO PARETO
MANUAL DE ECONOMIA POLTICA
Traduo de Joo Gui l herme Vargas Netto
Fundador
VI CTO CI VI TA
(1907 - 1990)
Edi tora Nova Cul tural Ltda.
Copyri ght desta edi o 1996, C rcul o do Li vro Ltda.
Rua Paes Leme, 524 - 10 andar
CEP 05424-010 - So Paul o - SP
T tul o ori gi nal : Manual dEconomia Poltica
Di rei tos excl usi vos sobre a Apresentao,
Edi tora Nova Cul tural Ltda., So Paul o
Di rei tos excl usi vos sobre as tradues deste vol ume:
C rcul o do Li vro Ltda.
I mpresso e acabamento: Grfi ca C rcul o
I SBN 85-351-091405
APRESENTAO
H autores que so conheci dos pela capaci dade de sintetizar as idias
de seu tempo e l anar as bases para o desenvol vi mento do conheci mento.
H outros cujo reconhecimento emerge do conjunto de sua obra, por sua
ampl i tude e profundi dade. H ai nda aquel es que tm seus nomes associ ados
a uma obra-pri ma ou a um conceito fundamental e revoluci onrio. H, por
fi m, autores que so reconheci dos por todos esses moti vos. Vi l fredo Pareto
um economi sta que pertence a essa sel eta cl asse de autores.
Tratar, em pouco espao, a vi da e a obra de um i ntel ectual como
Pareto que transi tou da Matemti ca Soci ol ogi a, passando pel a Eco-
nomi a, e que ocupou i mportantes cargos executi vos, pol ti cos e acadmi cos
no tarefa fci l . Nesta apresentao buscarei resumi r o essenci al de
sua vi da e de sua produo i ntel ectual no que di z respei to especi fi camente
ao campo da Economi a, apesar das l i mi taes de um esforo como este.
Esta apresentao est di vi di da em duas sees. A pri mei ra
uma breve memri a da vi da de Vi l fredo Pareto em seus vri os aspectos
pessoal , profi ssi onal , pol ti co e acadmi co. A segunda seo apresenta
suas contri bui es aos vri os ramos da Teori a Econmi ca e uma breve
bi bl i ografi a do autor.
Uma Breve Biografia
Vi l fredo Pareto nasceu em Pari s em 15 de jul ho de 1848. Raffael e
Pareto, seu pai , descendi a de uma nobre fam l i a i tal i ana que governou
a Repbl i ca de Gnova at as conqui stas napol eni cas. Engenhei ro
ci vi l , especi al i zado em hi drul i ca, el e pertenceu al a jovem do Res-
surgi mento I tal i ano da pri mei ra metade do scul o XI X. A mudana
para a Frana ocorreu por causa de seu envol vi mento na Conspi rao
de Mazzi ni . Em funo das mudanas pol ti cas aconteci das na I tl i a
por vol ta de 1852,
1
Raffael e foi convi dado a regressar ao seu pa s natal
5
1 Os regi stros de al gumas datas e aconteci mentos i mportantes da vi da de Vi l fredo Pareto
so i mpreci sos. Por exempl o, al gumas bi ografi as i ndi cam o regresso da fam l i a Pareto
I tl i a no ano de 1852, ao passo que outras regi stram o ano de 1854. Nesta apresentao,
adotarei as datas uti l i zadas por Busi no (1987).
para trabal har como professor de francs na Real Escol a Naval de
Gnova. Em 1859, passou a l eci onar Contabi l i dade e Economi a Agr col a
na Escol a Tcni ca Leardi , di ri gi da pel o famoso matemti co Ferdi nando
Pi o Rosel l i ni . Nessa i nsti tui o, Vi l fredo Pareto i ni ci ou seus estudos
de F si ca e Matemti ca.
Em 1862, a fam l i a mudou-se novamente para Turi m e, l ogo em
segui da, para Fl orena, ento capi tal da I tl i a. Entre 1864 e 1867,
Vi l fredo Pareto cursou ci nci as matemti cas no I nsti tuto Pol i tcni co
de Turi m. Na mesma escol a, i ngressou no curso de engenhari a em
1867 e obteve sua ti tul ao em 1870 com a di ssertao i nti tul ada Pri n-
c pi os Fundamentai s da Teori a da El asti ci dade dos Corpos Sl i dos e
as Anl i ses Rel ati vas I ntegrao de Equaes Di ferenci ai s que De-
termi nam o Equi l bri o. A essa obra atri bu da grande i mportnci a
na formao de sua vi so de mundo, uma vez que el a trata do concei to
que vei o a permear toda a concepo econmi ca e soci al de Pareto: a
noo de equi l bri o.
Entre 1870 e 1892, Pareto desenvol veu ati va vi da profi ssi onal
como tcni co e homem de negci os em i mportantes empresas i tal i anas.
Aps di pl omar-se, foi empregado pel a Companhi a Ferrovi ri a de Fl o-
rena como engenhei ro-consul tor, cargo que ocupou at 1873, aps o
que i ngressou numa das pri nci pai s i ndstri as si derrgi cas da I tl i a,
a Companhi a Si derrgi ca, si tuada em San Gi ovanni , no val e do ri o
Arno, que era control ada pel o Banco Naci onal de Fl orena. Nessa em-
presa ocupou vri as posi es tcni cas e de di reo: at 1875 foi encar-
regado tcni co e de 1875 a 1882 foi di retor tcni co. Em 1882, a Com-
panhi a Si derrgi ca foi transformada em Si derrgi ca I tal i ana Fer-
ri ere I tal i ane e Vi l fredo Pareto assumi u a posi o de di retor geral
da empresa.
Durante sua vi da profi ssi onal , el e no esteve ausente da vi da
pbl i ca. Em 1877, assumi u uma cadei ra no Consel ho Muni ci pal de
San Gi ovanni e, aps essa experi nci a, se candi datou por duas vezes
a representante do povo na Cmara de Deputados (1880 e 1882), mas
no obteve sucesso el ei toral em nenhuma del as. Em 1882, foi agraci ado
com o t tul o de Caval ei ro da Ordem da Coroa I tal i ana.
Tambm nesse per odo (1874-1892), Pareto manteve uma vi da
i ntel ectual bastante ati va. Em 1874, tornou-se membro da Seo de
Ci nci as Naturai s da Accademi a dei Gi orgofi l i de Fl orena e, depoi s,
i ngressou na Soci edade Adam Smi th de Ferrara. Desde o i n ci o de sua
vi da pbl i ca nutri u fortes senti mentos l i berai s, que foram expressos
em uma sri e de arti gos de jornai s, de grande ci rcul ao e especi al i -
zados, e em confernci as pbl i cas. Nessas oportuni dades, exerci tava
seu esp ri to cr ti co e tornou-se um arti cul i sta audaz e pol mi co, sempre
preocupado com as grandes questes naci onai s. Parti dri o ardoroso de
pri nc pi os democrti cos, Pareto defendeu publ i camente i deai s progres-
si stas, como o sufrgi o uni versal , a l i berdade de i mprensa e a educao
OS ECONOMISTAS
6
pri mri a uni versal e gratui ta. Cr ti co da pol ti ca comerci al proteci o-
ni sta, pregava o l i vre-comrci o e o fi m das tari fas aduanei ras e dos
subs di os i ndstri a. Paci fi sta e humani sta convi cto, foi um cr ti co
contumaz do si stema pol ti co i tal i ano, marcado poca pel o patri mo-
ni al i smo e o cl i entel i smo. Foi um dos pri nci pai s i ntel ectuai s de seu
tempo a condenar de forma enfti ca o i deri o armamenti sta que co-
meava a permear a pol ti ca europi a.
Foi tambm nesse per odo que Pareto desenvol veu o i nteresse
pel a Economi a e fi rmou ami zade com Maffeo Pantal eoni , proemi nente
economi sta da Escol a I tal i ana.
2
Mas, ao contrri o da mai or parte dos
economi stas de sua poca, Vi l fredo Pareto i ngressou na academi a e
desenvol veu suas pri nci pai s obras sobre Economi a quando j havi a
ati ngi do a maturi dade i ntel ectual . Antes de desenvol ver suas obras
ci ent fi cas, el e foi matemti co, tcni co, homem de negci os, pol ti co e
arti cul i sta. Apenas em 1893, aos 45 anos, assumi u a cadei ra de Eco-
nomi a Pol ti ca da Uni versi dade de Lausanne, at ento ocupada por
Len Wal ras.
Em 1899, Pareto dei xou sua ctedra em Lausanne e mudou-se
para Cl i gne, no Canto de Genebra, onde passou a dedi car-se quase
excl usi vamente produo ci ent fi ca. Nesse per odo, Pareto di stan-
ci ou-se gradati vamente de sua vi so reformi sta da Economi a e passou
a se dedi car teori a pura e Economi a Matemti ca. Aos poucos, seu
i nteresse foi mi grando da Economi a para a Soci ol ogi a, rea do conhe-
ci mento na qual tambm dei xou i mportantes contri bui es.
No fi nal de sua vi da, Vi l fredo Pareto foi nomeado Senador do
Parl amento I tal i ano, no per odo de ascenso do fasci smo, e membro
da Comi sso de Desarmamento da Li ga das Naes, mas no chegou
a exercer nenhuma das posi es. Fal eceu em 19 de agosto de 1923,
aos 75 anos de i dade.
Contribuies Economia Neoclssica
3
As contri bui es de Pareto Economi a moderna so abundantes.
O desenvol vi mento da Mi croeconomi a segui u, em essnci a e mtodo,
os pri nc pi os por el e trabal hados na vi rada do scul o. Entre essas con-
tri bui es destacaram-se trs: a gestao de uma teori a ordi nal de
bem-estar, que foi provavel mente a que se enrai zou de forma mai s
ampl a e profunda; o desenvol vi mento da Teoria do Equilbrio Geral
de Walras, a qual desencadeou i mportante mudana de mtodo na
Economi a Neocl ssi ca; e a cri ao de um cri tri o de aval i ao do bem-
estar soci al (timo de Pareto), que i naugurou uma nova l i nha de pes-
qui sa e l evou seu nome a todos os l i vros de texto e estudos na matri a.
PARETO
7
2 Sobre este assunto, ver Schumpeter.
3 As ci taes de Pareto conti das nesta seo foram traduzi das pel o autor da apresentao,
com base na traduo i ngl esa do Manual de Economia Poltica.
Al m destas, houve i nmeras contri bui es de menor i mportnci a re-
l ati va, mas no absol uta.
O desconforto que hoje al unos de cursos de Economi a sentem ao
estudar o concei to da funo uti l i dade que di mensi ona, como um
termmetro, o n vel de bem-estar dos consumi dores, das fi rmas e da
soci edade foi tambm senti do por Pareto em sua poca. Para com-
preender mel hor as razes desse desconforto e o papel que Pareto
desempenhou no desenvol vi mento da Economi a Neocl ssi ca, neces-
sri o di scuti r em mai or profundi dade a noo fundamental da teori a
do val or neocl ssi ca.
A Teoria da Utilidade Marginal, desenvol vi da paral el amente por
Jevons (1871), Menger (1871) e Wal ras (1874), consti tui u o ncl eo da
chamada Revol uo Margi nal i sta e representou a al forri a em rel ao
ao concei to cl ssi co de val or de uso que no permi ti a uma anl i se
i ntegrada e compl eta das rel aes entre uti l i dade, demanda e preo
de mercado. O concei to de uti l i dade data dos pri mrdi os da Ci nci a
Econmi ca, mas foi a noo de uti l i dade margi nal que tornou a demanda
um el emento-chave na determi nao do equi l bri o de mercado. Por
esses moti vos a funo uti l i dade tornou-se pea fundamental da Eco-
nomi a Neocl ssi ca.
A funo uti l i dade U (x
1
, x
2
,..., x
n
), tal como foi concebi da pel a
Escol a Margi nal i sta, mensurava a percepo psi col gi ca e subjeti va
de bem-estar dos consumi dores obti da com o consumo dos bens i,
representados por quanti dades x
i
dos bens i = 1, 2,...,n. A respei to
dessa funo supunha-se que fosse crescente em rel ao s quanti dades
de cada bem, mas que apresentasse taxas decrescentes de cresci mento,
ou seja, que a uti l i dade proveni ente de uma uni dade adi ci onal de con-
sumo de um bem qual quer di mi nu sse conforme aumentasse o consumo
do bem. A uti l i dade margi nal , medi da do adi ci onal de uti l i dade pro-
veni ente do i ncremento de consumo, seri a posi ti va e decrescente.
4
A escol ha do consumi dor era, nesse contexto, concebi da como um
probl ema de maxi mi zao da funo uti l i dade sujei ta restri o or-
amentri a da fam l i a. E o aspecto mai s i mportante dessa teori a era
a possi bi l i dade de se obter a rel ao entre preo e quanti dade consu-
mi da, chamada de funo demanda, a parti r do processo de maxi mi -
zao da uti l i dade do consumi dor. Ao maxi mi zar seu bem-estar, o con-
sumi dor i gual ava a uti l i dade margi nal de uma uni dade adi ci onal de
renda, denotada por , com as rel aes entre uti l i dade margi nal e
preo dos bens consumi dos:
OS ECONOMISTAS
8
4 Em termos matemti cos, a uti l i dade margi nal de um bem i medi da pel a deri vada parci al
da funo uti l i dade em funo do i ncremento de uma uni dade do bem: u (x
i
) =U/ x
i
.
u (x
1
)
Px
1
=
u (x
2
)
Px
2
= .... =
u (x
n
)
Px
n
=
Assi m, se o preo de um bem eventual mente subi sse, manti do o
n vel de renda constante, a quanti dade demandada e a uti l i dade mar-
gi nal deveri am di mi nui r para compensar a el evao do denomi nador
e manter a i denti dade com . Estava estabel eci da, poi s, a rel ao entre
preo e quanti dade consumi da. Note-se, contudo, que a determi nao
das quanti dades consumi das, dados os preos dos bens, assi m como a
anl i se da reao do consumi dor a vari aes dos preos dos bens, de-
pendi am fundamental mente do conheci mento prvi o da funo uti l i -
dade e do n vel espec fi co de bem-estar do consumi dor, uma vez que
eram defi ni das em termos da uti l i dade margi nal dos bens.
Apesar dos enormes avanos obti dos pel a Revol uo Margi nal i sta,
a Teori a da Uti l i dade trazi a consi go i nqui etaes de natureza metaf -
si ca. A mai or parte dos economi stas i nsati sfei tos com a teori a, entre
os quai s Vi l fredo Pareto, no questi onava seus resul tados e proposi es,
como a condi o de equi l bri o do consumi dor e a curva de demanda.
As cr ti cas e i nqui etaes estavam associ adas a duas decorrnci as dos
postul ados fundamentai s da teori a: (i ) a prpri a exi stnci a de uma
medi da de bem-estar e (i i ) a possi bi l i dade de comparaes i nterpessoai s
de bem-estar. Conforme atesta Vi ner (1925), os peri di cos de Economi a
da poca trazi am, em oposi o aos pri nci pai s tratados de Economi a,
severas cr ti cas Teori a da Uti l i dade, a mai ori a del as rel ati vas aos
pontos assi nal ados aci ma.
Vi l fredo Pareto i mpunha restri es ao prpri o termo empregado
pel a Escol a Margi nal i sta para desi gnar a expresso do bem-estar dos
agentes econmi cos. Para el e, o termo uti l i dade trazi a consi go o peso
de seu si gni fi cado na l i nguagem col oqui al : al go teri a uti l i dade se fosse
ti l ao i ndi v duo. Ressal ta em mai s de uma passagem do Manual de
Economi a Pol ti ca que certos bens, como a morfi na, trazem bem-estar
aos seus consumi dores, mas, de forma al guma, l hes so tei s. Como
al ternati va, el e empregava o termo ophel i mi te deri vado do grego
ophelimos para desi gnar a propri edade que bens ou aes tm de
gerar bem-estar e sati sfao ao seu usuri o ou ator.
Contudo, sua pri nci pal i nqui etao em rel ao ao concei to de
uti l i dade di zi a respei to di retamente mensurabi l i dade do n vel de
bem-estar dos agentes econmi cos. A esse respei to, assi nal ou: Temos
admi ti do que esta coi sa chamada prazer, valor de uso, utilidade eco-
nmica, ... seja uma quanti dade; contudo, uma demonstrao di sto ai n-
da no foi apresentada. Assumi ndo que essa demonstrao seja efe-
tuada, como essa quanti dade seri a mensurada?
5
. De fato, o pressuposto
PARETO
9
5 Pareto (1906), cap tul o 3, i tem 35. As pal avras em negri to esto ressal tadas no ori gi nal .
de uma funo quanti fi cada em al guma escal a mtri ca de uni dades de
uti l i dades, prazeres ou val ores de uso exi gi u dos economi stas contempo-
rneos de Pareto um esforo mental que el e provari a desnecessri o.
Pareto superou esse probl ema l anando mo de engenhoso arti -
f ci o l gi co e si ngul ar i ntui o econmi ca e matemti ca. A parti r das
curvas de i ndi ferena de Edgeworth, um i mportante corol ri o da vi so
tradi ci onal da Teori a da Uti l i dade, el e desenvol veu uma nova aborda-
gem da escol ha dos agentes econmi cos, que manti nha os pri nci pai s
resul tados da vi so domi nante e presci ndi a de uma funo uti l i dade
mensurvel . Sua teori a, que tornou cl ara a noo de prefernci a, em-
pregava o concei to ordi nal de bem-estar.
As curvas de i ndi ferena de Edgeworth i ndi cavam as combi naes
de bens x = (x
1
, x
2
,..., x
n
) que manti nham i nal terado o bem-estar do
consumi dor. Como os bens ti nham a propri edade de ser substi tu vei s
uns pel os outros, a curva de i ndi ferena apontava para as eventuai s
trocas entre bens que o consumi dor, segundo suas prefernci as, estari a
di sposto a fazer, manti do constante seu n vel de bem-estar. O conjunto
das curvas de i ndi ferena do consumi dor, chamado de mapa de i ndi -
ferena, era i nformao sufi ci ente para estabel ecer sua escol ha; no
se fazi a necessri o o conheci mento de sua funo uti l i dade. Bastava,
para tal , associ ar a cada curva de i ndi ferena do mapa um ndi ce tal
que: 1 duas combi naes entre as quai s a escol ha i ndi ferente devem
ter o mesmo ndi ce; 2 de duas combi naes, aquel a que for preferi da
a outra deve ter o mai or ndi ce Pareto (1906), cap tul o 3, i tem 55.
Assi m, as vri as combi naes de bens estari am ordenadas se-
gundo as prefernci as do consumi dor, e sua escol ha se resumi ri a em
sel eci onar a combi nao com o mai or ndi ce a preferi da entre
aquel as acess vei s a sua renda. Ou ai nda: dadas as prefernci as do
consumi dor, bastari a atri bui r a cada combi nao um ndi ce que pre-
servasse a ordenao subjeti va de prefernci as. Pareto constatou que,
ao quanti fi car o bem-estar dos agentes econmi cos associ ado a cada
combi nao de consumo, a funo uti l i dade atri bu a a el as um nmero
que, em l ti ma i nstnci a, ordenava o conjunto das combi naes de
consumo do agente; e i sto era sufi ci ente para os fi ns a que a teori a
se propunha.
Essa abordagem al ternati va revol uci onou a concepo econmi ca
de uti l i dade e de comportamento econmi co. A Teori a da Deci so, o
ncl eo da Mi croeconomi a contempornea, desenvol veu-se a parti r dos
fundamentos ordi nai s constru dos por Pareto. Hoje, os textos de Eco-
nomi a basei am a anl i se de comportamento econmi co (consumo, pro-
duo, trocas, bem-estar soci al etc.) no concei to de ordenao de pre-
fernci as pri mei ramente desenvol vi do por el e. A funo uti l i dade ,
nessa abordagem, uma conseqnci a dos pressupostos da teori a ordi nal
e no uma hi ptese pri mri a de trabal ho.
O trabal ho cri ati vo de Pareto com rel ao ao probl ema da escol ha
OS ECONOMISTAS
10
no se resumi u i ntroduo do enfoque ordi nal de prefernci as na
anl i se do comportamento do consumi dor. Em verdade, consumi dores,
produtores, Estado e soci edade eram, para el e, enti dades semel hantes
em essnci a: todos buscavam sati sfazer da mel hor forma poss vel seus
prpri os i nteresses, dados os mei os di spon vei s. O que di sti ngui a um
de outro qual quer era, to-somente, o i nteresse o vol ume de consumo
para o consumi dor e o l ucro para o empresri o e os mei os di spon vei s
restri o oramentri a e possi bi l i dades tecnol gi cas de produo.
Pareto tomou os pri nc pi os da Teori a da Uti l i dade e general i zou sua
apl i cao, tratando as questes de al ocao de consumo e de produo
com um mesmo i nstrumental teri co. O comportamento econmi co pas-
sou a ser vi sto como a contraposi o entre preferncias e restries.
Esse enfoque si gni fi cou outra revol uo no ncl eo da Economi a
Neocl ssi ca e possi bi l i tou o avano da Teori a do Equi l bri o Geral , pro-
posta pri mei ramente por Wal ras. O estado das artes no desenvol vi -
mento teri co herdado por Pareto contrapunha, de um l ado, a excessi va
nfase no papel da demanda desconsi derando os aspectos produti vos
da economi a e, de outro, a anl i se de equi l bri o geral de Wal ras
compl exa e pouco operaci onal . Com seu enfoque general i zante, el e foi
capaz de reduzi r o compl exo probl ema da determi nao si mul tnea do
consumo e da produo a uma anl i se de prefernci as e restri es de
di ferentes agentes econmi cos. Ao anal i sar o funci onamento de uma
economi a de trocas e, depoi s, o equi l bri o de uma economi a com
produo , concebeu o mercado como sendo formado por agentes com
di ferentes prefernci as e restri es, mas todos buscando a sati sfao
de seus i nteresses. As prefernci as e restri es se referem a cada um
dos i ndi v duos consi derados. Para um i ndi v duo as prefernci as de outro
com o qual el e tem rel aes est entre seus obstcul os Pareto (1906),
cap tul o 3, i tem 25.
Val e ressal tar que, para el e, o estudo das rel aes econmi cas
deveri a consi derar, al m da associ ao entre uti l i dade e preo, a de-
pendnci a mtua entre os agentes econmi cos consumi dores e pro-
dutores. A respei to di sto, escreveu: ...as teori as que unem apenas o
val or (preo) e o n vel de bem-estar (ophel i mi te) no tm mui ta uti l i dade
para a Economi a Pol ti ca. As teori as mai s tei s so aquel as que con-
si deram o equi l bri o econmi co geral e que i nvesti gam como el e se
ori gi na na oposi o de prefernci as e restri es. Pareto (1906), ca-
p tul o 3, i tem 228.
Al m de i ntroduzi r esse novo enfoque metodol gi co, que acabou
consti tui ndo um novo esti l o de ensi no e de estudo da Mi croeconomi a,
Pareto trouxe i nmeras contri bui es teori a wal rasi ana. Entre outras,
i ntroduzi u a funo de produo com coefi ci entes vari vei s no estudo
do equi l bri o geral , que permi ti u a anl i se da substi tui o tcni ca entre
di versos fatores produti vos (trabal ho, capi tal , terra etc.) e suas conse-
qnci as para o equi l bri o do produtor. No obstante, a mai s i mportante
PARETO
11
contri bui o nessa rea foi a conjugao do estudo do equi l bri o geral
com as propri edades de bem-estar col eti vo da economi a. Para com-
preender esse ponto, faz-se necessri o retornar, uma vez mai s, di s-
cusso sobre o concei to de uti l i dade.
A segunda questo controversa da Teori a da Uti l i dade tradi ci onal
era a possi bi l i dade de comparaes i nterpessoai s de bem-estar. Uma
vez que a funo pressupunha a mensurao da quanti dade de uti l i dade
em al guma escal a numri ca, em pri nc pi o seri a tambm admi ss vel a
comparao do bem-estar de doi s ou mai s i ndi v duos, assi m como a
agregao de uti l i dades i ndi vi duai s. De fato, vri os economi stas que
comparti l havam a vi so tradi ci onal de John Stuart Mi l l , mui tos
anos antes, a Marshal l e Pi gou acredi tavam poss vel e buscavam
mtodos de comparao dos n vei s de sati sfao i ndi vi dual e agregao
destes em bem-estar col eti vo.
O estabel eci mento de comparaes i nterpessoai s de bem-estar,
uma categori a parti cul ar de comparao de di ferentes sensaes e sen-
ti mentos, era severamente cri ti cado por Pareto. Em pri mei ro l ugar,
porque consti tu a um abuso l gi co que i gnorava a exi stnci a de confl i tos
na soci edade. Em Pareto (1906), cap tul o 2, i tens 36, l -se: A fel i ci dade
dos romanos resi de na destrui o de Cartago; a fel i ci dade dos carta-
gi neses tal vez na destrui o de Roma, ou, de qual quer forma, na sal -
vao de sua ci dade. Como ambas, a fel i ci dade dos romanos e a dos
cartagi neses, podem ser real i zadas? Depoi s, porque essa vi so permi ti a
jul gamentos de val or moral duvi doso: se for poss vel a comparao
i nterpessoal de bem-estar, tambm admi ss vel justi fi car o sofri mento
de al guns com base no aumento de bem-estar de outros i ndi v duos da
mesma soci edade. ...Como al gum pode comparar essas sensaes,
agradvei s ou de sofri mento, e som-l as? Mas para l evar nossas con-
cesses ao extremo, vamos admi ti r que i sso seja poss vel e tentemos
resol ver o segui nte probl ema: a servi do moral ? Se os senhores so
numerosos e poucos os escravos, poss vel que as sensaes agradvei s
dos senhores formem uma soma mai or que as sensaes de sofri mento
dos escravos; o contrri o ocorreri a se houvesse poucos senhores e mui tos
escravos... Pareto (1906), cap tul o 2, i tem 37. No pri mei ro caso,
por exempl o, a concl uso l gi ca seri a a de rechaar uma eventual de-
manda pel o fi m do regi me de escravi do, como forma de evi tar a di -
mi nui o do bem-estar da soci edade. Assi m, qual quer mudana nas
rel aes de poder e de di rei to da soci edade poderi a ser justi fi cada pel o
aumento, ou no, do bem-estar col eti vo.
Muni do de esp ri to humani sta, Pareto contestou a possi bi l i dade de
comparaes i nterpessoai s de uti l i dade e i ntroduzi u o concei to ordi nal de
bem-estar soci al . Segundo a nova abordagem, apenas seri am poss vei s as
comparaes de bem-estar entre si tuaes cuja mudana de uma para
outra no envol vesse transfernci as de uti l i dade entre os i ndi v duos. Seu
cri tri o de aval i ao do bem-estar soci al estabel eci a que:
OS ECONOMISTAS
12
o bem-estar soci al associ ado a um estado x mai or que o
de um outro estado y se e somente se h, em x, pel o menos
um i ndi v duo com bem-estar mai or do que em y e no h
outro i ndi v duo que tenha um n vel de bem-estar i nferi or;
ou seja, um estado superi or a outro se poss vel aumentar
o bem-estar de pel o menos um i ndi v duo sem prejudi car os
demai s (Superioridade de Pareto);
o bem-estar de uma soci edade mxi mo se no exi ste outro
estado tal que seja poss vel aumentar o bem-estar de um
i ndi v duo sem di mi nui r o bem-estar dos demai s; i sto , no
h forma de mel horar a si tuao de um, sem prejudi car a
si tuao dos outros (timo de Pareto)
6
.
Em l ti ma i nstnci a, o cri tri o proposto por Pareto revel ou os
l i mi tes entre os quai s poss vel estabel ecer comparaes de bem-estar
soci al , sem o recurso a val ores morai s. Apl i cado esse cri tri o, a Eco-
nomi a Pol ti ca preservari a, enquanto ci nci a, sua neutral i dade ti ca.
Pareto demonstrou a serventi a de seu cri tri o para a Economi a
Pol ti ca ao apl i c-l o anl i se das propri edades do equi l bri o geral . El e
provou o chamado pri mei ro teorema da Economi a do Bem-Estar, o
qual afi rma que todo equi l bri o geral de economi as em concorrnci a
perfei ta, i ndependentemente da di stri bui o i ni ci al de recursos, maxi -
mi za o bem-estar da soci edade. Tambm sugeri u, conquanto no tenha
demonstrado, a proposi o conheci da por segundo teorema da Econo-
mi a do Bem-Estar: toda si tuao ti ma no senti do de Pareto pode ser
ati ngi da por um equi l bri o competi ti vo, dada uma di stri bui o i ni ci al
de recursos apropri ada.
Ao demonstrar que o equi l bri o de uma economi a em concorrnci a
perfei ta conduzi a ao mxi mo de bem-estar da soci edade (pri mei ro teo-
rema), Pareto tornou preci so o concei to cl ssi co de mo i nvi s vel : a
capaci dade de os agentes econmi cos ati ngi rem, de forma descentral i -
zada e no i ntenci onal , o mxi mo de bem-estar da soci edade. Esse
resul tado fundamentou, por exempl o, a i di a de que o l i vre-comrci o
entre as naes l evari a suas economi as ao mxi mo de bem-estar soci al ,
defendi da por expoentes da Economi a Cl ssi ca como Adam Smi th e
Ri cardo.
No i n ci o deste scul o, a Ci nci a Econmi ca ai nda no di spunha
de um concei to, to uni versal e si mpl es como o proposto por Pareto,
para ori entar as di scusses sobre o bem-estar soci al associ ado a di fe-
rentes di stri bui es de recursos, n vei s de produo ou al ocaes de
consumo. A i novao anal ti ca de Pareto permi ti u, de forma bastante
si mpl es, comparar di ferentes estados da economi a, observando apenas
PARETO
13
6 Esse cri tri o tambm conheci do como eficincia de Pareto.
se o bem-estar de cada i ndi v duo em uma si tuao mai or ou menor
do que em outra. Assi m, di ferentes pol ti cas por exempl o, di stri bui -
es al ternati vas de despesas pbl i cas poderi am ser anal i sadas em
termos de perdas e ganhos dos agentes econmi cos envol vi dos. E essa
capaci dade de estabel ecer comparaes, at o ponto em que i sto pos-
s vel , tornou o cri tri o de Pareto pea fundamental nas anl i ses de
Economi a apl i cada.
Empregado pel o autor para di scuti r as propri edades do equi l bri o
geral competi ti vo, o cri tri o de Pareto acabou se di fundi ndo para outras
reas da Economi a. E desta di fuso desenvol veu-se a Economi a do
Bem-Estar, uma rea do conheci mento econmi co dedi cada ao estudo
de di ferentes mtodos de aval i ao do bem-estar soci al e sua apl i cao
na comparao de di sti ntos estados da Economi a. Hoje, a Economi a
do Bem-Estar d respal do a vri os campos de pesqui sa pura e apl i cada,
como a Escol ha Pbl i ca, a Teori a Econmi ca do Di rei to e a Economi a
do Mei o Ambi ente.
Vi l fr edo Par eto dei xou outr as contr i bui es i mpor tantes par a
a Economi a, como o estudo economtr i co pi onei r o sobr e di str i bui o
da r enda e as di scusses sobr e metodol ogi a e o empr ego de mate-
mti ca em Ci nci as Soci ai s. Todas compr ovam sua si ngul ar i ntui o
econmi ca e seu exempl ar r i gor l gi co. Dei xou, tambm, contr i bui -
es par a a Soci ol ogi a consubstanci adas em seu Tratado de Socio-
logia Geral (1916). Mui to embor a eu no seja capaz de jul gar o
val or destas outr as contr i bui es, acr edi to que um soci l ogo no
dedi que a Par eto menos entusi asmo.
Fernando Garci a
Fernando Garcia Doutor em Eco-
nomi a pel a FEA-USP, assessor eco-
nmi co do Si ndusCon-SP e professor
do Programa de Ps-graduao em
Economi a Pol ti ca da PUC-SP e do
MBA em Fi nanas do I bmec-SP.
OS ECONOMISTAS
14
BIBLIOGRAFIA
Obras de Vi l fredo Pareto
La mortal i t i nfanti l e e i l costo del l uomo adul to. Em Giornale degli
economisti, 7, 451-6.
Teori a matemati ca dei cambi foresti ere. Em Giornale degli economisti,
8, 142-73.
La curve del l a entrate e l e osservazi one del professor Edgeworth.
Em Giornale degli economisti, 13, 439-48.
Cours dconomie politique. 2 vol . Lausanne, Li brai ri e de l Uni versi t.
The new theori es of economi cs. Em J ournal of Political Economy, 5,
485-502.
Quel ques exempl es dappl i cati on de l a mthode de moi ndres carrs.
Em J ournal de Statistique Suisse, 121-50.
Di un nuovo errore nel l o i nterpretare l e teori e del l economi a mate-
mati ca. Em Giornale degli economisti, 25, 401-33.
Manuale dEconomia Politica. Mi l o, Soci eta Edi tri ce Li brari a. Tradu-
zi do para o francs e revi sado em 1909 como Manuel dEconomie
Politique, Pari s, Gi ard Bri re. Traduzi do para o i ngl s como Ma-
nual of Political Economy: Traduo de Ann S. Schwi er, The
Macmi l l an Press LTD, Nova York, 1971.
Wal ras. Em Economic J ournal, 20, 138-39.
Economie Mathmathique. Em Encyclopdie des Sciences Mathmathi-
ques, I (i v,4), Pari s, Teubner, Gauthi er, Vi l l ars.
I l massi mo de uti l i t per una col l etti vi t i n soci ol ogi a. Em Giornale
degli economisti, 46, 337-38.
Trattato di Sociologia Generale. 4 vol . Fl orena, Barnera.
Economi a speri mental e. Em Giornale degli economisti, 52, 1-18.
Oeuvres Complts. Edi tado por G. Busi no. 28 vol . Genebr a, Li -
br ai r i e Dr oz.
Soci ol ogi cal Wri ti ngs. Textos sel eci onados por S.E. Fi ner. Rowman and
Li ttl efi el d. Totowa, Nova Jersey, 1966.
15
Outros autores
AMOROSO, L. Vi l fredo Pareto. Em Econometrica, VI , Jan., 1-21.
ARROW, K.J. Social Choice and I ndividual Values. Nova York, John
Wi l ey & Sons, I nc.
BERGSON, A. A reformul ati on of certai n aspects of wel fare econo-
mi cs. Em Quarterly J ournal of Economics, 52, 310-34.
BLACK, R.D.C. Uti l i ty. Em The New Palgrave, Utility and Pro-
bability, eds. John Eatwel l , Mur r ay Mi l gate and Peter New-
man. London and Basi ngstoke, The Macmi l l an Pr ess Li mi ted,
295-302.
BOUSQUET, G.H. Vilfredo Pareto, le Savant et lHomme. Lausanne,
Payot.
Vilfredo Pareto, sa Vie et son Ouevre. Lausanne,
Payot.
BUSI NO, G. Vi l fredo Pareto. Em The New Palgrave, Utility and Pro-
bability, 799-804.
CI RI LLO, R. The Economics of Vilfredo Pareto. Totowa, Frank Cass
and Company LTD.
JEVONS, W.S. A Teoria da Economia Poltica. So Paul o, Edi tora
Nova Cul tural , 1996.
JOHANSSON, P. An I ntroduction to Modern Welfare Economics. Cam-
bri dge, Cambri dge Uni versi ty Press.
KI RMAN, A.P. Pareto as an economi st. Em The New Palgrave, eds.
John Eatwel l , Murray Mi l gate, and Peter Newman. London and
Basi ngstoke, The Macmi l l an Press Li mi ted, 804-9.
LOCKWOOD, B. (1987) Par eto effi ci ency, em The New Palgrave,
811-13.
MERGER, C. Principles of Economics. Gl encoe, I l l i noi s, Free Press,
1951.
PANTALEONI , M. Vi l fr edo Par eto . Em Economi c J ournal , 33,
582-590.
SCHUMPETER, J. A. Vi l fredo Pareto (1848-1923). Em Quarterly
J ournal of Economics, 63, 147-73.
History of Economic Analysis. Nova York, Oxford Uni versi ty Press.
SI MONSEN, M.H. Teoria Microeconmica. 2 vol . Ri o de Janei ro, Fun-
dao Getl i o Vargas.
STEI NDL, J. Pareto Di stri buti on. Em The New Palgrave, 809-11.
TARASCI O, V.J. Paretos Methodol ogical Approach to Economi cs:
A Study i n the History of Some Sci enti fi c Aspects of Economi c
Thought. Chapel Hi l l , The Uni ver si ty of Nor th Car ol i ne
Pr ess.
OS ECONOMISTAS
16
VI NER, J. The uti l i ty concept i n val ue theory and i ts cri ti cs. Em
J ournal of Political Economy, 33, 369-87.
WALRAS, L. Em Compndio dos Elementos de Economia Poltica Pura.
So Paul o, Edi tora Nova Cul tural , 1996.
PARETO
17
MANUAL DE ECONOMIA
POLTICA
*
* Traduzi do de PARETO, Vi l fredo. Manuel dconomie Politique. 5 edi o, Genebra, Li brai ri e
Droz, 1981.
ADVERTNCIA
1
Quando se ci ta, num cap tul o, um pargrafo do mesmo cap tul o,
esse i ndi cado si mpl esmente por . Se o pargrafo de outro cap tul o,
o nmero romano que i ndi ca o cap tul o precede o nmero do pargrafo.
Exempl os: no cap tul o I , ( 4) i ndi ca o pargrafo 4 do prpri o cap tul o.
Sempre no cap tul o I , (I I , 6) i ndi ca o pargrafo 6 do cap tul o I I .
Nas ci taes, Cours i ndi ca o nosso Cours dconomie Politique,
Lausanne 1896, 1897 e Systmes i ndi ca o nosso l i vro Systmes Socia-
listes, Pari s, 1903.
21
1 Extra da de PARETO, Vi l fredo. Manuale di Economia Politica con una I ntroduzione alla
Scienza Sociale. Mi l o, Soci et Edi tri ce Li brari a, 1909. (N. do Ed.)
SUMRIO
CAP. I . Princpios Gerais 1. Os objeti vos que se podem ter no
estudo da Economi a Pol ti ca e da Soci ol ogi a. 2, 3. Os mtodos
empregados. 4, 5, 6. As uni formi dades ou as l ei s. 7. As excees
aparentes. 8. As uni formi dades ou as l ei s so verdadei ras apenas
sob certas condi es. 9. Essas condi es so, s vezes, i mpl ci tas,
s vezes, expl ci tas. 10. No podemos jamai s conhecer um fen-
meno concreto em todas as suas parti cul ari dades. 11. Podemos
ter del e apenas um conheci mento aproxi mati vo. 12. Decl arar que
a teori a se afasta, em certos pontos, do fenmeno concreto, ei s uma
objeo sem al cance. 13. Exempl o. 14. Aproxi maes sucessi vas.
15, 16, 17. No podemos conhecer os fatos raci oci nando com os
concei tos que temos; preci so recorrer observao di reta. 18.
Em que i nexato o raci oc ni o por eliminao. 19. Os resul tados
da teori a sempre di ferem, ai nda que pouco, da real i dade. 20. As
ci nci as que podem recorrer experi nci a e as que devem se con-
tentar com a observao. Uma teori a no pode ter outro cri tri o
seno sua mai or ou menor concordnci a com a real i dade. 21.
Abstrao: seu papel na ci nci a. 22, 23, 24. El a pode se revesti r
de duas formas que so equi val entes. 25, 26. A ci nci a essen-
ci al mente anal ti ca; a prti ca, si ntti ca. 27, 28, 29, 30. A teori a
de um fenmeno concreto apenas a teori a de uma parte desse
fenmeno. A ci nci a separa as di ferentes partes de um fenmeno e
as estuda separadamente; a prti ca deve aproxi mar os resul tados
assi m obti dos. 31. I nuti l i dade da cr ti ca si mpl esmente negati va
de uma teori a. 32. s vezes, para consegui r mai s si nceri dade,
di stanci amo-nos, vol untari amente, em teori a, do fenmeno concreto.
33. O estudo hi stri co dos fenmenos econmi cos: em que ti l
e em que i nti l . 34. Evol uo. 35. I nuti l i dade das di scusses
sobre o mtodo em Economi a Pol ti ca. 36. Afi rmaes que se
podem veri fi car experi mental mente e afi rmaes que no se podem
observar experi mental mente. 37, 38. A ci nci a ocupa-se somente
das pri mei ras. 39, 40. Tudo que tenha aparnci a de um precei to,
23
a menos que tenha apenas aparncia formal, no ci ent fi co. 42.
Confuso entre a ci nci a e a f. 43. A intui o: seus modos e formas.
44, 45, 46. O consenti mento universal no um critri o da verdade
ci ent fi ca. 47. Erro dos metaf si cos que querem transportar propo-
si es absol utas para as proposi es ci ent fi cas que, por natureza, so
essenci al mente subordi nadas, e para as quai s preci so sempre suben-
tender a condi o de que el as so verdadei ras nos l i mi tes do tempo e
da experi nci a conheci dos por ns. 48. absurdo querer substi tui r
a f pel a ci nci a. 49, 50. Concl uses deduzi das de premi ssas no
experi mentai s. 51. A i nveno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CAP. I I . I ntroduo Cincia Social 1. O estudo da soci ol ogi a
ai nda deve parti r de certos pri nc pi os emp ri cos. 2, 3. Aes no
l gi cas e aes l gi cas. 4, 5. Tendnci a a se apresentar como
l gi cas as aes no l gi cas e a encami nhar todas as rel aes dos
fenmenos entre si rel ao de causa e efei to. 6. Rel aes ob-
jeti vas. 7, 8, 9. Como e em que a rel ao subjeti va se afasta da
rel ao objeti va. 10, 11, 12. Vari edades de rel aes entre os fatos
reai s. 13, 14, 15. Rel aes entre os fatos i magi nri os e os fatos
reai s. 16, 17. Como experi nci as renovadas podem aproxi mar a
rel ao subjeti va da rel ao objeti va. 18, 19. Noes sobre a teori a
das aes no l gi cas. A moral um fenmeno subjeti vo. 20.
Pesqui sas experi mentai s que, de manei ra ti l , se podem estabel ecer
sobre os senti mentos morai s e sobre os senti mentos rel i gi osos.
21. Rel ao entre a moral e a rel i gi o. 22. Rel aes entre os
senti mentos no l gi cos de manei ra geral . 23. Rel aes l gi cas
e rel aes no l gi cas entre a moral e a rel i gi o. 24 a 40. Exame
dos si stemas l gi cos de moral . Trata-se de construes vs, sem
contedo real . 41. Pesqui sas que, de manei ra ti l , se podem es-
tabel ecer sobre os senti mentos morai s ou sobre outros senti mentos
semel hantes. 42. Esses senti mentos so essenci al mente subjeti -
vos. 43. A dependnci a entre esses di ferentes senti mentos no
uma dependnci a de ordem l gi ca, mas resul ta do fato de que
esses senti mentos tm razes comuns e di stanci adas. 44. Essa
dependnci a vari a no tempo, no espao e, numa mesma soci edade,
segundo os i ndi v duos. 45, 46, 47. No exi ste moral ni ca; exi stem
tantas quantos os i ndi v duos. 48. Oposi o entre os di ferentes
senti mentos no l gi cos, por exempl o, entre os senti mentos morai s
e os senti mentos rel i gi osos. Como uma f i ntensa i mpede observar
essas oposi es. 49. Como e por que el as em geral no so per-
cebi das. 50. O homem se esfora em estabel ecer entre esses sen-
ti mentos no l gi cos as rel aes l gi cas que el e i magi na dever exi sti r.
51, 52, 53. Certas ci rcunstnci as so favorvei s ao desenvol vi -
mento de certos senti mentos, outras l hes so contrri as e atuam
di ferentemente segundo os i ndi v duos. 54, 55. Como a moral e
OS ECONOMISTAS
24
as rel i gi es das di ferentes cl asses soci ai s atuam uma sobre as outras.
56, 57. Exempl os hi stri cos. 58, 59. Essa ao rec proca provoca
movi mentos r tmi cos. 60, 61. Mal es que resul tam da extenso
dos senti mentos das cl asses superi ores s cl asses i nferi ores. 62
a 74. Exempl os hi stri cos. 75. Probl ema geral da Soci ol ogi a.
76 a 79. Sol uo darwi ni ana; em que verdadei ra, em que i nexata.
80 a 82. Sol uo segundo a qual a soci edade organi zada de
manei ra a sati sfazer o i nteresse de uma cl asse. 83. i nti l pesqui sar
se os senti mentos morai s tm ori gem i ndi vi dual ou soci al . 84.
ti l conhecer, no sua ori gem, mas como os senti mentos nascem e
se transformam. 85, 86, 87. Exempl os hi stri cos. 88. I mi tao
e oposi o. 89 a 93. Como as rel aes objeti vas, que acabamos
de estudar, se transformam em rel aes subjeti vas. 94 a 96. Uma
mesma rel ao objeti va pode se traduzi r sob di ferentes formas sub-
jeti vas. Persi stnci a de certos fenmenos soci ai s sob formas com-
pl etamente di ferentes. 97. Movi mentos reai s e movi mentos vi r-
tuai s. Probl ema que consi ste em pesqui sar a manei ra como certas
modi fi caes hi potti cas de certos fatos soci ai s atuam sobre outros
fatos. 98, 99. Exame desse probl ema. 100, 101. Di fi cul dades
subjeti vas e di fi cul dades objeti vas que encontramos nesse estudo.
102. A soci edade no homognea. 103. Ci rcul ao das ari s-
tocraci as. 104, 105, 106. Como se traduz subjeti vamente a l uta
entre as di ferentes cl asses soci ai s. Objeti vamente, o concei to de
i gual dade dos homens absurdo; subjeti vamente, el e tem uma parte
bastante i mportante nos fenmenos soci ai s. 107. Como certos
homens, agi ndo para se movi mentar num senti do, vo em senti do
oposto. 108. As teori as soci ai s e econmi cas atuam sobre a so-
ci edade, no por seu val or objeti vo, mas por seu val or subjeti vo.
109. Preconcei to da i gual dade di ante da l ei . 110 a 114. A moral
e as crenas vari am com os homens; uti l i dade soci al dessas vari aes.
115 a 123. Como a aparnci a di fere da real i dade na organi zao
pol ti ca. Exempl os hi stri cos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
CAP. I I I . Noo Geral do Equilbrio Econmico 1, 2. Objeto da
Economi a Pol ti ca. 3. Di fi cul dades do probl ema econmi co e como
o emprego das Matemti cas serve para sobrepujar certas di fi cul da-
des. 4, 5, 6. Si mpl i fi cao do probl ema econmi co; a Economi a
pura. 7. As trs partes da Economi a pura. 8, 9, 10. A estti ca
econmi ca. Estuda-se um fenmeno cont nuo. 11, 12. Duas cl asses
de teori a: a pri mei ra busca comparar as sensaes de um i ndi v duo;
a segunda busca comparar as sensaes de i ndi v duos di ferentes.
A Economi a Pol ti ca ocupa-se apenas dos pri mei ros. 13. Como
faremos esse estudo. 14, 15. Estudaremos os gostos, os obstcul os
e como, por seu contraste, nasce o equi l bri o econmi co. 16, 17,
18. Bens econmi cos e sensaes que proporci onam. 19. preci so
PARETO
25
combi nar os gostos e obstcul os. 20, 21. Combi naes qual i tati vas
e quanti tati vas dos bens econmi cos. 22. Defi ni o do equi l bri o
econmi co; movi mentos reai s e movi mentos vi rtuai s. 23, 24, 25,
26. Dados do probl ema do equi l bri o. 27. Como se determi na o
equi l bri o em geral . 28, 29. Os gostos dos homens; noo i mperfei ta
que del es ti nham os economi stas; o valor de uso. 30, 31. Como
nasceu a Economi a pura atravs da reti fi cao das noes errneas
da Economi a. 32 a 36. A ofel i mi dade. 37. Laos que exi stem
entre as condi es do fenmeno econmi co. 38. Tentaremos ex-
pl i car as teori as da Economi a pura sem que nos si rvamos dos s m-
bol os al gbri cos. 39. Efei tos di retos e efei tos i ndi retos dos gestos.
40 a 48. Ti pos de fenmenos concernentes aos efei tos dos gostos;
l i vre concorrnci a; monopl i o. 49. Ti po da organi zao soci al i sta.
50, 51. Como os ti pos se mi sturam e como preci so estud-l os.
52 a 54. Li nhas de i ndi ferena dos gostos. 55, 56. ndi ces de
ofel i mi dade. 57, 58, 59. Como so representados os gostos do
i ndi v duo; a col i na do prazer. 60, 61. Como se representa, por
um atal ho, a condi o de um homem que possui , sucessi vamente,
quanti dades di ferentes de um bem econmi co. 62, 63, 64. Con-
si deraes sobre os atal hos; pontos termi nai s e pontos de tangnci a
com as l i nhas de i ndi ferena. 65, 66, 67. Vari aes cont nuas e
vari aes descont nuas. 68. Os obstcul os. 69. Pri mei ro gnero
de obstcul os. 70, 71, 72. Transformao dos bens econmi cos.
73, 74. Segundo gnero de obstcul os. 75. As l i nhas de i ndi -
ferena dos obstcul os nas transformaes objeti vas. 76. As l i nhas
de i ndi ferena do produtor. 77 a 80. Anal ogi a das l i nhas de i n-
di ferena dos gostos e das l i nhas de i ndi ferena dos obstcul os.
81. A col i na da uti l i dade. 82. A concorrnci a. 83. A concorrnci a
na troca. 84. A concorrnci a na produo. 85. preci so comear
por estudar uma col eti vi dade separada de todas as outras. 86 a
88. Os modos da concorrnci a. 89. Ti pos dos fenmenos concer-
nentes aos produtores. 90, 91, 92. O equi l bri o em geral . 93
a 99. O equi l bri o concernente aos gostos; como o equi l bri o sobre
um atal ho ocorre num ponto termi nal ou num ponto de tangnci a
desse atal ho e de uma curva de i ndi ferena. 100 a 104. O equi l bri o
para o produtor. 105. A l i nha da uti l i dade mxi ma. 106 a
111. O equi l bri o dos gostos e dos obstcul os. 112 a 115. Teori a
geral que determi na os pontos de equi l bri o. 116 a 133. Modos
e formas do equi l bri o na troca. Di ferentes pontos de equi l bri o. Equi -
l bri o estvel e equi l bri o i nstvel . 134. Mxi mo de ofel i mi dade.
135 a 151. Modos e formas do equi l bri o na produo. A l i nha
da uti l i dade mxi ma. A concorrnci a dos produtores. 152 a 155.
Os preos. 156, 157. O val or de troca. 158. O preo de uma
mercadori a em outra. 159 a 166. Os fenmenos econmi cos des-
cri tos com a uti l i zao da noo de preo. 167 a 174. Os preos
OS ECONOMISTAS
26
e o segundo gnero dos obstcul os. Preo do custo e preos vari vei s.
175. O oramento do i ndi v duo. 176. O oramento do produtor.
177, 178, 179. O custo de produo. 180 a 183. Oferta e procura.
184. Curva da oferta e da procura. 185, 186, 187. A oferta e
a procura dependem de todas as ci rcunstnci as do equi l bri o eco-
nmi co. 188 a 192. A i gual dade da oferta e da procura no ponto
de equi l bri o. 193. Modo de vari ao da oferta e da procura.
194. A i gual dade do custo de produo e dos preos de venda.
195. Equi l bri o estvel e equi l bri o i nstvel ; suas rel aes com as
noes de oferta e procura. 196 a 204. Equi l bri o em geral .
205 a 216. O equi l bri o da produo e da troca em geral . 217,
218. Qual a uti l i dade do emprego das Matemti cas. 219 a 226.
Erros engendrados pel o no emprego das Matemti cas onde el e era
i ndi spensvel . 227. i nti l buscar a causa ni ca do val or.
228. A Economi a pura pde, at aqui , fornecer sozi nha uma noo
si ntti ca do fenmeno econmi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
CAP. I V. Os Gostos 1. Objeti vo do presente cap tul o. 2 a 7.
Os gostos e a ofel i mi dade. Consi dera-se apenas o consumo vol untri o.
8. Consumos i ndependentes e dependentes. Doi s ti pos de depen-
dnci a. 9 a 13. Estudo do pri mei ro gnero de dependnci a. El e
se di vi de em duas espci es. 14 a 18. Estudo do segundo gnero
de dependnci a. 19. Hi erarqui a das mercadori as. 20 a 23.
Manei ra de consi derar o segundo gnero de dependnci a. Equi va-
l nci a dos consumos. 24. Grande extenso do fenmeno da de-
pendnci a dos consumos. 25, 26. Podemos estudar o fenmeno
econmi co apenas numa pequena regi o em torno do ponto de equi -
l bri o. 27, 28. As curvas de i ndi ferena vari am com o tempo e
as ci rcunstnci as. 29 a 31. Di vergnci as do fenmeno teri co e
do fenmeno concreto. 32. A ofel i mi dade e seus ndi ces. 33,
34. Caracteres da ofel i mi dade para consumos i ndependentes. 35,
36. Consumos dependentes. 37 a 42. Caracteres da ofel i mi dade
em geral . 43 a 47. Caracteres das l i nhas de i ndi ferena. 48
a 53. Rel ao entre a ofel i mi dade ou as l i nhas de i ndi ferena da
oferta e da procura. Rel aes com os rendi mentos do consumi dor.
54, 55. Di ferentes formas das l i nhas de i ndi ferena e das l i nhas
das trocas. Consi derao dos di ferentes gneros de dependnci a.
56 a 68. O fenmeno da ofel i mi dade em geral . 69, 70. A col i na
da ofel i mi dade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
CAP. V. Os Obstculos 1. O estudo da produo mai s compl exo
do que o estudo dos gostos. 2 a 7. A di vi so do trabal ho e a
empresa. 8 a 10. O fi m a que tende a empresa. 11. Como,
persegui ndo determi nado fi m, el a, s vezes, ati nge outro. 12. O
ti po da organi zao soci al i sta. 13 a 16. As di versas vi as da em-
presa. 17 a 24. Os capi tai s. Em que essa noo no ri gorosa
PARETO
27
e como torn-l a ri gorosa. 25 a 29. A teori a do equi l bri o econmi co
sem e com a noo de capi tal . 30, 31, 32. Amorti zao e seguro.
33. Os servi os dos capi tai s. 34. Bens materi ai s e bens i ma-
teri ai s. 35, 36, 37. Os coefi ci entes de produo. 38. Transfor-
maes no espao. 39 a 42. Transformaes no tempo. 43 a
47. O bal ano da empresa e as transformaes no tempo. Di ferentes
manei ras de consi derar essas transformaes. 48 a 51. O rendi -
mento dos capi tai s. 52 a 57. O rendi mento l qui do e suas causas.
58. Rendi mentos l qui dos de di versos capi tai s. 59, 60. O or-
amento da empresa e os rendi mentos dos capi tai s. 61. O bal ano
da empresa, o trabal ho e os capi tai s do empresri o. 62 a 65. O
empresri o e o propri etri o dos bens econmi cos. 66 a 69. As
empresas reai s, seus rendi mentos e suas perdas. 70 a 75. Va-
ri abi l i dade dos coefi ci entes de produo. 76, 77. Compensao
poss vel entre as vari aes dos di ferentes coefi ci entes. 78 a 80.
Reparti o da produo. 81 a 87. Equi l bri o geral da produo.
88. Produo de capi tai s. 89. Posi es sucessi vas de equi l bri o.
90. A renda. 91, 92. Renda adqui ri da. 93, 94, 95. A renda
de Ri cardo; sua rel ao com o custo de produo. 96, 97. Como
esse caso parti cul ar faz parte da produo . . . . . . . . . . . . . . . . 227
CAP. VI . O Equi l bri o Econmi co 1 a 18. Exempl os de equi l bri o.
A l ei do custo de produo. Como atua a concorrnci a. 19 a 25.
Formas ordi nri as das curvas de i ndi ferena na troca e na produo;
mercadori as a custo de produo crescente e mercadori as a custo
de produo decrescente. 26. O equi l bri o dos gostos e da produo.
27 a 31. O equi l bri o em geral . Aproxi mao mai or do fenmeno
concreto. 32, 33. Propri edade do equi l bri o. Mxi mo de ofel i mi -
dade. 34 a 38. Propri edade do equi l bri o na troca. Como se obtm
o mxi mo de ofel i mi dade. 39 a 47 Propri edades do equi l bri o da
produo. Como se obtm o mxi mo de ofel i mi dade. 48. Argu-
mento em favor da produo col eti vi sta. 49 a 51. Como atua a
l i vre-concorrnci a para determi nar os coefi ci entes de produo e para
se chegar i gual dade de todos os rendi mentos l qui dos dos di ferentes
capi tai s. 52 a 61. O equi l bri o econmi co na soci edade col eti vi sta.
62, 63, 64. Mxi mo de ofel i mi dade para col eti vi dades parci ai s.
65 a 69. Teori a pura do comrci o i nternaci onal . 70. O equi l bri o
dos preos. 71 a 79. Teori a quanti tati va da moeda. Vari ao dos
preos. 80 a 89. Rel ao entre equi l bri o, os preos dos fatores
da produo e os preos dos produtos. 90 a 91. Traduo subjeti va
dos fenmenos estudados. 92. Ci rcul ao econmi ca. 93 a 96.
I nterpretaes i nexatas da concor r nci a dos empr esr i os. 97 a
101. Concepes errneas da produo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CAP. VI I . A Popul ao 1. O fenmeno econmi co, seu ponto
de parti da e seu ponto de chegada no homem. 2. Heterogenei dade
OS ECONOMISTAS
28
soci al . 3 a 10. O ti po mdi o e a reparti o das di vergnci as. A
curva dos erros. 11 a 17. A curva da reparti o dos rendi mentos.
18 a 22. Ci rcul ao soci al . 23 a 25. Em certos l i mi tes de tempo
e de espao as mudanas na forma da curva dos rendi mentos foram
debi l i tadas. 26. A parte i nferi or mudou mai s do que a parte
superi or. 27 a 31. Conseqnci as teri cas desses fatos. 32 a
45. Rel aes entre as condi es econmi cas e a popul ao. 46,
47. O esqueci mento da consi derao das cri ses econmi cas pode con-
duzi r a erros graves. 48. Teori a das correl aes. 49, 50. Efei tos
do aumento da prosperi dade econmi ca. 51 a 56. O efei to da
vari ao da quanti dade da ri queza pode ser compl etamente di ferente
do efei to dessa quanti dade. Estudo desse l ti mo efei to. 57 a 60.
A produo dos capi tai s pessoai s. 61. Custo de produo do homem
adulto. 62 a 67. Obstcul os fora geradora. Cresci mento excepci onal
da popul ao no scul o XI X. 68 a 70. As subsistnci as e a popul ao.
71 a 80. Natureza dos obstcul os. Seus efei tos di retos e seus efei tos
indi retos. 81 a 88. Vi so subjeti va dos fenmenos dependendo do
cresci mento da popul ao. 89 a 96. Mal thus e suas teori as. 97
a 101. A soci edade humana em geral . Os fatos pri nci pai s que deter-
mi nam seus caracteres so: a hi erarqui a; a ascenso das ari stocraci as;
a sel eo; a proporo mdi a de ri queza ou de capi tai s por i ndi v duo.
102, 103. Condi es quanti tati vas para a uti l i dade da soci edade e
para a uti l i dade dos i ndi v duos. 104 a 115. Estabi l i dade e sel eo.
Pri nc pi o de estabi l i dade e pri nc pi o de mudana. 116, 117. Traduo
subjeti va dos fatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
PARETO
29
CAPTULO I
Princpios Gerais
1. Entre os objeti vos a que pode se propor o estudo da Economi a
Pol ti ca e da Soci ol ogi a podemos i ndi car os trs segui ntes: 1) Esse
estudo pode consi sti r em recol her recei tas tei s aos parti cul ares e s
autori dades pbl i cas para sua ati vi dade econmi ca e soci al . O autor
ento tem si mpl esmente em vi sta essa uti l i dade, assi m como o autor
de um tratado sobre a cri ao de coel hos tem por objeti vo si mpl esmente
ser ti l aos cri adores desses pequenos ani mai s. 2) O autor pode acre-
di tar estar de posse de uma doutri na que l he parece excel ente, que
deve propi ci ar todo ti po de benef ci os a uma nao ou mesmo ao gnero
humano e se propor sua di vul gao, como o fari a um apstol o, a fi m
de tornar as pessoas fel i zes, ou, si mpl esmente, como di z a frmul a
consagrada, para fazer um pouco de bem. O objeti vo conti nua a ser
a uti l i dade, mas uma uti l i dade mui to mai s geral e menos terra a terra.
Entre esses doi s gneros de estudo h, de modo geral , a di ferena que
pode haver entre uma col eo de precei tos e um tratado de Moral .
Ocorre exatamente o mesmo, apenas sob uma forma mai s vel ada, quan-
do o autor subentende que a doutri na por el e professada a mel hor
e si mpl esmente decl ara que estuda os fenmenos a fi m de real i zar o
bem da humani dade.
2
Da mesma manei ra a Botni ca estudari a os
31
2 Em 1904, G. de Greef d ai nda esta defi ni o (Sociologie conomique, p. 101): A econmi ca
parte fundamental da Ci nci a Soci al que tem por objeto o estudo e o conheci mento do
funci onamento e da estrutura do si stema nutri ti vo das soci edades, tendo em vi sta sua
conservao e tambm seu aperfei oamento pel a reduo progressi va do esforo humano e
do peso morto e pel o cresci mento do efei to ti l , no i nteresse e para a fel i ci dade comum do
i ndi v duo e da espci e organi zada em soci edade.
1) De sa da, estranho que o autor nos d por defi ni o uma metfora (si stema nutri ti vo).
2) A econmica ocupa-se da produo dos venenos, da construo das estradas de ferro,
dos tnei s das estradas de ferro, dos couraados etc.? Se no, que ci nci a se ocupa di sso?
Se si m, tudo i sso comi do pel a soci edade (sistema nutritivo)? Que apeti te! 3) Esse estudo
fei to com uma meta prti co-humani tri a (tendo em vista); portanto, a defi ni o de uma
arte e no de uma ci nci a. 4) As defi ni es, ns o sabemos, no se di scutem; portanto, no
devem conter nenhum teorema. Nosso autor i ntroduzi u em sua defi ni o um bocado del es.
vegetai s vi sando a conhecer os que so tei s ao homem, a Geometri a
estudari a as l i nhas e as superf ci es vi sando medi da das terras etc.
verdade que foi assi m que as ci nci as comearam; foram pri mei ro
artes, mas pouco a pouco puseram-se a estudar os fenmenos i nde-
pendentemente de qual quer outro objeti vo. 3) O autor pode se propor
uni camente pesqui sar as uni formi dades que os fenmenos apresentam,
i sto , suas l ei s ( 4), sem vi sar nenhuma uti l i dade prti ca di reta, sem
se preocupar de modo al gum em dar recei tas ou precei tos, sem mesmo
buscar a fel i ci dade, a uti l i dade ou o bem-estar da humani dade ou de
uma de suas partes. O objeti vo nesse caso excl usi vamente ci ent fi co;
quer apenas conhecer, saber e basta.
Devo adverti r o l ei tor que me proponho, neste Manual , excl usi -
vamente este l ti mo objeti vo. No que menospreze os outros doi s; quero
si mpl esmente di sti ngui r, separar os mtodos e i ndi car aquel e que ser
adotado neste l i vro.
Advi rto i gual mente que me esforo, tanto quanto me poss vel
e, sabendo o quanto i sso di f ci l , temo no poder cumpri r sempre
mi nha meta , em empregar uni camente pal avras que correspondem
cl aramente a coi sas reai s bem defi ni das e em nunca me servi r de
pal avras que possam i nfl uenci ar o esp ri to do l ei tor. No que eu quei ra
rebai xar ou menosprezar essa manei ra de proceder, eu o repi to, j que
o consi dero, pel o contrri o, como a ni ca capaz de l evar a persuaso
a um grande nmero de i ndi v duos e qual devemos nos ater neces-
sari amente se objeti vamos esse resul tado. Mas nesta obra no busco
convencer ni ngum; procuro si mpl esmente as uni formi dades dos fen-
menos. Aquel es que ti verem um outro objeti vo encontraro faci l mente
uma i nfi ni dade de obras que l hes daro pl ena sati sfao; no tm ne-
cessi dade de l er esta obra.
2. Em quase todos os ramos do conheci mento humano os fen-
menos foram estudados segundo os pontos de vi sta que acabamos de
i ndi car; e, normal mente, a ordem cronol gi ca desses pontos de vi sta
corresponde nossa enumerao; entretanto, mui tas vezes, o pri mei ro
mi sturado com o segundo e, em certas matri as mui to prti cas, o
segundo nem mesmo empregado.
A obra de Cato, De Re Rustica, pertence ao pri mei ro gnero;
no prefci o, entretanto, el e se si tua s vezes no segundo ponto de vi sta.
As obras publ i cadas na I ngl aterra no fi nal do scul o XVI I I em favor
dos novos mtodos de cul ti vo pertencem em parte ao segundo gnero
OS ECONOMISTAS
32
Fal a-nos do aperfei oamento obti do pel a reduo do peso morto (os capi tal i stas devem fazer
parte del e; assi m, ei -l os condenados por defi ni o) e tambm da felicidade comum do in-
divduo e da espcie e destarte se desembaraa, por defi ni o, do di f ci l probl ema que
consi ste em saber quando exi ste essa fel i ci dade comum e quando, ao contrri o, a fel i ci dade
do i ndi v duo ope-se fel i ci dade da espci e, ou i nversamente. Poder amos ai nda fazer um
bom nmero de observaes sobre essa defi ni o, mas fi caremos por aqui .
e em parte ao pri mei ro. Os tratados de Qu mi ca Agr col a e de outras
ci nci as semel hantes pertencem em grande parte ao tercei ro gnero.
A Histria Natural de Pl ni o d recei tas de F si ca e de Qu mi ca;
so recei tas, i gual mente, que encontramos nos l i vros de Al qui mi a; os
trabal hos modernos sobre a Qu mi ca pertencem, pel o contrri o, ao ter-
cei ro gnero.
3. Na mai ori a das obras consagradas Economi a Pol ti ca ai nda
se uti l i za os trs mtodos, e a ci nci a ai nda no se separou da arte.
Os autores no s no se col ocam cl ara e francamente nesse tercei ro
ponto de vi sta nos tratados de Economi a Pol ti ca, como a mai ori a dos
autores desaprova a uti l i zao excl usi va desse mtodo. Adam Smi th
decl ara abertamente que a Economi a Pol ti ca, consi derada como um
ramo dos conheci mentos do l egi sl ador e do estadi sta, prope-se doi s
objeti vos di sti ntos: pri mei ro, propi ci ar ao povo uma renda ou uma sub-
si stnci a abundante ou, mel hor di zendo, col oc-l o em condi es de obter
por si prpri o essa renda ou essa subsi stnci a abundante; o segundo
objeti vo consi ste em fornecer ao Estado ou comuni dade uma renda
sufi ci ente para o servi o pbl i co: el a se prope si mul taneamente en-
ri quecer o povo e o soberano. I sso representari a col ocar-se excl usi va-
mente em nosso pri mei ro ponto de vi sta; fel i zmente Smi th no se sub-
mete sua defi ni o e na mai ori a das vezes col oca-se em nosso tercei ro
ponto de vi sta.
John Stuart Mi l l decl ara que os economi stas atri buem-se a mi s-
so, quer de pesqui sar, quer de ensi nar a natureza da ri queza e as
l ei s de sua produo e de sua di stri bui o. Essa defi ni o pertence
ao tercei ro gnero; mas, mui tas vezes Mi l l se si tua no segundo ponto
de vi sta e prega em defesa dos pobres.
Paul Leroy-Beaul i eu di z ter retornado ao mtodo de Adam Smi th.
Tal vez suba mesmo mai s al to: em seu Tratado atm-se na mai ori a
das vezes ao pri mei ro mtodo, al gumas vezes ao segundo e raramente
ao tercei ro.
4. As aes humanas apresentam certas uni formi dades e apenas
graas a essa propri edade que podem ser objeto de um estudo ci ent fi co.
Essas uni formi dades tm ai nda um outro nome; chamamo-l as de leis.
5. Qual quer pessoa que estude uma cincia soci al, qualquer um que
afi rme al go sobre os efei tos de tal ou qual medi da econmi ca, pol ti ca e
soci al , admi te i mpl i ci tamente a exi stncia dessas uniformidades, porque
seno seu estudo no teri a objeto, suas afi rmaes seri am sem fundamento.
Se no houvesse uni formi dades no se poderi a estabel ecer, com al guma
aproxi mao, o oramento de um Estado, de uma Comuna e nem mesmo,
al i s, de uma modesta soci edade i ndustri al .
Certos autores, ao mesmo tempo em que negam a exi stnci a das
PARETO
33
uni formi dades (l ei s) econmi cas, propem-se entretanto escrever a hi s-
tri a econmi ca de tal ou qual povo; mas h a uma contradi o evi -
dente. Para proceder a uma escol ha entre os fatos aconteci dos num
momento dado e destacar os que queremos reter dos que negl i genci a-
mos, necessri o admi ti r a exi stnci a de certas uni formi dades. Se
separamos os fatos A, B, C..., dos fatos M, N, P..., porque constatamos
que os pri mei ros sucedem-se uni formemente, enquanto no so pro-
duzi dos de uma manei ra uni forme com os segundos; essa afi rmao
a afi rmao de uma l ei . Se quem descreve a semeadura do tri go no
admi te a exi stnci a de uni formi dades, dever destacar todas as par-
ti cul ari dades da operao: dever nos di zer, por exempl o, se o homem
que semei a tem cabel os rui vos ou negros, assi m como nos di z que se
semei a aps ter l avrado a terra. Por que omi te o pri mei ro fato e l eva
em conta o segundo? Porque, pode-se di zer, o pri mei ro nada tem a ver
com a germi nao ou com o cresci mento do tri go. Mas o mesmo que
di zer que o tri go germi na e cresce do mesmo modo, tenha o semeador
cabel os rui vos ou negros, i sto , a combi nao desses doi s fatos no
apresenta nenhuma uni formi dade. E, ao contrri o, exi ste uni formi dade
entre o fato de que a terra tenha si do l avrada ou no e o outro fato
de que o tri go brote bem ou mal .
6. Quando afi rmamos que A foi observado ao mesmo tempo que B,
normal mente no di zemos se consi deramos essa coi nci dnci a fortui ta ou
no. sobre esse equ voco que se api am aquel es que querem consti tui r
uma Economi a Pol ti ca, negando que el a seja uma ci nci a. Se l hes fazemos
observar que ao afi rmarem que A acompanha B admi tem que h nisso
uma uniformidade, uma lei, respondem: si mpl esmente narramos o que
se passou. Mas, depoi s de terem obti do a acei tao de sua proposi o
nesse senti do, empregam-na em um outro e decl aram que no futuro A
ser segui do por B. Ora, se, do fato de que os fenmenos econmi cos ou
soci ai s A e B esti veram uni dos em certos casos no passado, ti ra-se a
conseqnci a de que estaro i gual mente uni dos no futuro, afi rma-se com
i sso que mani festam uma uni formi dade, uma l ei ; e, depoi s di sso, ri d cul o
querer negar a exi stnci a de l ei s econmi cas e soci ai s.
Se no se admi te que h uni formi dades, o conheci mento do pas-
sado e do presente uma pura curi osi dade e nada se pode deduzi r
quanto ao futuro; a l ei tura de um romance de caval ari a ou de Os Trs
Mosqueteiros tem o mesmo val or que a l ei tura de Tuc di des. Se, ao
contrri o, pretende-se ti rar do conheci mento do passado a m ni ma de-
duo referente ao futuro, porque se admi te, pel o menos i mpl i ci ta-
mente, que h uni formi dades.
7. Estri tamente fal ando, no pode haver excees s l ei s econ-
mi cas e soci ol gi cas, assi m como no h s outras l ei s ci ent fi cas. Uma
uni formi dade no uni forme no tem senti do.
OS ECONOMISTAS
34
Mas as l ei s ci ent fi cas no tm uma exi stnci a objeti va. A i m-
perfei o de nosso esp ri to no nos permi te consi derar os fenmenos
em seu conjunto
3
e somos obri gados a estud-l os separadamente. Em
conseqnci a, em vez de uni formi dades gerai s, que so e sempre per-
manecero i ncgni tas, somos obri gados a consi derar um nmero i nfi ni to
de uni formi dades parci ai s, que se cruzam, se superpem e se opem
de mi l manei ras. Quando consi deramos uma dessas uni formi dades e
seus efei tos so modi fi cados ou ocul tados pel os efei tos de outras uni -
formi dades, que no temos i nteno de l evar em conta, comumente
di zemos, mas a expresso i mprpri a, que a uni formi dade ou a l ei
consi derada sofre excees. Se admi ti mos essa manei ra de fal ar, as
l ei s f si cas e at mesmo as l ei s matemti cas
4
comportam excees, bem
como as l ei s econmi cas.
PARETO
35
3 Um autor de mui to tal ento, Benedetto Croce, me fez, quando da publ i cao da edi o
i tal i ana, al gumas cr ti cas que jul go conveni ente anotar aqui , no com um fi to de pol mi ca,
porque esta uma coi sa que em geral bastante i nti l , mas porque podem servi r de
exempl os para escl arecer teori as gerai s.
O autor que acabamos de ci tar observa: O que a imperfeio do esp ri to humano?
Conhecer amos, por acaso, um esprito perfeito, em comparao ao qual pudssemos esta-
bel ecer que o esp ri to humano i mperfeito?.
Poder amos responder que, se a uti l i zao do termo i mperfei to somente for l ci ta quando
pudermos, por oposi o, i ndi car qual quer coi sa do perfei to, deve-se bani r do di ci onri o o
termo i mperfei to, porque jamai s encontraremos ocasi o de uti l i z-l o: como se di z, a per-
fei o no desse mundo.
Mas essa resposta seri a apenas formal . preci so i r ao fundo das coi sas e ver o que h
sob as pal avras.
Croce, sendo hegel i ano, vi u-se evi dentemente agastado pel o ep teto mal soante de imper-
feito apl i cado ao esp ri to humano. O esp ri to humano no poderi a ser i mperfei to, j que
a ni ca coi sa exi stente neste mundo.
Mas, se qui sermos nos dar ao trabal ho de pesqui sar o que expri mem os termos de nosso
texto, perceberemos i medi atamente que o senti do permanece absol utamente o mesmo se,
em vez de di zermos: A i mperfei o de nosso esp ri to no nos permi te etc., di ssssemos:
A natureza de nosso esp ri to no nos permi te etc.. Em uma di scusso objeti va e no
verbal , portanto, i nti l ater-se a esse termo: imperfeio.
Mas, al gum poderi a nos objetar que, j que reconhecemos no ser esse termo imperfeio
essenci al para expri mi r nosso pensamento, por que no o ri scamos da traduo francesa?
Dessa manei ra contentar amos, a bai xo custo, os admi radores do esp ri to humano.
I sso exi ge al gumas observaes gerai s, que bom fazer de uma vez por todas.
O uso da l i nguagem vul gar em vez da l i nguagem tcni ca de certas ci nci as tem grandes
i nconveni entes, e o menor del es no a fal ta de preci so; tem tambm al gumas vantagens;
de tal modo que, padecendo dos pri mei ros, bom aprovei tar-se das segundas. Entre estas
encontra-se a facul dade de sugeri r, por mei o de uma pal avra, consi deraes acessri as que
se fossem l ongamente desenvol vi das di strai ri am a ateno do assunto pri nci pal que est
sendo tratado.
O uso fei to aqui do termo imperfeio sugere que se trata de uma coi sa podendo ser
mai s ou menos i mperfei ta, que vari a por graus. Com efei to, os homens podem consi derar
uma poro mai s ou menos extensa dos fenmenos; certos esp ri tos si ntti cos abarcam uma
parte mai or que outros esp ri tos i ncl i nados anl i se; mas todos, em qual quer caso, somente
podem abarcar uma parte mui to restri ta do conjunto.
Essas consi deraes so acessri as, el as podem ser postas em uma nota; no poderi am
ser i nseri das no texto sem prejudi car gravemente a cl areza do di scurso.
4 Suponhamos que um matemti co possa observar, ao mesmo tempo, espaos eucl i di anos e
espaos no-eucl i di anos. El e constatar que os teoremas de Geometri a que dependem do
postul ado de Eucl i des no so verdadei ros para estes l ti mos e, em segui da, acei tando a
manei ra de fal ar proposta no texto, di r que esses teoremas comportam excees.
De acordo com a l ei da gravi dade uma pl uma l anada ao vento
deveri a cai r em di reo ao centro da terra. Mui tas vezes, ao contrri o,
el a se afasta desse centro, sob a i nfl unci a do vento. Poder-se-i a di zer,
portanto, que a l ei da gravi dade comporta excees; mas esta seri a
uma expresso i mprpri a, que os f si cos no uti l i zam. Si mpl esmente
estamos em presena de outros fenmenos que se superpem aos fe-
nmenos consi derados pel a l ei da gravi dade.
5
8. Uma l ei ou uma uni formi dade apenas verdadei ra sob certas
condi es que preci samente nos servem para i ndi car quai s so os fenmenos
que queremos destacar do conjunto. Por exemplo, as l ei s qu mi cas que
dependem da afi ni dade so di ferentes, segundo a temperatura se mantenha
dentro de certos l i mi tes ou os ul trapasse. At certa temperatura doi s corpos
no se combi nam; al m dessa temperatura combi nam-se, mas se a tem-
peratura conti nua aumentando e ul trapassa certo l imite, el es se di ssoci am.
9. Al gumas dessas condi es so i mpl ci tas, outras so expl ci tas.
S se deve i ntroduzi r entre as pri mei ras as que so subentendi das
faci l mente por todos sem o m ni mo equ voco; seno ter amos uma cha-
rada e no um teorema ci ent fi co. No h proposi o que no se possa
certi fi car como verdadei ra sob certas condi es, a serem determi nadas.
As condi es de um fenmeno so parte i ntegrante desse fenmeno e
no podem del e ser separadas.
10. Ns no conhecemos, no podemos jamais conhecer um fenmeno
concreto em todos os seus pormenores; h sempre um res duo.
6
s vezes,
essa constatao se faz materi al mente. Por exempl o, acredi tava-se que
OS ECONOMISTAS
36
5 Systmes. I I , p. 75 et seq.
6 Aqui , Croce pergunta: E quem o conhecer, a no ser o homem?.
Todos os crentes so ranzi nzas a respei to de sua f; Croce deve ter tornado a ver aqui
( 7, nota) uma nova bl asfmi a contra o esp ri to humano. Mas, verdadei ramente, eu no
ti nha nenhuma m i nteno desse gnero. Basta l er, mesmo mui to superfi ci al mente, este
pargrafo para ver que el e si mpl esmente expri me que novos pormenores de um mesmo
fenmeno chegam conti nuamente a nosso conheci mento. O exempl o do ar atmosfri co pa-
rece-me expri mi -l o cl aramente.
Tal vez Croce tenha acredi tado que eu qui sesse resol ver i nci dental mente a grave questo
do mundo objeti vo. Os parti dri os da existncia do mundo exteri or expri mi r-se-o di zendo
que o argni o exi sti a antes de sua descoberta; os parti dri os da existncia apenas dos
concei tos humanos di ro que o argni o somente existiu no di a em que foi descoberto.
Devo adverti r ao l ei tor que no pretendo de forma al guma entregar-me a esse gnero
de di scusses. Portanto, no se deve nunca buscar no que est escri to neste vol ume qual quer
sol uo para esses probl emas, que abandono i ntei ramente aos metaf si cos.
Repeti r ei que apenas combato a i nvaso pel os metaf si cos do ter reno da
sendo esse termo estendi do a tudo o que real se per manecem for a, al m da
no quer o em nada l hes mol estar e at mesmo admi to que ati ngem,
excl usi vamente nesse dom ni o, r esul tados que so i nacess vei s a ns, adeptos do mtodo
exper i mental .
Fi nal mente, a questo do val or i ntr nseco de certas doutri nas no tem nada a ver com
sua uti l i dade soci al . No h rel ao entre uma coi sa e outra.
se conheci a compl etamente a composi o do ar atmosfri co e um bel o
di a se descobre o argni o e l ogo em segui da, uma vez tomado esse
cami nho, descobre-se na atmosfera um grande nmero de outros gases.
Que pode haver de mai s si mpl es que a queda de um corpo? E entretanto
no conhecemos e nunca conheceremos todas as suas parti cul ari dades.
11. Da observao precedente resul ta um grande nmero de con-
seqnci as de enorme i mportnci a.
J que no conhecemos i ntei ramente nenhum fenmeno concreto,
nossas teori as sobre esses fenmenos so apenas aproxi mati vas. So-
mente conhecemos fenmenos i deai s, que se aproxi mam mai s ou menos
dos fenmenos concretos. Estamos na si tuao de um i ndi v duo que
apenas conhecesse um objeto por mei o de fotografi as. Qual quer que
seja a perfei o del as, sempre di ferem de al gum modo do prpri o objeto.
Portanto, no devemos nunca jul gar sobre o val or de uma teori a pes-
qui sando se el a se afasta de al gum modo da real i dade, j que nenhuma
teori a resi ste e jamai s resi sti r a essa prova.
preci so acrescentar que as teori as no passam de mei os de
conhecer e estudar os fenmenos. Uma teori a pode ser boa para ati ngi r
certo al vo; uma outra pode s-l o para ati ngi r um outro; mas, de todo
o modo el as devem estar de acordo com os fatos, porque seno no
teri am uti l i dade nenhuma.
preci so substi tui r o estudo qual i tati vo pel o estudo quanti tati vo
e pesqui sar em que medi da a teori a afasta-se da real i dade. Entre duas
teori as escol heremos a que menos se afaste del a. No devemos jamai s
esquecer que uma teori a somente deve ser acei ta temporari amente; a
que consi deramos verdadei ra hoje, dever ser abandonada amanh,
desde que se descubra uma outra que mai s se aproxi me da real i dade.
A ci nci a est em um perptuo vi r a ser.
12. Seri a absurdo fazer da exi stnci a do Monte Branco uma ob-
jeo teori a da esferi ci dade da terra, porque a al tura dessa montanha
desprez vel em rel ao ao di metro da esfera terrestre.
7
13. Ao representarmos a terra como uma esfera, aproxi mamo-nos
mai s da real i dade que ao fi gur-l a como pl ana ou ci l ndri ca, como alguns
o fi zeram na Anti gui dade;
8
conseqentemente, a teori a da esferi ci dade
da terra deve ser preferi da teori a da terra pl ana ou ci l ndri ca.
PARETO
37
7 Pl ni o enganava-se em sua aval i ao da al ti tude das montanhas dos Al pes; a propsi to da
observao de Di cearco, segundo o qual a al ti tude das montanhas desprez vel comparada
grandeza da terra, di sse: Mihi incerta haec videtur conjectatio, haud ignaro quosdam
Alpium vertices, longo tractu, nec breviore quinquaginta millibus passuum assurgere. Hist.
Mundi. I I , 65. Ter amos assi m uma al ti tude de cerca de 74 mi l metros, enquanto na real i dade
o Monte Branco s tem 4 810 metros.
8 Anax menes acredi tava que fosse pl ana; Anaxi mandro acredi tava que fosse ci l ndri ca.
Ao representarmos a terra como um el i psi de de revol uo, apro-
xi mamo-nos mai s da real i dade que ao fi gur-l a esfri ca. Portanto,
ti l que a teori a do el i psi de tenha substi tu do a da esfera.
9
Entretanto, mesmo essa teori a do el i psi de deve ser hoje aban-
donada, porque a moderna geodsi a nos ensi na que a forma do esferi de
terrestre mui to mai s compl exa. A cada di a novos estudos nos apro-
xi mam cada vez mai s da real i dade.
Entretanto, para certos cl cul os aproxi mati vos, servi mo-nos ai nda
da forma do el i psi de. Assi m fazendo, cometemos um erro, mas sabemos
que menor que outros aos quai s esses estudos esto sujei tos e ento,
para si mpl i fi car os cl cul os, podemos negl i genci ar as di ferenas exi s-
tentes entre o el i psi de e o esferi de terrestre.
14. Essa manei ra de se aproxi mar da real i dade por mei o de teori as
que cada vez mai s concordam com el a e que em segui da, geral mente,
tornam-se mai s e mai s compl exas o que se chama mtodo das apro-
ximaes sucessivas; servi mo-nos del e, i mpl ci ta ou expl i ci tamente, em
todas as ci nci as ( 30, nota).
15. Outra conseqnci a. fal so acredi tar que se possa descobri r
exatamente as propri edades dos fatos concretos raci oci nando com as
i di as que fazemos a priori desses fatos, sem modi fi car esses concei tos
ao comparar a posteriori essas conseqnci as com os fatos. Esse erro
anl ogo ao erro que cometeri a um agri cul tor que i magi nasse poder
jul gar a conveni nci a de comprar uma propri edade conheci da por el e
apenas por mei o de fotografi a.
A noo que temos de um fenmeno concreto concorda em parte
com esse fenmeno e del e di fere em outros aspectos. A i gual dade que
exi ste entre as noes de doi s fenmenos no tem como conseqnci a
a i gual dade dos prpri os fenmenos.
evi dente que um fenmeno qual quer somente pode ser conhe-
ci do medi ante a noo que faz nascer em ns; mas, exatamente porque
dessa forma apenas chegamos a uma i magem i mperfei ta da real i dade,
sempre preci samos comparar o fenmeno subjeti vo, i sto , a teori a,
com o fenmeno objeti vo, i sto , o fato experi mental .
16. Al i s, as noes que temos dos fenmenos, sem qual quer ve-
ri fi cao experi mental , formam os materi ai s que mai s faci l mente se
OS ECONOMISTAS
38
9 Tannery, fal ando sobre o postul ado da esferi ci dade da terra, di z: Entretanto, rel ati vamente
a sua parte objeti va, ti nha o val or de uma pri mei ra aproxi mao, assi m como para ns a
hi ptese do el i psi de de revol uo consti tui uma segunda aproxi mao. A grande di ferena
consi ste em que, como conseqnci a de medi das e observaes real i zadas em di ferentes
pontos do gl obo, podemos estabel ecer l i mi tes aos desvi os entre essa aproxi mao e a rea-
l i dade, enquanto os anti gos no o podi am fazer de manei ra sri a. TANNERY, Paul . Re-
cherches sur lHistoire de lAstronomie Ancienne. p. 106.
acham nossa di sposi o, j que exi stem em ns, e ocasi onal mente pode-se
ti rar al guma coi sa desses materi ai s. Da resul ta que os homens, sobretudo
nos pri mrdi os de uma cincia, tm uma tendnci a i rresi st vel a raci oci nar
sobre as noes que j possuem dos fatos, sem se preocupar em reti fi car
essas noes por mei o de pesqui sas experi mentai s. Do mesmo modo, tam-
bm querem encontrar na eti mol ogi a as propri edades das coi sas expressas
pel as pal avras. Fazem experi nci as com os nomes dos fatos em vez de
fazer experi nci as com os prpri os fatos. Pode-se at mesmo descobri r
certas verdades dessa forma, mas apenas quando a ci nci a est em seus
pri mrdi os; quando est um pouco desenvol vi da, esse mtodo torna-se
absolutamente vo e preci so, para adqui ri r noes que se aproxi mem
sempre mai s dos fatos, estud-l os di retamente e no mai s observando-os
atravs de certas noes a priori ou atravs do si gni fi cado das pal avras
que servem para desi gn-l os.
17. Todas as ci nci as naturai s chegaram agora ao ponto no qual
os fatos so estudados di retamente. Tambm a Economi a Pol ti ca che-
gou a esse ponto, pel o menos em grande parte. Apenas nas outras
ci nci as soci ai s que ai nda h quem se obsti ne em raci oci nar sobre
pal avras;
10
no entanto, preci so desembaraar-se desse mtodo, se
qui sermos que as ci nci as progri dam.
PARETO
39
10 Croce observa: Como se o prpri o Manual de Pareto no fosse um teci do de concepes e
de palavras! O homem pensa por mei o de concepes e as expri me por mei o de pal avras!.
Ei s uma outra cr ti ca verbal , como as que j anotamos ( 7, nota; 10, nota).
evi dente que j amai s pensamos em negar que toda obra um teci do de concepes e de
pal avr as; mas qui semos di sti ngui r as pal avr as sob as quai s apenas h sonhos das pa-
l avras sob as quai s h r eal i dades.
Agora, se al gum metaf si co fi car chocado com o termo real i dades, somente posso acon-
sel h-l o a no conti nuar a l ei tura deste l i vro. Advi rto-o se que j no percebeu que
fal amos duas l nguas di ferentes, de tal forma que nenhum de ns doi s compreende o que
o outro fal a. Por mi nha parte crei o ser sufi ci entemente cl aro ao di zer que preci so di sti ngui r
um l u s de ouro de um l u s de ouro i magi nri o; e se al gum afi rmasse que no h di ferena,
eu l he propori a uma si mpl es troca: dar-l he-i a l u ses de ouro i magi nri os e el e me entregari a
l u ses reai s.
Fi nal mente, dei xando de l ado qual quer di scusso sobre a manei ra de nomear as coi sas,
h vri os ti pos de teci dos de concepes e de pal avras. H um ti po uti l i zado pel os meta-
f si cos, do qual tento me afastar tanto quanto poss vel ; h um outro ti po que encontrado
nas obras que tratam das ci nci as f si cas e que o ti po do qual me esforarei por aproxi -
mar-me ao tratar de Ci nci as Soci ai s.
Hegel di z: O cri stal t pi co o di amante, esse produto da terra vi sta do qual o ol ho
se al egra porque v nel e o pri mei ro fi l ho da l uz e da gravi dade. A l uz a i denti dade
abstrata e compl etamente l i vre. O ar a i denti dade dos el ementos. A i denti dade subordi nada
uma i denti dade passi va para a l uz e ni sso resi de a transparnci a do cri stal . (Essa
traduo no me pertence, el a de um hegel i ano cl ebre: VERA, A. Philosophie de la
Nature. I I , p. 21.)
Essa expl i cao da transparnci a pode ser excel ente, mas confesso humi l demente que
nada entendo del a, e este um model o que me preocupo bastante em no i mi tar.
A demonstrao dada por Hegel das l ei s da mecni ca cel este (Systmes. I I , p. 72) me
parece o cmul o do absurdo, enquanto entendo perfei tamente l i vros como: Novos Mtodos
da Mecnica Celeste, de H. Poi ncar. Quando o autor di z: O objeti vo fi nal da mecni ca
cel este resol ver esta grande questo de saber se a l ei de Newton expl i ca por si s todos
os fenmenos astronmi cos; o ni co mei o de se chegar a i sso fazer observaes to preci sas
18. Outra conseqnci a. O mtodo de raci oc ni o, que poder amos
denomi nar por eliminao e que ai nda freqentemente empregado
nas ci nci as soci ai s, i nexato. Ei s em que consi ste. Um fenmeno
concreto X tem certa propri edade Z. De acordo com o que j sabemos,
esse fenmeno compe-se das partes A, B, C. Demonstra-se que Z no
pertence nem a B nem a C e concl ui -se que deve necessari amente
pertencer a A.
A concl uso i nexata porque a enumerao das partes de X
nunca e nunca pode ser compl eta. Al m de A, B, C, que conhecemos
ou que o autor do r aci oc ni o conhece apenas ou que apenas con-
si der a pode haver outr as D, E, F..., que i gnor amos ou que o autor
do r aci oc ni o negl i genci ou.
11
19. Outra conseqnci a. Quando os resul tados da teori a passam
para a prti ca, podemos estar certos de que sero sempre mai s ou
menos modi fi cados por outros resul tados, que dependem de fenmenos
no consi derados pel a teori a.
20. Desse ponto de vi sta h duas grandes cl asses de ci ncias: as
ci ncias que, como a F si ca, a Qu mi ca, a Mecni ca, podem recorrer
experi nci a e as que, como a Meteorol ogi a, a Astronomi a, a Economi a
Pol ti ca, no podem ou apenas di fi ci l mente podem recorrer experi ncia
e que devem se contentar com a observao. As pri mei ras podem separar
materi al mente os fenmenos que correspondem uni formi dade ou l ei que
querem estudar, as segundas s podem separ-l os mental mente, teori ca-
mente; mas, tanto em um caso como no outro, sempre o fenmeno
concreto que deci de se uma teori a deve ser acei ta ou rejei tada. No h,
no pode haver, outro cri tri o sobre a verdade de uma teori a que no
seja sua concordnci a mai s ou menos perfei ta com os fenmenos concretos.
Quando fal amos do mtodo experi mental , expri mi mo-nos de uma
manei ra el pti ca e compreendemos o mtodo que uti l i za quer a expe-
ri nci a, quer a observao, quer as duas juntas, se i sso for poss vel .
As ci nci as que somente podem uti l i zar a observao separam
pel a abstrao certos fenmenos de outros; as ci nci as que podem i gual -
mente servi r-se da experi nci a real i zam materi al mente essa abstrao;
mas a abstrao consti tui para todas as ci nci as a condi o prel i mi nar
e i ndi spensvel de toda pesqui sa.
OS ECONOMISTAS
40
quanto poss vel , comparando-as, a segui r, aos resul tados dos cl cul os (I , p. 1), encontro
um congl omerado de concepes e pal avras compl etamente di ferente do que encontrei em
Hegel , Pl ato e outros autores semel hantes; e meu objeti vo , justamente, fazer, para as
Ci nci as Soci ai s, observaes to preci sas quanto poss vel , comparando-as, a segui r, aos
resul tados das teori as.
Um autor deve adverti r seus l ei tores do cami nho que el e quer segui r; e foi preci samente
com esse objeti vo que escrevi este pri mei ro cap tul o.
11 Systmes. I I , p. 252.
21. Essa abstrao decorre de necessi dades subjeti vas, no tem
nada de objeti vo; el a , poi s, arbi trri a, pel o menos dentro de certos
l i mi tes, porque se tem que l evar em conta a meta qual deve servi r.
Em conseqnci a, certa abstrao ou certa cl assi fi cao no excl uem
necessari amente uma outra abstrao ou uma outra cl assi fi cao. Todas
as duas podem ser uti l i zadas, segundo a meta a que se proponha.
Quando a Mecni ca Raci onal reduz os corpos a si mpl es pontos
materi ai s, quando a Economi a Pura reduz os homens reai s ao homo
oeconomicus, servem-se de abstraes perfei tamente semel hantes
12
e
i mpostas por necessi dades semel hantes.
Quando a Qu mi ca fal a de corpos qui mi camente puros, uti l i za
i gual mente uma abstrao, mas tem a possi bi l i dade de obter arti fi -
ci al mente corpos reai s que real i zam mai s ou menos essa abstrao.
22. A abstrao pode revesti r duas formas que so exatamente
equi val entes. Na pri mei ra, consi dera-se um ser abstrato que possui
apenas as qual i dades que se quer estudar; na segunda, essas propri e-
dades so di retamente consi deradas e separadas das outras.
23. O homem real executa aes econmi cas, morai s, rel i gi osas,
estti cas etc. Expri me-se exatamente a mesma i di a, quando se di z:
estudo as aes econmi cas e fao abstrao das outras, ou: estudo
o homo oeconomicus, que apenas executa aes econmi cas. I gual men-
te, expri me-se a mesma i di a sob as duas segui ntes formas: estudo
as reaes do enxofre e do oxi gni o concretos, fazendo abstraes dos
corpos estranhos que possam conter, ou: estudo as rel aes entre o
enxofre e o oxi gni o qui mi camente puros.
Esse mesmo corpo que consi dero como qui mi camente puro tendo
em vi sta um estudo qu mi co, posso consi der-l o como um ponto materi al
tendo em vi sta um estudo mecni co; posso consi derar apenas sua forma,
tendo em vi sta um estudo geomtri co etc. O mesmo homem que con-
si dero como homo oeconomicus para um estudo econmi co, posso con-
si der-l o como homo ethicus para um estudo moral , como homo reli-
giosus para um estudo rel i gi oso etc.
O corpo concreto compreende o corpo qu mi co, o corpo mecni co,
o corpo geomtri co etc.; o homem real compreende o homo oeconomicus,
o homo ethicus, o homo religiosus etc. Em suma, consi derar esses di -
ferentes corpos, esses di ferentes homens, corresponde a consi derar as
di ferentes propri edades desse corpo real , desse homem real e vi sa ape-
nas a cortar em fati as a matri a que deve ser estudada.
24. Erra-se, poi s, redondamente quando se acusa quem estuda
PARETO
41
12 VOLTERA, Vi to. Giornale degli Economisti. Novembro de 1901.
as aes econmi cas ou o homo oeconomicus de negl i genci ar ou
mesmo de desdenhar as aes morai s, rel i gi osas etc. i sto , o homo
ethicus, o homo religiosus etc. ; seri a a mesma coi sa que di zer que a
geometri a negl i genci a, desdenha as propri edades qu mi cas dos corpos,
suas propri edades f si cas etc. Comete-se o mesmo erro quando se acusa
a Economi a Pol ti ca de no l evar em conta a moral , como se acusssemos
uma teori a sobre o jogo de xadrez de no l evar em conta a arte cul i nri a.
25. Ao estudar A separadamente de B, submetemo-nos i mpl i ci -
tamente a uma necessi dade absol uta do esp ri to humano; mas com o
estudo de A no se quer de modo al gum afi rmar sua preemi nnci a
sobre B. Separando-se o estudo da Economi a Pol ti ca do estudo da
moral no se quer de modo al gum afi rmar que o pri mei ro tem mai s
i mportnci a que o segundo. Ao se escrever um tratado sobre o jogo de
xadrez no se quer de modo al gum afi rmar com i sso a preemi nnci a
do jogo de xadrez sobre a arte cul i nri a, ou sobre qual quer outra ci nci a
ou sobre qual quer outra arte.
26. Quando se vol ta do abstr ato ao concr eto pr eci so de novo
r euni r as par tes que, par a ser em mel hor estudadas, for am separ a-
das. A ci nci a essenci al mente anal ti ca; a pr ti ca essenci al mente
si ntti ca.
A Economi a Pol ti ca no tem que l evar em conta a moral ; mas
quem preconi za uma medi da prti ca deve l evar em conta, no apenas
as conseqnci as econmi cas, mas tambm as conseqnci as morai s,
rel i gi osas, pol ti cas etc. A Mecni ca Raci onal no tem que l evar em
conta as propri edades qu mi cas dos corpos; mas quem qui ser prever
o que se passar quando um dado corpo for posto em contato com um
outro corpo, dever l evar em conta, no apenas os resul tados da Me-
cni ca, mas tambm os da Qu mi ca, da F si ca etc.
27. Para certos fenmenos concretos o l ado econmi co predomi na
sobre todos os outros; poder-se--ento, sem erro grave, consi derar ape-
nas as conseqnci as da ci nci a econmi ca. H outros fenmenos con-
cretos nos quai s o l ado econmi co i nsi gni fi cante; seri a absurdo con-
si derar para estes apenas as conseqnci as da ci nci a econmi ca; pel o
contrri o, ser preci so menosprez-l as. H fenmenos i ntermedi ri os
entre esses doi s ti pos; a ci nci a econmi ca nos far conhecer um l ado
mai s ou menos i mportante del es. Em todos os casos, uma questo
de grau, de mai s ou de menos.
Pode-se di zer em outros termos: s vezes as aes do homem
concreto so, sal vo erro l i gei ro, as do homo oeconomicus; s vezes el as
concordam quase exatamente com as do homo ethicus; s vezes con-
cordam com as do homo religiosus etc.; outras vezes ai nda el as parti -
ci pam das aes de todos esses homens.
OS ECONOMISTAS
42
28. Quando um autor se esquece dessa observao, costumamos,
para combat-l o, col ocar em oposi o a teori a e a prti ca. uma ma-
nei ra i mperfei ta de nos expri mi r. A prti ca no se ope teori a, mas
rene as di ferentes teori as apl i cadas ao caso consi derado, servi ndo-se
di sso para uma fi nal i dade concreta.
O economi sta, por exempl o, que preconi za uma l ei l evando em
consi derao apenas seus efei tos econmi cos, no s no mui to teri co
como no o bastante, j que negl i genci a outras teori as que deveri a
reuni r sua para produzi r um jul gamento sobre esse caso prti co.
Quem preconi za o l i vre-cmbi o atentando apenas para seus efei tos
econmi cos, no faz uma teori a i nexata do comrci o i nternaci onal , mas
faz uma apl i cao i nexata de uma teori a i ntri nsecamente verdadei ra;
seu erro consi ste em negl i genci ar outros efei tos pol ti cos e soci ai s, que
formam o objeto de outras teori as.
13
29. Di sti ngui r as di ferentes partes de um fenmeno para estu-
d-l as separadamente e em segui da reuni -l as novamente para obter
uma s ntese um procedi mento que somente se prati ca e somente se
pode prati car quando a ci nci a j est mui to avanada; no i n ci o, es-
tudamos ao mesmo tempo todas as partes, a anl i se e a s ntese esto
confundi das.
Esta uma das razes pel as quai s as ci nci as nascem pri mei ro
sob a forma de arte e tambm uma das razes pel as quai s as ci nci as,
medi da que progri dem, se separam e se subdi vi dem.
30. Sor el , em sua I ntroduo Economia Moderna, pr ope o
r etor no a esse estado da ci nci a, no qual no se di sti ngue a anl i se
da s ntese, e sua tentati va se expl i ca se consi der ar mos o estado
pouco avanado das ci nci as soci ai s; mas i sso subi r o r i o em di r eo
fonte e no desc-l o, segui ndo-se a cor r ente. Al i s, pr eci so ob-
ser var que assi m, i mpl i ci tamente, se faz teor i a. Com efei to, Sor el
no se pr ope apenas descr ever o passado, el e quer i gual mente co-
nhecer o futur o; mas, como j o mostr amos, o futur o somente pode
ser l i gado ao passado se cer tas uni for mi dades so admi ti das, i m-
pl ci ta ou expl i ci tamente, e somente podemos conhecer essas uni for -
mi dades procedendo a uma anl i se ci ent fi ca.
14
PARETO
43
13 G. Sorel tem em parte razo quando di z: O homem de Estado ser comumente mui to
pouco sens vel demonstrao onde se prove que o proteci oni smo sempre destri a ri queza,
se el e acredi ta que o proteci oni smo o mei o menos custoso para acl i matar a i ndstri a e
o esp ri to da empresa em seu pa s. (...). (I ntroduction lconomie Moderne. p. 26.)
preci so substi tui r essa comparao qual i tati va por uma quanti tati va e di zer perderei tantos
mi l hes por ano e ganharei tanto, e deci di r-se em segui da. Se chegssemos a destrui r
assi m 500 mi l hes de ri queza por ano, para ganhar apenas 100, ter amos fei to um mau
negci o. Observo ai nda que Sorel col oca o probl ema apenas do ponto de vi sta econmi co,
e que h um l ado soci al e pol ti co mui to i mportante que preci sa ser l evado em consi derao.
31. A cr ti ca essenci al mente negati va de uma teori a perfei ta-
mente v e estri l ; para que tenha al guma uti l i dade preci so que a
negao seja segui da de uma afi rmao, que se substi tua a teori a fal sa
por uma teori a mai s exata. Se al gumas vezes as coi sas no se passam
assi m, si mpl esmente porque a teori a mai s exata est presente ao
esp ri to, ai nda que subentendi da.
Se al gum nega que a terra tem a forma de um pl ano, em nada
aumenta a soma de nossos conheci mentos, como o fari a se decl arasse
que a terra no tem a forma de um pl ano, mas a de um corpo redondo.
Observemos, al i s, que se qui sermos ser perfei tamente ri gorosos,
toda teori a fal sa, no senti do de que no corresponde e jamai s poder
corresponder real i dade ( 11). Portanto, um pl eonasmo repeti r para
uma teori a parti cul ar aqui l o que verdadei ro para todas as teori as.
No somos obri gados a escol her entre uma teori a mai s ou menos apro-
xi mada e uma teori a que corresponde em tudo e por tudo ao concreto,
j que no exi ste tal teori a, mas si m entre duas teori as, das quai s
uma se aproxi ma menos e outra mai s do concreto.
32. No apenas devi do nossa i gnornci a que as teori as se
afastam mai s ou menos do concreto. Mui tas vezes afastamo-nos do
concreto a fi m de chegar, como compensao desse desvi o, a uma mai or
si mpl i ci dade.
As di fi cul dades com que deparamos no estudo de um fenmeno
so de doi s gneros, i sto , objeti vas; dependem da natureza do fen-
meno e das di fi cul dades que temos em perceber um conjunto um pouco
mai s ampl o de objetos ou de teori as parti cul ares.
OS ECONOMISTAS
44
14 Sorel di z (op. cit., p. 25): No se poderi a (...) i magi nar um mtodo de aproxi maes sucessi vas
para resol ver a questo de saber se compensa mai s desposar uma jovem i ntel i gente e pobre
ou uma ri ca herdei ra desprovi da de esp ri to.
Observemos, pri mei ramente, que o probl ema que se col oca de i nteresse pri vado, sendo
normal mente resol vi do pel o senti mento e no pel a razo. Entretanto, se queremos uti l i zar
a razo, pode-se i magi nar perfei tamente o mtodo que se poderi a segui r.
1 aproximao. Far-se- o exame das condi es materi ai s e morai s dos futuros esposos.
O homem, por exempl o, val ori za mai s os bens materi ai s que as facul dades i ntel ectuai s.
El e ter razes para desposar a ri ca herdei ra.
2 aproximao. Exami nemos mai s de perto as qual i dades dessa ri queza. Anti gamente,
se o homem e a mul her possu ssem propri edades terri tori ai s prxi mas, um casamento que
reuni sse essas propri edades era consi derado mui to vantajoso. Vejamos se a mul her, sendo
ri ca, no teri a, por acaso, o hbi to de gastar mai s do que sua renda. Qual a natureza
da i ntel i gnci a daquel a que pobre? Se el a possui apti des para o comrci o, e se o futuro
mari do est testa de um comrci o ou i ndstri a que no capaz de di ri gi r e que a mul her
poderi a di ri gi r bem, ser-l he-i a vantajoso fi car com a mul her pobre e i ntel i gente.
3 aproximao. Fal amos da ri queza e da i ntel i gnci a; no seri a porm necessri o con-
si derar a sade, a bel eza, a doci l i dade do carter etc.? Para mui tos essas qual i dades tomari am
o pri mei ro l ugar. E ai nda nos fal ta consi derar um nmero i nfi ni to de ci rcunstnci as.
Se o probl ema fosse soci al , em vez de ser i ndi vi dual , i sto , se perguntssemos se seri a
ti l para um povo que os jovens escol hessem suas companhei ras preocupando-se com sua
ri queza ou sua i ntel i gnci a, chegar amos a consi deraes anl ogas, que se compem de
anl i se (separao das partes), aproxi maes sucessi vas e, fi nal mente, de s nteses, i sto ,
da reuni o dos el ementos anteri ormente separados.
O fenmeno econmi co excessi vamente compl exo e h grandes
di fi cul dades objeti vas em conhecer as teori as de suas di ferentes partes.
Suponhamos por um momento que vencemos essas di fi cul dades e que,
por exempl o, em certos grossos vol umes i n-fl i o estejam conti das as
l ei s dos preos de todas as mercadori as. Estaremos l onge de ter uma
i di a do fenmeno do preo. A prpri a abundnci a de i nformaes que
encontramos em todos esses vol umes no nos permi ti ri a ter qual quer
noo do fenmeno dos preos. O di a em que al guma pessoa, depoi s
de ter fol heado todos esses documentos, di ssesse-nos que a demanda
cai quando o preo sobe, nos dari a uma i ndi cao mui to preci osa, ai nda
que mai s afastada, mui to mai s afastada do concreto que os documentos
estudados por el a.
Tambm o economi sta, como al i s todos os que estudam fen-
menos mui to compl exos, deve a cada i nstante resol ver o probl ema de
saber at que ponto conveni ente prossegui r o estudo dos pormenores.
No se pode determi nar de uma manei ra absol uta o ponto onde
vantajoso parar; esse ponto depende da meta a que se prope. O pro-
dutor de ti jol os que quer saber a qual preo poder vend-l os, deve
l evar em conta outros el ementos que no os consi derados pel o sbi o
que pesqui sa, generi camente, a l ei dos preos dos materi ai s de cons-
truo; outros el ementos so os que, i gual mente, deve l evar em con-
si derao quem pesqui sa no mai s a l ei dos preos espec fi cos, mas a
l ei dos preos em geral .
33. O estudo da ori gem dos fenmenos econmi cos foi fei to cui -
dadosamente por mui tos sbi os modernos e certamente ti l do ponto
de vi sta hi stri co, mas seri a um erro acredi tar que se possa com i sso
chegar ao conheci mento das rel aes que exi stem entre os fenmenos
de nossa soci edade.
o mesmo erro que cometi am os fi l sofos anti gos, que sempre
queri am remontar ori gem das coi sas. Em vez de estudarem a As-
tronomi a, estudavam cosmogoni as; em vez de tentarem conhecer de
manei ra experi mental os mi nerai s, os vegetai s e os ani mai s que ti nham
sob os ol hos, buscavam como esses seres ti nham si do engendrados. A
Geol ogi a somente se tornou uma ci nci a e progredi u no di a em que
se ps a estudar os fenmenos atuai s, remontando em segui da aos
fenmenos passados, em vez de segui r o cami nho i nverso. Para conhecer
compl etamente uma rvore podemos comear pel as ra zes e subi r s
fol has ou comear pel as fol has e descer s ra zes. A ci nci a metaf si ca
anti ga segui u l argamente a pri mei ra vi a; a ci nci a experi mental mo-
derna tem se servi do excl usi vamente da segunda, e os fatos demons-
traram que apenas esta conduz ao conheci mento da verdade.
Saber como se consti tui u a propri edade pri vada nos tempos pr-
hi stri cos de nada serve para o conheci mento do papel econmi co da
propri edade em nossas soci edades modernas. No que um desses fatos
PARETO
45
no esteja estrei tamente l i gado ao outro, mas a cadei a que os une
to l onga e se perde em regi es to obscuras que no podemos, razoa-
vel mente, esperar conhec-l a, ao menos por ora.
No sabemos de que planta sel vagem deri va o tri go; mas, mesmo
que soubssemos, isso de nada servi ri a para o conhecimento da mel hor
manei ra de cul ti var e de produzir o tri go. O estudo, to aprofundado quanto
se quei ra, das sementes do carval ho, da fai a e da t l i a jamai s poder, para
quem tem necessi dade de madei ra para construo, substi tui r o estudo
di reto das quali dades da madei ra produzi da por essas rvores. E, entre-
tanto, nesse caso, conhecemos perfei tamente a rel ao exi stente entre os
fatos extremos do fenmeno, entre a ori gem e o fim. No h dvi da de
que a bolota produzir o carval ho. Ni ngum viu uma bol ota dar ori gem a
uma tl i a, nem um gro de t l i a dar ori gem a um carvalho. A rel ao que
existe entre a madei ra de carval ho e sua ori gem nos conheci da com um
grau de certeza que jamai s teremos em rel ao que une a ori gem da
propriedade pri vada e essa propri edade em nossa poca ou, em geral , entre
a origem de um fenmeno econmi co e esse fenmeno em nossa poca.
Mas no basta saber qual dos dois fatos necessari amente a conseqncia
do outro para poder deduzi r das propri edades do pri mei ro as do segundo.
34. O estudo da evol uo dos fenmenos econmi cos em tempos
prxi mos dos nossos e em soci edades que no di ferem enormemente
da nossa mui to mai s ti l que o estudo de sua ori gem; e i sso de doi s
pontos de vi sta. Pri mei ro, el e nos permi te substi tui r a experi nci a di -
reta, que i mposs vel nas ci nci as soci ai s. Quando podemos fazer ex-
peri nci as, tentamos produzi r o fenmeno que o objeto de nosso es-
tudo, em ci rcunstnci as vari adas, para ver como tai s ci rcunstnci as
atuam sobre el e, se o modi fi cam ou se no o modi fi cam. Mas quando
no podemos proceder assi m, somente nos resta pesqui sar se encon-
tramos produzi das natural mente no espao e no tempo essas experi n-
ci as que no podemos real i zar arti fi ci al mente.
O estudo da evol uo dos fenmenos pode, em segui da, nos ser
ti l no senti do de que nos faci l i ta a descoberta das uni formi dades que
essa evol uo pode apresentar e mesmo porque nos col oca em condi es
de ti rar do passado a previ so do futuro. mani festo que, quanto
mai s l onga for a cadei a de dedues entre os fatos passados e os fatos
futuros, tanto mai s essas dedues tornam-se i ncertas e duvi dosas;
portanto, apenas de um passado mui to recente que se pode prever
um futuro mui to prxi mo e, i nfel i zmente, mesmo dentro desses estrei tos
l i mi tes, as previ ses so mui to di f cei s.
15
35. As di scusses sobre o mtodo da Economi a Pol ti ca no tm
nenhuma uti l i dade. A meta da ci nci a conhecer as uni formi dades
OS ECONOMISTAS
46
15 Cours. 578.
dos fenmenos; portanto, preci so empregar todos os procedi mentos,
uti l i zar todos os mtodos que nos conduzem a essa meta. na prova
que se reconhecem os bons e os maus mtodos. O que nos conduz
meta bom, pel o menos enquanto no se encontrar um ai nda mel hor.
A hi stri a nos ti l porque prol onga no presente a experi nci a do
passado e supre as experi nci as que no podemos fazer: o mtodo hi s-
tri co, portanto, bom. Mas o mtodo deduti vo, ou o mtodo i nduti vo,
que se apl i ca aos fatos presentes no menos bom. Onde nas dedues
a l gi ca corrente sufi ci ente, contentamo-nos com el a; onde no basta,
substi tu mo-l a, sem qual quer escrpul o, pel o mtodo matemti co. En-
fi m, se um autor prefere tal ou qual mtodo, no o chi canearemos por
i sso; si mpl esmente pedi r-l he-emos que nos mostre l ei s ci ent fi cas, sem
nos preocuparmos mui to com o cami nho que segui u para chegar a seu
conheci mento.
36. Cer tos autor es tm o hbi to de afi r mar que a Economi a
Pol ti ca no pode ser vi r -se dos mesmos mei os que as ci nci as na-
tur ai s, por que uma ci nci a mor al . Sob essa expr esso mui to i m-
per fei ta escondem-se concepes que val e a pena anal i sar . I ni ci al -
mente, no que di z r espei to verdade de uma teor i a, no pode haver
outr o cr i tr i o al m de sua concor dnci a com os fatos (I I , 6), e h
apenas um mei o de conhecer essa concordnci a: desse ponto de vi sta
no se poder i a encontr ar di fer enas entr e a Economi a Pol ti ca e as
outr as ci nci as.
Mas, pretendem al guns que fora dessa verdade experi mental exi s-
te uma outra, que escapa experi nci a e que supem ser superi or
pri mei ra. Quem tem tempo a perder pode mui to bem di scuti r sobre
as pal avras; os que vi sam a al guma coi sa de mai s substanci al abster-
se-o di sso. No contestaremos a uti l i zao que se quer fazer da pal avra
verdade; si mpl esmente di remos que todas as proposi es podem ser
cl assi fi cadas em duas categori as. Na pri mei ra, que, para sermos breves,
chamaremos de X, col ocamos as afi rmaes que podem ser veri fi cadas
experi mental mente; na segunda, que chamaremos de Y, col ocamos as
que no podem ser veri fi cadas experi mental mente; al i s, separaremos
em duas esta l ti ma categori a; chamaremos de Y, as afi rmaes que
no podem ser veri fi cadas experi mental mente na atual i dade, mas que
podero s-l o al gum di a: nessa categori a entrari a, por exempl o, a afi r-
mao de que o sol , com seu squi to de pl anetas, conduzi r-nos-, um
di a, a um espao de quatro di menses; de Y, as afi rmaes que no
podero ser submeti das a uma veri fi cao experi mental , nem hoje nem
mai s tarde, tanto quanto possamos prever segundo fracos conheci men-
tos. Nessa categori a entrari a a afi rmao da i mortal i dade da al ma e
outras afi rmaes semel hantes.
37. A ci nci a apenas se ocupa com as proposi es X, que so as
ni cas suscet vei s de demonstrao; tudo aqui l o que no est com-
PARETO
47
preendi do nessa categori a X permanece fora da ci nci a. Al i s, no nos
propomos de forma al guma exal tar uma categori a para rebai xar a outra;
queremos apenas di sti ngui -l as. Mesmo que rebai xemos tanto quanto
se quei ra as proposi es ci ent fi cas e exal temos as outras tanto quanto
o quei ra o crente mai s fervoroso, sempre conti nuar verdadei ro que
el as di ferem essenci al mente uma da outra. Ocupam dom ni os di feren-
tes, que no tm nada em comum.
38. Quem afi rma que Pal as Atena, invisvel e intangvel, habi ta
a acrpol e da ci dade de Atenas, afi rma al go que, no podendo ser
veri fi cado experi mental mente, permanece fora da ci nci a; esta no pode
se ocupar di sso, nem para acei tar, nem para rejei tar essa afi rmao
e o crente tem perfei ta razo ao desprezar as afi rmaes que uma
pseudovi dente qui sesse l he opor. O mesmo se passa com a proposi o:
Apol o i nspi ra a sacerdoti sa de Del fos; mas no com esta outra propo-
si o: os orcul os da sacerdoti sa concordam com certos fatos futuros.
Esta l ti ma proposi o pode ser veri fi cada pel a experi nci a; em con-
seqnci a, entra no dom ni o da ci nci a e a f no tem mai s nada a
ver com el a.
39. Tudo o que tenha a apar nci a de um pr ecei to no ci en-
t fi co, a menos que somente a for ma tenha a apar nci a de um pr ecei to
e que, na r eal i dade, seja uma afi r mao de fatos. Estas duas pr o-
posi es: par a obter a super f ci e de um r etngul o preciso mul ti -
pl i car a base pel a al tur a
16
e preciso amar seu pr xi mo como a si
mesmo,
17
so, no fundo, essenci al mente di fer entes. Na pr i mei r a, po-
demos supr i mi r as pal avr as: preciso e di zer si mpl esmente que a
super f ci e de um r etngul o i gual a base mul ti pl i cada pel a al tura;
na segunda, a i di a de dever no pode ser supr i mi da. Essa segunda
pr oposi o no ci ent fi ca.
A Economi a Pol ti ca nos di z que a m moeda caa a boa. Essa
proposi o de ordem ci ent fi ca e somente ci nci a cabe veri fi car se
OS ECONOMISTAS
48
16 Do ponto de vi sta em que nos col ocamos, as verdades geomtri cas so verdades experi -
mentai s, a prpri a Lgi ca sendo experi mental .
Por outro l ado, podemos, nesse caso, observar que a superf ci e de um retngul o concreto
aproxi mar-se- mai s do produto da base pel a al tura do que o retngul o concreto se apro-
xi mari a do retngul o abstrato que a Geometri a consi dera.
17 Objetou-se que todo homem honesto pensa assim. Em pri mei ro l ugar, essa uma proposi o
di ferente daquel a do texto. As duas proposi es: A i gual a B e Todos os homens
ou certos homens pensam que A i gual a B, ou deve ser i gual a B, expri mem coi sas
absol utamente di sti ntas.
Al m di sso, fato conheci do que exi stem homens como, por exempl o, os adeptos de
Ni etzsche que esto l onge de admi ti r essa proposi o. Se respondermos que no so
pessoas honestas, vemo-nos obri gados o que nos parece mui to di f ci l ou quase i mposs vel
a dar uma prova di sso, que no poder se resumi r, em l ti ma anl i se, afi rmao de
que no so pessoas honestas porque no amam a seus prxi mos; poi s se dermos essa
prova estaremos si mpl esmente raci oci nando em c rcul o.
verdadei ra ou fal sa. Mas se di ssssemos que o Estado no deve emi ti r
moeda m, estar amos em presena de uma proposi o que no de
ordem ci ent fi ca. porque a Economi a Pol ti ca conteve at aqui pro-
posi es desse gnero que se pode descul par os que pretendem que a
Economi a Pol ti ca, sendo uma ci nci a moral , escape s regras das ci n-
ci as naturai s.
40. Observemos, al i s, que esta l ti ma proposi o poderi a ser
el pti ca e, nesse caso, poderi a tornar-se ci ent fi ca, desde que se supri -
mi sse a el i pse. Se di ssssemos, por exempl o, que o Estado no deve
emi ti r moeda m se quer obter o mxi mo de uti l i dade para a soci edade,
e se defi n ssemos com fatos aqui l o que entendemos por esse mximo
de utilidade, a proposi o tornar-se-i a suscet vel de uma veri fi cao
experi mental e em conseqnci a tornar-se-i a uma proposi o ci ent fi ca
( 49, nota).
41. absurdo afi rmar, como o fazem al guns, que sua f mais
cientfica que a de outrem. A ci nci a e a f no tm nada em comum
e esta no pode conter mai s ou menos aquel a. Na atual i dade nasceu
uma nova f afi rmando que todo ser humano deve sacri fi car-se pel o
bem dos pequenos e dos humi l des; seus crentes fal am com desprezo
das outras crenas, que consi deram pouco ci ent fi cas; esses pobres coi -
tados no percebem que seu precei to no tem mai s fundamento que
qual quer outro precei to rel i gi oso.
42. Desde as pocas mai s remotas at os di as de hoje, os homens
sempre qui seram mi sturar e confundi r as proposi es X com as pro-
posi es Y e esse tem si do um dos obstcul os mai s sri os ao progresso
das ci nci as soci ai s.
Os que acredi tam nas proposi es Y i nvadem constantemente o
dom ni o das proposi es X. Para a mai ori a, i sso decorre de que no
di sti nguem os doi s dom ni os; para mui tos outros, a fraqueza de sua
f que pede socorro experi nci a. Os materi al i stas erram ao ri di cu-
l ari zar o credo quia absurdum que, em certo senti do, admi te essa di s-
ti no entre as proposi es; Dante o expri mi u to bem:
18
PARETO
49
18 Purg., I I I , 37-39. E Parad., I I , 43-44.
Li si vedra ci che tenem per fede,
Non di mostrato, ma di a per se noto,
A gui sa del ver pri mo che l uom crede.
Purgatrio. I I I , 37-39:
" homem, contentai -vos com o quia, poi s se ao Supremo Saber nos fosse dado el evar-nos,
no teri a dado l uz Mari a".
Paraso. I I , 43-44:
"Al i se far patente aqui l o em que se cr por fora da f, sem exi gi r provas, consagrando
a pri mei ra verdade a que o homem se deve apegar".
Tradues de H. Donato, I n: DANTE. A Divina Comdia. So Paul o, Abri l Cul tural , 1979.
State contenti , umana gente, al qui a;
Ch se potuto aveste veder tutto,
Mesti er non era partori r Mari a.
43. Devemos nos precaver contra certa manei ra de confundi r as
proposi es X e Y, baseada num equ voco anl ogo ao do 40. Supo-
nhamos que a proposi o A B no seja do dom ni o da experi nci a
e, por conseqnci a, da ci nci a; pode-se i magi nar que se real i ze uma
demonstrao ci ent fi ca, mostrando a uti l i dade para os homens em
acredi tarem que A B. Mas essas proposi es no so em nada i dnti cas
e mesmo que a experi nci a mostre que a segunda proposi o verda-
dei ra, nada podemos concl ui r sobre a pri mei ra. Al gumas pessoas afi r-
mam que somente o verdadeiro ti l , mas se damos pal avra verda-
deiro o senti do de verdadeiro experimental, essa proposi o no est
de acordo com os fatos que a contradi zem a todo momento.
44. Ei s um outro procedi mento dbi o. Demonstra-se ou, mai s
exatamente, acredi ta-se demonstrar que a evol uo aproxi ma A de
B e com i sso acredi ta-se haver demonstrado que cada um deve esfor-
ar-se em fazer que A seja i gual a B, ou mesmo que A i gual a B.
So trs proposi es di ferentes e a demonstrao da pri mei ra no acar-
reta a demonstrao das outras. Acrescentemos que a demonstrao
da pri mei ra , vi a de regra, mui to i mperfei ta.
19
45. A confuso entre as proposi es X e Y pode advi r i gual mente
de que al gum se esforce em mostrar que, podendo ter uma ori gem
comum, tm uma natureza e caracteres comuns; este um procedi mento
anti go, que vol ta e mei a reaparece. Essa ori gem comum foi vi sta, s
vezes, no consenso uni versal , ou em um outro fator anl ogo; atual mente
encontrada, na mai ori a das vezes, na intuio.
A Lgi ca serve para a demonstrao, mas raramente e quase
nunca, para a i nveno ( 51). Um homem recebe certas i mpresses;
sob sua i nfl unci a enunci a, sem poder di zer como nem por que (e se
tenta, engana-se), uma proposi o que pode ser veri fi cada experi men-
tal mente e que, em conseqnci a, do gnero das proposi es que
chamamos de X. Assi m que a veri fi cao fei ta e o fato se produz tal
qual havi a si do previ sto, d-se operao que acabamos de descrever
o nome de I NTUI O. Se um campons, ol hando para o cu noi te,
di z: chover amanh, e se real mente amanh chove, di z-se que teve
a i ntui o de que deveri a chover; mas no se di ri a o mesmo se ti vesse
ocorri do um tempo bom. Se um i ndi v duo, tendo prti ca com os doentes,
di z de um del es: amanh estar morto e se verdadei ramente o doente
OS ECONOMISTAS
50
19 Systmes. I , p. 344; Cours. I I , 578.
morre, di r-se- que esse i ndi v duo teve a i ntui o dessa morte; o mesmo
no poder ser di to se o doente de restabel ece.
Como j o di ssemos mui tas vezes e como o repeti mos ai nda, ab-
sol utamente i nti l di scuti r sobre o nome das coi sas. Por conseqncia, se
agrada a algum chamar i gual mente de i ntui o a operao pel a qual
predisse a chuva quando, ao contrri o, houve tempo bom, ou a morte
daquel e cuja sade restabel eceu-se, esse al gum tem todo o di rei to de
faz-l o; mas, nesse caso, necessri o di sti ngui r as i ntui es verdadei ras
das i ntui es fal sas, coi sa que pode ser fei ta por mei o da veri fi cao ex-
peri mental ; as pri mei ras sero teis, as segundas, sem utilidade.
Por mei o da mesma operao que produz proposi es suscet vei s
de demonstrao experi mental e que podem ser reconheci das como
verdadei ras ou fal sas, pode-se i gual mente chegar a proposi es no
suscet vei s de demonstrao experi mental ; se o qui sermos, poderemos
dar a essa operao o nome de intuio.
Dessa forma, teremos trs espci es de i ntui o: 1) a i ntui o que
conduz a proposi es X, veri fi cadas em segui da pel a experi nci a; 2) a
i ntui o que conduz a proposi es X, no veri fi cadas em segui da pel a
experi nci a; 3) a i ntui o que conduz a proposi es do gnero Y e que,
em conseqnci a, a experi nci a no pode veri fi car, nem contradi zer.
Dando-se, dessa forma, o mesmo nome a trs coi sas bem di ferentes,
torna-se fci l confundi -l as; e h o cui dado de operar essa confuso entre
a tercei ra e a pri mei ra, esquecendo-se oportunamente a segunda; di z-se
pela intui o o homem chega a conhecer a verdade, seja el a experi mental
ou no, e dessa manei ra ati nge-se a meta col i mada, que consi ste em
confundi r as proposies X com as proposi es Y.
Se ti vessem fei to a Pri cl es as duas perguntas segui ntes: Em
tai s ci rcunstnci as, o que pensas que os ateni enses faro? e Crs
que Pal as Atena protege tua ci dade?, el e teri a dado, por i ntui o,
duas respostas de natureza absol utamente di ferente, porque a pri mei ra
poderi a ser veri fi cada experi mental mente e a segunda no.
A ori gem dessas respostas a mesma; todas as duas so, sem
que di sso Pri cl es ti vesse consci nci a, a traduo de certas i mpresses
suas. Mas essa traduo tem, nos doi s casos, um val or bem di ferente.
A opi ni o de Pri cl es ti nha uma grande i mportnci a para a pri mei ra
pergunta, enquanto a opi ni o de um ci ta qual quer, que no conhecesse
os ateni enses, no teri a ti do nenhum val or; mas, sobre a segunda per-
gunta, a opi ni o de Pri cl es e a do ci ta ti nham o mesmo val or, porque,
ri gorosamente fal ando, nem um nem outro ti nham a m ni ma rel ao
com Pal as Atena.
Pri cl es ti nha ti do por vri as vezes a ocasi o de veri fi car, de
corri gi r, de adaptar suas previ ses sobre os ateni enses e o resul tado
de sua experi nci a passada traduzi a-se em uma nova i ntui o, que
di sso obti nha todo o seu val or; mas, a mesma coi sa no se passava no
que di z respei to a Pal as Atena.
PARETO
51
Se al gum que no conhece nada de arbori cultura decl ara-nos, ao
ver uma rvore, que el a vai morrer, no daremos a suas pal avras mai s
i mportnci a do que se as ti vesse di to ao acaso; se, pel o contrri o, esse
o jul gamento dado por arbori cul tor experi ente, consi deraremos sua i ntui o
como boa, porque est baseada na experi ncia. E mesmo que esses doi s
homens tenham a priori os mesmos conhecimentos, se soubermos pel a
experi nci a que um del es raramente se engana em suas previ ses ou
intui es, enquanto o outro, ao contrri o, engana-se freqentemente, da-
remos ao primeiro uma confiana que recusamos ao segundo. Mas onde
a experi ncia no possa i ntervi r, as previ ses ou i ntuies de ambos tero
o mesmo val or, e esse val or , experi mental mente, i gual a zero.
As i ntui es de fatos de experi nci a podem ser contradi tadas
pel os prpri os fatos; as i ntui es devem, portanto, ser adaptadas aos
fatos. As i ntui es no experi mentai s so contradi tadas apenas por
outras i ntui es do mesmo gnero; para que haja adaptao, basta que
certos homens tenham a mesma opi ni o. A pri mei ra adaptao ob-
jeti va; a segunda, subjeti va. Se confundi mos uma com a outra, i sso
decorrnci a do erro comum que o homem comete ao consi derar-se o
centro do uni verso e a medi da de todas as coi sas.
46. O consenso uni versal dos homens no tem a vi rtude de tornar
experi mental uma proposi o que no o , mesmo que esse consenso
se mantenha no tempo e compreenda todos os homens que exi sti ram.
Assi m, o pri nc pi o de que aqui l o que no conceb vel no pode ser
real absol utamente sem val or e absurdo i magi nar-se que a possi -
bi l i dade do uni verso l i mi tada pel a capaci dade do esp ri to humano.
47. Os metaf si cos, que se uti l i zam das proposi es Y, afi rmam
costumei ramente que el as so necessri as para ti rar uma concl uso
qual quer das proposi es X, porque sem um pri nc pi o superi or a con-
cl uso no resul tari a necessariamente das premi ssas. Dessa manei ra
fazem um c rcul o vi ci oso, j que supem preci samente que se quer
i ntroduzi r as proposi es X na categori a das proposi es que tm um
carter de necessidade e de verdade absol uta;
20
e, com efei to, exato
OS ECONOMISTAS
52
20 Si rvo-me dessas pal avras porque so empregadas, mas no sei mui to bem as coi sas que
se quer i ndi car por el as.
Croce convi da-me a aprender, e, para i sso, l er Pl ato, Ari sttel es, Descartes, Lei bni z,
Kant e outros metaf si cos. Ora, ser-me-i a necessri o renunci ar qui l o que mi nha i gnornci a
no poderi a jamai s di ssi par, poi s foi preci samente aps um estudo cautel oso desses autores
que esse termo absoluto pareceu-me i ncompreens vel ... e crei o que tambm para el es.
Al m di sso, devo confessar que mui tos dos raci oc ni os de Pl ato deveri am ser di spostos
em duas cl asses. Aquel es que so compreens vei s, so pueri s; aquel es que no so pueri s,
so i ncompreens vei s. Se qui sermos veri fi car at onde esse autor se encontra i nfl uenci ado
pel a mani a das expl i caes puramente verbai s, basta-nos rel er o Crtilo. di f ci l i magi nar
al guma coi sa mai s absurda que esse di l ogo. O homem mai s carrancudo sorri r quando
aprender que os deuses foram chamados porque esto sempre correndo!
Conta-se que Di genes, di scuti ndo com Pl ato no pl ano das i di as, e que este chamando
que, se qui sermos dar a qual quer conseqnci a da categori a X os ca-
racteres das proposi es Y, necessri o que estas i ntervenham nas
premi ssas ou na manei ra de ti rar a concl uso; mas se sustentamos
que as proposi es X esto estrei tamente subordi nadas experi nci a
e que jamai s so acei tas a t tul o defi ni ti vo, mas somente durante o
tempo em que a experi nci a no l hes contrri a, no temos necessi dade
al guma de recorrer a proposi es Y. Desse ponto de vi sta, a prpri a
Lgi ca consi derada uma ci nci a experi mental .
48. Por outro l ado, os que se ocupam das proposi es X, s vezes
tambm i nvadem o terreno das proposies Y, quer dando precei tos em
nome da ci ncia, que parece produzi r orcul os como um Deus, quer
negando as proposies Y, sobre as quai s a cincia no tem poder al gum.
essa i nvaso que justi fi ca em parte a afi rmao de Bruneti re de que
a ci nci a fal i u. A ci nci a jamai s fal i u enquanto permaneceu em seu
dom ni o, que o das proposi es X; el a sempre fal i u, e fal i r sempre,
quando invadi u, ou quando i nvadi r, o dom ni o das proposies Y.
Se qui sssemos responder a esta pergunta: Por que o hi drogni o,
ao se combi nar com o oxi gni o, d gua?, ser amos obri gados a
di zer: Porque h no hi drogni o uma propri edade capaz de engendrar
a gua. , poi s, somente a questo do porqu que absurda, j que
acarreta uma resposta que parece i ngnua ou ri d cul a. mel hor
reconhecer que ns no sabemos, e que a que se mantm o l i mi te
de nosso conheci mento. Podemos saber como e em que condi es o
pi o faz dormir, mas nunca saberemos por qu. (BERNARD, Cl aude.
La Science Exprimentale. pp. 57 e 58.)
49. Estamos em presena de uma si tuao i ntei ramente di ferente
da que acabamos de fal ar quando, parti ndo de uma premi ssa que no
pode ser veri fi cada experi mental mente, deduzi mos l ogi camente as con-
cl uses. Tambm estas no podem ser veri fi cadas experi mental mente
mas so to l i gadas premi ssa que se esta uma proposi o que
PARETO
53
a (essnci a da mesa, qual i dade de ser uma mesa, a mesa em si ) e a
(essnci a da x cara, qual i dade de ser uma x cara, a x cara em si ), di z: Eu Pl ato ,
eu vejo a mesa () e a x cara (), porm no vejo de modo al gum a
e a . Ao que di sse Pl ato: Est certo, porque voc tem ol hos com os quai s se v
a mesa e a x cara, mas no tem aquel es com os quai s se v a e a .
, , , ,
, , . (Di genes
Larci o. VI , 53.)
Devo confessar ao l ei tor que sou quase to cego quanto Di genes, e que a essnci a das
coi sas me escapa i ntei ramente.
Cl aude Bernard, op. cit., p. 53: Newton di sse que aquel e que se dedi ca pesqui sa das
pri mei ras causas, d a prova de que no um sbi o. De fato, essa pesqui sa torna-se i nti l ,
poi s el a col oca probl emas i nacess vei s com a ajuda do mtodo experi mental ..
Pretendo uti l i zar, para o estudo da Economi a Pol ti ca e da Soci ol ogi a, somente o mtodo
experi mental ; portanto, l i mi tar-me-ei excl usi vamente aos probl emas que el e possa resol ver.
poder ser veri fi cada mai s tarde pel a experi nci a, i sto , uma das
proposi es que desi gnamos por Y no 36, as concl uses tornar-se-o
experi mentai s. Se a premi ssa for uma proposi o Y, as concl uses
permanecero para sempre fora da experi nci a, ao mesmo tempo em
que esto l i gadas premi ssa, de tal modo que quem acei tar esta, deve
acei tar aquel as.
21
50. Para que essa manei ra de raci oci nar seja poss vel preci so
que as premi ssas sejam cl aras e preci sas. Por exempl o, o espao no
qual vi vemos um espao eucl i di ano ou di sso di fere mui to pouco, como
o demonstram i ncontvei s fatos de experi nci a. Entretanto, podemos
i magi nar espaos no eucl i di anos e dessa forma, parti ndo de premi ssas,
poss vel construi r geometri as no eucl i di anas que permanecem fora
da experi nci a.
Quando as premi ssas no so preci sas, como ocorre com todas
as que os moral i stas queri am i ntroduzi r na Ci nci a Soci al e na Eco-
nomi a Pol ti ca, i mposs vel ti rar qual quer concl uso ri gorosamente
l gi ca. Essas premi ssas pouco preci sas poderi am no ser i ntei s, se
pudssemos veri fi car as concl uses e assi m corri gi r, pouco a pouco, o
que tm de i mpreci so; mas onde essa veri fi cao no poss vel , o
pseudo-raci oc ni o que se quer fazer acaba por no ter mai s val or do
que o de um sonho.
51. At agora fal amos apenas de demonstraes; tudo se passa
di ferentemente com a i nveno. constatado que esta pode, s vezes,
ter sua ori gem em i di as que nada tm a ver com a real i dade e que
podem mesmo ser absurdas. O acaso, um mau raci oc ni o ou anal ogi as
i magi nri as podem conduzi r a proposi es verdadei ras. Mas, quando
se quer demonstr-l as, no h outro mei o que no seja pesqui sar se
di reta ou i ndi retamente, el as concordam com a experi nci a.
22
OS ECONOMISTAS
54
21 Essa proposi o el pti ca, da natureza daquel as de que fal amos no 40. preci so suben-
tender: se qui sermos raci oci nar l ogi camente. evi dente que nada poder amos demonstrar
pessoa que recusasse acei tar essa condi o.
22 Systmes. I I . p. 80 nota; Paul Tannery (Recherches sur lHistoire de lconomie Ancienne.
p. 260) que, por outro l ado, tem tendnci a a i r um pouco al m dos fatos para defender
certas i di as metaf si cas, di z, a propsi to das teori as do si stema sol ar: Exi ste um exempl o
notvel , e sobre o qual no seri a demai s i nsi sti r, da i mportnci a capi tal das i di as a priori
(metaf si cas) no desenvol vi mento da ci nci a. No momento em que esta se forma, torna-se
fci l descartar as consi deraes de si mpl i ci dade das l ei s da Natureza etc., que gui aram os
fundadores. (...) Esquece-se, porm, que no dessa manei ra que so fei tas as grandes
descobertas, que foram real i zados os pri nci pai s progressos. (...)
CAPTULO II
Introduo Cincia Social
1. A Psi col ogi a , evi dentemente, o fundamento da Economi a
Pol ti ca e, de modo geral , de todas as Ci nci as Soci ai s. Tal vez chegue
o di a em que possamos deduzi r dos pri nc pi os da Psi col ogi a as l ei s da
Ci nci a Soci al , da mesma manei ra que, um di a tal vez, os pri nc pi os
da consti tui o da matri a nos dem, por deduo, todas as l ei s da
F si ca e da Qu mi ca; estamos porm ai nda bem l onge desse estado de
coi sas, e preci so tomar outro cami nho. Devemos parti r de al guns
pri nc pi os emp ri cos para expl i car os fenmenos da Soci ol ogi a, assi m
como da F si ca e da Qu mi ca. No futuro, a Psi col ogi a, prol ongando
mai s a cadei a de suas dedues, e a Soci ol ogi a, remontando aos pri n-
c pi os sempre mai s gerai s, podero juntar-se e consti tui r uma ci nci a
deduti va; mas essas esperanas esto ai nda l onge de se real i zar.
2. Para col ocar um pouco de ordem na i nfi ni ta vari edade das
aes humanas que i remos estudar, torna-se ti l cl assi fi c-l as segundo
certos ti pos.
Doi s desses ti pos se oferecem i medi atamente a ns. Ei s um homem
bem-educado que entra num salo; el e ti ra seu chapu, pronuncia algumas
pal avras, faz certos gestos. Se l he perguntarmos o porqu, no saber
responder seno: o costume. El e se comporta da mesma manei ra para
coi sas mui to mai s i mportantes. Se catl i co e se assi ste mi ssa, far
certos atos porque assi m se deve fazer. Justi fi car tambm um grande
nmero de seus atos di zendo que assi m o requer a moral .
Suponhamos, porm, esse mesmo i ndi v duo em seu escri tri o,
ocupado em comprar uma grande quanti dade de tri go. El e no mai s
di r que opera de tal manei ra porque este o costume, mas a compra
do tri go ser o fi m de uma sri e de raci oc ni os l gi cos que se api am
sobre certos dados de experi nci a; mudando-se esses dados, muda-se
tambm a concl uso, e pode acontecer que el e se abstenha de comprar
ou ai nda que venda o tri go em l ugar de compr-l o.
55
3. Podemos, portanto, por abstrao, di sti ngui r: 1) as aes no-
l gi cas; 2) as aes l gi cas.
Di zemos: por abstrao, porque nas aes reai s os ti pos esto
quase sempre mi sturados e uma ao pode ser, em grande parte, no-
l gi ca e, em pequena parte, l gi ca, ou vi ce-versa.
As aes de um especul ador na bol sa, por exempl o, certamente
so l gi cas; mas el as dependem tambm, ai nda que em pequena medi da,
do car ter desse i ndi v duo, tor nando-se assi m tambm no-l gi cas.
um fato conheci do que cer tos i ndi v duos jogam mai s comumente
na al ta, e outr os na bai xa.
Notemos, por outro l ado, que no-l gi ca no si gni fi ca i l gi ca; uma
ao no-l gi ca pode ser o que encontrar amos de mel hor, segundo a
observao dos fatos e da l gi ca, para adaptar os mei os ao fi m; mas
essa adaptao foi obti da por um outro procedi mento e no por aquel e
do raci oc ni o l gi co.
Sabe-se, por exempl o, que os al vol os das abel has termi nam em
pi rmi de e que com um m ni mo de superf ci e, i sto , com um pequeno
gasto de cera, el es conseguem o mxi mo de vol ume, ou seja, el es podem
conter mai or quanti dade de mel . Ni ngum supe, no entanto, que i sso
ocorra porque as abel has resol veram, pel o emprego do si l ogi smo e das
matemti cas, um probl ema de mxi mo; trata-se evi dentemente de uma
ao no-l gi ca, se bem que os mei os estejam perfei tamente adaptados
ao fi m, e que, por conseqnci a, a ao esteja l onge de ser i l gi ca.
Podemos fazer a mesma observao para um grande nmero de outras
aes, que chamamos habi tual mente de i nsti nti vas, seja no homem
seja nos ani mai s.
4. preci so acrescentar que o homem tem uma tendnci a mui to
marcada a apresentar como l gi cas as aes no-l gi cas. por mei o
de uma tendnci a do mesmo gnero que o homem ani ma, personi fi ca
certos objetos e fenmenos materi ai s. Essas duas tendnci as se encon-
tram na l i nguagem corrente que, conservando o trao dos senti mentos
que exi sti am quando foi formada, personi fi ca as coi sas e os fatos e os
apresenta como resul tados de uma vontade l gi ca.
5. Essa tendnci a a apresentar como l gi cas as aes no-l gi cas
se atenua e transforma-se na tendnci a, tambm errnea, de consi derar
as rel aes entre os fenmenos como tendo uni camente a forma de
rel aes de causa e efei to, enquanto as rel aes que exi stem entre os
fenmenos soci ai s so mui to mai s freqentemente aes de mtua de-
pendnci a.
23
Observamos, rapi damente, que as rel aes de causa e efei -
to so mui to mai s fcei s de se estudar que as rel aes de mtua de-
OS ECONOMISTAS
56
23 Cours dconomie Politique. Lausanne, 1896-1897. I , 225.
pendnci a. A l gi ca corrente sufi ci ente para expl i car as pri mei ras,
enquanto para as segundas freqentemente necessri o o emprego de
formas especi ai s de raci oc ni os matemti cos.
24
6. Seja A um fato real e B um outro fato real , que tm entre si
uma rel ao de causa e efei to, ou ento de dependnci a mtua. a
i sso que ns chamamos uma rel ao objetiva.
A essa rel ao corresponde, no esp ri to do homem, uma outra
rel ao AB, que propri amente uma rel ao entre duas concepes
do esp ri to, ao passo que AB era uma rel ao entre duas coi sas. A
essa rel ao AB ns denomi naremos subjetiva.
Se encontrarmos no esp ri to dos homens de determi nada soci e-
dade certa rel ao AB, podemos pesqui sar: ) qual o carter dessa
rel ao subjeti va, se os termos AB tm uma si gni fi cao preci sa, se
exi ste ou no uma l i gao l gi ca; ) qual a rel ao objeti va AB que
corresponde a essa rel ao subjeti va AB; ) como nasceu e de que
manei ra foi determi nada essa rel ao subjeti va AB; ) de que modo
a rel ao AB se transformou em rel ao AB; ) qual o efei to da
exi stnci a das rel aes AB sobre a soci edade, correspondam el as a
al go de objeti vo AB, ou sejam el as compl etamente i magi nri as.
Quando a AB corresponde AB, os doi s fenmenos se desenvol vem
paral el amente; quando este se torna um pouco compl exo toma o nome
de teoria. Consi deramo-l a verdadeira (I , 36) quando durante todo seu
desenvol vi mento AB corresponde a AB, i sto , quando a teori a e a
experi nci a esto de acordo. No h e no pode haver a outro cri tri o
de verdade ci ent fi ca.
Por outro l ado, os mesmos fatos podem ser expl i cados por uma
i nfi ni dade de teori as, todas i gual mente verdadei ras, poi s todas repro-
duzem os fatos a expl i car. Foi nesse senti do que Poi ncar pde di zer
que se um fenmeno comporta uma expl i cao mecni ca comporta tam-
bm uma i nfi ni dade de teori as.
De forma mai s geral , podemos observar que estabel ecer uma teo-
ri a si gni fi ca, em al guma medi da, fazer passar uma curva por um n-
mero determi nado de pontos. Uma i nfi ni dade de curvas pode sati sfazer
essa condi o.
25
7. J observamos (I , 10) que no podemos conhecer todos os de-
tal hes de nenhum fenmeno natural ; em conseqnci a, a rel ao AB
PARETO
57
24 i sso que no compreendem mui tos economi stas que fal am do mtodo matemti co, sem
ter del e a menor noo. El es i magi naram todo ti po de moti vos para expl i car, segundo el es,
o emprego desse monstro desconheci do ao qual deram o nome de mtodo matemti co,
mas jamai s pensaram nel e, mesmo depoi s de el e ter si do expl i ci tamente i ndi cado no vol ume
I do Cours dconomie Politique, publ i cado em Lausanne, em 1896.
25 Rivista di Scienza. Bol onha, 1907. n 2. As Doutri nas Soci ai s e Econmi cas Consi deradas
como Ci nci a.
sempre ser i ncompl eta se a compararmos rel ao AB; e ai nda mai s,
na fal ta de outra razo, essas rel aes no podero jamai s coi nci di r
i ntei ramente, o fenmeno subjeti vo no poder ser jamai s uma cpi a
ri gorosamente fi el do fenmeno objeti vo.
8. Mui tas outras razes podem fazer esses fenmenos di vergi rem
entre si . Se para o sbi o, que estuda experi mental mente os fatos na-
turai s em seu l aboratri o, o fenmeno subjeti vo se aproxi ma o mai s
poss vel do fenmeno objeti vo, para o homem perturbado pel o senti -
mento e pel a pai xo, o fenmeno subjeti vo pode di vergi r do objeti vo a
ponto de nada mai s exi sti r de comum entre el es.
9. preci so consi derar que o fenmeno objeti vo somente se apre-
senta a nosso esp ri to sob a forma de fenmeno subjeti vo e que, portanto,
este e no aquel e a causa das aes humanas; para que o fenmeno
objeti vo possa agi r sobre el as, preci so que el e se transforme pri mei ro
em fenmeno subjeti vo.
26
Vem da a grande i mportnci a que tem para
a Soci ol ogi a o estudo dos fenmenos subjeti vos e suas rel aes com os
fenmenos objeti vos.
As rel aes entre os fenmenos subjeti vos so mui to raramente
uma cpi a fi el das rel aes exi stentes entre os fenmenos objeti vos
correspondentes. Sal i enta-se da , com bastante freqnci a, a segui nte
di ferena. Sob i nfl unci a das condi es de vi da, prati camos certas aes
P....Q; depoi s, quando raci oci namos sobre el as, descobri mos, ou cremos
descobri r, um pri nc pi o comum a P....Q, e i magi namos ento que pra-
ti camos P....Q como conseqnci a l gi ca desse pri nc pi o. Na real i dade
P....Q no so conseqnci a do pri nc pi o mas o pri nc pi o a conse-
qnci a de P....Q. verdade que, quando o pri nc pi o estabel eci do,
el e se segue das aes R....S, que del e se deduzem, e assi m a proporo
contestada fal sa somente em parte.
As l ei s da l i nguagem nos fornecem um bom exempl o. A gramti ca
no precedeu, mas segui u a formao das pal avras; no entanto, uma
vez estabel eci das, as regras gramati cai s deram nasci mento a certas
formas que vi eram a se i ncorporar s formas exi stentes.
Resumi ndo, faamos doi s grupos das aes P....Q e R....S: o pri -
mei ro, P....Q, que o mai s numeroso e mai s i mportante, exi ste antes
do pri nc pi o que parece reger essas aes; o segundo, R....S, que
acessri o e mui tas vezes de pouca i mportnci a, a conseqnci a do
pri nc pi o; ou, em outras pal avras, conseqnci a i ndi reta das mesmas
causas que deram, di retamente, P....Q.
10. Os fenmenos A e B do 6 nem sempre correspondem aos
OS ECONOMISTAS
58
26 Systmes Socialistes. I , p. 15.
fenmenos reai s A, B; freqentemente acontece que A ou B, ou mesmo
os doi s, no correspondem a nada de real , e so enti dades excl usi va-
mente i magi nri as. Al m di sso, a rel ao entre A e B pode ser l gi ca
somente em aparnci a e no em real i dade.
27
Vm da di ferentes casos
que bom di sti ngui r.
11. Seja A um fenmeno real , do qual um fenmeno, tambm
real , B, a conseqnci a. Exi ste uma rel ao objeti va de causa e efei to
entre A e B. Se um i ndi v duo tem noes mai s ou menos grossei ramente
aproxi mati vas de A e de B, e se col oca essas noes em rel ao de
causa e efei to, obtm uma rel ao AB, que uma i magem mai s ou
menos fi el do fenmeno objeti vo. Pertencem a esse gnero as rel aes
que o sbi o descobre em seu l aboratri o.
12. Pode-se i gnorar que B a conseqnci a de A e acredi tar, ao
contrri o, que el e conseqnci a de um outro fato real , C, ou pode-se,
embora sabendo que B a conseqnci a de A, querer consi der-l o,
del i beradamente, como conseqnci a de C.
Os erros ci ent fi cos entram no pri mei ro caso; e exempl os exi sti ro
sempre, poi s o homem est sujei to a erro. Encontramos exempl os do
segundo caso nas fices legais, nos raci oc ni os uti l i zados pel os parti dos
pol ti cos para opri mi rem-se reci procamente, ou em outras ci rcunstn-
Fi gura 1
PARETO
59
27 Systmes Socialistes. I , p. 22.
ci as semel hantes; dessa manei ra que raci oci na, na fbul a, o l obo que
quer comer o cordei ro. A mai or parte dos raci oc ni os que se fazem
para estabel eci mento dos i mpostos pertence a esse mesmo gnero: de-
cl ara-se que se deseja que os i mpostos B i nspi rem-se em certos pri n-
c pi os de justi a ou de i nteresse geral , mas, na real i dade, B encontra-se
l i gado, por uma rel ao de causa e efei to, vantagem A da cl asse
domi nante. Enfi m, podemos l i gar a esse ti po de raci oc ni o, pel o menos
em parte, a ori gem da casu sti ca.
28
13. Falamos at aqui de trs fatos reai s, A, B, C, mas, nas especul aes
humanas intervm, muitas vezes, fatos compl etamente i magi nrios.
Um desses casos i magi nri os M pode ser col ocado em rel ao
l gi ca com um fato real B; esse erro, ai nda freqente nas Ci nci as
Soci ai s, era comum, anti gamente, nas ci nci as f si cas. Por exempl o,
reti ramos o ar conti do em um tubo que se comuni ca com um reci pi ente
chei o dgua; a presso do ar sobre a superf ci e da gua o fato A, a
subi da da gua no tubo o fato B. Ora, esse fato ns o expl i camos
por um outro fato compl etamente i magi nri o M, i sto , pel o horror
da Natureza pel o vazi o que, al i s, tem B como conseqnci a l gi ca.
No comeo do scul o XI X, a fora vi tal expl i cava um nmero i nfi ni to
Fi gura 2
OS ECONOMISTAS
60
28 Systmes Socialistes. I , p. 178, 27.
de fatos bi ol gi cos. Os soci l ogos contemporneos expl i cam e demons-
tram uma i nfi ni dade de coi sas pel a i nterveno da noo de progresso.
Os di rei tos naturai s ti veram e conti nuam a ter grande i mportnci a
na expl i cao dos fatos soci ai s. Para mui tos, que aprenderam como
papagai os as teori as soci al i stas, o capi tal i smo expl i ca tudo e a causa
de todos os mal es que se encontram na soci edade humana. Outros
fal am da terra l i vre, que ni ngum nunca vi u; e contam-nos que todos
os mal es da soci edade nasceram no di a em que o homem foi separado
dos mei os de produo. Em que momento? i sso que no se sabe;
tal vez no di a em que Pandora abri u sua cai xa, ou, tal vez, nos tempos
em que os ani mai s fal avam.
14. Quando se faz i ntervi r fatos i magi nri os M, e como se l i vre
na escol ha que se faz, parece que se deveri a ao menos fazer com que
a l i gao MB fosse l gi ca; no entanto i sso nem sempre ocorre, seja
porque certos homens so refratri os l gi ca, seja porque se propem
a atuar sobre os senti mentos. Acontece mui tas vezes que o fato i ma-
gi nri o M posto em rel ao com um outro fato i magi nri o N por
uma l i gao l gi ca ou mesmo por uma l i gao i l gi ca. Encontramos
numerosos exempl os desse l ti mo gnero em Metaf si ca e em Teol ogi a
e em certas obras fi l osfi cas como a Filosofia da Natureza de Hegel .
29
C cero (De Natura Deorum. I I , 3) ci ta um raci oc ni o segundo o
qual , da exi stnci a da adi vi nhao M, se deduz a exi stnci a N dos
deuses. Em outra obra el e ci ta um raci oc ni o i nverso, segundo o qual ,
da exi stnci a dos deuses se deduz a da adi vi nhao;
30
e demonstra a
fal si dade di sso.
Tertul i ano sabe por que os demni os podem predi zer a chuva:
porque el es vi vem no ar e se ressentem dos efei tos da chuva antes
que el a chegue terra.
31
Na I dade Mdi a, quando os homens queri am construi r uma teori a,
el es eram, quase que i nvenci vel mente, l evados a raci oci nar, ou mel hor
a desarrazoar, dessa manei ra; e se por acaso, coi sa rara, al gum se
arri scasse a emi ti r al gumas dvi das, era persegui do como i ni mi go de
Deus e dos homens por aquel es que, para no duvi darem, estavam
em oposi o absol uta com o bom senso e com a l gi ca. As di scusses
i ncr vei s sobre a predesti nao, sobre a graa efi caz etc., e hoje as
di vagaes sobre a sol i dari edade demonstram que os homens no se
l i vram de seus sonhos, dos quai s nos desembaraamos somente nas
ci nci as f si cas, mas que conti nuam a estorvar ai nda as Ci nci as Soci ai s.
Em nossos dias temos vi sto se produzi r uma tendnci a a justi fi car
PARETO
61
29 Systmes Socialistes. I I , p. 71, et seq.
30 De Divinatione. I , 5: Ego eni m si c exi sti mo: si si nt ea genera di vi nandi vera, de qui bus
accepi mus, quaeque col i mus, esse deos; vi ci ssi mque, si di i si nt, esse, qui di vi nent.
31 Apolog. 22: Habent de i ncol atu ari s, et de vi ci ni a si derum, et de conmerci o nubi um coel estes
sapere paraturas, ut et pl uvi as quas jam senti unt, repromi ttant.
esses modos de raciocnio. O que existe de verdadeiro nesse novo ponto de
vi sta a concepo da rel atividade de todas as teori as e a reao contra o
sentimento que atribui valor absoluto s teorias cientficas modernas.
A teori a da gravi tao uni versal no tem um contedo real absoluto
a opor ao erro da teori a que atri bui a cada corpo cel este um anjo que
l he regul a os movi mentos. Essa segunda teori a pode, por outro l ado, se
tornar to verdadei ra quanto a pri mei ra, acrescentando-se que esses anjos,
por razes que nos so desconheci das, fazem mover os corpos cel estes
como se el es fossem atra dos na razo di reta das massas e i nversa dos
quadrados das di stncias. Somente ento a i nterveno dos anjos re-
dundnci a, e deve ser el i mi nada, pel o moti vo de que, na cincia, toda
hiptese i nti l prejudi ci al . Tal vez um di a o mesmo moti vo el i mi ne a
concepo da gravi tao uni versal ; porm e i sso i mportante as
equaes da mecni ca cel este conti nuaro a subsi sti r.
32
15. Se uma rel ao objeti va AB coi nci de, aproxi madamente, com
uma rel ao subjeti va AB na mente de al gum, este, raci oci nando
l ogi camente, poder ti rar de A outras conseqnci as C, D etc., que
no se di stanci ar o mui to dos fatos r eai s C, D etc. Ao contr r i o, se,
Fi gura 3
OS ECONOMISTAS
62
32 POI NCAR, H. La Science et lHypotse. p. 189-190: Nenhuma teori a pareci a mai s sl i da
do que esta de Fresnel que atri bu a a l uz aos movi mentos do ter. Entretanto agora se
prefere a de Maxwel l . I sso quer di zer que a obra de Fresnel foi em vo? No, porque o
objeti vo de Fresnel no era saber se exi ste real mente um ter, se el e ou no formado
de tomos, se esses tomos se movem real mente neste ou naquel e senti do; era de prever
os fenmenos pti cos. Ora, i sso a teori a de Fresnel permi te sempre, tanto hoje quanto antes
de Maxwel l . As equaes di ferenci ai s so sempre verdadei ras; pode-se sempre i ntegr-l as pel os
mesmos procedi mentos, e os resul tados dessa i ntegrao conservam sempre o seu val or.
sendo M um moti vo i magi nri o, ou mesmo um fato real di ferente de
A, a rel ao objeti va AB corresponder rel ao subjeti va MB, a mente
de al gum, sempre raci oci nando l ogi camente, ti rar conseqnci as N,
P, Q etc., que nada tero de real . Se el e ento comparar suas dedues
real i dade, com a i nteno de buscar uni camente a verdade e sem
que nenhuma emoo forte o perturbe, perceber que M no a razo
de B; e assi m pouco a pouco, pel a experi nci a e comparando suas
dedues teri cas com a real i dade, modi fi car a rel ao subjeti va MB
e a substi tui r por uma outra AB, que se aproxi ma mui to mai s da
real i dade.
16. A esse gnero pertencem os estudos experi mentai s dos sbi os,
assi m como grande nmero de aes prti cas do homem, i ncl usi ve aque-
l as que a Economi a Pol ti ca estuda. Essas aes so repeti das um
grande nmero de vezes, e faz-se vari ar as condi es de manei ra a
poder exami nar um grande nmero de conseqnci as de A, ou de M,
e chegar a uma i di a exata das rel aes subjeti vas.
17. Aquel e que, ao contr r i o, pr ocede r ar amente segundo a
r el ao AB, ou pr ocede col ocando-se sempr e nas mesmas condi es,
ou que se dei xa domi nar por seus senti mentos pode ter da r el ao
AB uma noo em par te i magi nr i a MB e, s vezes, uma noo
i ntei r amente i magi nr i a MN.
18. A teori a desse pri mei ro gnero de aes essenci al mente
di ferente da teori a do segundo. Daremos apenas al gumas i ndi caes
sobre este, j que nosso manual tem pri nci pal mente por objeti vo o
estudo do pri mei ro.
Observamos que na vi da soci al esse segundo gnero de aes
bastante ampl o e de grande i mportnci a. O que se chama de moral e
costume depende i ntei ramente del e. Consta que at o momento nenhum
povo teve uma moral ci ent fi ca ou experi mental . As tentati vas dos
fi l sofos modernos para l evar a moral a essa forma no l ograram xi to;
mas ai nda que ti vessem si do concl usi vas, conti nuari a verdadei ro que
el as di zem respei to a um nmero mui to restri to de i ndi v duos e que
a mai or parte dos homens, quase todos, as i gnora compl etamente. Da
mesma forma assi nal a-se, de tempos em tempos, o carter anti ci ent fi co,
anti experi mental de tal ou qual costume; e i sso pode ser a ocasi o de
bom nmero de produes l i terri as, mas no pode ter a menor i n-
fl unci a sobre esses costumes, que s se transformam por razes i n-
tei ramente outras.
Exi stem certos fenmenos, os quai s denomi namos ticos ou Mo-
rais, que todos crem conhecer perfei tamente e que ni ngum nunca
consegui u defi ni r de manei ra ri gorosa.
El es quase nunca foram estudados do ponto de vi sta puramente
PARETO
63
objeti vo. Todos aquel es que del es se ocupam defendem qual quer pri n-
c pi o que el es gostari am de i mpor a outrem e que consi deram superi or
a qual quer outro. El es no buscam, portanto, aqui l o que os homens
de uma poca e de um l ugar determi nado chamaram de moral , mas
aqui l o que, segundo el es, deve ser assi m denomi nado; e quando se
di gnam estudar al guma outra moral , concebem-na somente atravs de
seus preconcei tos e se contentam em compar-l a sua, que se torna
a medi da e o ti po de todas outras. Dessa comparao resul ta um certo
nmero de teori as, i mpl ci tas ou expl ci tas. A moral -ti po foi consi derada,
segundo um grande nmero de homens, como al go de absol uto, revel ado
ou i mposto por Deus, e que, segundo certos fi l sofos, deri va da natureza
do homem. Se exi stem povos que no a seguem, por desconhec-l a,
e cabe aos mi ssi onri os ensi n-l a e abri r os ol hos desses i nfel i zes
l uz da verdade; ou ento os fi l sofos se i ncumbi ro de l evantar o grosso
vu que i mpede os fracos mortai s de conhecerem o Verdadeiro, o Belo,
o Bem absol utos; essas pal avras so de uso corrente, se bem que ni n-
gum tenha jamai s consegui do saber o que el as si gni fi cam, nem a
quai s real i dades correspondem. Aquel es que di scorrem com suti l eza
sobre essas matri as vem, nas di ferentes espci es de moral al guns
di zem i gual mente di ferentes espci es de rel i gi o , um esforo de
Humani dade (outra abstrao do mesmo gnero das precedentes, ai nda
que um pouco menos i ntel i g vel ) para chegar ao conheci mento do Bem
e da Verdade supremos.
Essas i di as se modi fi caram em nossa poca, tal vez mui to mai s na
forma do que no fundo, mas, de toda maneira, aproxi mando-se um pouco
mai s da real i dade, e el aborou-se uma moral evol uci oni sta. Entretanto,
no se abandonou a i di a de uma moral -ti po; el a apenas foi col ocada em
termos de evol uo, da qual o resul tado, seja de manei ra absol uta ou
de manei ra temporri a. bastante evi dente que essa moral -ti po, el aborada
pel o autor que a prope, mel hor que todas as outras que a precederam.
o que se pode demonstrar, se o desejarmos, com ajuda de uma outra
mui to bel a e possante metaf si ca de nossos di as, o Progresso, que nos
garante que cada etapa da evol uo marca um estado mel hor que a etapa
precedente, e que i mpede, graas a certas vi rtudes ocul tas, embora bas-
tante efi cazes, que esse estado venha a pi orar.
Na real i dade, dei xando de l ado todos esses di scursos vazi os ou
sem al cance, essa moral -ti po somente o produto dos senti mentos
daquel es que a constri , senti mentos que so, em grande medi da, em-
prestados da soci edade na qual vi ve o homem, e em pequena medi da,
excl usi vamente seus; que so um produto no-l gi co que o raci oc ni o
modi fi ca l i gei ramente; e essa moral no possui outro val or seno o de
ser mani festao desses senti mentos e desse raci oc ni o.
Tal no , entr etanto, a opi ni o de seu autor . El e acei tou aquel a
mor al sob a i nfl unci a do senti mento e se col oca o pr obl ema: como
demonstr -l a pel a exper i nci a e pel a l gi ca? El e cai assi m, neces-
OS ECONOMISTAS
64
sari amente, em pur as l ogomaqui as, poi s o pr obl ema , por sua pr -
pr i a ndol e, i nsol vel .
19. Os homens, e provavel mente tambm os ani mai s que vi vem
em soci edade, tm certos senti mentos que, em certas ci rcunstnci as,
servem de norma s suas aes. Esses senti mentos do homem foram
di vi di dos em di versas cl asses, entre as quai s devemos consi derar aque-
l as chamadas: rel i gi o, moral , di rei to, costume. No se pode, mesmo
ai nda hoje, marcar com preci so os l i mi tes dessas di ferentes cl asses,
e houve tempos em que todas essas cl asses eram confundi das e for-
mavam um conjunto mai s ou menos homogneo. El as no possuem
nenhuma real i dade objeti va preci sa e no so seno um produto de
nosso esp ri to; torna-se, por i sso, coi sa v pesqui sar, por exempl o, o
que objeti vamente a moral ou a justi a. Entretanto, em todos os
tempos, os homens raci oci naram como se a moral e a justi a ti vessem
exi stnci a prpri a, atuando sob a i nfl unci a dessa tendnci a, mui to
forte entre el es, que os faz atri bui r um carter objeti vo aos fatos sub-
jeti vos, e dessa necessi dade i mperi osa que os faz recobri r de verni z
l gi co as rel aes de seus senti mentos. A mai ori a das di sputas teol gi cas
tem essa ori gem, assi m como a i di a verdadei ramente monstruosa de
uma rel i gi o ci ent fi ca.
A moral e a justi a foram, pri nci pal mente, col ocadas sob a de-
pendnci a da di vi ndade; mai s tarde adqui ri ram vi da i ndependente e
qui seram mesmo, por uma i nverso dos termos, submeter o prpri o
Todo-Poderoso s suas l ei s.
33
Trata-se de uma mani festao do carter
i nstvel da f no esp ri to do homem. Quando el a todo-poderosa, a
i di a da di vi ndade preponderante, quando a f di mi nui , a i di a da
di vi ndade cede l ugar a concei tos metaf si cos como aquel es por ns i n-
di cados ( 48) e, posteri ormente, a noes experi mentai s. Esse movi -
mento nem sempre tem a mesma di reo: encontra-se submeti do a
grandes osci l aes. J Pl ato fazi a o processo dos deuses do Ol i mpo
em nome de abstraes metaf si cas; houve, em segui da, um retorno
da f, segui do de outras osci l aes; fi nal mente, para certos tel ogos de
nossa poca, a crena em Deus no seno uma crena na sol i dari e-
dade e a rel i gi o, um nebul oso humani tari smo. El es i magi nam que
PARETO
65
33 Em nossos di as essa opi ni o geral . J Montesqui eu ti nha escri to, Lettres Persanes, LXXXI I I :
Se exi ste um Deus, meu caro Rhdi , necessari amente preci so que el e seja justo; porque
se no o fosse, el e seri a o pi or e o mai s i mperfei to de todos os seres. A justi a uma
rel ao de conveni nci a que se encontra real mente em duas coi sas: essa rel ao sempre
a mesma, quem quer que a consi dere, seja Deus, seja um anjo ou seja, enfi m, um homem..
Observemos pri mei ro uma contradi o. O Todo-Poderoso cri ou, com as coi sas, esta rel ao
de conveni nci a que el as tm entre si , e em segui da el e vi u-se obri gado a se submeter a
essa rel ao de conveni nci a.
Assi nal emos, em segui da, o erro comum que d um val or objeti vo ao que no tem seno
val or subjeti vo. Essa rel ao de conveni nci a s exi ste no esp ri to do homem. Esse erro
expl i ca, ou em parte supri me, a contradi o que l evantamos.
raci oci nam ci enti fi camente porque desembaraaram de sua manei ra
de ver toda noo de rel i gi o posi ti va e no percebem que sua concepo,
no tendo seno as rel i gi es de base experi mental , expri me-se por pa-
l avras vazi as de senti do, capazes somente de despertar em certos ho-
mens, pel o ru do que fazem, senti mentos i ndefi ni dos, i mpreci sos como
aquel es que se tm no mei o sono. Se compararmos uma vi da de santo
escr i ta na I dade Mdi a e esses di scur sos vazi os, ver emos que tanto
um como outr o no r epousam sobr e nenhum concei to exper i mental ,
mas que aquel e , pel o menos compr eens vel , enquanto estes so
i ni ntel i g vei s.
20. As pesqui sas que se podem, de manei ra ti l , estabel ecer sobre
os senti mentos tm por objeto sua natureza, sua ori gem, sua hi stri a;
as rel aes que tm com os outros fatos soci ai s; as rel aes que podem
ter com a uti l i dade do i ndi v duo e da espci e ( 6).
Mesmo quando se uti l i za esse gnero de pesqui sas, bastante
di f ci l proceder de manei ra i ntei ramente serena e ci ent fi ca, poi s a i sso
se ope a profunda emoo que essas coi sas acarretam aos homens.
Comumente, aquel es que raci oci nam sobre esses senti mentos di sti n-
guem duas cl asses; na pri mei ra col ocam aquel es dos quai s comparti -
l ham e que consi deram bons e verdadei ros; e na outra, aquel es de que
no comparti l ham e que consi deram fal sos e maus: e essa opi ni o
i nci de sobre seus jul gamentos e domi na todas as suas pesqui sas. Na
Europa, da I dade Mdi a at por vol ta do scul o XVI I I , no era permi ti do
fal ar de outras rel i gi es que no fosse a cri st, a no ser de seus erros
funestos; hoje surgi u uma rel i gi o humani tri o-democrti ca, e somente
esta verdadei ra e boa; todas as outras, i ncl usi ve a rel i gi o cri st,
so fal sas e perni ci osas. Aquel es que defendem essas concepes i ma-
gi nam, i ngenuamente, que se encontram, ci enti fi camente, mui to aci ma
daquel es que prati caram, no passado, a mesma i ntol ernci a.
34
De tal defei to no esto i sentos, entre os modernos, mui tos da-
quel es que estudam a evol uo desses senti mentos, porque, habi tual -
mente, el es possuem uma f qual , mai s ou menos, el es submetem
os fatos e querem demonstrar que a evol uo se faz no senti do que
el es desejam. Apesar di sso, seus trabal hos tm contri bu do para o de-
senvol vi mento da ci nci a, pri nci pal mente pel os fatos recol hi dos, orde-
nados, i l ustrados, e tambm porque esse gnero de estudos acabou por
fazer nascer o hbi to de consi derar, ao menos em pequena medi da,
esses senti mentos de uma forma objeti va. Em todo caso, a evol uo
ou hi stri a desses senti mentos o que h de mai s conheci do, ou de
OS ECONOMISTAS
66
34 MUSSET, Al fred de. LEspoi r en Di eu.
"Sob os rei s absol utos, encontro um Deus dspota;
Fal am-nos hoje de um Deus republ i cano."
Atual mente nos fal am de um Deus soci al i sta; e exi stem cri stos que s admi ram Cri sto
como precursor de Jaurs.
menos desconheci do, em Soci ol ogi a; tambm, se consi derarmos o pouco
espao de que di spomos, no nos demoraremos sobre esse assunto e
i nsi sti remos, de prefernci a, sobre as partes menos conheci das, e mesmo
estas no podero ser estudadas em seu conjunto: del as enumeraremos
somente certos casos parti cul ares que i l ustraro as teori as gerai s.
21. Di scute-se, h al gum tempo, as rel aes dos senti mentos re-
l i gi osos e dos senti mentos morai s. As duas opi ni es extremas so: 1)
que a moral um apndi ce da rel i gi o, 2) que, ao contrri o, a moral
autnoma; dai nasceu a teori a da moral i ndependente.
Observemos pri mei ramente que essas di scusses tm segundas
i ntenes. Aquel es que defendem a pri mei ra dessas opi ni es propem-se
a demonstrar a uti l i dade da rel i gi o como cri adora da moral ; os que
defendem a segunda querem demonstrar a i nuti l i dade da rel i gi o ou,
mai s exatamente, de certa rel i gi o que no l hes agrada. Se exami nar-
mos o probl ema de manei ra i ntr nseca, veremos que el e est mal co-
l ocado, poi s reduz a um dos probl emas di ferentes que, como i remos
mostrar, podem ter sol ues di vergentes. preci so nesse caso, como
em outros semel hantes, di sti ngui r entre as rel aes l gi cas que nos
pode ser conveni ente cri ar entre os senti mentos e as rel aes de fato
que exi stem entre el es, ou seja, preci so, como habi tual mente, di sti n-
gui r entre as rel aes subjeti vas e as objeti vas.
22. Suponhamos que um i ndi v duo tenha certos senti mentos A,
B, C; se, para que subsi sti ssem juntos, fosse necessri o exi sti r entre
el es uma l i gao l gi ca, os doi s probl emas que acabamos de di sti ngui r
se reduzi ri am a um s. Ei s por que, habi tual mente, faz-se essa reduo.
opi ni o comum, i mpl ci ta ou expl ci ta, que os homens so gui ados
uni camente pel a razo e que, por conseqnci a, todos os seus senti -
mentos so l i gados de manei ra l gi ca; mas esta uma opi ni o fal sa
e desmenti da por um sem nmero de fatos, que nos fazem pender para
outra opi ni o extrema, compl etamente fal sa entretanto, de que o ho-
mem gui ado excl usi vamente por seus senti mentos e no pel a razo.
Esses senti mentos tm ori gem na natureza do homem combi nada com
as ci rcunstnci as nas quai s el e vi veu, e no nos permi ti do afi rmar
a priori que exi ste entre el es uma l i gao l gi ca. Exi ste, entre a forma
do bi co do fai so e a qual i dade de seu al i mento, uma l i gao l gi ca,
mas no exi ste, ou pel o menos ns a desconhecemos, uma rel ao entre
a forma do bi co e as cores das penas do macho.
23. O probl ema l evantado no 21 se di vi de, portanto, da segui nte
manei ra: 1) Supondo (ateno a esta premi ssa) que se quei ra demons-
trar l ogi camente que o homem deve segui r al gumas regras morai s,
qual o raci oc ni o que na forma parece mai s ri goroso? 2) Os senti mentos
rel i gi osos ou, para restri ngi r um pouco esse probl ema tal vez demasi ado
PARETO
67
geral , os senti mentos determi nados por uma rel i gi o posi ti va com um
Deus pessoal , senti mentos que chamaremos A, estaro el es sempre,
ou comumente, acompanhados dos senti mentos morai s B, ou seja, os
senti mentos A exi stem habi tual mente ao mesmo tempo que os B, ou
os senti mentos B encontrar-se-i am habi tual mente sem os A?
O pri mei ro probl ema faz parte daquel es que denomi namos ()
no 6; o segundo, daquel es desi gnados por ().
24. Ocupemo-nos do pri mei ro desses probl emas. O raci oc ni o, ha-
bi tual mente, tende a l evar o homem a fazer certa coi sa A que no l he
agradvel ou que no o sufi ci entemente para que o homem seja
l evado a faz-l a. Al m di sso, em geral , A compreende no s a ao
mas tambm a absteno.
25. Entre os numerosos raci oc ni os que se fazem sobre o pri mei ro
probl ema, preci so consi derar aquel es que se di vi dem nas segui ntes
cl asses: (I ) Demonstra-se que A , em l ti ma anl i se, vantajoso ao
homem: (I ) porque um ser sobrenatural , ou mesmo si mpl esmente uma
l ei natural ou sobrenatural (budi smo), recompensa aquel es que fazem
A, pune aquel es que no fazem A, seja (I 1) nesta vi da, seja (I 2) na
outra; ou ento (I ) porque, por si mesmo, A acaba por ser vantajoso:
(I 1) ao i ndi v duo, ou (I 2) espci e. (I I ) Demonstra-se que A a
conseqnci a de certo pri nc pi o, comumente metaf si co, de certo precei to
admi ti do a priori, de qual quer outro senti mento moral . Por exempl o:
(I I ) A coi nci de com o que a natureza deseja, ou ai nda, para certos
autores modernos, com a evol uo, com a teori a da sol i dari edade etc.;
(I I ) A a conseqnci a do precei to que devemos trabal har para apro-
xi marmo-nos da perfei o; que devemos persegui r a fel i ci dade do g-
nero humano, ou mel hor, de todos os seres sens vei s;
35
ou, ai nda, que
devemos fazer tudo que possa mel horar e gl ori fi car a humanidade; ou
que devemos agi r de tal manei ra que a regra do nosso querer possa
tomar a forma de um pri nc pi o de l egi sl ao uni versal (Kant) etc.
26. Os raci oc ni os (I ) so os mai s l gi cos e entre el es os mel hores
so os (I 2). Quando Ul i sses, para demonstrar que os hspedes devem
ser bem tratados, di z que el es vm de Zeus,
36
emprega um argumento
OS ECONOMISTAS
68
35 MI LL, John Stuart. Logique. VI , 12, 7.
36 Odissia. VI , 207, 208.
.
Porque de Zeus que vm todos os estrangei ros e todos os mendi gos.
Ao Ci cl ope (I X, 270) el e di z:
Zeus vi nga os supl i cantes e os estrangei ros.
Ci cl ope responde (I X, 275):
.
Os Ci cl opes no se i mportam com Zeus.
que, se acei tarmos a premi ssa, perfei tamente l gi co. El e no pode
ser recusado seno por aquel es que, como Ci cl ope, crem-se to fortes
quanto Zeus, mas para aquel es que se sabem mai s fracos, no h
escapatri a; e, val e notar, caem por suas prpri as armas: por ego smo
que el es recusam ajuda ao hspede e por ego smo que el es devem
temer a todo-poderosa fora de Zeus.
27. A l i gao l gi ca mui to forte; exami nemos a premi ssa que
se encontra na afi rmao de que Zeus vi nga os estrangei ros. No caso
(I 1) essa proposta pode ser veri fi cada experi mental mente (I , 36) e,
por conseqnci a, pode ser faci l mente destru da pel as constataes de
um Di goras,
37
ou por aquel es que C cero col oca na boca de Cota (De
Natura Deorum). I I I , 34 (et passim); mas no caso (I ), a proposta, no
sendo experi mental , foge a qual quer veri fi cao experi mental , e o ra-
ci oc ni o torna-se to forte que somente poss vel opor-l he um non
liquet; torna-se i mposs vel refut-l o, provando o contrri o.
28. Os raci oc ni os do gnero (I ), notadamente os raci oc ni os (I 1),
conduzem a sofi smas evi dentes. Em suma, suspendendo todos os vus
metaf si cos, afi rmar que o i ndi v duo persegue sua prpri a vantagem,
conduzi ndo-se segundo as regras morai s, si gni fi ca afi rmar que a vi rtude
sempre recompensada e o v ci o puni do, o que mani festamente fal so.
A demonstrao habi tual mente empregada por Pl ato
38
consi ste em
substi tui r as sensaes agradvei s ou penosas que o homem prova por
abstraes que se defi nem de manei ra a faz-l as depender do fato de
haver agi do moral mente; em segui da, faz-se um c rcul o vi ci oso: se a
fel i ci dade conseqnci a da conduta moral , no di f ci l concl ui r que
a conduta moral traz a fel i ci dade.
29. A ori gem desses erros est no fato de no se querer com-
preender que a sensao agradvel , ou desagradvel , um fato pri -
mi ti vo que no pode ser deduzi do pel o raci oc ni o. Quando um homem
sente uma sensao, absurdo querer demonstrar-l he que est senti ndo
outra. Se um homem se sente fel i z, profundamente ri d cul o querer
demonstrar-l he que el e i nfel i z, ou vi ce-versa.
PARETO
69
37 Al guns pretendem que Di goras se tornou ateu porque um i ndi v duo, que por perjri o o
ti nha i njuri ado, permaneceu i mpune. EMP RI CO, Sexto. Adversus Physicos. p. 562; Schol.
in Aristoph., Nub. 830.
38 Civitas. I , p. 353-354: Soc.: No a justi a a vi rtude da al ma e a i njusti a o v ci o? Tras.:
Certamente. Soc. Ento o homem justo e a al ma justa vi vero bem; o homem i njusto, mal .
Tras. o que parece. Soc. Mas aquel e que vi ve bem contente e fel i z; acontece o contrri o
com aquel e que no vi ve bem. Tras. Evi dentemente. Soc. O justo, ento fel i z; o i njusto,
i nfel i z, , o que parafrasei a ai nda I I I ,
p. 444-445. No sabemos qual era a verdadei ra manei ra de ver de Scrates, mas Scrates
de Xenofonte consi dera quase sempre como i dnti co o bem e o ti l , o mal e o noci vo. Quando
se procede assi m, vai -se contra os fatos e, para provar sua assero, el e s pode ter recorri do
aos sofi smas.
estranho que um homem como Spencer tenha ca do em erro
to grossei ro; todo o seu tratado sobre a moral no di gno de sua
i ntel i gnci a. No 79 da Moral Evolucionista, el e quer demonstrar que
as aes real i zadas no i nteresse de outrem nos proporci onam
prazeres pessoai s, poi s fazem rei nar a al egri a em torno de ns.
Exi ste a uma peti o de pri nc pi o. Ou o homem sente prazer
em ver os outros contentes, e, neste caso, i nti l demonstrar-l he que
senti r prazer tornando os outros contentes; como se l he di ssssemos:
O vi nho vos agrada; portanto, para proporci onar-vos prazer, bebei
vi nho. Ou ento esse homem no sente nenhum prazer em ver os
outros contentes, e, nesse caso, no verdade que, prestando servi o
a outrem, el e proporci onar prazer a si mesmo. como se di ssssemos:
O vi nho no vos agrada; mas, se vos agradasse e se o bebssei s, es-
tar ei s contente; bebei -o, portanto, e estarei s contente.
No 80, Spencer quer demonstrar-nos que
aquel e que se ocupa em proporci onar prazer a outrem sente de
uma manei ra mai s forte seus prpri os prazeres do que aquel e
que cui da excl usi vamente dos seus.
Trata-se, outra vez, de um c rcul o vi ci oso; toma-se como premi ssa
o que preci so demonstrar. uma estranha pretenso de Spencer
querer nos demonstrar, l ogi camente, que senti mos o que no senti mos!
Ei s um homem que come frango; queremos demonstrar-l he que senti ri a
mui to mai s prazer comendo metade e dando metade a seu vi zi nho.
El e responde: Certamente no; eu j experi mentei e asseguro-l hes
que si nto mui to mai s prazer comendo-o todo do que dando metade a
meu vi zi nho. Voc pode cham-l o de mal vado, i njuri -l o, mas no
pode demonstrar-l he, l ogi camente, que el e no sente essa sensao. O
i ndi v duo o ni co jui z do que l he agrada e do que l he desagrada; e
se, por exempl o, tratar-se de um homem que no gosta de espi nafre,
o cmul o do ri d cul o e do absurdo querer demonstrar-l he, da mesma
manei ra que se demonstra o teorema de Pi tgoras, que el e l he agrada.
Poderemos certamente demonstrar-l he que, suportando certa sensao
desagradvel , el e proporci onar assi m mesmo outra sensao agrad-
vel ; que, por exempl o, comendo espi nafre todos os di as, el e se curar
de certa enfermi dade, mas el e conti nua sempre o ni co jui z capaz de
saber se exi ste ou no essa compensao entre esse prazer e essa pena,
e ni ngum pode demonstrar-l he, pel a l gi ca, que essa compensao
exi ste, se el e sente que el a no exi ste.
Dei xemos de l ado os fenmenos de sugesto, que nada tm a ver
com as demonstraes l gi cas.
30. Nos raci oc ni os do gnero (I 2), subentende-se, geral mente,
uma premi ssa; o raci oc ni o compl eto seri a: O i ndi v duo deve fazer
OS ECONOMISTAS
70
tudo que for ti l espci e; A ti l para a espci e, portanto o i ndi v duo
deve fazer A. No se fal a dessa premi ssa porque no encontrar amos
faci l mente adeso sem restri o a esta afi rmao de que o i ndi v duo
deve fazer tudo que for ti l espci e; e a i ntroduo de restri es nos
forari a a resol ver um probl ema di f ci l , porque a uti l i dade do i ndi v duo
e a uti l i dade da espci e so quanti dades heterogneas que se prestam
mal a uma comparao. A sel eo atua sacri fi cando o i ndi v duo es-
pci e. Acontece segui damente que o que bom, ti l para o i ndi v duo
est em oposi o absol uta com certas ci rcunstnci as que so favorvei s
espci e. Sem dvi da o i ndi v duo no pode exi sti r sem a espci e, e
vi ce-versa; conseqentemente, se destru mos a espci e, destru mos o
i ndi v duo, e vi ce-versa; i sso porm no sufi ci ente para i denti fi car o
bem do i ndi v duo e o da espci e: um i ndi v duo pode vi ver e ser fel i z
buscando o mal de todos os outros i ndi v duos que compem a espci e.
Os raci oc ni os do gnero aci ma i ndi cado so, geral mente, equi vocados
do ponto de vi sta l gi co.
31. Os raci oc ni os da cl asse (I I ), assi m como os da cl asse (I ),
podem ser consi derados segundo doi s pontos de vi sta. Poder-se-i a pre-
tender que o pri nc pi o ao qual se quer rel aci onar os senti mentos morai s
si mpl esmente o model o dos senti mentos exi stentes. Da mesma ma-
nei ra, exi ste um nmero i nfi ni to de cri stai s que podem ser deduzi dos
do si stema cbi co. Mas os autores dos raci oc ni os (I I ) habi tual mente
no os entendem dessa manei ra; e se assi m os entendessem, ser-l hes-i a
i mposs vel demonstrar que todos os senti mentos exi stentes e j exi s-
ti dos podem ser deduzi dos do pri nc pi o que el es defendem. No vemos
como, do mesmo pri nc pi o, se poderi a deduzi r esse precei to que encon-
tramos em mui tos povos:
Deves vi ngar-te do i ni mi go,
ou ai nda si mpl esmente o precei to grego:
Odei a quem te odei a, ama fortemente quem te ama,
39
e este outro:
Perdoa a teus i ni mi gos; ama a teu prxi mo como a ti mesmo.
Geral mente os autores querem dar o model o no dos senti mentos
que exi sti ram, mas daquel es que deveri am exi sti r. Da surge o segundo
ponto de vi sta no qual aparecem esses raci oc ni os que tm por objeti vo
no a descri o daqui l o que , mas daqui l o que deveria ser; e por
i sto que no possuem nenhum val or l gi co.
Herbert Spencer sai do apuro chamando pr-moral os usos e cos-
PARETO
71
39 , .
tumes que a observao nos prova exi sti rem ou terem exi sti do; e reserva
o nome de moral a qual quer coi sa de absol uto que deveria exi sti r. El e
censura as morais a priori, como a moral cri st; mas no fundo sua moral
to a priori quanto aquel as que el e reprova, e el e mesmo forado a
reconhecer que a observao no nos d seno a pr-moral.
Por exempl o, el e est persuadi do de que a guerra i moral . Essa
proposta pode sati sfazer seus senti mentos e os de outros homens, mas
no se pode demonstr-l a ci enti fi camente, e ni ngum pode di zer se a
guerra desaparecer um di a desta terra. A repugnnci a de Spencer
pel a guerra e pel os senti mentos bel i cosos puramente subjeti va; mas,
sendo um procedi mento corrente, el e a torna um pri nc pi o objeti vo,
que l he serve para jul gar a moral dos di versos povos. El e no percebe
que, agi ndo de tal modo, i mi ta o homem rel i gi oso, para o qual todas
as rel i gi es so fal sas, menos a sua. Spencer tem, si mpl esmente, a
rel i gi o da paz, e essa rel i gi o no val e mai s nem menos que o i sl a-
mi smo, ou budi smo, ou qual quer outra rel i gi o.
Spencer percorre uma parte do cami nho segui ndo os procedi men-
tos do raci oc ni o ci ent fi co; depoi s abandona esse cami nho, l evado pel a
fora poderosa que arrasta os homens a dar um val or objeti vo a fatos
subjeti vos e passa para o terreno da f, onde se afunda cada vez mai s.
32. Em caso semel hante, o pri nc pi o uti l i zado pel os autores no
, de manei ra al guma, mai s evi dente que as concl uses a que queremos
chegar; e termi nam por provar uma coi sa i ncerta deduzi ndo-a de uma
coi sa ai nda mai s i ncerta. No nos preocupemos se tal coi sa est de
acordo com a natureza,
40
com o fim do homem ou com outra enti dade
i magi nri a, ou ai nda se el a est de acordo com a evol uo, ou qual quer
outra abstrao anl oga, porque, ai nda que pudssemos estar seguros
di sso, o que no o caso, no poder amos ti rar a concl uso de que tal
i ndi v duo determi nado deve fazer essa coi sa, e passemos agora aos
raci oc ni os (I I b), nos quai s as l acunas parecem ser menores.
33. El es tm um defei to comum, do ponto de vi sta da l gi ca, que
a fal ta de preci so de suas premi ssas que no possuem senti do real
correspondente. No percebemos i sso de i n ci o porque essas premi ssas
se combi nam com certos senti mentos nossos, mas quando as exami -
namos mai s de perto, mai s tentamos compreender o que si gni fi cam,
menos el as se tornam i ntel i g vei s.
34. Tomemos como exempl o uma das teori as menos rui ns: a de
Stuart Mi l l . Dei xemos de l ado a l ti ma parte, a que se refere aos seres
sens vei s a qual nos i mpedi ri a de al i mentarmo-nos de carne e de
OS ECONOMISTAS
72
40 Systmes Socialistes. I I , p. 21.
pei xe, e at de andar, por medo de esmagar qual quer i nseto e con-
si deremo-l a sob a forma mai s razovel , a que busca a fel i ci dade do
gnero humano. Esses termos nos enganam, parecem-nos cl aros e no
o so. O gnero humano no um i ndi v duo que tenha sensaes
si mpl es de fel i ci dade ou de i nfel i ci dade, mas um conjunto de i ndi v duos
que experi mentam esses ti pos de sensao. A defi ni o dada supe,
i mpl i ci tamente: 1) que se sabe exatamente o que o gnero humano,
se el e compreende uni camente os i ndi v duos que vi vem em um momento
determi nado, ou aquel es que vi veram e aquel es que vi vero; 2) que as
condi es de fel i ci dade de cada i ndi v duo de uma col eti vi dade dada
no so contradi tri as; seno o probl ema de assegurar a fel i ci dade
dessa col eti vi dade parecer-se-i a o probl ema da construo de um tri n-
gul o quadrado; 3) que as quanti dades de fel i ci dade de que goza cada
i ndi v duo so homogneas, de manei ra a poderem ser somadas; seno
no se poderi a ver como se conheceri a a soma da fel i ci dade da qual
goza uma col eti vi dade; e se essa soma desconheci da, no teremos
nenhum cri tri o para saber se, em dada ci rcunstnci a, a col eti vi dade
mai s fel i z que em outras.
35.1) Na real i dade, aquel es que fal am do gnero humano enten-
dem, habi tual mente, por i sso seu prpri o pa s, ou, em casos extremos,
a prpri a raa; e os moral ssi mos povos ci vi l i zados destru ram e con-
ti nuam a destrui r, sem o menor escrpul o, os povos sel vagens ou br-
baros. Mas suponhamos que por gnero humano se entenda todos os
homens; resta ai nda resol ver trs questes graves: quando a fel i ci dade
dos homens vi vos se encontra em oposi o dos homens por nascer,
qual deve preval ecer? Quando, como acontece ami de, a fel i ci dade dos
i ndi v duos atuai s est em oposi o fel i ci dade da espci e, quem deve
ceder? Observemos que a ci vi l i zao europi a fruto de um nmero
i nfi ni to de guerras e de uma destrui o mui to grande dos fracos pel os
fortes; foi com esses sofri mentos que se adqui ri u a prosperi dade atual :
i sso um bem ou um mal ? O pri nc pi o exposto no sufi ci ente para
resol ver essas questes.
36.2) Suponhamos uma col eti vi dade consti tu da por um l obo e
um cordei ro; a fel i ci dade do l obo consi ste em comer o cordei ro, a do
cordei ro em no ser comi do. Como tornar fel i z essa col eti vi dade? O
gnero humano se compe de povos bel i cosos e de povos pac fi cos: a
fel i ci dade dos pri mei ros consi ste em conqui star os segundos; a fel i ci dade
destes, em no serem conqui stados. preci so recorrer a al gum outro
pri nc pi o e el i mi nar, por exempl o, a fel i ci dade dos povos bel i cosos, jul -
g-l a menos di gna que a dos povos pac fi cos, que ser a ni ca consi -
derada. Nesse caso, o bel o pri nc pi o que deveri a permi ti r resol ver os
probl emas morai s dei xado de l ado e no serve para nada.
A felici dade dos romanos encontrava-se na destruio de Cartago; a
PARETO
73
dos cartagi neses tal vez na destrui o de Roma, em todo caso, na conser-
vao da ci dade. Como real i zar a fel i ci dade dos romanos e dos cartagi neses?
37.3) Poder-se-i a responder: a fel i ci dade total , onde nem os romanos
destrui ri am Cartago, nem os cartagi neses destrui ri am Roma, seri a mai or
do que se uma del as fosse destru da. Ei s uma afirmao do ar que no
pode ser apoi ada em nenhuma prova. Como se poderi a comparar essas
sensaes agradvei s ou desagradvei s e som-l as? Mas, l evando ao ex-
tremo nossas concesses, admi tamos que i sso seri a poss vel e tentemos
resol ver este probl ema: a escravi do moral ou no? Se os senhores so
numerosos e os escravos em pequeno nmero, pode acontecer que as sen-
saes agradvei s dos senhores formem uma soma (?) mai or do que a das
sensaes penosas dos escravos; e vi ce-versa, se houver poucos senhores
e mui tos escravos. Essa sol uo no seri a certamente acei ta por aquel es
que preconi zam o pri nc pi o da mai or fel i ci dade do gnero humano. Para
saber se o furto ou no moral , devemos comparar os senti mentos penosos
dos roubados aos senti mentos agradvei s dos l adres e buscar aquel es
cuja i ntensi dade for mai or?
38. Para poder uti l i zar o pri nc pi o de Mi l l , -se l evado a combi -
n-l o, i mpl i ci tamente, com outros pri nc pi os; por exempl o, com os pri n-
c pi os da cl asse dos que Kant nos fornece o model o. Mesmo assi m, as
di fi cul dades que parecem ter si do supri mi das, reaparecem a parti r do
momento em que se quei ra raci oci nar com al gum ri gor. No pode haver
um pri nc pi o de l egi sl ao propri amente uni versal em uma soci edade,
como essa dos homens, composta de i ndi v duos que se di ferenci am
entre si pel o sexo, i dade, qual i dades f si cas e i ntel ectuai s etc.; e se
esse pri nc pi o deve submeter-se a restri es, que l evem em consi derao
tai s ou quai s ci rcunstnci as, o probl ema pri nci pal consi ste, poi s, em
saber quai s so as restri es que preci so acol her e quai s preci so
rejei tar; e as premi ssas col ocadas tornam-se perfei tamente i ntei s.
As di sposi es que se l em em Gai o, De Conditione Hominum,
I , 9, 10, 11,
41
tm ou no o carter de um pri nc pi o de l egi sl ao
uni versal ? Se tm, a escravi do justi fi cada; se no, torna-se at
i l ci to deci di r que certos homens, el ei tos, por exempl o, pel o povo e
encarregados de certos servi os, devam comandar e os outros obedecer.
Do ponto de vi sta formal , todas essas di sposi es so i dnti cas e no
se di ferenci am seno pel a natureza e modo das restri es.
39. Sabe-se que os senti mentos tm tanta i nfl unci a sobre os
OS ECONOMISTAS
74
41 9. Et qui dem summa devi si o de i ure personarum haec est, quod omnes homi nes aut
l i beri sunt aut servi .
10. Rursus l i beroum homi num al i i i ngenui sunt; al i i l i berti ni .
11. I ngenui sunt, qui l i beri nati sunt; l i berti ni , qui ex i usta servi tate manumi ssi sunt.
homens que a mai ori a perde o uso da s razo. Neste momento, na
Frana, por exempl o, um grande nmero de homens, que por si nal
parecem razovei s, admi ram as pal avras vazi as de senti do da cl ebre
Declarao dos Direitos do Homem. O pri mei ro pargrafo tem al gumas
semel hanas com um pri nc pi o de l egi sl ao uni versal . El e decl ara que:
Os homens nascem e permanecem l i vres e i guai s em di rei tos;
as di sti nes soci ai s no podem se fundamentar seno sobre a
ati tude comum.
Dei xemos passar que essa l i berdade e essa i gual dade si gni fi cam
si mpl esmente que os homens nascem e permanecem l i vres, sal vo para
as coi sas s quai s esto sujei tos; e i guai s em tudo sal vo nas coi sas nas
quais so desi guai s: i sto , menos que nada; e fi xemo-nos uni camente
sobre esta proposi o de que as di sti nes soci ai s no podem se fundar
seno sobre a uti l i dade comum. I sso pouco serve para resol ver a di fi cul dade
que consi ste agora em determi nar o que si gni fi ca uti l i dade comum. Basta
l er Ari sttel es para ver como poss vel defender a escravi do sustentando
que el a de uti l i dade comum;
42
pode-se justi fi car at o feudal i smo, to
odi ado pel os revol uci onri os que escreveram essa Declarao. Em nossa
poca, os jacobi nos franceses consi deram como justi fi cada pel a uti l i dade
comum a di sti no que fazem entre os ci dados que pertencem a l ojas
mani cas e aquel es que pertencem a ordens rel i gi osas; mas os ateni enses
defendi am i gual mente como fundada sobre a uti l i dade comum a di sti no
que fazi am entre o brbaro e o ci dado de Atenas.
Em resumo, todos esses raci oc ni os pseudoci ent fi cos so menos
cl aros e tm menos val or que a mxi ma cri st: Ama teu prxi mo como
a ti mesmo. Al i s, ns reencontramos essa mxi ma em pocas bastante
di ferentes e em povos absol utamente di sti ntos; e encontramo-l a at
mesmo no Lun-Yu chi ns.
43
40. Os raci oc ni os metaf si cos dos quai s nos ocupamos, no tem
nenhum val or objeti vo porque se preocupam com coi sas que no exi s-
tem. So do mesmo gnero daquel es que se fari am para saber se Eros
precedeu o Caos, a Terra e o Trtaro, ou se el e era fi l ho de Afrodi te.
Pesqui sar como i sso era real mente coi sa v; podemos somente pesqui sar
como os gregos o conceberam; suas manei ras de ver so para ns fatores
com os quai s podemos fazer a hi stri a.
PARETO
75
42 Systmes Socialistes. I I , p. 110.
43 Lun-Yu ou Colloques Philosophiques. Traduo Pauthi er. I , 4, 15: A doutri na de nosso
mestre consi ste uni camente em ter a reti do do corao e em amar seu prxi mo como a si
mesmo. O tradutor acrescenta: Di fi ci l mente se acredi tar que nossa traduo seja exata;
entretanto, ns no pensamos que se possa fazer outra mai s fi el .
No Mahabharata di to, i gual mente, que devemos tratar os outros como gostar amos de
ser tratados. Encontram-se mxi mas mai s ou menos semel hantes em mui tos povos. El as
deri vam dos senti mentos de benevol nci a para com os outros e da necessi dade que sente
o homem fraco de apel ar, para defender-se, aos senti mentos de i gual dade.
So numerosos os si stemas de moral que ti veram e tm curso
ai nda hoje: nenhum del es adqui ri u prefernci a marcada sobre os outros.
A questo est pendente ai nda de saber qual si stema o mel hor, do
mesmo modo que para os trs ani s de que fal a Boccacci o em uma de
suas novel as; e nem poderi a ser de outra manei ra, poi s no exi ste
cri tri o experi mental ou ci ent fi co para resol ver semel hante questo.
O ni co contedo experi mental ou ci ent fi co de todos esses si s-
temas encontra-se no fato de que certos homens experi mentaram certos
senti mentos e a forma com que os expri mi ram.
41. Nos pargrafos precedentes ns consi deramos sob um aspecto
anl ogo o que os homens pensam a respei to de certas abstraes; fal ta,
porm, fazer outras pesqui sas mai s i mportantes. Podemos buscar a
natureza desses senti mentos e as rel aes que real mente exi stem entre
el es, negl i genci ando as rel aes i magi nri as e que os homens crem
exi sti r. Em segui da, podemos pesqui sar como e de que manei ra as
rel aes reai s se transformaram em i magi nri as. I sso nos l eva a con-
si derar os probl emas () () () do 6.
42. Pesqui semos pri mei ro se esses senti mentos tm uma exi s-
tnci a objeti va, i ndependente da di versi dade das i ntel i gnci as huma-
nas, ou se el es esto subordi nados a essa di versi dade. fci l ver que
somente a segunda hi ptese pode ser acol hi da. Mesmo quando os sen-
ti mentos que se rel aci onam com a rel i gi o, a moral , o patri oti smo etc.,
tm expresses l i teral e formal mente comuns a mui tos homens, so
por el es compreendi dos de forma di versas. O Scrates de Pl ato ( 65)
e o homem supersti ci oso de Teofrasto ti nham a mesma rel i gi o mas,
certamente, compreendi am-na de manei ra bem di ferente.
44
Al i s, sem
recorrer hi stri a, pode-se encontrar ao redor de si i nmeros exempl os.
Portanto, quando fal amos, por exempl o, do amor ptri a, temos em
vi sta uma cl asse abstrata de senti mentos, formada pel os senti mentos
si ngul ares que exi stem nos di ferentes i ndi v duos; e essa cl asse no
tem mai s exi stnci a objeti va do que a cl asse dos mam feros, formada
por cada um dos ani mai s si ngul ares que exi stem real mente. Para os
homens que consti tuem uma nao, esses senti mentos, ai nda que em
parte di ferenci ados, tm, entretanto, al go em comum.
43. Os senti mentos que pertencem a cl asses di ferentes aparecem
OS ECONOMISTAS
76
44 BOI SSI ER, G. La Religion Romaine. I , p. 179. Fal ando da apoteose dos i mperadores, di z
el e: O vul go, em geral , pensava que os Csares eram deuses como os outros: el e l hes
atri bu a a mesma fora, e supunha que el a se revel ava da mesma manei ra, pel as apari es
e pel os sonhos. As pessoas escl areci das, pel o contrri o, col ocavam certa di ferena entre
el es e as outras di vi ndades; era para el es qual quer coi sa como os heris ou semi deuses
dos anti gos gregos. Em suma, el es no l he concedi am mai s pri vi l gi os que os esti cos
atri bu am a ser sbi o aps a morte.
como no sendo compl etamente i ndependentes. Essa dependnci a ge-
ral mente no l gi ca, como i magi na erroneamente a mai ori a dos ho-
mens, mas el a provm do fato de que esses senti mentos tm suas
causas l ong nquas e comuns; e por i sso que el es nos parecem como
ramos que nascem do mesmo tronco.
A dependnci a aparece entre aes do mesmo gnero; as aes
no-l gi cas so, em seu conjunto, favoreci das ou contrari adas da mesma
manei ra que as aes l gi cas. Aquel e que cede a um determi nado ti po
de senti mentos, ceder mai s faci l mente a outros ti pos; aquel e que uti -
l i za, habi tual mente, o raci oc ni o em certos casos, uti l i z-l o- mai s fa-
ci l mente em outros.
44. Portanto se ns, como fi zemos para a ri queza (VI I , 11), di s-
pusermos os homens em camadas, segundo as qual i dades de sua i n-
tel i gnci a e de seu carter, col ocando nas camadas superi ores aquel es
que possuem essas qual i dades em mai s al to grau, e nas camadas i n-
feri ores aquel es que no possuem seno um fraco grau de uma dessas
qual i dades, ou das duas, veremos que os di ferentes senti mentos so
tanto menos dependentes medi da que se sobe aos andares superi ores
e tanto mai s dependentes medi da que se desce aos andares i nferi ores.
Se conti nuarmos nossa comparao, di remos que nas camadas supe-
ri ores os ramos so di sti ntos e separados, enquanto que nas camadas
i nferi ores, se confundem.
A soci edade humana apresenta portanto no espao uma fi gura
anl oga (mas no i dnti ca) quel a que apresenta no tempo; sabe-se,
com efei to, que nos tempos pri mi ti vos os di ferentes senti mentos, agora
compl etamente di sti ntos, formavam uma massa homognea ( 81 nota).
45. As qual i dades da i ntel i gnci a e do carter no so as ni cas
que atuam em senti do oposto; mui tas outras ci rcunstnci as produzem
esse mesmo efei to. Aquel es que governam, de bai xo at o al to da escal a,
desde a soci edade i ndustri al pri vada at o estado, tm senti mentos
geral mente mai s di sti ntos e mai s i ndependentes que aquel es dos go-
vernados; e i sso decorre do fato de que aquel es mui to mai s que estes
devem, necessari amente, ter vi stas l argas; e preci samente porque vem
as coi sas mai s do al to, adqui rem pel a prti ca noes que fal tam quel es
cujas ocupaes os retm num dom ni o mai s restri to.
45
46. Essa nova cl assi fi cao coi nci de, em parte, com a precedente,
e coi nci de, tambm em parte, com a cl assi fi cao que se obtm di spondo
PARETO
77
45 preci so notar que no se pode confundi r estadi sta e pol ti co; mai s ai nda o hbi to adqui ri do
por aquel e que, durante mui to tempo, governou uma parte qual quer, grande ou pequena,
da ati vi dade humana, e o hbi to adqui ri do pel o bel o fal ador, i ntri gante, adul ador de Demos,
so essenci al mente di ferentes.
os homens segundo sua ri queza;
46
mas essas cl asses tambm di ferem
em parte. Em pri mei ro l ugar, podemos constar que h, nas camadas
superi ores, el ementos que descem e nas camadas i nferi ores, el ementos
que sobem. Em segui da, h homens que pertencem ari stocraci a i n-
tel ectual e que no empregam suas facul dades para proporci onar-se
bens materi ai s, mas que se ocupam de arte, de l i teratura e de ci nci a:
exi stem os oci osos, os i ncapazes que gastam sua i ntel i gnci a e seu
vi gor nos esportes etc. Enfi m, i nmeras ci rcunstnci as podem col ocar
di ferentemente na hi erarqui a soci al homens que tm as mesmas qua-
l i dades de i ntel i gnci a e carter.
47. Observemos, e uma nova anal ogi a com o que se produz no
tempo ( 81 nota) que a facul dade de abstrao vai aumentando de
bai xo para ci ma; somente nas camadas superi ores que se encontram,
geral mente, os pri nc pi os gerai s que resumem os di versos gneros de
ao; e com a apari o desses pri nc pi os mani festam-se as contradi es
que podem exi sti r entre el es e que escapam mai s faci l mente nos casos
concretos de onde se abstraem esses pri nc pi os.
48. O Esp ri to humano fei to de tal manei ra que, nos tempos
de f ardente, el e no descobre nenhuma contradi o entre suas i di as
sobre a rel i gi o e suas outras i di as sobre a moral ou sobre fatos de
experi nci a; e essas i di as di ferentes, embora s vezes compl etamente
opostas, conseguem subsi sti r num mesmo esp ri to. Porm, quando a
f se desvanece, ou ai nda quando, passando das camadas i nferi ores
s camadas superi ores numa mesma soci edade, as di versas qual i dades
de senti mentos tornam-se mai s i ndependentes ( 19), essa coexi stnci a
torna-se desagradvel , dol orosa, e o homem procura faz-l a desapare-
cer, supri ndo essas contradi es que s ento descobre.
No esp ri to dos anti gos gregos mi sturavam-se, sem se chocar, as
aventuras escandal osas de seus deuses e os pri nc pi os de moral bastante
puros. Em uma mesma inteligncia encontravam-se a crena de que Cronos
ti nha, com uma foi ce denteada, cortado as partes vi ri s de seu pai Urano
47
e a crena de que os deuses rejei tavam o homem que ti vesse i nsul tado
seu vel ho pai .
48
Nessa poca de Pl ato, ao contrri o, o contraste havi a
se tornado agudo e uma das crenas estava a ponto de cassar a outra.
Pl ato no pode admi ti r que se i magi ne que Zeus tenha se uni do sua
i rm Hera sem o conheci mento de seus pai s, nem que
OS ECONOMISTAS
78
46 Aquel es que possuem grande fortuna e que a admi ni stram, governam uma parte notvel
da ati vi dade humana, e, em conseqnci a, adqui rem comumente o hbi tos da funo que
desempenham. Aquel e que si mpl esmente goza sua fortuna, que admi ni strada por um
i ntendente, no pertence a essa cl asse, da mesma manei ra que o pol ti co no pertence
cl asse dos governantes.
47 HES ODO. Theogonie. 180.
48 HES ODO. Op. et di., 329.
ns crssemos os que nos permi t ssemos afi rmar que Teseu, fi l ho
de Posi do, e Pi ri toos, fi l ho de Zeus, tenham tentado seqestrar
Persfone, ou qual quer outro fi l ho dos deuses, nem que al gum
heri tenha se tornado cul pado de i mpi edade e dos cri mes de
que fal am os poetas.
Com o passar do tempo aumenta a mani a de i nterpretar arti fi -
ci al mente as anti gas crenas e de mudar seu senti do; ao passo que,
como sal i enta com justeza Grote,
a doutri na que se supe ter si do expressa de manei ra si mbl i ca
pel os mi tos gregos e que se obscureci a posteri ormente foi real -
mente i ntroduzi da pel a pri mei ra vez pel a i magi nao i nconsci ente
de i ntrpretes modernos. Era um dos mei os acei tos pel os homens
cul tos para escapar necessi dade de acei tar l i teral mente os an-
ti gos mi tos, para chegar a uma nova forma de crena que cor-
respondesse mel hor i di a que el es fazi am dos deuses.
Da mesma manei ra, os cri stos da I dade Mdi a no vi am, e no
poderi am ver, entre os rel atos da B bl i a e da moral , os contrastes que
os fi l sofos do scul o XVI I I assi nal aram com tanta mal ci a.
49
49. O contraste que acabamos de i ndi car no seno um caso
parti cul ar de um fato mui to mai s geral . Os povos brbaros e os homens
do povo das naes ci vi l i zadas tm mui to mai s a fazer do que estudar
seus senti mentos. Se al gum fi l sofo prati ca a mxi ma conhece-te a ti
mesmo, a grande mai ori a dos homens no se preocupa nada com i sso.
Al m di sso, o homem que tem certos concei tos, que experi menta certos
senti mentos, no se preocupa em col oc-l os em rel aes uns com os
outros, e mesmo quando, com o passar dos tempos, um pequeno nmero
de homens, habi tuados a raci oci nar, chegam a se ocupar di sso, el es se
contentam faci l mente com qual quer rel ao sugeri da por sua i magi -
nao. Assi m, em al guns povos, tudo o que o homem deve fazer
ordenado por Deus; e esse comando forma o l ao que fi xa a rel ao
entre fatos compl etamente di ferentes; os que mai s raci oci nam supem
PARETO
79
49 Como se sabe, Dante, embora profundamente cri sto, cr que a vi ngana justa (I nferno.
XXI X, 31-36).
O Duca mi o, l a vi ol enta morte
Che non gl i vendi cata ancor, di ssi o,
Per al cun che del l enta si a consorte,
Face l ui di sdegnoso: onde sen g o
Senza parl armi , si comi o sti mo:
Ed i n ci mha fatto a s pi pi o."
O mestre, a morte vi ol enta por el e padeci da, e no vi ngada por al gum da nossa esti rpe,
foi o que l evou a apontar-me reprobati vamente e a afastar-se de mi m. Tal desdm mai or
pi edade me i nspi rou.
ALI GHI ERI , Dante. A Divina Comdia. Traduo Donato, H., So Paul o, Abri l Cul tural ,
1979. (N. do T.)
uma l i gao metaf si ca: enfi m, foi somente a parti r do momento em
que a ci vi l i zao fez grandes progressos que um reduzi do nmero de
homens se esfora em pesqui sar os l aos experi mentai s desses fatos.
Se i sso no percebi do de i medi ato, porque se cai no erro
i ndi cado no 9. Supe-se que esses fatos sejam a conseqnci a l gi ca
de um pri nc pi o, e parece ento estranho que el es possam contradi -
zer-se; supe-se que o homem atua sob i nfl unci a dessas dedues l -
gi cas, e no se concebe ento que seus di ferentes atos no possam, em
parte, ser rel i gados uns aos outros.
50. Sob a i nfl unci a desses preconcei tos, o homem procura sempre
restabel ecer entre os fatos as rel aes l gi cas que el e cr deverem,
necessari amente, exi sti r e que s puderam se obscurecer por causa de
um erro grossei ro e de uma profunda i gnornci a.
As tentati vas fei tas para conci l i ar a f com a razo, a rel i gi o
com a ci nci a, a experi nci a e a hi stri a, fornecem-nos exempl os no-
tvei s dessa operao.
preci so constatar que at o momento nenhuma dessas tenta-
ti vas obteve sucesso; ou, ai nda mai s, poder-se-i a col ocar como regra
geral que quanto mai s uma f qual quer tenta conci l i ar-se com a ci nci a,
mai s rpi da ser sua decadnci a;
50
e i sto natural , poi s sufi ci ente
abri r um pouco os ol hos para notar que jamai s al gum se tornou crente
a parti r de uma demonstrao anl oga de um teorema de geometri a.
Da mesma forma, as rel i gi es metaf si cas no tm nenhum, ou
quase nenhum, val or prti co, poi s el as no possuem as qual i dades
necessri as para agi r sobre a razo e sobre o senso do vul gar.
O Exrcito da Salvao, empregando mei os condi zentes com as
pessoas s quai s se di ri ge, possui uma efi cci a soci al mui to mai or do
que a das di scusses metaf si cas mai s sbi as e mai s suti s.
Aquel es que pretendem i ntroduzi r na rel i gi o cri st a cr ti ca hi s-
tri ca da B bl i a no vem a di vergnci a absol uta que exi ste entre a
ci nci a e a rel i gi o, entre a razo e a f, e que el as correspondem a
necessi dades di ferentes. Os Li vros Sagrados possuem val or, no por
sua preci so hi stri ca, mas pel os senti mentos que podem despertar
junto aos que l em; e o homem que, acabrunhado pel a dor, cl ama pel os
socorros da rel i gi o, deseja, no uma sbi a di ssertao hi stri ca, de
que el e no entende nada, mas pal avras de conforto e de esperana.
A rel i gi o, tal como reduzi da por certos tel ogos humani tri os, tor-
nou-se um si mpl es bri nquedo para uso dos l etrados e metaf si cos.
Se ns consi derarmos as soci edades da poca atual , veremos que a
necessi dade de conci l i ao entre os senti mentos rel i gi osos e os outros no
exi ste seno nas camadas superi ores; que, para poder fazer acei tar suas
OS ECONOMISTAS
80
50 I sso o que aconteceu a certo protestanti smo l i beral , que no nem mesmo um te smo.
Um tel ogo defi ni a a rel i gi o o conjunto de todas as sol i dari edades.
elaboraes pelo povo, so obrigadas a apresent-l as de outro pri sma, isto
, como uma conciliao dos i nteresses da f e dos i nteresses materi ais,
os quai s i nteressam principalmente s camadas i nferi ores. dessa manei ra
que vemos se desenvol ver a doutri na dos democratas-cristos.
Os operri os si ndi cal i zados querem ser consi derados pel o menos
i guai s aos burgueses em vi rtude do pri nc pi o de que todos os homens so
i guai s; mas, em segui da, el es j no se preocupam com esse bel o pri nc pi o
e se consi deram mui to superi ores aos operri os no si ndi cal i zados e aos
amarel os. Quando se puseram em greve, os mari nhei ros do porto de
Marsel ha consi deravam que o Governo teri a vi ol ado a l i berdade de greve
se os ti vesse substi tu do por mari nhei ros da mari nha de guerra; quando,
em segui da, os ofi ci ai s da mari nha mercante se puseram, por sua vez,
em greve, os mari nhei ros pedi ram ao Governo que envi asse para comandar
os navi os os ofi ci ai s da mari nha de guerra; el es havi am esqueci do com-
pl etamente o pri nc pi o da l i berdade da greve. esse gnero de sentimentos
que di tava a resposta que um bosqu mano dava a um vi ajante: Quando
al gum rapta mi nha mul her, comete uma m ao; quando eu rapto a
mul her de um outro, fao uma boa ao.
Nas camadas i nferi ores soci al i stas, no notada a contradi o que
exi ste no raci oc ni o dos operri os si ndi cal i zados e dos mari nhei ros mar-
sel heses; e se al gum a percebe, no se preocupa com i sso. Somente os
chefes notam a contradi o, e resol vem-na l ogo por uma casu sti ca suti l ,
e pode at acontecer que, fazendo-o, al guns estejam agi ndo de boa-f.
Uma contradi o das mai s patentes e sofri vel mente cmi ca das
pessoas que recl amam, de um l ado a abol i o dos tri bunai s mi l i tares,
em nome da i gual dade dos ci dados di ante da l ei ; e que, de outro l ado
pedem um foro pri vi l egi ado: o dos consel hos arbi trai s, para os operri os
e empregados.
As mesmas pessoas que aprovavam as sentenas fantasi stas do
presi dente Magnaud, que eram, de caso pensado, expl i ci tamente con-
trri as l ei , fi caram i ndi gnadas com as t mi das reservas fei tas por
outras sentenas a respei to da l ei de separao. No pri mei ro caso el as
di zi am: O jui z deve se dei xar gui ar por seu senti mento de eqi dade,
sem se preocupar com a l ei ; no segundo caso, el as afi rmavam, no
menos resol utamente, que o jui z tem que apl i car estri tamente a l ei
e, se seus senti mentos l he forem contrri os, no deve se dei xar l evar.
O senti mento antecedendo a razo i mpede de ver uma contradi o to
evi dente ou, pel o menos, de l ev-l a em consi derao.
Na I tl i a, as sentenas dos tri bunai s em matri a de di famao
pri vada so nul as e no procedentes quando os cul pados so deputados
soci al i stas e i sso provado pel os parti dri os de uma i gual dade ri go-
rosamente absol uta dos ci dados di ante da l ei .
Os i ntel ectuai s que acusaram com feroci dade os procedi mentos
dos tri bunai s mi l i tares em um processo cl ebre, e que encheram o
mundo com suas quei xas, escutam, sem protestar, o procurador geral
PARETO
81
Bul ot afi rmar que exi ste uma razo de Estado di ante da qual o jui z
deve se i ncl i nar sob pena de ser desti tui do.
51
E apesar das cl aras pa-
l avras de Bul ot, que el e mesmo chamou de manei ra expl ci ta, o fato
do pr nci pe, exi stem pessoas que acredi tam que a Repbl i ca est i senta
de erros semel hantes, prpri os da monarqui a.
Outros i ntel ectuai s i magi nam, de boa-f, que somente os catl i cos
ameaam a l i berdade de pensamento; e, para consegui r essa l i berdade,
aprovam, sem restri es, as persegui es di ri gi das contra os catl i cos, e
so admi radores de Combes. E mesmo quando este decl ara cl aramente
que seu desejo estabel ecer uma nova f, uni forme, to i ntol erante quanto
as outras,
52
no percebem a contradio em que caem.
O anti al cool i smo, em certo nmero de pa ses, tornou-se uma re-
l i gi o e tem parti dri os ferozes; al guns entre estes acei tam i gual mente
a rel i gi o do materi al i smo ou qual quer outra semel hante, que os torne
adversri os decl arados do catol i ci smo e l hes permi ta zombar da obri -
gao de jejuar! Se al gum l hes observa que, no fundo, i mpor a um
homem o jejum em certos di as uma prescri o do mesmo ti po, embora
menos i ncmoda, que a proi bi o de consumi r uma pequena quanti dade
de bebi das al col i cas, el es acredi tam resol ver a contradi o di zendo
que suas prescri es se api am na verdadei ra ci nci a, na sacrossanta
ci nci a democrti ca e progressi sta; o que si gni fi ca si mpl esmente que
certos mdi cos, entre as tantas coi sas mai s ou menos razovei s que
afi rmam, acrescentam aquel as; e esses sectri os esquecem, ou fi ngem
esquecer, ou no percebem, que sua ci nci a confi rma as prescri es
OS ECONOMISTAS
82
51 Comuni cado ofi ci al i mprensa da sesso de 24 de junho da Comi sso Parl amentar de
I nquri to sobre o caso dos Chartreux.
"Sembat Fal astes, vs tambm, Sr. Procurador Geral , do i nteresse superi or. Exi ste,
portanto, uma razo do Estado di ante da qual um magi strado obri gado a se i ncl i nar?
"Bulot Sob pena de ser revogado, evi dentemente (Ri sos).
"Berthoulat Como aconteceu que a i nstruo tenha conti nuado a andar, embora ai nda
no ti vssei s o nome que decl arasses i ndi spensvel ao Presi dente do Consel ho?
"Bulot El a no conti nuou por mui to tempo e chegou a uma i mprocednci a porque
no se podi a i r mai s l onge; eu me i ncl i nei di ante da razo de Estado, di ante do fato do
pr nci pe, se o querei s."
Se se admi te o fato do pr nci pe, compreende-se porque os magi strados foram to i n-
dul gentes para com os Humberts e to duros para com as v ti mas desses cl ebres escroques.
FUNK-BRENTANO. LAffair du Collier. Pari s, 1901. p. 325: E tal era o poder absol uto
da monarqui a do anti go regi me.(...) A honra da rai nha est em jogo, a coroa pode ser
ati ngi da. O rei confi a o cui dado do jul gamento a um tri bunal no qual nenhum dos ju zes
foi por el e nomeado; a magi strados sobre os quai s el e no tem nenhum poder e no poder
ter em nenhum momento de suas carrei ras, de nenhuma manei ra; a magi strados que, por
esp ri to e por tradi o, l he so hosti s. Assi m como mostra Bugnot, o prpri o procurador
do rei no , no Parl amento, l i vremente escol hi do pel o rei . Mai s ai nda, a est at mesmo
o control ador geral , assi sti do do bi bl i otecri o do rei (...) que combate di retamente, em
ci rcunstnci a to grave, os i nteresses do rei e de sua autori dade. Ni ngum se espanta.
Exi ste hoje um Governo que tenha a al egri a de ver fl orescer, sob seus ol hos, tamanhas
l i berdades?.
O Governo que concedi a tai s l i berdades, era o Governo de uma cl asse em decadnci a,
e cai u; o Governo que hoje as supri me o Governo que se ergue e que prospera. E a
burguesi a, i gnorante e pregui osa, ajuda-o com seu di nhei ro.
52 Ver nota ao 94.
catl i cas, mostrando que se pode evi tar certas doenas fazendo jejum.
53
Poder amos ci tar um nmero i nfi ni to de exempl os semel hantes a pro-
psi to de todas as espci es de sectri os fanti cos, em todas as pocas
e em todos os pa ses.
Herber Spencer ressal ta
a contradi o absol uta que exi ste em toda a Europa entre os
cdi gos que regul amentam a conduta, e que se acomodam tanto
s necessi dades da ami zade no i nteri or quanto aos da i ni mi zade
aos de fora;
54
mas, para conci li ar esses precei tos opostos, el e toma um desvi o: supri me
os lti mos, em nome de sua moral , e no l he chega ao espri to que esses
precei tos podem tambm ser tei s e to i ndi spensvei s quanto os primei ros.
51. Determi nadas ci rcunstnci as favorecem o desenvol vi mento
dos senti mentos de determi nada categori a; outras ci rcunstnci as de-
termi nadas l he so contrri as. Assi m se mani festa uma das pri nci pai s
qual i dades de dependnci as desses fenmenos, vi sto terem el es uma
ori gem comum. a essa categori a que pertence, em grande parte, a
dependnci a que exi ste entre os senti mentos rel i gi osos e os senti mentos
morai s, como j observamos no 43; el es so ami de favoreci dos ou
contrari ados ao mesmo tempo, e i sso que se deve di zer de manei ra
ai nda mai s preci sa, de todos os senti mentos anl ogos.
55
Da mesma
manei ra a chuva faz brotar di ferentes espci es de gram neas em um
prado, uma seca prol ongada l he prejudi ci al ; dessa manei ra que se
l i gam entre os senti mentos de que hav amos fal ado, porm i sso no
si gni fi ca que uma espci e depende de outra ( 70).
PARETO
83
53 Em 1904, numa comuni cao fei ta na Academi a de Medi ci na de Pari s, o doutor Lucas-
Champi onni re, concl u a que se al i mentar de carne favorece as doenas i ntesti nai s e a
apendi ci te depoi s da gri pe; el e aconsel ha comer vegetai s de manei ra i ntermi tente, i sto ,
emagrecer de tempos em tempos.
No momento da publ i cao de nossos Systmes Socialistes, l orde Sal i sbury acabava de
rechaar uma das numerosas l ei s absurdas apresentadas pel os senhores anti al col i cos; mas
seus sucessores fi zeram aprovar uma l ei semel hante. Systmes Socialistes. I , p. 274.
Tendo Yves Guyot pedi do que l he demonstrassem que o absi nto um veneno, um bom
humani tri o l he respondeu propondo, para deci di r a questo, a segui nte experi nci a: Cada
um de ns beber durante 24 horas, el e, doi s l i tros de absi nto, eu, doi s l i tros de gua.
Se os humani tri os se di gnassem a raci oci nar, poder-se-i a observar que, segundo essa
proposta, o mei o de deci di r se uma substnci a ou no txi ca, a comparao dos efei tos
que produzem, em quanti dades i guai s, a i ngesto dessa substnci a e a da gua. Yves Guyot
poderi a ento fazer uma contraproposta a seu adversri o e l he pedi r para consumi r, durante
24 horas, doi s l i tros de sal (cl oreto de sdi o), enquanto Guyot se contentari a em beber doi s
l i tros de gua. O sal de mesa encontrar-se-i a, assi m, cl assi fi cado entre as substnci as
txi cas cujo uso deve ser proi bi do.
54 Morale des Divers Peuples.
55 Ei s um fato que se encontra em rel ao di stanci ada, mas no negl i genci vel , com esse
outro bem conheci do de que aquel e que dorme segui damente por hi pnoti smo perde toda a
capaci dade de resi stnci a e pode ser adormeci do por um si mpl es gesto.
A esses pri nci pi as gerai s preci so atar as observaes de S. Rei -
nach, que v nos tabus a ori gem da ti ca.
A rel i gi o pri mi ti va de Roma no era seno um cul to quase que
vazi o de concepes teol gi cas; e essa ci rcunstnci a no estranha ao
esp ri to de di sci pl i na dos romanos, e em conseqnci a, de sua domi -
nao sobre toda a baci a do Medi terrneo.
52. No o caso de di zer que dev amos encontrar em todos os povos
todos os senti mentos, nem que todos os senti mentos aumentam ou di mi -
nuem em i ntensi dade, de manei ra i gual . I sso si gni fi ca si mpl esmente que
esses senti mentos que, por i nmeras razes, encontram-se em um povo,
so submeti dos a determi nadas ci rcunstnci as que atuam sobre todos
el es. Por exempl o, um povo pode ter certos senti mentos A, B, C..., e outro
povo os senti mentos B, C... e no ter o senti mento A. Se certas ci rcuns-
tncias vm a mudar, os senti mentos do pri mei ro povo tornar-se-o A,
B, C..., tendo sua i ntensi dade modi fi cada, porm no na mesma medi da;
e ser a mesma coi sa para os senti mentos do outro povo.
53. Esses senti mentos no somente di ferem de povo para povo,
mas em um mesmo povo di ferem segundo os i ndi v duos; e as ci rcuns-
tnci as que atuam sobre esses senti mentos tm efei tos di ferentes de
i ndi v duos. Para as pessoas nas quai s exi ste mai or i ndependnci a dos
senti mentos, certas categori as de senti mentos podem ser favoreci das
ou contrari adas para aquel a cuja i ndependnci a menor, as di ferentes
categori as de senti mentos so favoreci das e contrari adas ao mesmo
tempo. por i sso que se pode encontrar faci l mente, nas camadas su-
peri ores da popul ao, pessoas com ausnci a de certos senti mentos
enquanto outros so bastante desenvol vi dos.
56
54. Se os homens vi vessem compl etamente separados uns dos
outros, poderi am ter senti mentos rel i gi osos, morai s, de patri oti smo etc...
compl etamente di ferentes; mas os homens vi vem em soci edade e, em
conseqnci a, mai s ou menos num estado de comuni smo no que di z
respei to aos seus senti mentos. Os patri mni os materi ai s podem ser
i ntei ramente separados; os patri mni os dos senti mentos e da i ntel i -
gnci a so, pel o menos em parte, comuns.
55. As mudanas que se produzem nos senti mentos de uma cl asse
soci al atuam de tal manei ra que l evam a outras mudanas nos senti -
OS ECONOMISTAS
84
56 BAYL. Penses Diuerses... lOccasion de la Comte. 4a. ed. p. 353: (...) eu sal i entari a
que essas poucas pessoas que fi zeram profi sso aberta de ate smo entre os anti gos, um
Di goras, um Teodoro, um Evmre e al guns outros, no vi veram de manei ra a fazer gri tar
contra a l i berti nagem de seus costumes. Eu no vejo por que acus-l os de se terem di s-
ti ngui do pel os desregramentos de sua vi da. (...)
Esse argumento, comumente ci tado com val or geral (encontramo-l o tambm em Spencer,
Fatos e Comentrios) tem apenas o val or mui to restri to i ndi cado no texto.
mentos das outras cl asses. O movi mento pode ser mai s ou menos rpi do,
s vezes at mesmo mui to l ento. Comumente os senti mentos so ata-
cados e enfraqueci dos pel o raci oc ni o das cl asses superi ores, e somente
i ndi retamente que, mai s tarde, esse movi mento se estende s cl asses
i nferi ores. El e ento muda segui damente de carter e de forma; ra-
ci oc ni o cti co das cl asses superi ores pode ser, nas cl asses i nferi ores,
a ori gem de uma nova f. I nversamente, os senti mentos das cl asses
i nferi ores atuam sobre o esp ri to das cl asses superi ores, que os trans-
formam em raci oc ni os pseudoci ent fi cos.
57
56. Os anti gos espartanos ti nham o senti mento do amor ptri a
em grau el evado; parece que eram tambm mui to rel i gi osos, porm
no eram morai s no mesmo grau.
58
Al i s, o que se pode di zer da
mai ori a dos hel enos; e ai nda mai s notvel constatar o que confi rma
mel hor nossa proposi o geral que, tendo mudado as ci rcunstnci as,
todos os senti mentos se enfraqueceram conjuntamente tanto os fortes
quanto os fracos.
57. Em Atenas podemos, graas s produes l i terri as, segui r
a decadnci a dos senti mentos rel i gi osos nas cl asses i ntel ectual mente
superi ores, desde a poca de squi l o, passando por Eur pi des, at o
tempo dos c ni cos, dos epi curi stas e dos cti cos. As cl asses i nferi ores
resi sti am i rrel i gi o e segui am l entamente o exempl o que l hes vi nha
do al to. Numerosos fatos fornecem-nos a prova dessa resi stnci a;
sufi ci ente l embrar as condenaes de Di goras, de Scrates etc. Pode-
mos constatar um fenmeno anl ogo em Roma, nos tempos de C cero,
no momento em que, por outro l ado, a resi stnci a das cl asses popul ares
era si mpl esmente passi va; mas el a tornou-se ati va e estendeu-se s
cl asses superi ores quando se propagaram os cul tos ori entai s e quando
fi nal mente o cri sti ani smo tri unfou e persegui u os fi l sofos. Constatam-
se reaes do mesmo gnero no momento em que se fundaram as Ordens
mendi cantes; depoi s, quando a i rrel i gi o das cl asses cul tas, pri nci pal -
mente no mundo l ati no, foi repudi ada pel a grande reao rel i gi osa do
protestanti smo; e novamente, na Frana, quando a i rrel i gi o das cl asses
al tas conduzi u revol uo de 1789, que foi como justamente sal i enta
Tocquevi l l e, uma revol uo religiosa.
58. Observemos que, em todos esses casos e em outros seme-
l hantes que poder amos ci tar, a reao rel i gi osa foi acompanhada de
PARETO
85
57 Pode-se encontrar tantos exempl os quanto se quei ra na Anti gui dade, na I dade Mdi a e nos
tempos modernos.
58 COULANGES, Fustel de. Nouvelles Recherches sur Quelques Problmes DHistoire. p. 92:
No exi ste ci dade grega em que a Hi stri a assi nal e tantos fatos de corrupo. E el e ci ta
um grande nmero desses fatos.
uma reao moral .
59
A descri o desses fenmenos sempre a mesma;
o uso da razo enfraquece, nas cl asses superi ores, os senti mentos re-
l i gi osos e ao mesmo tempo os senti mentos morai s, s vezes tambm
os do patri oti smo e ento aparecem os cosmopol i tas; geral mente se
pode di zer que di mi nuem i gual mente mui tos senti mentos no l gi cos.
O movi mento se estende, pouco a pouco, s cl asses i nferi ores; depoi s pro-
voca-l hes uma reao que faz revi ver nessas cl asses i nferi ores os senti -
mentos rel i gi osos e morai s, s vezes at os senti mentos de patri oti smo.
Esse senti mento, nasci do assi m nas cl asses i nferi ores, estende-se, pouco
a pouco, s cl asses superi ores onde os senti mentos rel i gi osos adqui rem
nova fora. E, em segui da, esses senti mentos se enfraquecem novamente,
da mesma manei ra como se enfraqueceram os anti gos. Comea assi m um
novo ci cl o semel hante aquel e que acabamos de descr ever . assi m
que se pr oduzem essas var i aes r tmi cas que for am obser vadas,
h mui to tempo, na i ntensi dade dos senti mentos r el i gi osos.
60
59. preci so no esquecer que fal amos dos senti mentos e que
no devemos confundi -l os com a forma com que podem se revesti r.
Acontece mui tas vezes que a reao popul ar ao mesmo tempo que
reani ma, exal tando os senti mentos rel i gi osos, d-l hes nova forma; no
, porm, o anti go fervor rel i gi oso que reaparece, mas uma nova f.
preci so no mai s confundi r os senti mentos rel i gi osos com o cul to; aque-
l es podem di mi nui r e este permanece vi vaz. Que no se acredi te mai s
tambm que os senti mentos rel i gi osos tenham, necessari amente, por
objeto um deus pessoal ; o exempl o do budi smo seri a sufi ci ente para i m-
pedi r-nos de cai r em erro to grossei ro; temos al is, um exempl o hoje no
soci al i smo, que se transformou, prati camente, em rel i gio ( 85 nota).
60. Se as cl asses superi ores pudessem e qui sessem conservar
para si o fruto de seus raci oc ni os, essa sri e de aes e de reaes
OS ECONOMISTAS
86
59 BOI SSI ER, G. La Religion Romaine. I I , p. 377. O autor assi nal a como um fato si ngul ar
aqui l o que contrri o regra. A propsi to da soci edade romana do scul o I I I de nossa
era, di z: O que torna to notvei s as mudanas que se real i zam nas opi ni es rel i gi osas
que el as coi nci dem com as que se observam na moral i dade pbl i ca.
LA. Histoire de lI nquisition. Trad. S. Rei nach. I , p. 126 (p. 111 do ori gi na]). D um
exempl o do despertar da moral ao mesmo tempo que dos senti mentos rel i gi osos: Uma
tarde em que el e (Gervai s de Ti l bury) passeava a caval o na escol ta de seu arcebi spo Gui l -
l aume, sua ateno foi chamada por uma boni ta jovem que trabal hava sozi nha numa vi nha.
El e i medi atamente l he fez propostas, mas el a o repel i u di zendo que, se o escutasse, seri a
i rrevogavel mente condenada. Uma vi rtude to severa era um ndi ce mani festo de heresi a;
o arcebi spo mandou, i medi atamente, que se conduzi sse a jovem pri so como suspei ta de
catari smo.
MAQUI AVEL. Discorso sulla Prima Decade di Tito Livio. I , 12. Fal ando de sua poca,
responsabi l i za a I greja de Roma pel as desgraas da I tl i a, porque pel os maus exempl os
dessa corte, esta prov nci a perdeu toda devoo e toda rel i gi o, o que provoca desordens
sem nmero. (...) Temos, portanto, ns i tal i anos, esta pri mei ra obri gao com rel ao
I greja, e aos padres, poi s nos tornamos sem rel i gi o e mal dosos. (...)
60 Systmes Socialistes. I , p. 30.
seri a, tal vez, menos freqente e menos i ntensa. Mas, por condi es
prpri as da vi da soci al , di f ci l que as cl asses superi ores possam faz-l o;
el as nem mesmo fazem o pouco que poderi am porque, fora aquel es
que traem sua cl asse para buscar ganhos i l ci tos, outros i ndi v duos,
materi al mente honestos, pertencentes s cl asses superi ores, so l evados
pel a fal ta de bom senso a fazer as cl asses i nferi ores parti ci parem de
seus raci oc ni os; e, al m di sso, so l evados pel a i nveja e pel o di o que
el es sentem pel as anti gas doutri nas rel ati vas ao senti mento, que el es
querem jul gar, com o grav ssi mo erro de l evar em conta somente a
l gi ca i ntr nseca. E no compreendendo seu al to val or soci al , consi de-
ram-na como vs supersti es dando assi m prova de um defei to de
raci oc ni o que el es tomam por sabedori a.
61. Agi ndo dessa manei ra, e na medi da em que obtm sucesso
em seu projeto, que consi ste geral mente em enfraquecer certas formas
do senti mento rel i gi oso nas cl asses i nferi ores, ati ngem i gual mente esse
outro objeti vo, a que, certamente no se propunham, de enfraquecer
i gual mente os senti mentos morai s. Quando, em segui da, vem nascer
a reao dos senti mentos rel i gi osos, sob a anti ga ou sob nova forma,
sua razo encontra-se ofendi da, venci da, e, em suma chegam at onde
certamente no queri am chegar.
62. Em Atenas, a resi stnci a das cl asses i nferi ores no se trans-
formou numa reao que ati ngi sse as cl asses superi ores; e i sso prova-
vel mente no ocorreu porque o fenmeno foi perturbado pel a conqui sta
romana. Essa coexi stnci a, durante certo tempo, de uma cl asse superi or
onde a razo domi nava e de uma cl asse i nferi or onde domi nava o
senti mento, no uma das menores razes do desenvol vi mento ex-
traordi nri o da ci vi l i zao de Atenas naquel a poca.
61
63. J em torno de Pri cl es se reuni am as pessoas que fal avam
l i vremente das crenas popul ares, e suas conversas na casa de Aspsi a
fazem pensar nos sal es franceses vspera da revol uo; nos doi s
casos, a fi l osofi a se mi sturava, com graa, aos costumes fcei s.
62
As
PARETO
87
61 Vejam, em outro senti do, porm anl ogo, o exempl o de Ci pi o e de seus companhei ros.
Systmes Socialistes. I , p. 303.
62 PLUTARCO, Pricles. 24. Conta Pl utarco que Aspsi a fazi a comrci o de cortess. Ath.,
XI I I , p. 570: ,
... Aspsi a, a socrti ca, fazi a comrci o de mui tas bel as
mul heres, e graas a el a a Grci a encheu-se de prosti tutas. Os autores cmi cos acrescen-
taram coi sa de sua l avra, mas, em suma, o fato no parece duvi doso, ou pel o menos, no
h nem mai s nem menos probabi l i dade do que em todos os fatos da hi stri a grega.
PLUTARCO, Pricles. 32. Conta como Aspsi a foi acusada de i mpi edade () por
Herm pi o, e tambm de i ntermedi ri a por haver proporci onado mul heres l i vres a Pri cl es.
At F di as foi acusado de haver exerci do a mesma profi sso de i ntermedi ri o em favor de
Pri cl es. (I b., 13.)
acusaes di ri gi das contra Aspsi a e contra Anaxgoras ti veram tal vez
por ori gem o di o pol ti co que se ti nha dedi cado a Pri cl es; mas a prpri a
forma da acusao, que foi uma acusao de i mpi edade, deve ter ti do
tambm al gum apoi o nos fatos; i sso cl aro para Anaxgoras. Foi por
mei o de suas conversas com esse fi l sofo, segundo Plutarco (Pricles, 6),
que Pri cl es aprendeu a conhecer a vai dade das supersties popul ares
no tocante aos mi l agres. J em Anaxgoras se enfraqueci a, ao mesmo
tempo que a rel i gi o, o amor ptri a;
63
fi nal mente Di genes, o precursor
de nossos internacionalistas, decl ara-se abertamente cosmopol i ta.
64
64. Dos di scursos dos fi l sofos e das produes cni cas, a i rrel i gi o
se espal hou pel o povo, porm no sem resi stnci a. Eur pedes comeava
assi m seu drama de Melanipo: Zeus, quem quer que el e seja, j que
s l he conheo o nome, mas o pbl i co chocou-se tanto que el e teve
que mudar esse verso.
65
Mui tas passagens de seus dramas so di ri gi das
contra a rel i gi o, pel o menos como a entendi a o vul go; el e col oca mesmo
em dvi da os fundamentos da moral .
66
65. O exempl o de Scrates i nstruti vo. El e era mui to respei toso
das crenas popul ares, mui to moral i sta, submi sso s l ei s de sua ptri a
a ponto de suportar a morte para no se furtar a essas l ei s, no entanto,
sua obra foi , i nvol untari amente, di ri gi da contra a rel i gi o, a moral , o
amor ptri a; e i sso porque, pel a sua di al ti ca, l evando os homens a
pesqui sar fazendo uso da razo, el e destru a os moti vos e a natureza
desses senti mentos em suas bases. Ei s um exempl o caracter sti co da
teori a exposta no 43.
66. Chega-se assi m a concl uses aparentemente paradoxai s; en-
quanto as acusaes di ri gi das contra Scrates so fal sas do ponto de
vi sta formal e do parti cul ar, el as so verdadei ras no fundo e no geral .
De todas as acusaes fei tas por Ari stfanes em suas Nuvens, nenhuma
l i teral mente verdadei ra, mesmo em parte, e no entanto a i di a geral
que as nuvens deveri am fazer nascer nos que as escutavam, a saber,
OS ECONOMISTAS
88
63 DI GENES LARCI O. I I , 6: A al gum que l he perguntava: no te preocupas com a
ptri a? El e respondeu: eu me preocupo mui to com a ptri a, e mostrava o cu.
64 DI GENES LARCI O. VI , 63: Quando l he perguntaram o que el e era, el e respondeu:
cosmopol i ta: ; , . Ver tambm: LUCI ANO. Vitar. auc-
tione. I gual mente EPI CTETO. Aria., Epic. Diss., I I I , 24; e ANT GENES. Philo. I ud. I sso
di to tambm de Scrates, mas i sso pouco provvel .
65 El e substi tui u-o por este verso: Zeus, assi m o chamamos em verdade; PLUTARCO. Amat.,
XI I I , 4. Ver tambm LUCI ANO I piter Trgico. 41; lust. mart. p. 41.
66 As Fencias. 504, 525; I on, 1051 etc. Por outro l ado, as pal avras que el e pe na boca de
Hi pl i to di zendo que a l ngua jurou, mas o esp ri to no, e que os contemporneos as
reprovaram, segui damente, como mui tos i morai s, si gni fi cam, na real i dade, que a promessa
obti da pel a fraude e pel a astci a no tem necessi dade de ser respei tada; com o que, em
certa medi da, pode-se, al i s, concordar. Temos a um exempl o de casu sti ca: Systmes So-
cialistes. I , p. 29. ARI STTELES. Retrica. I , 15, 29.
que a obra de Scrates era, em l ti ma anl i se, contrri a aos senti -
mentos rel i gi osos e morai s, compl etamente justi fi cada. Da mesma
manei ra fal so que Scrates no tenha consi derado como deuses aque-
l es que a ci dade reputava como tai s, mai s fal so ai nda que el e tenha
corrompi do a juventude,
67
como pretendi a a acusao que o conduzi u
morte, pel o senti do dado pal avra corromper por seus acusadores;
no menos verdade que, di scuti ndo tudo com todo mundo, el e atacava
i nconsci entemente a crena nos deuses da ci dade e corrompi a os jovens,
na medi da em que enfraqueci a nel es a f necessri a para agi r de acordo
com o bem da ci dade. Al m di sso, ci rcunstnci a que mui to honra S-
crates e que, de manei ra abstrata, parece aumentar mui to seus mri tos,
o fato de no cobrar seu ensi namento, o que, preci samente, tornava
seu ensi no mai s peri goso para a ci dade. Com efei to, os sofi stas que se
fazi am pagar mui to caro s podi am ter um pequeno nmero de ouvi ntes
que pertenci am, em sua mai ori a, ari stocraci a i ntel ectual , el es no
poderi am, conseqentemente, abal ar as crenas naci onai s seno de um
pequeno nmero de pessoas e os sofi stas podi am mesmo fazer mai s bem
do que mal porque seus di sc pul os estavam habi tuados ao uso da razo.
Scrates, pel o contrri o, di ri gi a-se ao arteso, ao homem que, pel as pre-
ocupaes da vi da di ri a, vi a-se i mpossi bi l i tado de acompanhar, com su-
cesso, os l ongos raci oc ni os, suti s e abstratos, e el e destru a sua f sem
poder, de manei ra al guma, substi tu -l a por raci oc ni os ci ent fi cos.
67. Essa obra i nsi di osa e nefasta era vi vamente senti da pel os con-
temporneos, que compreendi am i nsti nti vamente todo mal que el a poderi a
fazer; por essa razo Scrates teve i ni mi gos tanto entre os parti dri os da
ol i garqui a como da democraci a; os Tri nta proi bi ram-l he expressamente
de fal ar com os jovens,
68
os democratas condenaram-no morte.
68. Como observa Zel l er (Philosophie der Griechen. 2 edi o, v.
I I I , p. 193.) o mal era geral e no se l i mi tava ao ensi no de Scrates:
Os homens cul tos desse tempo havi am todos passado pel a escol a de
uma cr ti ca i ndependente que havi a sol apado os fundamentos da crena
e da moral i dade tradi ci onai s. O prpri o Ari stfanes, que queri a re-
conduzi r seus contemporneos s i di as anti gas, todo pl eno das i di as
de seu tempo.
69. preci so no se esquecer de uma ci rcunstnci a que no tem
grande i mportnci a para a hi stri a dessa poca, mas que adqui re val or
PARETO
89
67 DI GENES LARCI O. I I , 40: ... .
68 XEROFONTE. Memorveis, I , 2, 36. Os Tri nta fi zeram vi r Scrates di ante del es e este, fi ngi ndo
no entender, perguntou se, quando comprava a um homem de menos de tri nta anos, el e no
deveri a l he perguntar o preo. Cri cl es respondeu que el e poderi a faz-l o, mas tu tens o hbi to,
Scrates, de perguntar o que j sabes perfei tamente; dei xa para l essas i nterrogaes. Cr ti as,
outro membro dos Tri nta, di z: Convm, Scrates, que no te ocupes dos sapatei ros, dos mar-
cenei ros, dos ferrei ros, poi s el es esto cansados dos teus di scursos.
porque permi te-nos descobri r uma anal ogi a com outros fenmenos pos-
teri ores: ao passo que as anti gas crenas di mi nu am, as prti cas dos
Mistrios espal havam-se consi deravel mente. Temos a a i ndi cao de
um outro ti po de resi stnci a que se mani festou fortemente em outros
fenmenos, i sto , vemos fenmenos rel i gi osos resi sti rem mani festan-
do-se sob uma nova forma ( 59).
70. Resta-nos ver como os senti mentos morai s e de patri oti smo
di mi nu ram de i ntensi dade ao mesmo tempo que os senti mentos rel i -
gi osos. Observemos que fal amos somente dos senti mentos que se l i gam
a rel i gi es posi ti vas e no daquel es que dependem das rel i gi es me-
taf si cas que, por sua prpri a natureza, so segui dos somente por um
nmero mui to restri to de pessoas ( 50).
Se compararmos a poca de Maratona de Scrates, as opi ni es
so di vergentes. Al guns, como Grote, no acredi tavam que os costumes
esti vessem em decadnci a; outros, como Zel l er, consi deravam, pel o con-
trri o, que el es havi am se tornado pi ores; mas, se descermos at os
tempos de Demtri o Pol i orceto, por exempl o, a decadnci a dos costumes
decl arada, e ni ngum a nega.
69
I sso sufi ci ente para sustentar nossa
proposi o geral , segundo a qual os senti mentos rel i gi osos, ti cos, pa-
tri ti cos, decrescem ou aumentam juntos; enquanto que a questo de
saber se a decadnci a comeou no tempo de Scrates i nteressa somente
para estabel ecer a rapi dez com que o movi mento se propagou das cl asses
superi ores s i nferi ores.
71. Se podemos confiar nas comparaes que os contemporneos
fazi am entre os costumes anti gos e os de sua poca, dever amos concl ui r
que, desde o tempo de Scrates, e mesmo antes, os costumes estavam
fortemente em decadnci a; mas essas comparaes, ainda quando feitas
por homens como Tuc di des (I I I , 82, 83), no tm nenhum valor, porque
todos os escri tores anti gos comparti l havam desse preconcei to de que o
presente era pi or do que o passado.
70
necessri o que rejei temos i ntei -
OS ECONOMISTAS
90
69 enorme a di ferena entre os ateni enses que ti nham recusado a terra e a gua pedi da
por Dari o e que ti nham, em segui da, sustentado o choque da poderosa frota dos persas
em Sal ami na, e os ateni enses que se prosternaram frouxamente aos ps de Demtri o Po-
l i orceto. El es col ocaram este e Ant gono no nmero de seus deuses-salvadores e substi tu ram
o nome do arconte que servi a para desi gnar o exrci to pel o do sacerdote dos deuses-salva-
dores. Consagrou-se o l ugar em que Demtri o desceu pel a pri mei ra vez e ergueu-se uma
esttua a Demtrio-salvador. Decretou-se que os personagens envi ados a Demtri o no se
chamari am embai xadores, mas theors, como os que se envi avam P ti a e ao Ol i mpo. El es
mudaram at o nome de um de seus meses, que chamaram Demtri o. Pode-se ver o resto
em PLUTARCO. Demtrio, 10, 11, 12.
70 HORCI O. Carmina. I I I , VI . Resume uma opi ni o secul ar neste verso:
Aetas parentum, pejor avi s, tul i t
Nos nequi ores, mox daturos
Progeni em vi ti osi orem.
Nossos pai s eram pi ores que nossos avs, ns somos pi ores que nossos pai s e ns dei xaremos
fi l hos pi ores que ns. Em nossos di as, a opi ni o contrri a tornou-se arti go de f.
ramente essa confi rmao fci l mas enganadora de nossa proposi o
geral e buscar, por outro cami nho, se el a est de acordo com os fatos.
72. Temos que recorrer hi stri a. O contraste demasi ado grande
entre os heri s de Sal ami na e os i neptos cortesos de Demtri o Po-
l i orceto, e exi stem fatos semel hantes o bastante para que no tenhamos
a menor dvi da a esse respei to.
73. Acrescentamos que a dvi da que ati nge as comparaes entre
o passado e o presente no exi ste quando se trata de fatos da mesma
poca e temos ento o testemunho de Pol bi o. El e sal i enta
71
que
o excesso de rel i gi o, que os outros povos tomam por v ci o,
que mantm a repbl i ca romana. A rel i gi o exal tada e tem
um poder extraordi nri o em todos os negci os pri vados. Mui tos
se espantaro, mas eu crei o que i sso se deu devi do a mul ti do.
72
Se fosse poss vel ter uma repbl i ca composta uni camente de s-
bi os, tal vez i sso no fosse necessri o. (...) Em conseqnci a, pa-
rece-me que as anti gas opi ni es sobre os deuses e as penas do
i nferno no foram i ntroduzi das no esp ri to do vul go nem por acaso
nem com temeri dade, ao passo que el as foram rejei tadas pel os
modernos com mui to mai s temeri dade e i nsani dade.
73
Por i sso,
sem fal ar do resto, aquel es que junto aos gregos mani pul am a
fortuna pbl i ca, se l hes confi amos al gum tal ento, mesmo quando
el es possuem dez caues, dez sel os e um nmero dupl o de tes-
temunhas, no respei tam a f jurada; ao passo que, entre os
gregos, aquel es que mani pul am somas consi dervei s, como ma-
gi strados ou comi ssri os do Senado, respei tam a pal avra dada,
pel o respei to a seu juramento.
Logo mai s, entretanto, na poca de Sal sti o e de C cero, os ro-
manos tornaram-se semel hantes aos gregos de Pol bi o.
74. preci so sal i entar doi s pontos do que di sse Pol bi o: 1) os
fatos; e no exi ste nenhuma boa razo para cr-l os exatos; 2) a i nter-
pretao; esta parti l ha o erro corrente que consi ste em estabel ecer
uma rel ao de causa e efei to entre os senti mentos rel i gi osos e os
morai s, enquanto h apenas uma rel ao de dependnci a de ori gens
e razes comuns (I I , 43).
PARETO
91
71 VI , 56, 57 et seqs.
72 .
73 Ci pi o, o Afri cano, ti nha em seu redor um grupo de ami gos, entre el es Pol bi o, e mui to
provvel que este reproduzi sse as i di as desse grupo.
Mai s tarde, C cero, De har. resp., 9, torna sua uma i di a que era corrente em Roma,
decl arando que, por causa de sua rel i gi o, os romanos ti nham venci do outros povos: omnes
gentes nationesque superavimus.
75. ( 6, ) Pesqui semos como nascem e se mantm esses senti -
mentos, e, para i sso, consi deremos um probl ema mai s geral , o de saber
como e por que exi stem na soci edade fatos A, B, C..., sejam senti mentos,
i nsti tui es, hbi tos etc.
76. Recentemente, deu-se uma soluo a esse probl ema que, se pu-
desse ser acei ta, seri a perfei ta e de um gol pe fari a da Soci ol ogi a uma das
ci ncias mais avanadas. Obtm-se essa sol uo estendendo aos fatos so-
ci ai s a teori a de Darwi n para expl i car a forma dos seres vi vos; e certo
que exi ste semel hana entre os doi s casos. Di remos ento que os senti -
mentos, as institui es, os hbi tos de uma soci edade dada so aquel es
que correspondem mel hor s ci rcunstnci as nas quai s se encontra essa
soci edade, o que si gni fi ca uma adaptao perfei ta entre uns e outros.
77. Os fatos parecem confi rmar essa sol uo, poi s el a contm, com
efei to, uma parte da verdade, que preci samente a que se encontra na
teori a das formas dos seres vi vos, posta l uz do di a pel os neodarwi ni stas.
Devemos, com efei to, admi ti r que a sel eo i ntervm somente para destrui r
as formas pi ores, que se di stanci am demasi ado daquel as que so adaptadas
s ci rcunstnci as nas quai s se encontram os seres vi vos, ou as soci edades;
portanto, el a no determi na preci samente as formas, mas esti pul a certos
l i mi tes que essas formas no devem ul trapassar.
Dessa manei ra, certo que um povo bel i coso no pode ter senti -
mentos absol utamente frouxos, i nsti tui es excessi vamente pac fi cas, h-
bitos de fraquezas; mas, al m desses l i mi tes, seus senti mentos, suas i ns-
ti tui es, seus hbi tos podem vari ar consi deravel mente e, por conseqn-
ci a, so determi nados por outras ci rcunstncias estranhas sel eo.
78. Os povos pouco ci vi l i zados tm i nsti tui es tanto menos duras
para os devedores quanto mai or abundnci a tenham de capi tai s mo-
bi l i ri os. Esse fato, consi derado de manei ra superfi ci al , parece confi r-
mar compl etamente a teori a do 76 e pode-se di zer: menos uma so-
ci edade possui capi tai s mobi l i ri os, mai s el es l he so preci osos, e tanto
mai s tem necessi dade de conserv-l os e aument-l os; em conseqnci a,
tanto mai s r gi das devem ser as i nsti tui es que tm esse objeti vo.
Esse raci oc ni o , em parte, verdadei ro, mas tambm em parte
fal so. El e verdadei ro quando di z que, se os povos que tm pouca
ri queza no possuem i nsti tui es que i mpeam sua destrui o, caem
rapi damente na barbri e. fal so, quando di z que essas i nsti tui es
no acompanham, de manei ra preci sa, o movi mento de aumento da
ri queza, e, em conseqnci a, no se tornam sempre menos r gi das
medi da que esta aumenta, e pode acontecer que por um curto per odo
permaneam constantes, ou ai nda que se tornem mai s r gi das enquanto
cresce a ri queza. A correspondnci a entre os doi s fenmenos no
perfei ta, mas apenas grossei ramente aproxi mati va.
preci so i gual mente observar que essa correspondnci a entre
OS ECONOMISTAS
92
os doi s fenmenos no se faz uni camente por mei o da sel eo. Em
uma soci edade onde os capi tai s mobi l i ri os so escassos, toda destrui o
que os afeta causa graves sofri mentos e d, di retamente, ori gem a
senti mentos que provocam medi das desti nadas a i mpedi r essa destrui -
o; e i sso ocorre, no em vi rtude de um raci oc ni o l gi co, mas de
manei ra anl oga quel a que i mpel e, no somente o homem, mas tam-
bm o ani mal , a se di stanci ar de tudo que l he cause dor.
79. Uma soci edade na qual cada i ndi v duo odi asse seu semel hante
no poderi a evi dentemente subsi sti r e di ssol ver-se-i a. Exi ste, portanto,
um certo m ni mo de benevol nci a e si mpati a rec procas necessri o para
que os membros dessa soci edade, prestando-se segurana mtua, pos-
sam resi sti r s vi ol nci as de outras soci edades. Abai xo desse m ni mo,
podem vari ar mai s ou menos os senti mentos de afei o.
80. Chega-se a outra sol uo mui to si mpl es, do mesmo gnero
que a precedente, admi ti ndo-se que os senti mentos morai s, rel i gi osos
etc. so aquel es mai s favorvei s cl asse domi nante.
Essa sol uo contm uma parte da verdade, mas proporci onal -
mente menor que a precedente, e uma parte mai or de erro. Os precei tos
morai s tm habi tual mente por objeto consol i dar o poder da cl asse do-
mi nante, mas tambm, mui to freqentemente, moder-l o.
74
81. O i nsti nto da soci abi l i dade , certamente, o fato pri nci pal
entre os que determi nam as mxi mas morai s gerai s. I gnoramos por
que esse i nsti nto exi ste em certos ani mai s e no exi ste em outros;
devemos, por conseqnci a, tom-l os como um fato pri mi ti vo, al m do
qual no podemos remontar.
Parece provvel que, tanto para a moral como para o di rei to,
75
esse i nsti nto se mani festou pri mei ro em fatos separados; estes foram,
em segui da, reuni dos e resumi dos em mxi mas morai s que aparecem
assi m como resul tado da experi nci a. Em certo senti do, pode-se tambm
consi derar desse ponto de vi sta a sano di vi na a essas mxi mas, por-
que aquel e que no as observava demonstrava que no ti nha os sen-
ti mentos necessri os nas ci rcunstnci as da vi da soci al na qual se en-
PARETO
93
74 Systmes Socialistes. I I , p. 115.
75 Ver POST. Grundriss der ethnologischen J urisprudenz; e pri nci pal mente MAI NE, Henry
Summer. Ancient Law. Este sal i enta que na vel h ssi ma anti gui dade grega, os eram
sentenas di tadas ao jui z pel a di vi ndade. No mecani smo si mpl es das anti gas soci edades,
vi a-se provavel mente se reproduzi r, com mai s freqnci a do que hoje, o retorno das mesmas
ci rcunstnci as, e, na sucesso de seus semel hantes, as sentenas devi am natural mente se
segui r e assemel har-se. A est o germe ou rudi mento do costume, concepo posteri or
desses temi stas ou jul gamentos. Com nossas associ aes de i di as modernas, somos forte-
mente i ncl i nados a pensar a priori que a noo de costume deve preceder da sentena
judi ci ri a, e que um jul gamento deve afi rmar um costume ou puni r sua vi ol ao; mas parece
fora de dvi da que a ordem hi stri ca dessas duas i di as aquel a na qual eu as si tue.
contrava. Cedo ou tarde, el e poderi a carregar a pena, e no era de
todo uma fi co que, por exempl o, Zeus vi ngasse os supl i cantes.
Raci oci na-se, comumente, como se as mxi mas morai s ti vessem
por ori gem excl usi va os senti mentos das pessoas s quai s el as i mpu-
nham certas regras de ao ou de absteno, quando na real i dade el as
tm tambm por ori gem os i nteresses das pessoas que del as ti ram
al guma vantagem. Aquel e que deseja que os outros faam al guma coi sa
por si raramente expri me esse desejo de forma cl ara; el e acha prefer vel
dar-l he a forma de uma i di a geral ou de uma mxi ma moral . E o
que se observa perfei tamente em nossos di as quando se consi dera a
nova moral da sol i dari edade.
82. Sendo os probl emas soci ai s essenci al mente quanti tati vos, quando
ns l hes damos sol ues qual i tati vas, o que se segue que exi stem m-
xi mas morai s l i teral mente opostas e que tm por objeto repri mi r os desvi os
excessi vos, tanto num senti do como no outro, l evando-nos ao ponto que
consi deramos quanti tati vamente o mel hor. assi m que mxi ma: ama
a teu prxi mo como a ti mesmo, ope-se esta: cari dade bem-ordenada
comea por si mesma.
76
Exi stem, em uma soci edade, mxi mas favorvei s
cl asse domi nante, mas h outras que l he so contrri as;
77
nas soci edades
onde a usura a mais desumana, encontramos mxi mas morai s que l he
so i ntei ramente contrri as. Em todos esses casos o que o homem toma
por mal soci al corri gi do por certos fatos que so em segui da resumi dos
sob forma de mxi mas ou precei tos. De modo semel hante tm ori gem as
mxi mas ou precei tos que se apl i cam a certas cl asses soci ai s, a certas
castas, a certas col eti vi dades etc.
O que se toma, com ou sem razo, como prejudi ci al a uma col e-
ti vi dade mai s ou menos restri ta, proi bi do por um precei to da moral
parti cul ar daquel a col eti vi dade; o que se toma como ti l i mposto da
mesma manei ra. Produzem-se, ento, fenmenos de i nterposi o entre
essas di ferentes morai s e entre el as e a moral geral .
83. Torna-se i nti l pesqui sar se os senti mentos morai s tm ori gem
individual ou social. O homem que no vi ve em soci edade um homem
extraordi nri o, que nos quase ou i ntei ramente desconheci do; e a so-
ci edade di sti nta dos i ndi v duos uma abstrao que no corresponde
a nada de real .
78
Em conseqnci a, todos os senti mentos que se ob-
servam no homem que vi ve em soci edade so i ndi vi duai s de certo ponto
de vi sta e soci ai s de outro. A metaf si ca soci al , que serve de substrato
a esse gnero de pesqui sa, si mpl esmente a metaf si ca soci al i sta e
tende a defender certas doutri nas a priori.
OS ECONOMISTAS
94
76 Tegni s de Mgara di z, 181-182, que val e mai s para o homem morrer do que ser pobre e
vi ver na dura pobreza, e um pouco mai s adi ante, 315-318, el e observa que mui tos maus so
ri cos e mui tos pobres so bons, e acrescenta: Eu no trocari a mi nha vi rtude por sua ri queza.
77 Systmes Socialistes. I I , p. 315.
78 LI ndividuel et le Social. Rel atri o ao Congresso I nternaci onal de Fi l osofi a, Genebra, 1904.
84. Mui to mai s i mportante do que conhecer a ori gem dos senti -
mentos, seri a conhecer como, hoje nascem, se modi fi cam e desaparecem.
Saber como nasceram certos senti mentos nas soci edades pri mi ti vas
si mpl esmente sati sfaz nossa curi osi dade (I , 33) e quase no tem outra
uti l i dade. Da mesma manei ra um mari nhei ro no tem por que saber
quai s eram os l i mi tes dos mares nas anti gas pocas geol gi cas, ao
passo que l he i mporta mui to conhecer quai s so os l i mi tes dos mares
de hoje. I nfel i zmente, sabemos bem pouca coi sa sobre a hi stri a natural
dos senti mentos em nossa poca.
85. ( 6, ) Sob nossos ol hos, na Frana, onde a democraci a a
mai s avanada, processaram-se notvei s mudanas na segunda metade
do scul o XI X. Os senti mentos rel i gi osos parecem ter aumentado de
i ntensi dade; mas mudaram em parte de forma, e uma nova rel i gi o
jacobi no-soci al i sta desenvol veu-se fortemente.
79
Pode-se constatar as segui ntes mudanas nos senti mentos morai s:
1) Aumento geral da pi edade mrbi da, qual se d o nome de huma-
nitarismo; 2) Mai s especi al mente um senti mento de pi edade e de be-
nevol nci a para com os mal fei tores, enquanto aumenta a i ndi ferena
pel as i nfel i ci dades do homem honesto que cai u sob os gol pes desses
mal fei tores; 3) Aumento notvel de i ndul gnci a e de aprovao para
os maus costumes das mul heres.
Os fatos que se rel aci onam com essas mudanas so os segui ntes:
1) Aumento da ri queza do pa s, o que permi te o desperd ci o de uma
parte para o humanitarismo e para a i ndul gnci a para com os mal -
fei tores. 2) Mai or parti ci pao das cl asses pobres no governo. 3) A
decadnci a da burguesi a. 4) Estado de paz i ni nterrupto durante tri nta
e quatro anos.
As rel aes que dependem do pri mei ro fato pertencem ao gnero
de que fal amos nos 76-79. As que dependem do segundo fato per-
tencem ao gnero ci tado no 80.
Enfi m, o movi mento comeou nas cl asses i ntel ectual mente supe-
ri ores; mani festou-se na l i teratura, depoi s ati ngi u as cl asses i nferi ores
e adqui ri u formas prti cas.
PARETO
95
79 Ei s um exempl o, entre mi l , da manei ra com que a mai ori a das pessoas entende a nova f.
PI DOUX. La J eunesse Socialiste. Lausanne, 15 de janei ro de 1903: O soci al i smo uma
rel i gi o. a rel i gi o por excel nci a, a rel i gi o humana que j no cr hi pocri tamente em
um mundo mel hor, mas que aspi ra que os homens, sol i dri os entre si , unam seus esforos
para fazer da terra um para so em que a espci e humana possa gozar da mai or soma de
fel i ci dade poss vel . (...) Essa rel i gi o di gna daquel a que h vi nte anos pl antou sua cruz
sobre a terra. (...) Nossa rel i gi o quer estabel ecer a i gual dade entre os homens. (...) El a
a rel i gi o do homem, da ci nci a, da razo. (...) Nossa rel i gi o faz germi nar nos coraes o
amor ao prxi mo e o di o do mal . Faz tambm germi nar a revol ta que l i bera e que consol a.
(...) Faz germi nar a revol ta contra a soci edade em que vi vemos e prepara a transformao
desta sobre as bases do col eti vi smo. Duas rel i gi es acham-se frente frente. Uma a
rel i gi o do ego smo e da i nveja, outra a da sol i dari edade e da ci nci a. Esta l ti ma ser
a rel i gi o do futuro.
86. Os senti mentos de censura aos mal fei tores, notadamente aos
l adres, esto certamente mui to enfraqueci dos; e consi deram-se como
bons ju zes hoje aquel es que, com pouca ci nci a e sem consci nci a,
i nvejosos uni camente de uma popul ari dade mal s, protegem os mal -
fei tores e so severos e rudes somente com as pessoas honestas. Esta
uma manei ra de ver que di fi ci l mente seri a compreendi da pel a mai ori a
dos franceses que vi vi am, por exempl o, em 1830, se bem que j ti vesse
penetrado na l i teratura, mas parece que se tratava, no caso, de si mpl es
exerc ci o de l i teratura.
Acontece o mesmo com os maus costumes. Pode ser que, de fato,
os costumes no fossem pi ores do que h ci nqenta anos, mas a teori a
j no , certamente, a mesma.
Essa mudana tambm se operou na parte i ntel ectual da soci e-
dade; mani festou-se pri mei ro sob forma excl usi vamente l i terri a; e foi
vi sta ento como um di verti mento do esp ri to, mas no se acredi tava
que i sso pudesse vi r a fazer parte, um di a, da moral soci al .
Mai s tarde todas essas mudanas foram se tornando outras tantas
armas nas mos dos adversri os da ordem soci al atual , e encontraram
apoi o nas teori as soci al i stas, que foram fortal eci das, ao mesmo tempo
que eram acol hi das por uma burguesi a em decadnci a, vi da de sa-
ti sfaes perversas, como acontece comumente junto aos degenerados.
O di rei to posi ti vo segui u l entamente essa evol uo da moral ; tam-
bm certos ju zes, vi dos de l ouvores vul gares e desejosos de cati var
a boa graa dos novos governantes, desprezaram abertamente o cdi go
e as l ei s e vo buscar os consi derandos de seus jul gamentos nos ro-
mances de George Sand e em Os Miserveis de Vi ctor Hugo.
87. Essa menor censura para com os l adres teve, tal vez, al guma
rel ao com o progresso das teori as que atacavam a propri edade i n-
di vi dual , porm essa rel ao no certa; pel o contrri o, a rel ao
mai s evi dente com a democraci a e o sufrgi o uni versal .
80
preci so
observar aqui que, ai nda que os del i nqentes fossem proporci onal mente
i guai s em nmero nas cl asses superi ores e nas i nferi ores, os efei tos
seri am di ferentes dependendo do poder encontrar-se nas mos de uns
ou de outros.
Nas cl asses superi ores h um esforo no senti do de manter as
l ei s e as regras morai s, enquanto el as so transgredi das; nas cl asses
i nferi ores a tendnci a de mudar essas l ei s e essas regras, e i sto
porque o forte col oca-se aci ma da l ei e dos costumes, enquanto o fraco
l hes submi sso.
OS ECONOMISTAS
96
80 Na Austrl i a, os roubos de ouro nas mi nas permanecem i mpunes, porque os l adres so
numerosos e tm, por seu voto, uma parte apreci vel no Governo.
As suavi zaes apl i cadas s l ei s penai s em vri os pa ses da Europa aumentaram con-
si deravel mente o nmero dos mal fei tores que conservam seus di rei tos el ei torai s.
Na Frana, os casos nos quai s os deputados devem i ntervi r em
favor de pequenos del i nqentes, seus el ei tores, so to numerosos que
termi naram por traduzi r-se em regras gerai s, que formam uma l egi s-
l ao no escri ta, paral el a l egi sl ao escri ta, porm di ferente; e os
ju zes desejosos de no serem tocados pel o Governo ou de receber seus
favores, seguem aquel a e no esta. A hi stri a dos defraudadores que
permanecem constantemente i mpunes, ai nda que tenham pequena pro-
teo pol ti ca, parti cul armente edi fi cante. Na real i dade, no se per-
segue mai s um grande nmero de del i tos que, entretanto, so ai nda
puni dos pel a l ei . Os magi strados gracejam com esp ri to sobre o adul -
tri o. Por que conti nuar vosso di scurso? di zi a um desses ju zes ao
advogado. Vs conhecei s, no entanto, a tari fa do tri bunal , so 25
francos, e tudo. tambm a tari fa dos ju zes franceses, e mesmo
aquel e que adqui ri u, por sua benevol nci a com os desonestos, o nome
de bom juiz, taxa o adul tri o a apenas 1 franco de mul ta; e el e se
regozi ja desse novo gol pe l ei , organi zao da fam l i a, aos bons
costumes.
Al gumas dessas prosti tutas, to caras aos humani tri os, cobram
mai s caro; punem-se mai s as mul heres pobres que, depoi s de pertencer
a uma congregao rel i gi osa, so acusadas de vi ol ar a l ei , fi ngi ndo no
mai s l he pertencer, e, como prova, exi ge-se que conti nuem a manter
o voto de casti dade.
O desenvol vi mento da democr aci a for ti fi cou o senti mento de
i gual dade entr e os doi s sexos, mas pr ovvel que o fi m da guer r a
tenha ti do uma boa par te ni sso, poi s nel a que apar ece mel hor a
super i or i dade do homem. Esse senti mento de i gual dade fez nascer
a teor i a de uma s mor al sexual par a o homem e par a a mul her ;
al guns sonhador es i nter pr etar am-na no senti do de que o homem
deve tor nar -se mai s casto, mas a mai or i a, que se pr ende r eal i dade,
entende-a no senti do de que a casti dade par a a mul her si mpl es-
mente uma anti gal ha.
Apareceu at mesmo um escri tor que rei vi ndi cou o di rei to
i moral i dade para a mul her. A manei ra de vi ver das jovens que se
tornaram mai s e mai s l i vres, no col oca, certamente, nenhum obstcul o
uni o i rregul ar dos sexos, se bem que i sso seja negado por mui tos,
que no vem seno o que desejam e o que l hes i mposto por sua f
no progresso, e no o que se passa na real i dade, como o sabem os
gi necl ogos, dos quai s as jovens l i vres modernas so excel entes cl i entes.
A faci l i dade dos abortos em certas grandes ci dades modernas
l embra a Roma descri ta por Juvenal , e o pbl i co escuta, sem desapro-
v-l as e sem estar desgostoso, as comdi as que justi fi cam i ndi retamente
o aborto do qual acusam a soci edade como responsvel .
Todos esses fenmenos se rel aci onam com a decadnci a da bur-
guesi a. Essa decadnci a no seno um caso parti cul ar de um fato
mui to mai s geral , o da ci rcul ao das el i tes.
PARETO
97
88. O exempl o da Frana atua sobre os senti mentos dos povos
que, como a I tl i a por exempl o, tm com el a numerosas e freqentes
rel aes pessoai s e i ntel ectuai s; temos a uma nova causa de mudanas
nos senti mentos: a i mi tao.
Essa i mi tao no se faz somente de povo para povo, mas tambm
entre as di ferentes cl asses soci ai s e entre os di ferentes i ndi v duos que
as compem; assi m que um movi mento que nasceu em um ponto
qual quer de uma soci edade se propaga por i mi tao, conti nua a pro-
pagar-se onde encontra ci rcunstnci as favorvei s e pra quando el as
l he so desfavorvei s.
A oposi o refuta a i mi tao.
81
Quando uma doutri na geral -
mente acei ta, sobrevm um adversri o para atac-l a. A fora de fazer
repeti r sempre a mesma coi sa, vem o desejo de al guns afi rmar o con-
trri o. Uma teori a mui to i ncl i nada num senti do chama, necessari a-
mente, uma outra que se i ncl i nar demasi ado no senti do oposto. A
teori a do humanitarismo e da i gual dade dos homens encontrou seu
contrapeso nas teori as ego stas do super-homem de Ni etzsche. Na I dade
Mdi a as fei ti cei ras eram, em parte, um produto da exal tao rel i gi osa.
89. ( 6, ). Vejamos como as rel aes objeti vas, que acabamos
de estudar, transformam-se em rel aes subjeti vas. Em geral , obser-
vam-se as segui ntes uni formi dades:
1) Produz-se uma dupl a transformao. Uma rel ao objeti va real
A transforma-se, sem que o homem o perceba, em uma rel ao subjeti va
B. Depoi s, em vi rtude da tendnci a que transforma as rel aes subje-
ti vas em objeti vas, a rel ao B transformada em outra rel ao objeti va
C, di ferente de A e em geral i magi nri a. 2) O homem tende sempre
a dar um val or absol uto ao que somente conti ngente. Essa tendnci a
, em certa medi da, sati sfei ta pel a transformao do fato conti ngente
B no fato i magi nri o C, mui to menos conti ngente, ou mesmo absol uto.
3) O homem tende sempre a estabel ecer uma rel ao l gi ca entre os
di ferentes fatos que sente dependentes entre si , sem que compreenda
nem como nem por qu. Al m di sso, essa rel ao l gi ca , comumente,
de causa e efei to. Excetuando a mecni ca e as ci nci as anl ogas, as
rel aes de mtua dependnci a so empregadas mui to raramente. 4)
O homem gui ado por i nteresses parti cul ares e pri nci pal mente pel os
senti mentos, enquanto el e i magi na e faz crer aos outros, que gui ado
por i nteresses gerai s e pel a razo.
Acontece mui to freqentemente, que A (Fi g. 4) um i nteresse
parti cul ar que, sem que o homem perceba, transforma-se em B; e depoi s
OS ECONOMISTAS
98
81 Sobre a i mi tao e sobre a oposi o, pode-se l er as obras de TARDE. Les Lois de LI mitation
e LOpposition Universelle. El as padecem, entretanto, em medi da extraordi nri a, de preci so
ci ent fi ca.
Lembro ao l ei tor que, por razes de espao, devo i ndi car, em poucas pal avras, teori as
s quai s se poderi a dedi car vol umes.
B transforma-se no i nteresse geral C, que i magi nri o. Acontece fre-
qentemente tambm que a transformao A B no pri nc pi o cons-
ci ente, i sto , o homem percebe que gui ado por um i nteresse parti cul ar,
e depoi s, pouco a pouco, el e o esquece e rel ao A B el e substi tui a
rel ao C B, i sto , el e cr ser l evado por um i nteresse geral . Tomemos
um exempl o para ser mai s cl aro. A representa senti mentos de soci a-
bi l i dade e certas rel aes tei s ao i ndi v duo e espci e; B representa
os senti mentos de benevol nci a para com os hspedes; C representa a
expl i cao que se d desses senti mentos, di zendo que o hspede en-
vi ado por Zeus. Outro exempl o:
A representa os senti mentos de cobi a do homem pobre; B o senti -
mento que o ri co deve dar ao pobre; C o pri nc pi o da sol i dari edade
entre os homens.
90. preci so acrescentar que a crena i magi nri a C , por sua
vez, um fato psi col gi co, e si tua-se entre os fatos reai s do gnero de
A, que do nasci mento a B. Temos assi m uma sri e de aes e reaes.
o que demonstra, admi ravel mente, o estudo da l i nguagem.
Os fatos da fonti ca e da si ntaxe no ti veram, certamente, por
ori gem certas regras gramati cai s preexi stentes; pel o contrri o, estas
que foram ti radas daquel as. Entretanto, quando essa operao foi fei ta,
a exi stnci a dessas regras agi u, por sua vez, sobre os fatos da fonti ca
e da si ntaxe. O mesmo acontece com os fatos do Di rei to. Embora certas
pessoas l hes atri buam ai nda razes i magi nri as e l hes dem, por exem-
Fi gura 4
PARETO
99
pl o, por ori gem, certo senso jur di co, comea-se agora a compreender
que, mui to pel o contrri o, foram os fatos de di rei to que deram nasci -
mento s regras abstradas ( 80) e, se o qui sermos, tambm a esse
senso jur di co; porm, quando essas regras e esse senso exi stem, tor-
nam-se, por sua vez, fatos e atuam como tai s para determi nar as aes
dos homens. Mai s ai nda, nesse caso parti cul ar, essa ao torna-se ra-
pi damente a mai s i mportante e determi nante, poi s essas regras so
i mpostas pel a fora.
91. Quando por C se entende o pri nc pi o que moral tudo que
tomado como regra geral das aes humanas (ou outro pri nc pi o
semel hante), pode-se constatar todas as uni formi dades do 89. 1) Os
senti mentos morai s que se quer assi m expl i car nasceram de al guns
outros fatos objeti vos A, como j vi mos. 2) O pri nc pi o estabel eci do
absol uto; no h restri o, nem de tempo nem de l ugar; apl i ca-se ao
negro mai s desprovi do e ao europeu mai s ci vi l i zado, ao homem pr-
hi stri co e ao homem moderno; a rel ao C B do mesmo gnero que
um teorema de geometri a que se apl i ca a todos os tempos e l ugares.
Os metaf si cos no percebem o que exi ste de absurdo nessa conseqn-
ci a. 3) A rel ao entre esse bel o pri nc pi o da regra geral das aes
humanas e a conseqnci a B que se quer ti rar, l gi ca, pel o menos
na aparnci a, e tanto quanto l he permi ta a natureza do pri nc pi o que
nada tem de contedo real ( 38). Al m di sso, uma rel ao entre
uma causa C e um efei to B. 4) Uti l i za-se esse raci oc ni o pri nci pal mente
para pedi r a al gum que faa qual quer sacri f ci o, ou para obter que o
poder pbl i co l ho i mponha. Se se di ssesse: d-me tal coi sa porque el a
me agrada, no se consegui ri a nada, na mai ori a das vezes; ao contrri o,
preci so di zer: d-me i sso, porque ti l para todos ns e ento se
encontram al i ados. Observem que nesse todos, em geral , no est i n-
cl u do aquel e de quem se ti ra a coi sa: mas se entende por i sso, com
freqnci a, a mai ori a, e i sso sufi ci ente para que, nos raci oc ni os pseu-
doci ent fi cos, no se observe a i mpropri edade da expresso.
Os operri os em greve l utam contra os patres das fbri cas e
espancam em nome da sol i dari edade, os operri os que querem traba-
l har. evi dente que essa sol i dari edade pode mui to bem exi sti r entre
os grevi stas, mas no entre estes, os patres e os amarel os. E, no
entanto, os teri cos fal am da sol i dari edade entre todos os homens; e
depoi s estendem as propostas a que chegaram ao que ns chamar amos
mai s exatamente de i greji nha. I nvoca-se sempre a sol i dari edade para
receber, jamai s para dar. O operri o que ganha 10 francos por di a
consi dera que, em nome da sol i dari edade, o ri co deve reparti r sua
fortuna; mas achari a ri d cul o se al gum l he pedi sse, em nome dessa
sol i dari edade, para di vi di r o que ganha com aquel es que tem um sal ri o
de 1/20 de franco por di a.
A democraci a dos Estados Uni dos da Amri ca tm por pri nc pi o
OS ECONOMISTAS
100
a i gual dade dos homens e por i sso que nesse pa s se l i ncham os
negros e os i tal i anos, que se pro be a i mi grao chi nesa, e que se fari a
a guerra Chi na se esta proi bi sse seu terri tri o aos ameri canos. Em
Nova York as partei ras exami nam as mul heres i mi grantes; repel em-se
aquel as que no so casadas de conformi dade com a l ei , para i mpedi -l as
de corromper a pureza ameri cana. Os soci al i stas austral i anos querem
ajudar os fracos e os humi l des, e a covardi a burguesa os ajuda; mas
em 1894, tendo um mi ssi onri o si do assassi nado pel os i nd genas, os
austral i anos fi zeram uma expedi o que destrui u, sem pi edade, um
grande nmero desses i nfel i zes, perfei tamente i nocentes. Os soci al i stas
franceses tm a l oucura da paz, vem na guerra, um cri me, mas pregam
abertamente o exterm ni o dos burgueses. Enquanto esperam, el es ferem
os pol i ci ai s, matam os ofi ci ai s e os sol dados que o Governo encarrega
de manter a ordem. A pi l hagem das fbri cas permanece i mpune. Na
Rssi a j no se pode contar o nmero de atentados contra os di retores
de fbri cas. No comeo de 1907, operri os fecharam seu di retor em
um tubo de ferro e fi zeram-no morrer esquentando-o em fogo bai xo.
Os humani tri os europeus e ameri canos no abri ram a boca; mas l an-
am gri tos de aves de rapi na se a pol ci a tem a i nfel i ci dade de mal tratar
os assassi nos que prende. A si mpati a dos humani tri os estaci ona nos
mal fei tores e no se estende s pessoas honestas. Os burgueses deca-
dentes fecham vol untari amente ol hos e ouvi dos para no ver nem ouvi r;
e enquanto seus adversri os se preparam para destru -l os, el es desfal ecem
de ternura i di a do advento de uma nova e mel hor humani dade.
92. preci so observar que, com a pseudol gi ca que freqente-
mente serve para estabel ecer as rel aes C B, a i gual dade de M e de
N no tem por conseqnci a a i gual dade de N e de M, como aconteceri a
com a l gi ca comum. Por exempl o, nas democraci as modernas, o pobre
deve gozar dos mesmos di rei tos que os ri cos, poi s todos os homens so
i guai s; mas el es j no so i guai s se se rei vi ndi ca para o ri co os mesmos
di rei tos que para o pobre. Os operri os tm agora tri bunai s especi ai s
e pri vi l egi ados, os homens nobres, que, em certos pa ses, nunca do
razo aos patres ou aos burgueses mas sempre ao operri o.
82
Se um
patro ou um burgus pusesse fogo na mo de um operri o, seri a
certamente condenado pena previ sta pel a l ei ; mas, ao contrri o, os
grevi stas franceses e seus ami gos podem i ncendi ar e pi l har as casas
dos patres e dos burgueses sem que o Governo ouse empregar contra
el es a fora pbl i ca. Na I tl i a, os advogados soci al i stas e seus ami gos
se permi tem vi ol nci as e i njri as contra os magi strados, que seri am
repri mi das se vi essem de outros. Em jul ho de 1904, em Cl uses, houve
uma greve de operri os rel ojoei ros. Para acei tar os operri os de vol ta
PARETO
101
82 Systmes Socialistes. I , 136.
ao trabal ho, um dos patres exi gi a del es que pagassem os vi dros que
havi am quebrado no comeo da greve. Os operri os se mostraram i n-
di gnad ssi mos com essa estranha pretenso; e i sso compreens vel ,
poi s cada um defende seu i nteresse; mas os burgueses humani tri os
tambm fi caram total mente i ndi gnados, e i sso j menos compreen-
s vel , se no se soubesse de que raa desprez vel e deca da el es se
compem. O provrbi o aquel e que quebra os vi dros deve pag-l os
apl i ca-se apenas aos burgueses e no aos operri os e menos ai nda aos
sacrossantos operri os em greve. A fbri ca foi tomada, o fi l hi nho de
um dos propri etri os foi ati ngi do por uma pedra nos braos de sua
me; para defender-se, os propri etri os ati raram sobre os agressores.
Ento, a fbri ca foi pi l hada e i ncendi ada, e a fora armada que a
cercava nada fez para opor-se a i sso. Persegui u-se somente al guns dos
saqueadores, escol hi dos, por si nal , entre os menos cul pados. Se el es
ti vessem si do presos, a greve geral teri a si do decretada, por i sso el es
foram dei xados em l i berdade; os patres, que se havi am defendi do,
pel o contrri o, ti veram decretada sua pri so preventi va, foram conde-
nados,
83
e os saqueadores absol vi dos.
No fi m de 1903, o Parl amento francs votou a ani sti a para todos
os casos de greve e conexos. Enquanto se di scuti a essa ani sti a, i ndi -
v duos, certos da i mpuni dade, saquearam al gumas l ojas em Pari s. Doi s
dentre el es foram processados e l evados aos tri bunai s, que decl araram
que a ani sti a l hes era apl i cvel ; os demai s tranqi l i zaram-se. Se um
l oji sta houvesse saqueado a casa de um desses mal fei tores certamente
teri a si do condenado pel os tri bunai s. E, no entanto, exi stem pessoas
que crem, de boa-f, que este o regi me da i gual dade dos ci dados
e que desfal ecem de al egri a pensando em sua superi ori dade sobre os
anti gos regi mes, sob os quai s exi sti am ci dados pri vi l egi ados.
93. As pessoas que querem fazer crer que so gui adas pel o i n-
teresse geral , e no pel o parti cul ar, podem, s vezes, no ser de boa
f. No nmero dos sofi smas mai s comuns, quando se quer ati ngi r par-
ti cul armente uma coi sa E, dando a i mpresso de estabel ecer uma me-
di da de ordem geral , preci so assi nal ar o segui nte. A coi sa E tem
certos caracteres M, N, P...; escol he-se um, por exempl o M, que apa-
rentemente parece di sti ngui r esta coi sa das outras e afi rma-se que a
medi da geral di ri gi da contra M. As anti gas repbl i cas fi zeram fre-
qentemente l ei s que pareci am gerai s, mas que, no fundo, tendi am a
ati ngi r um pequeno nmero de i ndi v duos ou mesmo um ni co.
Esparta, no comeo da guerra do Pel oponeso, envi ou embai xado-
res a Atenas para pedi r aos ateni enses para vi ngarem o sacri l gi o
OS ECONOMISTAS
102
83 At o Governo de Combes termi nou por ter vergonha e, quatro meses depoi s, i ndul tou
esses i nfel i zes.
fei to deusa.
84
Era uma per frase para l he pedi r para dar caa a
Pri cl es, que era descendente por parte de me dos Al cmeni das, con-
si derados cul pados desse sacri l gi o.
O sofi sma ai nda mai s evi dente quanto M tambm se encontra
em outra coi sa F, qual no se apl i ca a medi da tomada contra E, por
causa de M, di z-se. Por exempl o, em 1906, na Frana, querendo proi bi r
as congregaes rel i gi osas de dar aul as, al guns afi rmaram que a proi bio
vi sava apenas supri mi r do ensi no as pessoas que no eram casadas. Porm,
cl aro que, se os homens que pertencem s congregaes no so casados,
nem as mul heres, i gual mente cl aro que nem todos os cel i batri os fazem
parte de uma congregao; e, se se qui sesse ati ngi -l os, era preci so faz-l o
di retamente e no por i ntermdi o das congregaes.
94. Uma mesma i di a pode ser expressa em vri as l nguas di fe-
rentes, e, numa mesma l ngua, sob di versas formas. A mesma di scusso
que teri a tomado, h al guns scul os, a forma teol gi ca, tomari a hoje
a forma soci al i sta. Quando se di z, em jargo moderno, que uma l ei
ampl amente humana, preci so traduzi -l a da segui nte manei ra: el a
favorece os pregui osos e os pati fes custa dos homens ati vos e ho-
nestos. Quem qui sesse expri mi r a i di a de que um homem parece di gno
de censura, na l i nguagem da I dade Mdi a, di ri a que um herti co ou
um excomungado; na l i nguagem dos jacobi nos do fi m do scul o XVI I ,
di r-se-i a que um ari stocrata; na l i nguagem dos jacobi nos modernos,
que um raci onri o.
85
So, si mpl esmente, manei ras di ferentes de ex-
pri mi r a mesma i di a.
De forma mai s geral pode-se observar que, na soci edade, um
fenmeno que no fundo permanece o mesmo, toma, no curso dos tem-
pos, formas vari adas e s vezes mui to di ferentes: em outras pal avras,
h permannci a do mesmo fenmeno sob vri as formas.
86
95. O que precede nos mostra que h uma parte de verdade
nesta observao de G. Sorel , ou seja, que o que di z respei to ptri a
PARETO
103
84 TUC DI DES. I , 126: ... .
85 O correspondente pari si ense do J ournal de Genve (29 de janei ro de 1905) di z mui to bem:
Porque a pal avra cl eri cal perdeu tanto seu senti do prpri o hoje quanto o de ari stocraci a
sob o comi t de Sade Pbl i ca.
86 Encontrar-se-o numerosos fatos para apoi ar essa teori a em nossos Systmes Socialistes, e
no ndi ce: Persi stnci a dos Mesmos Fenmenos Soci ai s. Acrescentaremos apenas um fato
que ocorreu posteri ormente publ i cao deste l i vro.
Na sesso do Senado francs de 24 de junho de 1904, o presi dente do Consel ho, Combes,
defendendo a l ei que excl u a do ensi no as congregaes rel i gi osas, di zi a: Cremos que no
qui mri co consi derar como desejvel e prati cvel real i zar na Frana contempornea o
que o anti go regi me ti nha to bem estabel eci do na Frana de outrora. Um s rei , uma s
f: tal era, ento, a di vi sa. Essa mxi ma fez a fora de nossos Governos monrqui cos, seri a
preci so encontrar uma que seja anl oga e que corresponda s exi gnci as do tempo presente.
Mui tas pessoas, na Frana, pensam assi m; a persi stnci a desse estado de esp ri to
notvel desde a revogao do edi to de Nantes, para no i r mai s l onge, at nossos di as. A
forma muda, o fundo permanece o mesmo.
e rel i gi o tem carter m sti co
87
e que os mi tos so necessri os para
expor, de manei ra exata, as concl uses de uma fi l osofi a soci al que no
quer enganar a si mesma... Com efei to, cada vez que pretendemos
compreender o que pensaram ou o que pensam certos homens, preci so
conhecer a l ngua e as formas por mei o das quai s el es expri mi am seu
pensamento. Grote, por exempl o, fez ver, de forma evi dente, que no
podemos compreender a hi stri a dos anti gos gregos, se no buscarmos
tornar nossos, tanto quanto poss vel , os mi tos que formavam o mei o
i ntel ectual no qual vi vi am.
88
Da mesma manei ra, aquel e que quer atuar de forma ati va sobre
os homens deve fal ar sua l ngua e adotar as formas que l hes agradam
e, conseqentemente, empregar a l i nguagem dos mi tos.
96. Mas a teori a de G. Sorel i ncompl eta, poi s al m desses fe-
nmenos subjeti vos exi stem os objeti vos e no se pode i mpedi r que
outros del es se ocupem. Seu equ voco provm do precei to que el e col oca:
O que preci so Soci ol ogi a que el a adote, desde o comeo,
uma postura francamente subjeti va, que sai ba o que quer fazer
e que subordi ne assi m todas as pesqui sas ao gnero de sol uo
que quer preconi zar.
89
I sso pode bem ser o objeto da propaganda, mas no da ci nci a. No
di scutamos sobre as pal avras e dei xemos que i sso l eve o nome que se
quei ra! Como se poder i mpedi r al gum de pesqui sar quai s so os
fatos objeti vos que esto abai xo desses fatos subjeti vos, ou ai nda si m-
pl esmente pesqui sar as uni formi dades que apresentam essas manei ras
de consi derar os fatos subjeti vos?
G. Sorel nos fornece um exempl o das duas espci es de consi deraes
que comporta um fato subjeti vo. Di z el e que provvel que Marx j
ti vesse apresentado a concepo catastrfi ca [a destrui o da burguesi a
como resul tante da concentrao da ri queza] como um mi to, i l ustrando
de manei ra bastante cl ara a l uta de cl asse e a revol uo soci al .
90
Marx pensou o que qui s, mas nos ser l ci to pesqui sar se essa ca-
tstrofe se produzi u ou no nos l i mi tes de tempo que l he foram desi gnados.
No se compreende como seri a proi bi do ocupar-se desse fato objeti vo.
Al m di sso, se Marx queri a fal ar por mi tos, no seri a mau se
nos preveni sse antes que os fatos ti vessem desmenti do suas previ ses,
poi s de outra manei ra a profi sso de profeta se tornari a fci l demai s.
Faz-se uma profeci a; se os fatos a confi rmam, admi ra-se a perspi cci a
de seu autor; se el a desmenti da pel os fatos, decl ara-se que se tratava
de um mi to.
OS ECONOMISTAS
104
87 La Ruine du Monde Antique. p. 213.
88 I ntrodution lconomie. p. 377.
89 I b. p. 368.
90 I b. p. 377.
97. ( 6, ). Nossas pesqui sas se assentaram, at aqui sobre fatos
que aconteceram efeti vamente, sobre movi mentos que podemos chamar
REAI S, a fi m de di sti ngui -l os de outros movi mentos que so hi potti cos
e que chamaremos VI RTUAI S (I I I , 22).
No esgotamos nosso assunto pesqui sando como certos fatos se
produzem; resta-nos estudar um probl ema de grande i mportnci a: se
um dos fatos que estavam em rel ao vi esse, por hi ptese, a ser mo-
di fi cado, que mudanas ocorreri am nos outros? Esse probl ema uma
preparao necessri a sol uo de um segundo probl ema que consi ste
em pesqui sar as condi es que propi ci am o mxi mo de uti l i dade
soci edade, a uma parte da soci edade, a uma cl asse soci al , a um i ndi v duo
determi nado, quando, natural mente, se defi ni u antes de tudo o que se
entende por essa uti l i dade.
98. Esses pr obl emas so col ocados par a todas as aes do ho-
mem e tambm, por conseqnci a, par a aquel as que so objeto da
POL TI CA. Na pr ti ca, el es tm mui to mai s i mpor tnci a que todos
os outr os. Mai s ai nda, sempr e desse ponto de vi sta pr ti co, so os
ni cos que i nter essam, e todo outr o estudo s ser ti l na medi da
em que pr epar e sua sol uo. So tambm os mai s di f cei s; ns os
r eencontr ar emos em Economi a Pol ti ca e poder emos ento chegar
a sol uo pel o menos apr oxi mati va. Ao contr r i o, esses pr obl emas
no possuem ai nda sol ues, mesmo gr ossei r amente apr oxi mati vas,
quando se tr ata de aes que dependem dos senti mentos e da pol ti ca.
Essa di fer ena nos d a r azo do estado mai s avanado da ci nci a
econmi ca entr e as outr as ci nci as soci ai s.
99. Dessa manei ra, a base de todo raci oc ni o gi ra em torno do
segui nte probl ema: que efei tos tero os senti mentos sobre certas me-
di das dadas? No somente no estamos em condi es de resol ver, em
geral , teori camente, esse probl ema, como no possu mos nem mesmo
sol ues prti cas que precedem, comumente, nas hi stri as dos conhe-
ci mentos humanos, as sol ues teri cas, e que formam, quase sempre,
a matri a de que so extra das. At mesmo os homens de Estado mai s
emi nentes se enganam quando procuram essas sol ues. sufi ci ente
rel embrar o exempl o de Bi smarck. El e se propunha resol ver o probl ema
segui nte: que medi das podem enfraquecer os senti mentos que al i men-
tam o parti do catl i co e o parti do soci al i sta? El e acredi tou ter encon-
trado a sol uo nas medi das do Kulturkampf e das l ei s excepci onai s
contra os soci al i stas. Os fatos demonstraram que el e se enganou re-
dondamente. Os efei tos que se segui ram foram preci samente o contrri o
do que el e esperava; o parti do catl i co domi nou no Rei chstag; o parti do
soci al i sta se desenvol veu ai nda mai s e cada el ei o vi u aumentar o
PARETO
105
nmero de votos que el e recol hi a. As medi das de Bi smarck no somente
no i mpedi ram essas conseqnci as como contri bu ram mui to para el as.
91
100. As di fi cul dades que se opem el aborao de uma teori a
nessa matri a so em parte objeti vas e em parte subjeti vas.
Entre as di fi cul dades objeti vas sal i entamos estas:
1) Os fenmenos se produzem mui to l entamente e no apresen-
tam, por consegui nte, a freqnci a necessri a para poder, com provas
e contraprovas, consti tui r uma teori a. Todas as ci nci as fi zeram pro-
gresso extraordi nri o, e no entanto, na matri a da qual nos ocupamos,
o que temos de mel hor encontra-se ai nda nas obras de Ari sttel es e
de Maqui avel . Entre as numerosas razes desse fato, a ci rcunstnci a
de que esses doi s autores vi veram em pocas em que as mudanas
pol ti cas eram rpi das, ml ti pl as no espao, freqentes no tempo, no
est entre as menores. Ari sttel es encontrou, nas numerosas repbl i cas
gregas, matri as abundantes para seus estudos, como Maqui avel , nos
numerosos Estados i tal i anos.
Suponhamos que experi nci as semel hantes s de Bi smarck ti -
vessem si do numerosas e repeti das em pequeno nmero de anos; ns
ter amos podi do, comparando-as, procurando o que el as podi am ter em
comum e em que se di ferenci avam, descobri r al guma uni formi dade
que dari a um comeo de teori a. Foi preci so, pel o contrri o, que espe-
rssemos at agora para ter experi nci a semel hante: aquel a ofereci da
pel a l uta dos jacobi nos franceses contra os catl i cos. Se da resul ta
um fato semel hante quel e que segui u o Kulturkampf al emo, teremos
um ndi ce de uni formi dade. Mas que dbi l ndi ce aquel e que se api a
somente sobre doi s fatos!
2) Os fenmenos que se rel aci onam com os senti mentos no podem
ser medi dos com preci so; no podemos, portanto, recorrer Estat sti ca,
to ti l em Economi a Pol ti ca. A assero de que certos senti mentos
se debi l i tam ou se reforam sempre um pouco arbi trri o, e depende
um pouco do autor que jul ga os aconteci mentos.
3) Os fenmenos soci ol gi cos so, s vezes, mui to mai s raros e
mai s compl exos do que os que a Economi a Pol ti ca estuda, e so a
resul tante de mui to mai s causas, ou, mai s exatamente, esto em rel ao
mtua com um mai or nmero de outros fenmenos.
4) Como el es so, mui to freqentemente, no-l gi cos ( 3) no
podemos col oc-l os em rel ao rec proca por mei o de dedues l gi cas,
o que podemos fazer em Economi a Pol ti ca. A di fi cul dade ai nda au-
OS ECONOMISTAS
106
91 Enfi m, o que sabemos de mai s certo sobre esse ponto, encontra-se j em Maqui avel :
preci so bajul ar ou extermi nar os homens, porque el es se vi ngam das ofensas l i gei ras, o
que no podem fazer com as ofensas graves; de manei ra que a ofensa que se faz a um
homem deve ser tal que no se tema sua vi ngana. I l Principe. Cap. I I I .
mentada pel o fato de que os homens tm o hbi to de dar moti vos
l gi cos no-reai s s suas aes.
5) mui to di f ci l conhecer de manei ra preci sa os senti mentos
de outrem, ou mesmo seus prpri os senti mentos; a matri a que deveri a
servi r de fundamento teori a e sempre um pouco i ncerta. Por exempl o,
no 99 ns demos como prova do poder dos senti mentos soci al i stas
na Al emanha o fato de que o nmero de votos recol hi dos pel o parti do
soci al i sta i a aumentando. Porm, i sso no seno um ndi ce que tem
necessi dade de se apoi ar em outras provas, porque mui tos desses el ei -
tores no so soci al i stas, mas radi cai s, l i berai s ou si mpl es descontentes.
101. Passemos s di fi cul dades subjeti vas:
1) Os autores quase nunca buscam a verdade, el es buscam ar-
gumentos para defender o que el es crem, de antemo, ser a verdade,
e que , para el es, um arti go de f. Pesqui sas desse ti po so sempre
estrei s, ao menos em parte. Os autores assi m procedem no somente
porque so, i nvol untari amente, o joguete de suas pai xes, mas fazem-no
mui tas vezes de forma del i berada e censuram vi ol entamente aquel es
que se recusam assi m proceder. Que acusaes tol as foram fei tas contra
Maqui avel ! Essa di fi cul dade exi ste tambm para a Economi a Pol ti ca;
e, de i gual modo, as di fi cul dades das quai s i remos fal ar so comuns
Soci ol ogi a e Economi a Pol ti ca. A mai or parte dos economi stas
estuda e expe os fenmenos com a i nteno determi nada de concl ui r
de certa manei ra.
2) So i nfi ni tos os preconcei tos e as i di as a priori dependentes
da rel i gi o, da moral , do patri oti smo etc., que nos i mpedem de raci oci nar
de manei ra ci ent fi ca sobre as matri as soci ai s. Os jacobi nos, por exem-
pl o, crem seri amente, que os rei s e os padres so a causa de todos
os mal es da humani dade
92
e el es vem toda a hi stri a atravs desses
fal sos cul os. Mui tos dentre el es i magi nam que Scrates foi v ti ma dos
sacerdotes, enquanto os sacerdotes, preci samente, nada ti veram com
a morte de Scrates. Para mui tos soci al i stas, toda i nfel i ci dade, pequena
ou grande, que pode ati ngi r o homem conseqnci a certa do capi -
tal i smo. Roosevel t est persuadi do de que o povo ameri cano mui to
superi or aos outros povos; e no v o que h de ri d cul o em ci tar
Washi ngton para fazer saber ao mundo que a manei ra mai s certa de
se ter a paz preparar a guerra (American I deals. Cap. VI I I .); esse
cap tul o i nti tul ado: Um Precei to Esqueci do de Washi ngton.
93
Ns,
pobres europeus, i magi nvamos que, al gum tempo antes de Washi ng-
PARETO
107
92 Systmes Socialistes. I I . p. 491.
93 Traduo francesa de Rousi ers, p. 130: Uma mxi ma esqueci da de Washi ngton. H um
scul o, Washi ngton escrevi a: O mei o mai s seguro de obter a paz estar pronto para a
guerra. Rendemos a essa mxi ma a homenagem dos l bi os que ns sempre rendemos com
tanta freqnci a s pal avras de Washi ngton; mas el a nunca foi gravada profundamente
em nossos coraes.
ton, certos habi tantes de um pequeno pa s que se chama Lati um j
ti nha di to em seu i di oma: si vis pacem etc.; mas parece que ns nos
enganvamos, os l ati nos sem dvi da copi aram Washi ngton e repeti ram
o que el e havi a di to pri mei ro.
Encontrar-se- a i ndi cao de outras di fi cul dades do mesmo g-
nero na I ntroduo Cincia Social de Herbert Spencer.
As mesmas di fi cul dades so encontradas no estudo da Economi a
Pol ti ca. Os economi stas ti cos, fal am, com bel a sufi ci nci a, daqui l o
que el es no compreendem. Outro, para esconder sua i gnornci a, pa-
vonei a-se e anunci a ao pbl i co que segue o mtodo hi stri co. Outro,
fal a do mtodo matemti co, jul ga-o e condena-o, mas conhece i sso
de que fal a tanto quanto um ateni ense do tempo de Pri cl es poderi a
conhecer o chi ns.
3) A di fi cul dade subjeti va i ndi cada no n 5 do 100 est em
rel ao com uma di fi cul dade subjeti va anl oga, i sto , que nos mui to
di f ci l no jul gar as aes de outrem com nossos prpri os senti mentos.
Foi h pouco tempo que se compreendeu fi nal mente que, para ter uma
i di a cl ara dos fatos de um povo e de uma poca dada, era preci so se
esforar, tanto quanto poss vel , em v-l os com os senti mentos e as
i di as de um homem pertencente a esse povo e a essa poca. Desco-
bri u-se tambm que h mui tas coi sas que, mesmo trazendo o mesmo
nome, so essenci al mente di ferentes, nos l ugares e no tempo em que
foram observadas. Os jacobi nos franceses da pri mei ra revol uo acre-
di tavam, e parte de seus sucessores ai nda acredi ta, que a repbl i ca
francesa semel hante, ou quase, repbl i ca romana ou ateni ense.
4) Somente a f l eva, com vi gor, os homens a agi r; porque no
desejvel , para o bem da soci edade, que a massa dos homens, ou
mesmo mui to del es, se ocupem ci enti fi camente das matri as soci ai s.
Exi ste antagoni smo entre as condi es da ao e as do saber.
94
E a
est um novo argumento ( 60) que nos mostra o quanto aquel es que
querem, i ndi sti ntamente, sem di scerni mento, fazer todo mundo parti -
ci par do saber, agem com pouca sabedori a. verdade que o mal que
i sso poderi a acarretar corri gi do, em parte, pel o fato de que i sso que
el es chamam saber si mpl esmente uma forma parti cul ar de f sectri a;
e seri a preci so que nos deti vssemos menos sobre os mal es que o ce-
ti ci smo acarreta do que sobre aquel es que resul tam dessa f.
5) O contraste entre as condi es da ao e as do saber aparece
OS ECONOMISTAS
108
94 O l i vro de Roosevel t, American I deals, por exempl o, poder tal vez servi r para l evar ao
os ci dados dos Estados Uni dos, mas, seguramente, no acrescenta nada aos nossos co-
nheci mentos, e seu val or ci ent fi co est mui to vi zi nho ao zero.
O autor acredi ta que seu pa s o pri mei ro do mundo; ter o nome de ameri cano ter o
mai s honroso de todos os t tul os; um i ngl s pode pensar a mesma coi sa da I ngl aterra, um
al emo, da Al emanha etc. Logi camente as proposi es: A l eva a mel hor sobre B, e B l eva a
mel hor sobre A, so contradi tri as e as duas no podem subsi sti r, mas as duas podem mui to
bem subsi sti r se el as somente ti verem por objeto i mpul si onar os homens ao.
tambm porque, para agi r, ns nos conformamos com certas regras
dos costumes e da moral ; no seri a real mente poss vel fazer de outra
manei ra, porque no ter amos nem tempo nem os mei os para buscar
as ori gens em cada caso parti cul ar e a parti r da fazer a teori a compl eta;
ao contrri o, para conhecer as rel aes das coi sas, para saber, preci so
justamente col ocar em di scusso esses mesmos pri nc pi os.
Por exempl o, em povo bel i coso os costumes so favorvei s aos
senti mentos guerrei ros. Se se admi te que esse povo deve permanecer
bel i coso, -l he ti l que, pel o menos em certos l i mi tes, a ati vi dade dos
i ndi v duos esteja de acordo com esses senti mentos; tem-se, portanto,
razo, sempre dentro desses l i mi tes quando se jul ga que uma ati vi dade
dada prejudi ci al pel o ni co fato de estar em oposi o a esses senti -
mentos. Porm, essa concl uso j no vl i da se se pesqui sa se bom
para esse povo ser bel i coso ou pac fi co.
Da mesma manei ra, onde exi ste a propri edade pri vada, exi stem
senti mentos que so feri dos por toda vi ol ao desse di rei to e, por tanto
tempo quanto se crei a necessri o mant-l o, l gi co condenar os atos que
se encontram em oposi o a esses senti mentos. Estes se tornam, assi m,
um cri tri o apropri ado para deci di r o que bem ou mal nessa soci edade.
El es porm j no podem desempenhar esse papel quando se pergunta
se preci so manter ou destrui r a propri edade. Opor-se aos soci al i stas,
como o fazi am certos autores da pri mei ra metade do scul o XI X, di zendo
que so mal fei tores porque querem destrui r a propri edade pri vada, ,
certamente, fazer um c rcul o vi ci oso e tomar o acusado por jui z. Come-
ter-se-i a o mesmo erro se se qui sesse jul gar o amor l i vre i nvocando os
senti mentos de casti dade, de decnci a, de pudor.
Numa soci edade organi zada de certa manei ra, em que exi stam
certos senti mentos A, pode-se, razoavel mente, pensar que uma coi sa
B contrri a a esses senti mentos pode ser prejudi ci al ; desde que a ex-
peri nci a nos ensi na que exi stem soci edades organi zadas de manei ra
di ferente, pode exi sti r, em al guma del as, senti mentos C, favorvei s a
B, e B pode ser ti l soci edade. Em conseqnci a, quando se prope
estabel ecer B para passar da pri mei ra segunda organi zao, no se
pode mai s objetar que B contrri o aos senti mentos A que exi stem
na pri mei ra organi zao.
Observemos ai nda que o consenti mento uni versal dos homens, ai nda
que mesmo por hi ptese se pudesse conhec-l o, no mudari a em nada
essa concl uso, mesmo negl i genci ando essa consi derao de que o con-
sentimento universal de ontem pode bem no ser aquel e de amanh.
6) Para convencer al gum em matri a de ci nci a, preci so expor
fatos tanto quando poss vel certos e col oc-l os em rel ao l gi ca com
as conseqnci as que se quer ti rar. Para convencer al gum em matri a
de senti mentos, e quase todos os raci oc ni os que se fazem sobre a
soci edade e sobre i nsti tui es humanas pertencem a essa categori a,
preci so expor fatos capazes de despertar esses senti mentos, para que
PARETO
109
estes sugi ram a concl uso que se quer ti rar. Torna-se cl aro que esses
doi s raci oc ni os so compl etamente di ferentes.
Ei s um exempl o. Bruneti re, respondendo Ren Bazi n, na sesso
de 29 de abri l de 1904 da Academi a Francesa, comea por demonstrar
que a arte deve ser humana:
Podemos crer, e tudo nos l eva a i sso, que, se ns no exi s-
t ssemos, os pl anetas no descreveri am menos suas rbi tas atra-
vs do espao, e no me parece provvel que, se ns desapare-
cssemos um di a da face da terra, a natureza e a vi da devessem
se ani qui l ar e desaparecer conosco. Mas o que a arte fora do
homem? A que responderi a? E que seri a somente a matri a? A
arte no tem exi stnci a e real i dade seno para o homem e pel o
homem. (...) Ei s por que a pri mei ra condi o da arte de ser
humana, ai nda antes de ser arte.
Obser vemos que humano si gni fi ca aqui si mpl esmente: que per -
tence ao homem; nesse senti do a pr oposi o enunci ada i ncontes-
tvel . Por m, mal havendo demonstr ado sua pr oposi o em cer to
senti do, Br uneti r e empr ega-a em outr o e, num passe de mgi ca,
humano se tr ansfor ma em humanitrio, o que no absol utamente
a mesma coi sa.
Os natural i stas fi nal mente acabaram por escut-l a (a propo-
si o no senti do i ndi cado aci ma) (...), perceberam que o romance
natural i sta, l i berado de seus anti gos constrangi mentos, no tar-
dari a a i ncl i nar-se para o romance soci al .
Ei s o novo senti do que se mani festa.
Atirando-se ao povo, segundo a pal avra de La Bruyre, era
portanto i nevi tvel que o natural i smo fi zesse descobertas. (...)
Ei s que o soci al toma um senti do parti cul ar e si gni fi ca: o que pertence
a certas cl asses soci ai s; e medi da que esse senti do se torna mai s
parti cul ar, a arte humana torna-se no somente a arte humanitria,
mas humanitria no senti do que convm Bruneti re:
Vocs se i ntei raram de que a curi osi dade do prazer ou do
sofri mento dos outros seri a somente i ndi scri o e mesmo perver-
si dade se ns no buscssemos razes e mei os de estabel ecer ou
de reforar os l aos de sol i dari edade que nos l i gam a el es.
Parece que os i nfel i zes burgueses no so homens, e o que l hes di z
respei to no humano. Bruneti re i ndaga se, nos romances de Bazi n,
se observou que
mal se vi a passar, em l ti mo pl ano e mal esboados, al guns
heri s burgueses. Mas os verdadei ros, aquel es que vocs amam,
OS ECONOMISTAS
110
os preferi dos de seu corao e de seu tal ento (...) so todos do
povo, do verdadei ro povo, daquel es que trabal ham com suas mos,
l avradores, operri os de fbri ca. (...) Foi no c rcul o estrei to de
sua profi sso que vocs encerraram o drama de sua exi stnci a.
No se v mesmo aparecer em Terra que Morre o propri etri o
da fazenda que os Lumi neau val ori zam. (...)
Se ti vesse apareci do, o romance no mai s seri a humano, o propri etri o
no um homem. Fi nal mente, num acesso de l i ri smo, nosso autor,
di ri gi ndo-se a Bazi n, decl ara:
No conheo, na l i teratura contempornea, obra menos ari s-
tocrti ca e menos burguesa, mai s popul ar que a sua. Nenhum
dos mestres do teatro e do romance contemporneo se i ncl i nou
com mai s compl acnci a para os humi l des com curi osi dade mai s
i nqui eta ou mai s apai xonada por seus mal es.
95
Em suma, o raci oc ni o de nosso autor l eva a i sso: a arte deve
ocupar-se de coi sas que di zem respei to ao homem, ser humano; por-
tanto, el a no deve ocupar-se seno do povo, dos operri os, para ter
por objeti vo a sol i dari edade, ser humani tri a.
Logi camente, esse raci oc ni o absurdo e, no entanto, foi favora-
vel mente acol hi do e apl audi do pel os bons burgueses que o escutavam,
e i sso porque el es no so apegados ao raci oc ni o, mas s pal avras
que cotucavam agradavel mente certos senti mentos seus. Esses bravos
homens crem que, prosternando-se di ante do povo, fazendo-se humi l -
demente l i sonjei ros, el es retornaro ao poder. Al m di sso, fal ta-l hes
toda energi a ci vi l e, para senti r sensaes agradvei s, -l hes sufi ci ente
ouvi r qual quer produo l i terri a onde venham, como em refro, as
pal avras: povo, operri os, os pequenos e os humi l des, humano, sol i da-
ri edade etc.
Em mui tos povos, o raci oc ni o sobre as coi sas soci ai s se paral i sam
no momento em que parece que certos fatos so, ou no, acei tos pel os
senti mentos rel i gi osos. Atual mente, junto aos povos ci vi l i zados, esse ponto
se encontra no momento em que parece que os fatos concordam ou no
com os sentimentos humanitri os, e no h preocupao, como se deveri a
fazer ci enti fi camente, em exami nar esses mesmos senti mentos.
PARETO
111
95 Para compreender a i nteno desse di scurso, preci so no esquecer que exi ste uma forte
concorrnci a entre o soci al i smo catl i co de Bruneti re e os outros soci al i smos. Os parti dri os
de qual quer uma dessas doutri nas esforam-se sempre para demonstrar que, mel hor do
que os parti dri os das outras doutri nas, el es se ocupam do bem do povo. Cada um procura
l evar a gua ao seu moi nho, adul ando e enganando Demos.
Bruneti re reserva aos romances que prefere o nome de romance soci al , que el e nega
aos romances de seus adversri os; poi s no chamo de romance soci al nem Os Mistrios
de Paris, nem Companheiro da Volta Frana, nem Os Miserveis. Por seu l ado, os
soci al i stas no permi tem Bruneti re i nti tul ar-se soci al i sta.
Aquel e que pudesse i nti tul ar-se verdadei ro soci al i sta sem que esse t tul o l he fosse
confi scado por ni ngum teri a resol vi do o mai s i nsol vel dos probl emas.
Herbert Spencer, por exempl o, tem senti mentos absol utamente
opostos guerra; em conseqnci a, quando el e l eva seu raci oc ni o at
o ponto em que mostra que certos fatos ferem esses senti mentos, nada
mai s h a acrescentar para el e, e esses fatos so condenados.
96
Outros
autores param no ponto em que podem demonstrar que certa coi sa
contrri a i gual dade entre os homens e no l hes ocorre que essa
i gual dade pode perfei tamente ser contestada.
102. A soci edade humana no homognea; consti tu da por el e-
mentos que di ferem mai s ou menos, no somente segundo caracter sti cas
mui to evi dentes, como sexo, i dade, fora f si ca, sade etc., mas tambm
por caracter sti cas menos observvei s, porm no menos i mportantes,
como as qual i dades i ntel ectuai s, morai s, a ati vi dade, a coragem etc.
A afi rmao de que os homens so objeti vamente i guai s de tal
manei ra absurda que no merece nem ao menos ser refutada. Ao con-
trri o, a i di a subjeti va da i gual dade dos homens um fato de grande
i mportnci a e que atua poderosamente para determi nar as mudanas
que a soci edade sofre.
103. Da mesma manei ra que numa soci edade se pode di sti ngui r
os ri cos e os pobres, se bem que as rendas cresam i nsensi vel mente
da mai s bai xa mai s al ta, pode-se di sti ngui r, numa soci edade, a el i te,
a parte aristocrtica, no senti do eti mol gi co ( = mel hor) e uma
parte vul gar; porm preci so sempre se l embrar de que se passa i n-
sensi vel mente de uma para a outra.
A noo dessa el i te est subordi nada s qual i dades que se procura
nel a. Pode haver uma ari stocraci a de santos ou uma ari stocraci a de
sal teadores, uma ari stocraci a de sbi os, uma ari stocraci a de l adres
etc. Se se consi dera esse conjunto de qual i dades que favorecem a pros-
peri dade e a domi nao de uma cl asse na soci edade, temos o que cha-
maremos si mpl esmente a elite.
Essa el i te exi ste em todas as soci edades e as governa, mesmo
quando o regi me , em aparnci a, aquel e da mai s ampl a democraci a.
Por uma l ei de grande i mportnci a, e que a razo pri nci pal de
OS ECONOMISTAS
112
96 Na La Morale des Divers Peuples, 127, nosso autor di z: d-se o nome de grande ao czar
Pedro, a Frederi co (da Prssi a), a Carl os Magno, a Napol eo, apesar dos atos mai s crui s
por el es cometi dos. E no l he vem ao esp ri to que mui tos desses atos podem ter contri bu do
enormemente ci vi l i zao humana. E h mai s, el e reprova l orde Wol sel ey, que general
do Exrci to i ngl s, por ter di to a seus sol dados que el es devem crer que os deveres de
sua condi o so os mai s nobres que um homem pode exercer. Mas como um general
poderi a expri mi r-se de outra manei ra? Deve el e di zer a seus sol dados: Vocs so mal fei tores
porque vocs deveri am fugi r?
O prpri o Spencer reconheci a, em seus Princpios de Sociologia, que em outros tempos
a guerra foi ti l ci vi l i zao. Ns ter amos agora chegado a uma poca em que el a j no
ti l , mas prejudi ci al . Essa proposi o pode ser verdadei ra pode tambm ser fal sa
mas el a no , certamente, de uma tal evi dnci a que possa se tornar um axi ona que si rva
para jul gar todas as aes dos homens de nossa poca.
mui tos fatos soci ai s e hi stri cos, essas ari stocraci as no duram, mas
se renovam conti nuamente. Temos assi m um fenmeno que se poderi a
chamar de circulao das elites.
Deveremos retomar a tudo i sso quando fal armos da popul ao;
sufi ci ente termos aqui rel embrado brevemente esses fatos, dos quai s
temos necessi dades nas consi deraes que se seguem.
104. Suponhamos que exi sta uma soci edade composta de uma
col eti vi dade A que domi na, e de uma col eti vi dade B sujei ta, as quai s
so cl aramente hosti s.
El as podero parecer, uma e outra, o que so real mente. Mas
acontecer com freqnci a que a parte domi nante A querer parecer
agi r para o bem comum, porque espera assi m di mi nui r a oposi o de
B; enquanto a parte sujei ta B rei vi ndi car francamente as vantagens
que quer obter.
Observam-se fatos semel hantes quando as duas partes so de
naci onal i dade di ferente: por exempl o, junto aos i ngl eses e i rl andeses,
junto aos russos e pol oneses.
O fenmeno se torna mui to mai s compl exo numa soci edade de
naci onal i dades homogneas ou, o que d no mesmo, consi derada como
tal pel os que a compem.
Pri mei ro, nessa soci edade, entre as duas partes adversas A e B,
col oca-se uma parte C, que parti ci pa de uma e de outra e que pode
se encontrar tanto de um l ado como de outro. Em segui da a parte A
di vi de-se em duas: uma, que chamaremos A, tem ai nda bastante fora
e energi a para defender sua parte de autori dade; outra, que chama-
remos A, compe-se de i ndi v duos degenerados, de i ntel i gnci a e von-
tade fracas, humanitrios, como se di z hoje. Do mesmo modo, a parte
B di vi de-se em duas: uma, que chamaremos B, consti tui a nova ari s-
tocraci a que nasce, El a acol he tambm os el ementos de A que, por
cupi dez e ambi o, traem sua prpri a cl asse e se col ocam entre os
adversri os. A outra parte, que chamaremos B, compe-se da massa
vul gar que forma a mai or parte da soci edade humana.
97
105. Objeti vamente, a l uta consi ste uni camente em que os B
querem tomar o l ugar dos A; todo o resto subordi nado e acessri o.
Nessa guerra de chefes, i sto , os A e os B tm necessi dade
de sol dados, e cada um procura encontr-l os como puder.
Os A preocupam-se em fazer crer que trabal ham para o bem
comum, mas no caso atual uma arma de doi s gumes. Com efei to, se
de um l ado, i sso serve para di mi nui r a resi stnci a dos B, de outro,
di mi nui tambm a energi a dos A, que tomam por verdade o que no
PARETO
113
97 Na real i dade, passa-se por graus i nsens vei s de uma outra dessas cl asses. preci so
l embrar-se da observao fei ta no 103.
passa de fi co e no pode ser ti l seno como tal . Com o tempo pode
acontecer que os B crei am sempre menos na pal avra de ordem dos
A, enquanto os A tomam-na cada vez mai s como regra de sua conduta
real e, nesse caso, o arti f ci o empregado pel os Aa vol ta-se contra el es
e termi na por fazer-l hes mai s mal do que bem. o que se pode constatar
atual mente em certos pa ses, nas rel aes entre a burguesi a e o povo.
98
106. Quanto aos B, aparecem como defensores dos B e, mel hor
ai nda, como defensores de medi das tei s a todos os ci dados. De tal
manei ra que a di sputa que, objeti vamente, uma l uta pel a domi nao
entre os A e os B, toma, subjeti vamente, a forma de uma l uta pel a
l i berdade, justi a, di rei to, i gual dade e outras coi sas semel hantes: e
essa forma que a hi stri a regi stra.
Para os B, as vantagens desse modo de agi r so que, notada-
mente, os B atraem no somente os B, mas uma parte dos C e
tambm a mai or parte dos A.
Suponhamos que a nova el i te al ardeasse cl ara e si mpl esmente
suas i ntenes, que so de supl antar a anti ga el i te; ni ngum vi ri a em
sua ajuda, el a seri a venci da antes de haver se l anado batal ha. Ao
contrri o, el a tem o ar de nada pedi r para si , sabendo bem que, sem
pedi -l o adi antadamente, obter o que qui ser como conseqnci a de sua
vi tri a. El a afi rma que faz a guerra somente para obter a i gual dade
entre os B e os A, em geral . Graas a essa fi co, conqui sta o favor,
ou, pel o menos, a benevol ente neutral i dade da parte i ntermedi ri a C,
que no teri a consenti do em favorecer os fi ns parti cul ares da nova
ari stocraci a. Em segui da, el a no somente tem consi go a mai or parte
do povo, mas obtm tambm o favor da parte degenerada da anti ga
el i te. preci so l embrar que essa parte, embora degenerada sempre
superi or ao vul go: os A so superi ores aos B e tm, al m di sso,
di nhei ro necessri o para as despesas de guerra. Consta que quase todas
as revol ues foram obra, no do vul go, mas da ari stocraci a e notada-
mente da parte desprovi da da ari stocraci a; o que se v na hi stri a,
comeando na poca de Pri cl es at a poca da pri mei ra revol uo
francesa; e hoje mesmo vemos que uma parte da burguesi a ajuda for-
temente o soci al i smo, cujos chefes, al i s, so burgueses. As el i tes ter-
mi nam comumente pel o sui c di o.
O que acabamos de di zer somente o resumo de fatos numerosos,
e no possuem outro val or que o dos fatos. Mas, por fal ta de espao,
ns remetemos nossos l ei tores aos Systmes, onde se encontram ex-
postos em parte.
99
V-se agora a grande i mportnci a subjeti va da concepo da i gual -
dade dos homens, i mportncia que no exi ste do ponto de vi sta objeti vo.
OS ECONOMISTAS
114
98 Systmes Socialistes. p. 396.
99 Encontrar-se- em nossa Sociologia um grande nmero de outros fatos.
Essa concepo o mei o comumente empregado, notadamente em nossos
di as, para se desembaraar de uma aristocracia e substi tu -l a por outra.
107. preci so observar que a parte degenerada da el i te, i sto ,
os A, aquel a que verdadei ramente enganada, e que se dei xa i r
para onde no pretendi a. O vul go, i sto , os B, termi na sempre para
ganhar al guma coi sa, seja durante a batal ha, seja quando l he ocorre
mudar de patro. A el i te da anti ga ari stocraci a, i sto , os A, no
enganada, el a sucumbe sob a fora; a nova ari stocraci a obtm a vi tri a.
A obra dos humani tri os do scul o XVI I I , na Frana, preparou
o massacre do Terror; a obra dos l i berai s da pri mei ra metade do scul o
XI X preparou a opresso demaggi ca, cuja aurora desponta.
Aquel es que pedi am a i gual dade dos ci dades perante a l ei cer-
tamente no previ am os pri vi l gi os de que gozam agora as cl asses
popul ares; supri mi ram-se as anti gas juri sdi es especi ai s e acaba de
i nsti tui r-se uma nova, a dos consel hos arbi trai s em favor dos oper-
ri os.
100
Aquel es que pedi am l i berdade de greve no i magi navam que
a l i berdade, para os grevi stas, consi sti ri a em espancar os operri os
que querem conti nuar a trabal har e a i ncendi ar i mpunemente as f-
bri cas. Aquel es que pedi am a i gual dade dos i mpostos em favor dos
pobres no i magi navam que se chegari a ao i mposto progressi vo s
expensas dos ri cos e a uma organi zao na qual os i mpostos so votados
por aquel es que no os pagam, de tal manei ra que se ouve, s vezes,
o segui nte r aci oc ni o desaver gonhado: O i mposto A no ati nge seno
as pessoas r i cas e ser vi r par a cobr i r despesas que ser o tei s ape-
nas aos menos afor tunados: por tanto, el e ser , cer tamente, apr ovado
pel os el ei tor es .
Os i ngnuos que em qual quer pa s desorgani zaram o exrci to,
dei xando-se l evar por di scursos sobre justi a e i gual dade, assustam-se
e i ndi gnam-se quando do nasci mento do anti mi l i tari smo, do qual , en-
tretanto, so os autores. Sua i ntel i gnci a no chega a compreender
que se col he o que se semei a.
107. bis. O grande erro da poca atual crer que se pode governar
os homens pel a pura razo, sem fazer uso da fora, que , ao contrri o,
o fundamento de toda organi zao soci al . at curi oso observar que
a anti pati a da burguesi a contempornea contra a fora termi na por
dei xar o campo l i vre para a vi ol nci a. Por estarem seguros da i mpu-
ni dade, os mal fei tores e os amoti nadores fazem quase tudo que desejam.
As pessoas mai s prti cas so l evadas a se si ndi cal i zar e a recorrer
ameaa e vi ol nci a, ni ca vi a aberta que os governantes l hes dei xam
para defender seus i nteresses.
PARETO
115
100 Systmes Socialistes, I , p. 136.
A rel i gi o humani tri a mui provavel mente desaparecer quando
ti ver cumpri do sua obra de di ssol uo soci al e quando uma nova el i te
se l evantar sobre as ru nas da anti ga. A i nconsci nci a i ngnua de uma
burguesi a em decadnci a faz toda a fora dessa rel i gi o, que no ter
nenhuma uti l i dade no di a em que os adversri os da burguesi a se tor-
narem bastante fortes para no mai s esconder seu jogo.
i sso, al i s, que j fazem os mel hores dentre el es; e o sindicalismo
permi te prever j o que poder ser a fora e a di gni dade da nova el i te.
Uma das obras mai s notvei s de nossa poca a que G. Sorel
publ i cou sob o t tul o de Reflexes Sobre a Violncia.
101
El a anteci pa o
futuro, sai ndo compl etamente dos di scursos vazi os de senti do do hu-
mani tari smo para entrar na real i dade ci ent fi ca.
108. As teori as econmi cas e soci ai s das quai s se servem aquel es
que parti ci pam das l utas soci ai s no devem ser jul gadas pel o seu val or
objeti vo, mas pri nci pal mente por sua efi ci nci a em susci tar emoes.
A refutao ci ent fi ca que se possa fazer no serve para nada, por
mai s exata que seja objeti vamente.
H mai s. Os homens, quando l hes ti l , podem acredi tar em
uma teori a, da qual no sabem mai s do que o nome; este , al i s, um
fenmeno corrente em todas as rel i gi es. A mai ori a dos soci al i stas
marxi stas no l eu as obras de Marx. Em al guns casos parti cul ares se
pode ter a prova certa. Por exempl o, antes mesmo que essas obras
ti vessem si do traduzi das ao francs e ao i tal i ano, certo que os so-
ci al i stas franceses e i tal i anos, que no sabi am o al emo, no poderi am
t-l as l i do. As l ti mas partes de O Capital, de Marx, foram traduzi das
para o francs no momento em que o marxi smo comeava a decl i nar
na Frana.
Todas as di scusses ci ent fi cas a favor ou contra o l i vre-cmbi o
no ti veram nenhuma i nfl unci a, ou ti veram parte bem fraca sobre a
prti ca do l i vre-cmbi o ou da proteo.
Os homens seguem seus senti mentos e seus i nteresses, mas agra-
da-l hes i magi nar que seguem a razo; tambm procuram, e encontram
sempre, uma teori a que, a posteriori, d certa cor l gi ca a suas aes.
Se se pudesse, ci enti fi camente, reduzi r essa teori a a nada, chegar-se-i a
si mpl esmente ao resul tado de que uma outra teori a substi tui ri a a pri -
mei ra para ati ngi r o mesmo fi m; usar-se-i a numa nova forma, mas as
aes conti nuari am as mesmas.
, portanto, ao senti mento e ao i nteresse que se pode di ri gi r
para fazer os homens agi r e segui r o cami nho que se deseja. Sabe-se
ai nda mui to pouca coi sa sobre a teori a desses fenmenos, e no podemos
nos estender mai s sobre o assunto.
OS ECONOMISTAS
116
101 Le Mouvement Socialiste desde janei ro de 1906 e pri nci pal mente mai o-junho de 1906.
109. A i gual dade dos ci dados di ante da l ei um dogma para
mui ta gente e, nesse senti do, el a escapa cr ti ca experi mental . Se
qui sermos fal ar de manei ra ci ent fi ca veremos i medi atamente que no
nada evi dente a priori que tal i gual dade seja vantajosa soci edade;
e ai nda mai s, dada a heterogenei dade da prpri a soci edade, o contrri o
parece mai s provvel .
Se, nas soci edades modernas, essa i gual dade substi tui os esta-
tutos pessoai s das anti gas soci edades, tal vez porque os mal es pro-
duzi dos pel a i gual dade so menores que os provocados pel a contradi o
entre os estatutos pessoai s e o senti mento de i gual dade que exi ste nas
soci edades modernas.
Por outro l ado, essa i gual dade comumente uma fi co. Todos
os di as do-se novos pri vi l gi os aos operri os, que obtm assi m um
estatuto pessoal que no dei xa de ter uti l i dade para el es. Como j
observamos, quanto questo de que o operri o i gual ao burgus,
i sso no tem como conseqnci a, graas l gi ca do senti mento, que o
burgus seja i gual ao operri o.
102
110. A heterogenei dade da soci edade tem por conseqnci a que
as regras de conduta, as crenas, a moral devem ser, pel o menos em
parte, di ferentes para as di ferentes partes da soci edade, a fi m de pro-
porci onar o mxi mo de uti l i dade soci edade. Na real i dade, i sso acon-
tece mai s ou menos assi m em nossas soci edades, e somente em fi co
que se fal a de uma moral ni ca. Os governos, por exempl o, tm i di as
sobre a honesti dade total mente di ferentes das i di as dos parti cul ares.
Basta ci tar a espi onagem a que recorrem para surpreender os segredos
da defesa naci onal ,
103
a fabri cao de moedas fal sas, substi tu das hoje
pel as emi sses de papel -moeda etc.
Junto aos parti cul ares podemos constatar di ferentes morai s pro-
fi ssi onai s, que di ferem, mai s ou menos, entre si .
Essas di ferenas no i mpedem que essas di ferentes morai s pos-
sam ter al go em comum. O probl ema, como todos os probl emas da
Soci ol ogi a, essenci al mente quanti tati vo.
PARETO
117
102 Para i nformar-se sobre o que a igualdade na mai s avanada das democraci as modernas,
sufi ci ente l er o di scurso de Deschanel na Cmara francesa, em 8 de mai o de 1907.
A esse propsi to escreve G. de Lamarzel l e: Tambm sob os regi mes pretensamente
democrti cos nunca a massa, mas sempre uma mi nori a que di ri ge tudo, que senhora
de tudo.
"Essa mi nori a (...) chegou a domi nar tudo na Frana e se serve de sua domi nao o
di scurso de Steeg o demonstra de forma superabundante sobretudo para sati sfazer os
i nteresses pessoai s, os apeti tes de seus membros."
O que esses homens de Estado concl uem agora sobre os fatos contemporneos, ns ha-
v amos deduzi do em geral dos fatos de toda a hi stri a nos Sistemas Socialistas publ i cados
em 1902; e bem antes si r Henry Summer Mai ne ti nha sal i entado essa uni formi dade na
Hi stri a.
103 Em 1904, mui tos jornai s franceses fal avam, com mui tos el ogi os e como de uma hero na,
de certa mul her que, estando a servi o do embai xador da Al emanha em Pari s, o tra a e
remeti a a agentes do Governo francs os papi s que roubava da embai xada.
111. Se as di ferentes cl asses das soci edades humanas fossem
materi al mente separadas, como o so aquel as de certos i nsetos (cupi ns),
essas di ferentes morai s poderi am subsi sti r sem se chocar demasi ado.
Porm, as cl asses das soci edades humanas so mi sturadas e, al m
di sso, exi ste nos homens de hoje um senti mento de i gual dade mui to
forte, que no poderi a ser feri do sem graves i nconveni entes. Tambm
preci so que essas morai s, essenci al mente di ferentes, tenham a apa-
rnci a de no ser di ferentes.
Acrescentamos que di f ci l que uma cl asse de homens possa,
i ndefi ni damente, parecer ter senti mentos que no possui ; preci so,
portanto, que essas morai s di ferentes sejam consi deradas como i guai s
por aquel es que as seguem. Provm da , em parte, a casu sti ca, que
se encontra em todos os tempos e em todos os povos. Col oca-se um
pri nc pi o geral que todos acei tam; faz-se, em segui da, todas as excees
necessri as, graas s quai s esse pri nc pi o s geral na aparnci a.
Todos os cri stos da I dade Mdi a admi ti am pl enamente o precei to
di vi no do perdo das ofensas, mas os nobres feudai s esforavam-se,
energi camente, por vi ngar as i njri as recebi das. Em nossos di as, todo
mundo se decl ara parti dri o da i gual dade entre os homens, porm i sso
no i mpede que os operri os obtenham novos pri vi l gi os todos os di as.
112. Os mei os que servem para separar as morai s so mui to i m-
perfei tos: tambm as morai s se mi sturam na real i dade, e ns nos di stan-
ci amos assi m das condi es que podem fazer prosperar a soci edade.
113. As cl asses i nferi ores tm necessidade de uma moral humani-
tri a, que serve tambm para suavizar seus sofrimentos. Se as cl asses
superi ores a acol hem somente pel a forma, o mal no grande; mas se,
pel o contrri o, el as a seguem real mente, da resul tam grandes mal es para
a soci edade. Anti gamente se observou mui tas vezes que os povos tm
necessi dade de ser governados com mo de ferro enl uvada de vel udo. A
justi a deve ser r gi da e parecer cl emente. O ci rurgio conforta o doente
com boas palavras, enquanto, com mo fi rme e i mpi edosa, corta o corpo.
114. Numa soci edade mai s restri ta, como a dos soci al i stas de
hoje, vemos os chefes, e em geral os soci al i stas mai s cul tos, terem
crenas um pouco di ferentes daquel as da massa. Enquanto esta sonha
com uma futura i dade de ouro, que vi r com o col eti vi smo, aquel es,
i nformados pel a prti ca do governo de sua soci edade ou pel a das ad-
mi ni straes pbl i cas, tm uma f menor na panaci a do col eti vi smo
e preocupam-se de prefernci a com reformas mai s i medi atas.
104
Essa
OS ECONOMISTAS
118
104 Por vol ta do fi nal do ano de 1906. Jaurs foi i nti mado, na Cmara, a preci sar a l egi sl ao
para estabel ecer o col eti vi smo, que el e recl amava h mui to tempo. El e pedi u trs meses
para faz-l o, o que j era bastante surpreendente, se nos col ocamos apenas do ponto de
di versi dade na f mui to ti l para os soci al i stas, poi s assi m cada um
tem a f que mel hor corresponde ati vi dade que deve executar.
115. A di versi dade da natureza dos homens junto com a neces-
si dade de dar, de qual quer manei ra, sati sfao ao senti mento que os
pretende i guai s, fez com que, na democraci a, houvesse um esforo em
dar a aparnci a do poder ao povo e a real i dade do poder a uma el i te.
At aqui , as democraci as em que i sso foi poss vel ser fei to s prospe-
raram, mas esse equi l bri o i nstvel e, aps mui tas mudanas, produz
al guma subverso radi cal .
116. A l enda, contada por Di oni so de Hal i carnasso, o ti po de nu-
merosos fenmenos histri cos posteri ores. Por mei o dos com ci os centuri ai s,
Srvi o Tl i o enganou a pl ebe e l he roubou o governo da coi sa pbl i ca.
El es i magi navam ter todos uma parte i gual no governo da
ci dade, porque cada homem, em sua centri a, era chamado a
dar sua opi ni o, mas el es se enganavam, porque cada centri a
ti nha apenas um voto, fosse el a composta de um grande nmero
de ci dados ou de uns poucos
105
e al m di sso os pobres eram os l ti mos a ser chamados e i sso apenas
se o sufrgi o das pri mei ras centri as no ti vesse si do deci si vo.
C cero nos di z que a l i berdade consi ste em dar ao povo a facul dade
de conceder sua confi ana aos bons ci dados,
106
e exatamente esse
o pri nc pi o que o regi me representati vo moderno se propunha real i zar.
Porm nem em Roma, nem nos Estados modernos i sso foi obti do; e o
povo qui s mai s do que a si mpl es facul dade de el eger os mel hores para
govern-l o.
117. A Hi stri a nos ensi na que as cl asses di ri gentes sempre ten-
taram fal ar ao povo a l i nguagem que el as acredi tavam no ser a mai s
verdadei ra, mas a que mel hor convi nha ao objeti vo a que el as se pro-
PARETO
119
vi sta da l gi ca, poi s se esperava que um chefe de parti do soubesse exatamente o que
pretendi a obter. H mai s ai nda; os trs meses se passaram h mui to tempo e chegou o
fi m do ano de 1907 sem que Jaurs houvesse dado a conhecer seu pl ano, que permanece
sempre escondi do por nuvens espessas.
Essa manei ra de agi r pode parecer absurda de um ponto de vi sta objeti vamente l gi co;
el a , ao contrri o, perfei tamente sensata e razovel do ponto de vi sta subjeti vo de uma
ao sobre os senti mentos, e i sso por razes que acabam de ser dadas no texto.
105 Anti gi dades Romanas. I V, 21:
, ,
. ,
.
106 por i sso que el e queri a que o povo mostrasse seu bol eti m de voto e o oferecesse ao mel hor
ci dado. De Legibus, I I I , 17: Habeat sane popul us tabel l am, quasi vi ndi cem l i bertati s,
dummodo haec opti mo cui que et gravi ssi mo ci vi ostendatur, ul troque offertur; uti i n eo si t
i pso l i bertas, i n quo popul o potestas honestes boni s grati fi candi datur.
punham.
107
E i sso mesmo o que se passa nas democraci as mai s avan-
adas, como a democraci a francesa. Temos a um notvel exempl o da
persi stnci a dos mesmos fenmenos soci ai s, sob novas formas.
118. Por moti vos i ntei s de serem aqui pesqui sados, a cl asse
que gover na a Fr ana se compe de duas par tes, que chamar emos de
A e B. Os A, par a desembaraar -se dos B, chamar am os soci al i stas
em sua ajuda, mas com i nteno deter mi nada de ceder pouca coi sa
ou nada ao povo, al i mentando-o com fumaa e pagando l autamente
os chefes que desejavam ter a seu ser vi o. Para que essa manei ra de
agi r no fosse por demai s apar ente, par a desvi ar a ateno, el es i ma-
gi nar am a campanha anti cl er i cal e, com esse engodo, cati var am al guns
i ngnuos, aos quai s se juntar am, sem grande tr abal ho, os humani t-
ri os, de i ntel i gnci a e ener gi a fr acas. Em uma pal avr a, exi stem hoje,
na Fr ana, capi tal i stas que se tor nam r i cos e poder osos ser vi ndo-se
dos soci al i stas.
108
OS ECONOMISTAS
120
107 Ari sttel es descreve os arti f ci os empregados pel as ol i garqui as, Poltica. I V, 10, 6:
.
Nas repbl i cas, engana-se o povo de ci nco manei ras, medi ante pretextos". E acrescenta
que nas democraci as usa-se arti f ci os anl ogos.
108 Ver um excel ente arti go G. Sorel na Revista Popolore de Colajanni: A experi nci a da
pol ti ca anti cl eri cal segui da com tanta obsti nao pel o Governo francs h doi s anos, cons-
ti tui um dos fenmenos soci ai s mai s i mportantes que o fi l sofo possa estudar. O autor
assi nal a a covardi a dos adversri os de Combes. o que si gni fi ca, al i s, apenas um caso
parti cul ar da l ei geral da decadnci a das ari stocraci as. Quando se comeou a expul sar os
monges, anunci ou-se que haveri a uma resi stnci a enrgi ca (...), mas aps al gumas tentati vas
na Bretanha, tudo se tornou cal mo. (...) A coragem dos adversri os no foi at a resi stnci a
l egal . (...), A Libre Parole sal i entou, di versas vezes, que o mundo catl i co no di mi nui suas
festas e nada mudou em suas rel aes mundanas. (...) Urbai n Gohi er denunci ou, em vi nte
vi gorosos arti gos, todo ti po de trfi co que teri a si do prati cado pel a Petite Rpublique, e se
mui tos jovens se tornaram soci al i stas, no duvi doso que i sso se deu porque el es estavam
seguros de fazer um bom negci o. El es estari am verdadei ramente curi osos em saber os
nomes dos capi tal i stas que deram, recentemente, grossas somas para permi ti r Petite
Rpublique transformar-se e ao Humanit nascer; ni ngum i magi na, suponho, que os ca-
pi tal i stas fornecessem di nhei ro aos soci al i stas por amor ao col eti vi smo! No se d um
mi l ho em negci os como este se no se est seguro de ti rar da al gum l ucro. O soci al i smo
parl amentar tornou-se uma excel ente empresa cujas aes so mui to apreci adas no mundo
da Bol sa.
O autor tem noo cl ara de manei ra como se d a evol uo pol ti ca: Assi m, as questes
materi ai s so escondi das sob uma dupl a camada de senti mentos, que i mpedem o homem
de perceber que exi ste em sua conduta pol ti ca mui to mai s ego smo e ms pai xes do que
pensa. (...) A pol ti ca, em geral , domi nada sobretudo pel os i nteresses daquel es que a
fazem e que se propem a del a ti rar vantagens. Os i nteresses se col i gam faci l mente, e
assi m que, quase em toda parte, os governos l i berai s se api am em pessoas que tm al guma
coi sa a obter para si prpri as, para seus consel hos el ei torai s, ou para grupos soci ai s aos
quai s pedem votos.
Germai n, que foi di retor do Crdit Lyonnais, fal ava grosso, desde 1883, exatamente dos
pol ti cos, desses homens que no pensam seno em uma coi sa: ter a mai ori a e di spor do
oramento da Frana em favor de sua cl i entel a.
Podemos acr escentar al guns fatos vi ndos l uz no i nqur i to sobr e os Chartr eux. Tr ata-se
pr i mei r o de al gum que decl ara ter , j unto com ami gos, doado 100 mi l francos par a as
el ei es, e acrescenta, al i s, que el e no se ocupa de pol ti ca . esse outr o fato do
qual fal ou Aynard na Cmar a dos Deputados em 12 de jul ho de 1904: (...) tr ata-se de
saber tambm o que do di nhei ro do comi t Mascur aud, auxi l i ar do Governo. Tr ata-se
de saber quem esse per sonagem ori gi nal que tem uma admi rvel contabi l i dade de
119. Quanto mai s se desce nas camadas soci ai s, mai s o mi so-
ne smo domi na e mai s os homens se recusam a agi r por outras con-
si deraes que no seja seu i nteresse di reto e i medi ato. Foi ni sso que
se apoi aram, em Roma e tambm entre os povos modernos, as cl asses
superi ores para governar. Mas i sso no pode durar porque as cl asses
i nferi ores termi nam por compreender mel hor seu i nteresse pessoal e
se vol tam contra aquel es que expl oram sua i gnornci a.
120. Esse fenmeno pode ser bem estudado na I ngl aterra mo-
derna. O parti do tory contri bui u para ampl i ar mai s o sufrgi o, para
ati ngi r as camadas que l hes servi am de apoi o no governo, recompen-
sando seus al i ados com medi das que justi fi caram pl enamente o nome
socialismo tory Agora os whigs, que no passado defenderam os pri n-
c pi os l i berai s, entram em concorrnci a com os tory para al canar as
boas graas da pl ebe. El es buscam al i ana com os soci al i stas e vo
mui to mai s l onge do que o soci al i smo mel oso e humani tri o dos tory.
Os doi s parti dos l utam para ver quem se prosternar mai s humi l de-
mente aos ps do homem da pl ebe, e cada qual busca supl antar o
outro em sua adul ao. I sso se v at nos mai s nfi mos detal hes. No
momento da preparao das el ei es, os candi datos no tem vergonha
de envi ar suas mul heres e suas fi l has para mendi gar os sufrgi os.
Esses atos, por sua novi dade i nesperada, cati vam o homem do povo,
surpreso com tanto amor e tanta benevol nci a; mas, com o tempo, el es
termi nam por provocar nuseas naquel es que vem por demai s cl ara
a bajul ao i nteressada.
121. Quando uma camada soci al compreende que as cl asses al tas
querem si mpl esmente expl or-l a, estas descem ai nda mai s bai xo para
encontrar outros parti dri os; mas evi dente que chegar o di a em
que i sso j no poder conti nuar porque fal tar matri a. Quando o
sufrgi o for concedi do a todos os homens, i ncl ui ndo os l oucos e os
cri mi nosos, quando for estendi do s mul heres, se o qui serem, e s
cri anas, ser preci so parar; no se poder descer mai s bai xo, a menos
que concedamos o sufrgi o aos ani mai s, o que seri a mai s fci l do que
faz-l os expri mi r-se.
122. Na Al emanha, o sufrgi o uni versal foi estabel eci do, em parte,
para l utar contra a burguesi a l i beral ; o fenmeno , portanto, seme-
l hante ao que se passou na I ngl aterra: e da mesma manei ra se pro-
mul garam i nmeras l ei s soci ai s na esperana de arrebatar parti dri os
PARETO
121
seus banquetes, sobretudo de seus banquetes, de suas i das e vi ndas, e que no tem nenhuma
contabi l i dade do di nhei ro.
I sso, porm, no nada ao l ado do que se passa nos Estados Uni dos no momento das
el ei es.
do parti do soci al i sta. Mas o resul tado no foi ati ngi do e o povo percebeu
perfei tamente os arti f ci os que se empregavam para l ogr-l o. Atual -
mente, as cl asses el evadas comeam a se quei xar do sufrgi o uni versal ,
e procura-se um mei o de vol tar atrs.
109
123. No momento em que comeou a evol uo democrti ca, que
se desenvol veu no curso do scul o XI X e que dever termi nar no scul o
XX, al guns pensadores vi ram, perfei tamente, qual deveri a ser seu fi m;
mas suas previ ses so esqueci das, agora que el as se real i zam, e quando
fi nal mente o homem pertencente s l ti mas camadas soci ai s compreen-
der e transportar real i dade essa observao l gi ca:
Se a expresso arbi trri a de mi nha vontade o pri nc pi o da
ordem l egal , mi nha sati sfao pode ser tambm o pri nc pi o da
reparti o da ri queza.
110
Mas a hi stri a no estaci onar no fi m da evol uo atual , e se o
futuro no deve ser compl etamente di ferente do passado, evol uo
atual suceder uma evol uo em senti do contrri o.
OS ECONOMISTAS
122
109 O prof. Von Jagemann, que durante dez anos fez parte do Consel ho Federal do I mpri o,
para o Governo de Badess, e agora professor de Di rei to Pbl i co na Uni versi dade de
Hei del berg, escreveu uma obra i nteressante na qual exami na os mei os l egai s que se poderi a
empregar para substi tui r, na Al emanha, o sufrgi o uni versal pel o sufrgi o restri to.
110 STAHL. Rechtsphi l osophi e. I I , 2, p. 72
CAPTULO III
Noo Geral do Equilbrio Econmico
1. Tudo o que precede ti nha por fi m, no expor a teori a, mas
dar al guns exempl os de uma extens ssi ma cl asse de probl emas, dos
quai s no podemos fazer abstrao, seno raramente, nas questes
prti cas; i remos agora estudar uma cl asse compl etamente di ferente de
fenmenos, cuja teori a nos propomos construi r.
Estudar emos as aes l gi cas, r epeti das em gr ande nmer o,
que os homens executam par a buscar as coi sas que sati sfazem seus
gostos.
Exami nemos uma rel ao do gnero da que i ndi camos por AB
no 89 do cap tul o I I ; no nos ocuparemos, pel o menos em Economi a
pura, das rel aes do gnero BC, nem das reaes destas sobre B. Em
outras pal avras, ocupar-nos-emos apenas de certas rel aes entre fatos
objeti vos e os subjeti vos que so pri nci pal mente os gostos dos homens.
Al m di sso, si mpl i fi caremos mai s o probl ema, supondo que o fato sub-
jeti vo se adapta perfei tamente ao fato objeti vo; e podemos faz-l o porque
consi deramos apenas as aes que se repetem, o que nos permi te ad-
mi ti r que uma l i gao l gi ca une essas aes. Um homem que, pel a
pri mei ra vez, compra certo al i mento, poder comprar mai s do que pre-
ci sa para sati sfazer seu gosto, l evando em conta o preo; mas, numa
segunda compra el e reti fi car seu erro, pel o menos em parte; e assi m,
pouco a pouco, termi nar por adqui ri r exatamente o de que necessi ta.
Ns o consi deramos a parti r do momento em que chegou a esse estado.
Da mesma manei ra, se el e se engana uma pri mei ra vez em seus ra-
ci oc ni os a respei to do que deseja, reti fi c-l os- repeti ndo-se e termi nar
por torn-l os compl etamente l gi cos.
2. Si mpl i fi camos, assi m, enormemente o probl ema, consi derando
apenas uma parte das aes do homem, consi gnando-l he, al m di sso,
certas caracter sti cas. o estudo dessas aes que formar o objeto
da Economi a Pol ti ca.
123
3. Mas, por outro l ado, o probl ema bastante compl exo, poi s os
fatos objeti vos so mui to numerosos e dependem, em parte, uns dos
outros. Essa mtua dependnci a faz com que a l gi ca comum se torne,
em br eve, i mpotente, l ogo que se v al m dos pr i mei r os el ementos.
pr eci so, ento, r ecor r er a uma l gi ca especi al , apr opr i ada a esse
gner o de estudos, i sto , l gi ca matemti ca. No h, por tanto,
por que fal ar de um mtodo matemti co que se oporia a outr os
mtodos. Tr ata-se de um pr ocedi mento de pesqui sa e demonstr ao
que vem JUNTAR-SE aos outr os.
4. Al m di sso, sempre em conseqnci a de di fi cul dades i nerentes
ao prpri o probl ema, preci so ci ndi r a matri a: comear por el i mi nar
tudo que no propri amente essenci al e consi derar o probl ema reduzi do
a seus pri nci pai s e essenci ai s. Somos assi m l evados a di sti ngui r a Economi a
pura e a Economi a apl i cada. A pri mei ra representada por uma fi gura
que contm apenas as l i nhas pri nci pai s: acrescentando-se os detal hes,
obtm-se a segunda. Essas duas partes da Economi a so anl ogas s
duas partes da Mecnica: Mecni ca raci onal e Mecnica aplicada.
5. Procede-se de manei ra semel hante em quase todos os ramos
do saber humano. At mesmo em Gramti ca, comea-se por dar as
pri nci pai s regras fonti cas, s quai s se acrescenta, em segui da, as re-
gras parti cul ares. Quando, em Gramti ca grega, se di z que o aumento
o si nal do passado do i ndi cati vo dos tempos hi stri cos, estamos em
presena de uma regra que se poderi a chamar de Gramti ca pura.
Mas el a no sufi ci ente, por si mesma, para saber quai s so, efeti -
vamente, esses passados; para i sso preci so acrescentar um grande
nmero de regras parti cul ares.
6. O probl ema que nos propomos estudar , portanto, um probl ema
mui to parti cul ar, e procuramos sua sol uo a fi m de poder passar, em
segui da, a pesqui sas posteri ores.
7. O estudo da Economi a pura compe-se de trs partes: uma parte
estti ca uma parte di nmi ca que estuda os equi l bri os sucessi vos
uma parte di nmi ca que estuda o movi mento do fenmeno econmi co.
Essa di vi so corresponde real i dade concreta. Qual ser hoje,
na Bol sa de Pari s, o preo mdi o dos 3% franceses? um probl ema
de estti ca. Ei s al guns exempl os do mesmo gnero: Quai s sero esses
preos mdi os amanh, depoi s de amanh etc.? Segundo que l ei vari am
esses preos mdi os, esto el es em al ta ou em bai xa? um probl ema
de equi l bri os sucessi vos. Que l ei s regul am os movi mentos dos preos
dos 3% franceses, i sto , como que o movi mento, no senti do da al ta,
passa al m do ponto de equi l bri o, para tornar-se assi m a causa de
um movi mento em senti do contrri o; como vari am esses preos, rpi da
OS ECONOMISTAS
124
ou l entamente, de um movi mento ora acel erado, ora retardado? Este
um probl ema de di nmi ca econmi ca.
8. A teori a da estti ca a mai s avanada; h poucas noes
sobre a teori a dos equi l bri os sucessi vos e, sal ve o que di z respei to a
uma teori a especi al a das cri ses econmi cas , nada se sabe da
teori a di nmi ca.
9. Ns nos ocuparemos, pri mei ro, excl usi vamente da teori a estti ca.
Pode-se consi derar um fenmeno econmi co i sol ado, por exempl o a pro-
duo e o consumo de certa quanti dade de mercadori a, ou pode-se estudar
um fenmeno econmi co cont nuo, i sto , a produo e o consumo de certa
quanti dade de mercadori a, na uni dade de tempo. Como j vi mos, a Eco-
nomi a Pol ti ca estuda os fenmenos que se repetem ( 1) e no os fenmenos
aci dentai s, excepci onai s, mas os fenmenos mdi os; em conseqncia, ns
nos aproxi maremos mui to mai s da real i dade estudando o fenmeno eco-
nmi co cont nuo. Tal pessoa comprar ou no, hoje, tal prol a fi na deter-
mi nada? Este pode ser um probl ema psi colgi co, mas certamente no
um probl ema econmi co. Quantas prol as se vendem, em mdi a, por ms,
por ano, na I ngl aterra? Este um probl ema econmi co.
10. Quando fi ca bem cl aro que o fenmeno estudado um fen-
meno cont nuo, podemos, sem i nconveni ente, no tornar pesada a ex-
posi o da teori a repeti ndo a cada i nstante: na uni dade de tempo.
Quando fal armos, por exempl o, da troca de 10 qui l os de ferro por 1
qui l o de prata, preci so subentender que se faz na uni dade de tempo;
e que no fal amos de uma troca i sol ada, mas de uma troca repeti da.
11. Exi stem duas grandes cl asses de teori as. A pri mei ra tem por
objeto comparar as sensaes de um homem col ocado em condi es
di ferentes e comparar qual dessas condi es ser escol hi da por esse
homem. A Economi a Pol ti ca ocupa-se, pri nci pal mente, dessa cl asse
de teori as; e, como se tem por hbi to supor que o homem ser sempre
gui ado, em sua escol ha, excl usi vamente pel a consi derao de sua van-
tagem parti cul ar, de seu i nteresse pessoal , di z-se que essa cl asse
consti tu da pel as teori as do ego smo. Mas el a poderi a ser consti tu da
pel as teori as do altrusmo (se se pudesse defi ni r de manei ra ri gorosa
o que esse termo si gni fi ca) e, em geral , pel as teori as que repousam
sobre uma regra qual quer que o homem segue na comparao de suas
sensaes. No um carter essenci al dessa cl asse de teori as que o
homem, tendo duas sensaes a escol her, escol hesse a mai s agradvel ,
el e poderi a escol her uma outra, segundo uma regra que se poderi a
fi xar arbi trari amente. O que consti tui o carter essenci al dessa cl asse
de teori as, que se compararam as di ferentes sensaes de um homem
e no aquel as de di ferentes homens.
PARETO
125
12. A segunda cl asse de teori as compara as sensaes de um
homem com aquel as de um outro homem e determi na as condi es
nas quai s os homens devem ser col ocados, uns em rel ao aos outros,
se se pretende ati ngi r certos fi ns. Esse estudo si tua-se entre os mai s
i mperfei tos da ci nci a soci al .
111
13. Doi s cami nhos se nos oferecem para o estudo que queremos
fazer, e cada qual tem suas vantagens e seus i nconveni entes. Podemos
estudar a fundo cada assunto, sucessi vamente, ou ento comear a
dar-nos uma i di a geral , e necessari amente superfi ci al , do fenmeno
para retornar em segui da s coi sas j vi stas de manei ra geral , para
estud-l as em detal he, e termi nar nosso estudo aproxi mando-se sempre
mai s do fenmeno consi derado. Se se segue o pri mei ro mtodo, a ma-
tri a ser mai s bem ordenada, no haver repeti es; porm, di f ci l
ter i medi atamente uma vi so cl ara do conjunto compl exo do fenmeno;
segui ndo-se o segundo mtodo, obtm-se essa vi so de conjunto, mas
preci so ento resi gnar-se a i ndi car, de passagem, certos detal hes e
dei xar seus estudos para mai s tarde. Apesar desses i nconveni entes,
achamos ti l no negl i genci ar esse mtodo, e i sso sobretudo porque
bom segui -l o quando, e i sto vl i do preci samente para a ci nci a eco-
nmi ca, at aqui se estudou mel hor os detal hes do que o fenmeno
geral , que foi compl etamente ou quase compl etamente negl i genci ado.
Pode ser um di a, dentro de al guns anos ou mui to mai s tarde, essa
razo no mai s exi sta; ser mel hor ento proceder de forma di ferente
e ater-se ao pri mei ro mtodo.
14. O objeto pri nci pal de nosso estudo o equi l bri o econmi co.
Veremos, em breve, que esse equi l bri o resul ta da oposi o que exi ste
entre os gostos dos homens e os obstcul os para sati sfaz-l os. Nosso
estudo compreende, portanto, trs partes bem di ferentes: 1) o estudo
dos gostos; 2) o estudo dos obstcul os; 3) o estudo da manei ra como
esses doi s el ementos se combi nam para chegar ao equi l bri o.
15. A mel hor ordem a segui r consi sti ri a em comear pel o estudo
dos gostos, esgotando esse assunto; passar em segui da ao estudo dos
obstcul os e tambm esgot-l o; estudar fi nal mente o equi l bri o, sem
retornar ao estudo dos gostos nem ao dos obstcul os.
Mas, para o autor, seri a di f ci l assi m proceder, da mesma manei ra
que para o l ei tor. i mposs vel esgotar um desses assuntos sem fazer
com que, freqentemente, i ntervenham noes que pertencem aos ou-
tros doi s. Se essas noes no so aprofundadas, o l ei tor no pode
segui r a demonstrao; se as expl i camos, chega-se a mi sturar os as-
OS ECONOMISTAS
126
111 Cours dEconomi e Pol i ti que. I I , 654.
suntos que se propunha separar. Al m di sso, o l ei tor se cansa faci l mente
de um l ongo estudo do qual no v o objeti vo: o autor l eva i sso em
conta e trata dos gostos e obstcul os, no por acaso, mas somente na
medi da em que estes possam ser tei s para determi nar o equi l bri o;
o l ei tor sente o desejo l eg ti mo de saber tambm para onde conduz o
l ongo cami nho que se quer faz-l o percorrer.
Para mostrar onde queremos i r e para adqui ri r certas noes
que nos servi ro em nossos estudos, daremos neste cap tul o uma i di a
geral das trs partes do fenmeno. Estudaremos os gostos e os obst-
cul os somente na medi da em que for necessri o para se ter al gumas
i di as sobre o equi l bri o econmi co. Depoi s, retornaremos a cada uma
das partes desse todo do qual obti vemos assi m um conheci mento apro-
xi mati vo. Estudaremos os gostos no cap tul o I V; os obstcul os no ca-
pi tul o V, e veremos fi nal mente no cap tul o VI como esses el ementos
se comportam quando exi ste equi l bri o.
16. Suponhamos que os homens se encontrem di ante de certas
coi sas suscet vei s de sati sfazer seus gostos que chamaremos de bens
econmi cos. Se se col oca o probl ema: como reparti r um desses bens
entre esses i ndi v duos? estamos di ante de uma questo que entra na
segunda cl asse de teori a ( 12). Com efei to, cada homem sente apenas
uma sensao: aquel a que corresponde quanti dade do bem econmi co
que l he desti nada; no estamos di ante de sensaes di ferentes de
um mesmo i ndi v duo, que poder amos comparar entre si , mas podemos
comparar apenas a sensao experi mentada por um i ndi v duo com
aquel a que experi menta um outro i ndi v duo.
17. Se exi stem duas ou mai s coi sas, cada i ndi v duo experi menta
duas ou vri as sensaes di ferentes, segundo a quanti dade de coi sas das
quais di spe; podemos, ento, comparar essas sensaes e determi nar,
entre as di ferentes combi naes poss vei s, a que ser escol hi da por esse
indi v duo. uma questo que entra na pri mei ra cl asse de teori as ( 11).
18. Se todas as quanti dades de bens, dos quai s di spe um i ndi -
v duo, aumentam (ou di mi nuem), veremos em breve que, exceo de
um caso do qual fal aremos mai s adi ante (I V, 34), a nova posi o ser
mai s vantajosa (ou menos vantajosa) do que a anti ga para o i ndi v duo
consi derado; de tal manei ra que, nesse caso, no exi ste nenhum pro-
bl ema a resol ver. Mas se, pel o contrri o, certas quanti dades aumentam
enquanto outras di mi nuem, o caso de pesqui sar se a nova combi nao
, ou no, vantajosa ao i ndi v duo. a essa categori a que pertencem
os probl emas econmi cos. Vemo-l os nascer, na real i dade, por ocasi o
do contrato de troca, no qual se d uma coi sa para receber outra, e
por ocasi o da produo, em que certas coi sas se transformam em
certas outras. Ns nos ocuparemos pri mei ro desses probl emas.
PARETO
127
19. Os el ementos que devemos combi nar so, de uma parte, os gostos
do homem, de outra, os obstcul os para sati sfaz-l o. Se, em l ugar de
tratar de homens, estudssemos seres etreos sem gostos nem desejos,
no senti ndo nem mesmo necessi dades materi ai s de comer e de beber,
no exi sti ri a nenhum probl ema econmi co a resol ver. Seri a o mesmo se,
passando ao extremo oposto, supusssemos que nenhum obstcul o i mpede
os homens de sati sfazer todos os seus gostos e todos os seus desejos. Para
aquel e que di spe de tudo vontade no exi ste probl ema econmi co.
O probl ema exi ste porque os gostos encontram certos obstcul os
e tanto mai s di f ci l resol v-l o na medi da em que exi stem vri os mei os
de dar sati sfao a esses de tri unfar sobre esses obstcul os. , portanto,
o caso de pesqui sar como e por que tal ou qual mei o pode ser preferi do
pel os i ndi v duos.
Exami nemos o probl ema mai s de perto.
20. Se se ti vesse que escol her apenas entre duas, ou entre um
pequeno nmero de coi sas, o probl ema a resol ver seri a qual i tati vo, e
sua sol uo seri a fci l . O que voc prefere: um tonel de vi nho ou um
rel gi o? A resposta fci l . Mas, na real i dade, exi ste um grande nmero
de coi sas sobre as quai s a escol ha deve recai r; e, mesmo para duas
coi sas, as combi naes de quanti dades entre as quai s se pode escol her
so i numervei s. Em um ano um homem pode beber 100, 101, 102
l i tros de vi nho; pode, se seu rel gi o no funci ona bem, obter outro
i medi atamente, ou esperar um ms, doi s (...), um ano, doi s (...), antes
de efetuar essa compra, esperando consertar seu rel gi o. Em outras
pal avras, as vari aes de quanti dade das coi sas entre as quai s preci so
escol her so i nfi ni tas, e essas vari aes podem ser mui to fracas, quase
i nsens vei s. Devemos, portanto, construi r uma teori a que permi ta re-
sol ver esse gnero de probl emas.
21. Consi deramos uma sri e dessas combi naes de quanti dades
di ferentes de bens. O homem pode passar de uma dessas combi naes
s outras, para se deci di r fi nal mente por uma del as. i mportante saber
qual esta l ti ma, e chega-se a pel a teori a do equi l bri o econmi co.
22. O equilbrio econmico Podemos defi ni -l o de di ferentes
manei ras, que no fundo do no mesmo. Pode-se di zer que o equi l bri o
econmi co o estado que se manteri a i ndefi ni damente se no houvesse
nenhuma mudana nas condi es nas quai s o observamos. Se, no mo-
mento, ns consi deramos apenas o equi l bri o estvel , podemos di zer
que el e determi nado de tal manei ra que, se modi fi cado francamente,
tende, de i medi ato, a restabel ecer-se, a retomar a seu pri mei ro estado.
As duas defi ni es so equi val entes.
Por exempl o: dadas todas as ci rcunstnci as ou condi es, um
i ndi v duo compra todos os di as 1 qui l o de po; se o obri garmos a comprar
OS ECONOMISTAS
128
um di a 900 gramas, e se no di a segui nte est l i vre, el e ai nda comprar
1 qui l o; se nada mudou nas condi es em que el e se encontrar, conti -
nuar, i ndefi ni damente, a comprar 1 qui l o de po. A i sso se chama
estado de equi l bri o.
Ser-nos- necessri o expri mi r matemati camente que, tendo si do
ati ngi do esse estado de equi l bri o, essas vari aes, ou esses movi mentos,
no se produzem; o que si gni fi ca di zer que o si stema se mantm i n-
defi ni damente no estado consi derado.
Os movi mentos necessri os para se chegar efeti vamente ao equi -
l bri o podem ser chamados reais. Os que se supem poderem se produzi r
para nos di stanci ar do estado de equi l bri o, mas que na real i dade, no
se produzem porque o equi l bri o subsi ste, podem ser chamados virtuais.
A Economi a Pol ti ca estuda os movi mentos reai s, para saber como
se passam os fatos, e estuda os movi mentos vi rtuai s, para conhecer
as propri edades de certos estados econmi cos.
23. Se, dado um estudo econmi co, pudssemos del e nos di stanci ar
por mei o de quai squer movi mentos, poder-se-i a conti nuar i ndefi ni da-
mente os movi mentos que aumentam as quanti dades de todos os bens
que um homem pode desejar e chegar-se-i a assi m a um estado no qual
o homem teri a de tudo fartura. Esta seri a, evi dentemente, uma po-
si o de equi l bri o, mas evi dente tambm que as coi sas na real i dade,
no se passam assi m, e ns teremos que determi nar outras posi es
de equi l bri o em que deveremos nos deter, porque no so todos os
movi mentos, mas somente al guns movi mentos, que so poss vei s. Em
outras pal avras, exi stem obstcul os que i mpedem os movi mentos, que
no permi tem ao homem segui r certos cami nhos, que i mpedem certas
vari aes de acontecerem. O equi l bri o resul ta preci samente dessa opo-
si o entre gostos e os obstcul os. Os doi s casos extremos que consi -
deramos e que no se encontram na real i dade so aquel es em que no
h gostos e aquel e em que no h obstcul os.
24. Se os obstcul os ou os v ncul os fossem tai s que determi nassem
de manei ra preci sa cada movi mento, no ter amos que nos ocupar dos
gostos, e a consi derao dos obstcul os seri a sufi ci ente para determi nar
o equi l bri o. De fato, i sso no acontece, pel o menos em geral . Os obs-
tcul os no determi nam de manei ra absol uta todos os movi mentos,
si mpl esmente estabel ecem certos l i mi tes, i mpem certas restri es, mas
permi tem ao i ndi v duo mover-se segundo seus prpri os gostos num
dom ni o mai s ou menos restri to; e entre todos os movi mentos permi -
ti dos, teremos que pesqui sar os que na real i dade se produzi ro.
25. Os gostos e os obstcul os referem-se a cada um dos i ndi v duos
que se consi dera. Para um i ndi v duo os gostos dos outros homens com
os quai s el e se rel aci ona fi guram no nmero dos obstcul os.
PARETO
129
26. Para ter todos os dados do probl ema do equi l bri o, preci so
acrescentar aos gostos e obstcul os as condi es que de fato determi nam
o estado dos i ndi v duos e das transformaes dos bens. Por exempl o:
as quanti dades de mercadori as possu das pel os i ndi v duos, os mei os
para transformar os bens etc. i sso que compreenderemos mel hor
medi da que avanarmos em nosso estudo.
27. Para determi nar o equi l bri o, col ocaremos essa condi o de
que, no momento em que el e se produz, os movi mentos permi ti dos
pel os obstcul os so i mpedi dos pel os gostos: ou i nversamente, o que
d no mesmo, que, nesse momento, os movi mentos permi ti dos pel os
gosto so i mpedi dos pel os obstcul os. Com efei to, evi dente que dessas
duas manei ras se expri me a condi o de que nenhum movi mento se
produz, e esta, por defi ni o, a caracter sti ca do equi l bri o.
preci so, poi s, que pesqui semos quai s so, do ponto de equi l bri o,
os movi mentos i mpedi dos e os movi mentos permi ti dos pel os gostos; bem
como quais so os movi mentos i mpedi dos e os permi ti dos pel os obstcul os.
29. Os gostos dos homens preci so encontrar o mei o de sub-
met-l os ao cl cul o. Teve-se a i di a de deduzi -l os do prazer que certas
coi sas proporci onam aos homens. Se uma coi sa sati sfazi a as necessi -
dades e os desejos do homem, di zi a-se que el a ti nha um valor de uso,
uma utilidade.
Essa noo era i mperfei ta e equ voca em vri os pontos. 1) No
se col ocava em evi dnci a que esse valor de uso, essa utilidade, era
excl usi vamente uma rel ao entre um homem e uma coi sa. Tambm
mui tos fal avam di sso, tal vez sem consci nci a, como de uma propri edade
objeti va das coi sas. Outros, que se aproxi mavam mai s, embora ai nda
i nsufi ci entemente, da verdade, fal avam como de uma rel ao entre os
homens em geral e uma coi sa. 2) No se vi a que esse valor de uso
dependi a (estava em funo, como di zem os matemti cos) das quanti -
dades consumi das. Por exempl o, fal ar por fal ar do valor de uso da gua
no tem senti do; e no sufi ci ente acrescentar, como acabamos de ver,
que esse valor de uso rel ati vo a um certo homem; mui to di ferente se
esse homem morre de sede ou se j bebeu tanto quanto desejava. Para
ser preci so, necessri o fal ar do val or de uso de certa quanti dade de
gua que se junta a uma quanti dade conheci da j consumida.
30. Foi pri nci pal mente pel a reti fi cao desse erro da anti ga Eco-
nomi a que nasceu a Economi a pura. Com Jevons el a apareceu como
uma reti fi cao das teori as ento em curso sobre o valor, com Wal ras
el a se torna, e i sso foi um grande progresso, a teori a de um caso especi al
de equi l bri o econmi co, i sto , o da l i vre concorrnci a, enquanto um
outro caso, o caso do monopl i o, j ti nha si do estudado, mas de manei ra
total mente di ferente, por Cournot. Marshal l , Edgeworth, l rvi ng Fi scher
OS ECONOMISTAS
130
estudaram o fenmeno econmi co de manei ra sempre mai s extensa e
mai s geral ; em nosso Cours, el e se tornou a teori a geral do equi l bri o
econmi co, e vamos ai nda mai s l onge nesse cami nho na presente
obra.
112
3) A pal avra utilidade l evada a si gni fi car, em Economi a Po-
l ti ca, outra coi sa do que pode si gni fi car em l i nguagem corrente.
assi m que a morfi na no ti l , no senti do comum da pal avra, poi s
el a noci va ao morfi nmano; ao contrri o, til economi camente, poi s
sati sfaz uma de suas necessi dades, mesmo sendo esta mal s. Embora
os anti gos economi stas j ti vessem fei to meno desse equ voco, es-
queci am-no ai nda por vezes. tambm i ndi spensvel no empregar
a mesma pal avra para i ndi car coi sas tambm di ferentes. Propusemos,
em nosso Cours, desi gnar utilidade econmi ca pel a pal avra ofelimidade,
que outros autores adotaram depoi s.
31. preci so que faamos aqui uma observao geral que se
apl i ca tanto no caso atual quanto em mui tos outros, dos quai s fal aremos
mai s adi ante. A cr ti ca que fazemos ati nge hoje as teori as anti gas,
mas no i nveste, no momento, sobre o i nstante em que foram el abo-
radas. Seri a um grave erro acredi tar que teri a si do bom se essas teori as
equi vocadas no ti vessem vi sto a l uz do di a. Estas, ou outras seme-
l hantes, eram i ndi spensvei s para se chegar a teori as mel hores. As
concepes ci ent fi cas modi fi caram-se, pouco a pouco, para se aproxi mar
cada vez mai s da verdade. Fazem-se cont nuos retoques nas teori as;
admi tem-se, pri mei ro, certas proposi es i mperfei tas e vai -se avanan-
do no estudo da ci nci a, em segui da, vol ta-se atrs e se reti fi cam essas
proposi es. Foi somente em nossos di as que se ousou reexami nar o
postul ado de Eucl i des. Que teri a si do da Geometri a se os anti gos ti -
vessem estaci onado, com tei mosi a e obsti nao, no exame desse pos-
tul ado e ti vessem negl i genci ado total mente i r adi ante no estudo da
ci nci a? H uma grande di ferena entre as teori as astronmi cas de
Newton, as de Lapl ace e outras teori as mai s modernas; porm as pri -
mei ras eram um degrau necessri o para se chegar s segundas e estas
para se chegar s tercei ras. As teori as da anti ga Economi a eram ne-
cessri as para se chegar s teori as novas e estas, sempre mui to i m-
perfei tas, servi r-nos-o para chegar a outras que o sero menos, e
assi m por di ante. Aperfei oar uma teori a di ferente de querer des-
tru -l a por tol as e pedantes suti l ezas; o pri mei ro trabal ho uma coi sa
sensata e ti l , o segundo coi sa pouco razovel e v, e quem no tem
tempo a perder faz mel hor se no cui dar di sso.
32. Para um i ndi v duo, a ofel i mi dade de certa quanti dade de
PARETO
131
112 Encontrar-se- mai or nmero de detal hes sobre a hi stri a das teori as da Economi a pura
em nosso arti go: Anwendungen der Mathematik auf Nationalkonomie. I n: Encyclopdie
der Mathematischen Wissenschalten.
uma coi sa, juntada a outra quanti dade determi nada (que pode ser
i gual a zero) dessa coi sa j possu da por el e, o prazer que l he pro-
porci ona essa quanti dade.
33. Se essa quanti dade mui to pequena (i nfi ni tamente pequena)
e se se di vi de o prazer que el a proporci ona por essa prpri a quanti dade,
tem-se a OFELI MI DADE ELEMENTAR.
34. Enfi m, se se di vi de a ofel i mi dade el ementar pel o preo, tem-se
a OFELI MI DADE ELEMENTAR PONDERADA.
35. A teori a da ofel i mi dade recebeu um novo aperfei oamento.
Em todo raci oc ni o que serve para estabel ec-l o exi ste um ponto fraco,
que foi posto em evi dnci a pel o Prof. l rvi ng Fi scher. Admi ti mos que
esta coi sa chamada prazer, valor de uso, utilidade econmica, ofelimi-
dade, era uma quanti dade; mas a demonstrao no foi dada. Supo-
nhamos fei ta essa demonstrao, como se fari a para medi r essa quan-
ti dade? um erro acredi tar que, de manei ra geral , se possa deduzi r
da l ei da oferta e procura o val or da ofel i mi dade. I sso somente poss vel
em um caso parti cul ar, a uni dade de medi da de ofel i mi dade fi cando
arbi trri a; i sso acontece quando se trata de mercadori as tai s que a
ofel i mi dade de cada uma del as no depende seno da quanti dade dessa
mercadori a, e permanece i ndependentemente das quanti dades consu-
mi das das outras mercadori as. Porm, em geral , i sto , quando a ofe-
l i mi dade de uma mercadori a A, consumi da ao mesmo tempo que as
mercadori as B, C, ..., depende no somente do consumo de A, mas
tambm dos consumos de B, C, ..., a ofel i mi dade permanece i ndeter-
mi nada, mesmo depoi s que se fi xou a uni dade que serve para medi -l a.
36. No que se segue, quando ns fal armos de ofel i mi dade, de-
ver-se- sempre entender que queremos, si mpl esmente, i ndi car um dos
si stemas dos ndi ces da ofel i mi dade ( 55).
36. bis. As noes de valor de uso, de utilidade de ofel i mi dade, de
ndi ces de ofel i mi dade etc., faci l i tam mui to a exposi o da teori a do equi -
l bri o econmi co, mas no so necessri as para construi r essa teori a.
Graas ao uso das matemti cas, toda essa teori a repousa somente
sobre um fato de experi nci a, i sto , sobre a determi nao das quan-
ti dades de bens que consti tuem combi naes i ndi ferentes para o i ndi -
v duo
113
( 52). A teori a da ci nci a econmi ca adqui re, assi m, o ri gor
OS ECONOMISTAS
132
113 I sso no pode ser compreendi do por economi stas l i terri os e metaf si cos. El es pretendero,
todavi a, dar sua opi ni o e o l ei tor que tem al gum conheci mento das Matemti cas poder
se di verti r tomando conheci mento das l orotas que el es debi taro ao assunto deste pargrafo
e dos 8 e segui ntes do Apndice.
da mecni ca raci onal ; el a deduz seus resul tados da experi nci a, sem
fazer i ntervi r nenhuma enti dade metaf si ca.
37. Como j observamos, podem exi sti r certas coaes que i mpe-
dem a modi fi cao dos fenmenos segundo os gostos. Por exempl o,
exi sti am anti gamente governos que obri gavam seus sdi tos a comprar,
cada ano, certa quanti dade de sal . evi dente que, nesse caso, para
essa matri a, no se l evasse em conta os gostos. No se teri a que
consi derar i sto para nenhuma matri a, se se fi xasse para todas a quan-
ti dade que cada um deveri a comprar cada ano. Se i sso aconteci a na
prti ca, seri a i nti l perder tempo em pesqui sar a teori a dos gostos.
Porm, a observao mai s vul gar sufi ci ente para ver que as coi sas,
na real i dade, no se passam assi m. Mesmo quando exi stem certas
coaes, como, por exempl o, quando o Estado, tendo o monopl i o de
uma mercadori a, fi xa-l he o preo, ou ento col oca certos obstcul os
produo, venda, ao l i vre comrci o etc., i sso no i mpede, de manei ra
absol uta, que o i ndi v duo haja segundo seus gostos, dentro de certos
l i mi tes. Em conseqnci a, cada um deve resol ver certos probl emas para
fi xar o consumo segundo seus gostos. O pobre perguntar se l he val e
mai s comprar um pouco de sal si cha ou um pouco de vi nho; o ri co
i ndagar se prefere comprar um automvel ou uma ji a; mas todos,
mai s ou menos, resol vem probl emas desse gnero. Da a necessi dade
de consi derar a teori a abstrata que corresponde a esses fatos concretos.
38. Tentaremos expl i car, sem uti l i zar s mbol os al gbri cos, os re-
sul tados a que chega a Economi a matemti ca. Ser sufi ci ente rel embrar
aqui certos pri nc pi os, cujo pri nci pal , para o momento, o segui nte.
As condi es de um probl ema so traduzi das, al gebri camente, por e-
quaes. Estas contm quanti dades conheci das e quanti dades desco-
nheci das. Para determi nar certo nmero de desconheci das, preci so
um i gual nmero de condi es (equaes) di sti ntas, i sto , condi es
tai s que uma del as no seja conseqnci a das outras. preci so, al m
di sso, que el as no sejam contradi tri as. Por exempl o, se se procuram
doi s nmeros desconheci dos e se d por condi es (equaes) que a
soma desses doi s nmeros deve ser i gual a um nmero dado, e a di -
ferena a outro nmero dado, o probl ema bem determi nado, porque
h duas desconheci das e duas condi es (equaes). Mas, se l he ds-
semos, pel o contrri o, al m da soma dos doi s nmeros, a soma do
dobro de cada um desses nmeros, a segunda condi o seri a uma con-
seqnci a da pri mei ra, porque, por exempl o, se 4 a soma de doi s
nmeros desconheci dos, 8 ser a soma do dobro de cada um desses
nmeros. No temos, nesse caso, duas condi es (equaes) di sti ntas
e o probl ema permanece i ndetermi nado. Nos probl emas econmi cos
i mportante saber se certas condi es determi nam compl etamente o pro-
bl ema ou se o dei xam i ndetermi nado.
PARETO
133
39. Efeitos diretos e efeitos indiretos dos gostos Poder-se-i a
fazer numerosas hi pteses sobre a manei ra como o homem se dei xa
l evar por seus gostos, e cada uma del as servi ri a de base a uma teori a
abstrata. Para no corrermos o ri sco de perder tempo estudando teori as
i ntei s, preci so que exami nemos os fatos concretos e pesqui semos
que ti pos de teori a abstrata l hes convm.
Consi deremos um i ndi v duo que compra um t tul o francs de 3%
a 99,35; perguntemo-l he por que fez essa operao. El e di r que
porque consi dera que a esse preo l he convm comprar esse ti tul o.
Tendo posto na bal ana, de um l ado o gasto de 99,35 e do outro a
renda de 3 francos por ano, el e consi dera que, para el e, a compra desta
renda val e esse gasto. Se pudesse compr-l o a 98, el e comprari a 6
francos de renda em vez de 3. El e no se col oca o probl ema de saber
se preferi a comprar 3 francos a 99,35 ou 6 francos a 98; seri a uma
pesqui sa i nti l porquanto a fi xao desse preo no depende del e; el e
pesqui sa, porque i sso s depende del e, que quanti dade de renda l he
convm comprar a um preo dado. I nterroguemos seu vendedor. Pode
ser que el e esteja determi nado por razes perfei tamente i dnti cas; nesse
caso, temos sempre o mesmo ti po de negci os. Mas, pel o fi m do ano
de 1902, poder amos por acaso ter encontrado al gum que nos di ssesse:
Vendo para fazer bai xar a cotao da renda e para aborrecer assi m
o Governo francs. A todo momento podemos encontrar al gum que
nos di r: Vendo (ou compro) para fazer bai xar (ou subi r) a cotao
da renda, para em segui da ti rar parti do di sto e proporci onar-me certas
vantagens. Aquel e que assi m age l evado por razes bem di ferentes
das que consi deramos anteri ormente: el e tende a modi fi car o preo e
compara pri nci pal mente as posi es a que chega com preos di ferentes.
Estamos di ante de outro ti po de contrato.
40. Tipos de fenmeno dos efeitos dos gostos Os doi s ti pos de
fenmeno que acabamos de i ndi car tm grande i mportnci a para o
estudo da Economi a Pol ti ca; pesqui semos quai s so seus caracteres
e, na expectati va, i ndi quemos por (I ) o pri mei ro ti po e por (I I ) o segundo.
Comecemos por consi derar o caso em que aquel e que transforma os
bens econmi cos se prope uni camente buscar sua vantagem pessoal .
Veremos mai s adi ante ( 49) casos em que i sso no acontece.
Di remos que aquel e que compra ou que vende uma mercadori a
pode ser l evado por doi s ti pos bem di ferentes de consi derao.
41. El e pode buscar, excl usi vamente, sati sfazer seus gostos, con-
si derando-se certo estado ou condi es do mercado. El e contri bui bas-
tante, embora sem busc-l o de forma di reta para modi fi car esse estado
porque, segundo os di ferentes estados do mercado, el e est di sposto a
OS ECONOMISTAS
134
transformar uma quanti dade mai s ou menos grande de uma mercadori a
em outra. El e compara as transformaes sucessi vas, num mesmo es-
tado do mercado, e procura encontrar um estado tal que possi bi l i te
que essas transformaes sucessi vas o conduzam a um ponto em que
seus gostos sejam sati sfei tos. Temos assi m o ti po (I ).
42. O i ndi v duo consi derado pode, pel o contrri o, buscar modi fi car
as condi es do mercado para ti rar vantagem ou para qual quer outro
fi m. Consi derando-se certo estado do mercado, a troca faz com que o
equi l bri o tenha l ugar em um ponto; em outro estado, o equi l bri o tem
l ugar em outro ponto. Comparam-se essas duas posi es e busca-se
aquel a que atende mel hor o objeti vo que se tem em vi sta. Aps haver
escol hi do, est-se preocupado em modi fi car as condi es do mercado,
de manei ra que sejam aquel as que correspondam a essa escol ha. Temos
assi m o ti po (I I ).
43. Evi dentemente, se o ti po (I ) pode ser aquel e das transaes
de todo i ndi v duo que se apresenta no mercado, o ti po (I I ), pel o con-
trri o, somente pode convi r quel es que sabem e podem modi fi car as
condi es do mercado, o que no , certamente, o caso de todos.
44. Conti nuemos nossas pesqui sas e veremos que o ti po (I ) engl oba
um nmero mui to grande de transaes, nas quai s entram a mai ori a
ou tal vez mesmo todas as transaes que tm por objeti vo consumos
domsti cos. Quando que se vi u uma dona de casa que compra chi cri a
ou caf preocupar-se com al guma coi sa que no seja o preo desses
objetos e di zer: Se eu comprar chi cri a hoje, i sso pode fazer aumentar
no futuro o preo dessa mercadori a e tenho que consi derar o preju zo
que sofrerei no futuro com a compra que fao hoje? Quem al guma
vez dei xou de encomendar uma roupa, no para evi tar essa despesa,
mas para fazer bai xar, dessa manei ra, o preo das roupas em geral ?
Se al gum se apresentasse no mercado di zendo: Ser-me-i a agradvel
que os morangos fossem vendi dos a 30 centavos o qui l o, portanto eu
me atenho a esse preo, causari a ri sos. Pel o contrri o, di z: A 30
centavos o qui l o eu comprari a 10 qui l os, a 60 centavos eu comprari a
apenas 4 qui l os, a 1 franco nada compro; e procura assi m entrar em
acordo com aquel e que vende. Esse ti po (I ) responde, portanto, a nu-
merosos fatos concretos, e no ser absol utamente perda de tempo
fazer a teori a sobre el es.
45. Encontramos, i gual mente, numerosos exempl os do ti po (I I ).
Na Bol sa de Val ores, companhi as de poderosos banquei ros e si ndi catos
seguem esse ti po. Aquel es que, graas a mei os poderosos, procuram
aambarcar mercadori as, querem, evi dentemente, modi fi car as condi -
PARETO
135
es do mercado a fi m de obter l ucro. Quando o Governo francs fi xa
o preo do tabaco que vende ao pbl i co, opera segundo o ti po (I I ).
Todos aquel es que gozam de um monopl i o e sabem ti rar provei to del e
agem segundo esse ti po.
46. Se observarmos a real i dade, veremos que o ti po (I ) se encontra
onde exi ste concorrnci a entre os que a i sso se submetem. As pessoas
com as quai s fazem negci o podem no estar em concorrnci a e, con-
seqentemente, no segui r o ti po (I ). O ti po (I ) tanto mai s cl aro
quanto a concorrnci a for mai s ampl a e mai s perfei ta. preci samente
porque todo di a na Bol sa de Pari s exi stem mui tas pessoas que compram
e vendem a renda francesa, que seri a l oucura querer modi fi car as con-
di es desse mercado comprando ou vendendo al guns francos de renda.
Evi dentemente, se todos aquel es que vendem (ou que compram) se
pusessem de acordo, poderi am efeti vamente modi fi car essas condi es
para seu provei to; porm el es no se conhecem e cada um age por
conta prpri a. No mei o dessa confuso e dessa concorrnci a, cada i n-
di v duo no tem outra coi sa a fazer seno se ocupar de seus prpri os
negci os e buscar sati sfazer seus prpri os gostos, segundo as di ferentes
condi es que podem se apresentar no mercado. Todos os vendedores
(ou os compradores) de renda modi fi cam bastante os preos, mas sem
desejo prvi o; no este o objeti vo, mas o efei to de sua i nterveno.
47. Observamos o ti po (I I ) nos casos em que a concorrnci a no
exi ste e em geral exi ste aambarcamento, monopl i o etc. Quando um
i ndi v duo age a fi m de modi fi car, em seu provei to, as condi es do
mercado, preci so, se no qui ser fazer obra i nti l , que esteja seguro
de que no vi ro outros para perturbar suas operaes, e para tanto
preci so que se desembarace, de al guma manei ra, de seus concorrentes.
I sso pode acontecer seja com ajuda da l ei , seja porque somente el e
possui certas mercadori as, seja porque, pel a i ntri ga, pel o engano, por
sua i nfl unci a ou i ntel i gnci a, el e consegue se descartar dos concor-
rentes. Pode acontecer tambm que no preci se preocupar-se com seus
concorrentes porque tm pouca i mportnci a ou por al guma outra razo.
Enfi m, preci so observar que acontece mui tas vezes que certo
nmero de i ndi v duos se associ a preci samente com a fi nal i dade de se
tornar donos do mercado; nesse caso, estamos di ante do ti po (I I ), po-
dendo a associ ao, sob determi nados pontos de vi sta, ser consi derada
como compreendendo apenas um i ndi v duo.
48. Encontramos um caso anl ogo, mas no i dnti co, quando certo
nmero de pessoas ou de associ aes chega a um acordo para modi fi car
certas condi es do mercado, dei xando aos associ ados toda l i berdade
de ao no que di z respei to a outras condi es. Com freqnci a, fi xa-se
o preo de venda, fi cando cada um l i vre para vender o quanto possa.
OS ECONOMISTAS
136
s vezes, fi xa-se a quanti dade que cada um poder vender, seja de
manei ra absol uta, seja de forma que esse l i mi te no possa ser ul tra-
passado sem pagar certa soma s associ aes; pode-se tambm esti pul ar
um prmi o a ser pago quel e que fi car abai xo da quanti dade fi xada.
Quanto ao preo, fi xado l i vremente pel o vendedor; s excepci onal -
mente que se fi xam as condi es da venda.
Por exempl o, os si ndi catos operri os i mpem s vezes a uni for-
mi dade dos sal ri os: aquel e que comprou o trabal ho de dez operri os
a certo preo no poder comprar o trabal ho de um dci mo pri mei ro
a um preo menor. Al i s, os si ndi catos na mai ori a das vezes tambm
fi xam o preo de tal manei ra que se fi xou no somente o modo mas
tambm as condi es, e ns entramos em um dos casos precedentes.
A l ei i mpe, s vezes, a venda de todas as pores da mercadori a
a um mesmo preo; i sso acontece em quase todos os pa ses no tocante a
estradas de ferro que no podem cobrar do dci mo vi ajante mai s ou menos
que cobraram do pri mei ro em condi es i dnti cas. Um fi l antropo pode
vender abai xo do preo para ajudar os consumi dores ou ento certa cl asse
de consumi dores. Veremos outros casos quando fal armos de produo.
Compreende-se que possam ser numerosos poi s referem-se a condi es
mui to vari adas que podem ser modi fi cadas no fenmeno econmi co.
49. Devemos portanto exami nar di versos gneros do ti po (I I ).
preci so, desde agora, dei xar de l ado um desses gneros, ao qual deno-
mi namos ti po (I I I ). Trata-se daquel e ao qual se chega quando se quer
organi zar todo o conjunto do fenmeno de tal manei ra que proporci one
o mxi mo de bem-estar a todos os que del e parti ci pam. Ser necessri o,
por outro l ado, que defi namos, de manei ra preci sa, em que consi ste
esse bem-estar. (VI , 33, 52). O ti po (I I I ) corresponde organi zao
col eti vi sta da soci edade.
50. Observemos que os ti pos (I ) e (I I ) so rel ati vos aos i ndi v duos;
pode portanto acontecer, e em geral acontece, que, quando duas pessoas
fazem um contrato, uma segue o ti po (I ), a outra, o ti po (I I ); ou ento,
se um nmero grande de pessoas i ntervm num contrato, algumas seguem
o ti po (I ) e as outras, o ti po (I I ). Acontece o mesmo com o ti po (I I I ), se o
Estado col eti vi sta dei xa al guma l i berdade a seus admi ni strados.
51. Aquel e que segue o ti po (I I ) detm-se, segundo a prpri a
defi ni o dada desse ti po, em um ponto no qual seus gostos no so
diretamente sati sfei tos, Em conseqnci a, comparando a condi o
qual chegari a o i ndi v duo segui ndo o ti po (I ) e que chegari a segui ndo
o ti po (I I ), ver-se- que a segunda di fere da pri mei ro por certas quan-
ti dades de mercadori as, para mai s ou para menos. Poder-se-i a, portanto,
defi ni r tambm o ti po (I ) da segui nte manei ra: aquel e em que as
quanti dades de mercadori as sati sfazem di retamente os gostos; e o ti po
PARETO
137
(I I ) aquel e em que as quanti dades de mercadori as so tai s que, estando
os gostos di retamente sati sfei tos, sobra um res duo posi ti vo ou negati vo.
52. As linhas de indiferenas dos gostos Consi deramos um
homem que se dei xa conduzi r uni camente por seus gostos e que possui
1 qui l o de po e 1 qui l o de vi nho. Consi derando esses gostos, el e est
di sposto a ter um pouco menos de po e um pouco mai s de vi nho ou
vi ce-versa. Consente, por exempl o, em ter apenas 0,9 qui l o de po
desde que tenha 1,2 de vi nho. Em outras pal avras i sso si gni fi ca que
essas duas combi naes, ou seja, 1 qui l o de po e 1 qui l o de vi nho,
0,9 qui l o de po e 1,2 qui l o de vi nho so i guai s para el e; el e no prefere
a segunda pri mei ra, nem a pri mei ra segunda; el e no saberi a qual
escol her, -l he indiferente gozar de uma ou de outra dessas combi naes.
Fal ando dessa combi nao: 1 qui l o de po e 1 qui l o de vi nho,
encontraremos um grande nmero de outras, entre as quai s a escol ha
i ndi ferente. Temos, por exempl o:
Po . . . . . . . . . 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6
Vi nho . . . . . . . . 0,7 0,8 0,9 1,0 1,4 1,8
Chamamos essa sri e, que se poderi a prol ongar i ndefi ni damente,
srie de indiferenas.
53. O emprego de grfi cos faci li ta muito a compreenso dessa questo.
Tracemos doi s ei xos perpendi cul ares um sobre o outro OA, OB;
assentemos sobre OA as quanti dades de po, sobre OB as quanti dades
de vi nho. Por exempl o, Oa representa um de po, Ob um de vi nho; o
ponto m, onde se cortam essas duas coordenadas, i ndi ca a combi nao:
um qui l o de po e um qui l o de vi nho.
Fi gura 5
OS ECONOMISTAS
138
54. Podemos representar assi m toda a sri e precedente, e jun-
tando todos os pontos dessa sri e por uma l i nha cont nua, teremos a
l i nha n m s que se chama LI NHA DE I NDI FERENA ou CURVA DE
I NDI FERENA.
114
55. Demos a cada uma dessas combi naes um ndi ce que deve
sati sfazer as segui ntes condi es e que, por outro l ado, permanece ar-
bi trri o: 1) Duas combi naes entre as quai s a escol ha i ndi ferente
devem ter o mesmo ndi ce. 2) De duas combi naes, a que se prefere
outra deve ter um ndi ce mai or.
115
Temos assi m o NDI CE DE OFELI MI DADE, ou do prazer que
sente o i ndi v duo quando desfruta da combi nao que corresponde a
um ndi ce dado.
56. Resul ta do precedente que todas as combi naes de uma sri e
de i ndi ferena tm o mesmo ndi ce, ou seja, que todos os pontos de
uma l i nha de i ndi ferena tm o mesmo ndi ce.
Seja 1 o ndi ce da l i nha n m s da Fi g. 5; seja m (por exempl o,
1,1 de po e 1,1 de vi nho) outra combi nao que o i ndi v duo prefere
combi nao m e demos-l he o ndi ce 1,1. Parti ndo dessa combi nao
m encontramos outra sri e de i ndi ferena, i sto , descrevemos outra
curva nmn". Podemos conti nuar dessa manei ra consi derando, evi den-
temente, no s as combi naes que, para o i ndi v duo, so mel hores
do que a combi nao m, mas tambm as que so pi ores. Teremos,
dessa manei ra, sri es de i ndi ferena, tendo cada uma seu ndi ce. Em
outras pal avras, cobri remos a parte do pl ano OAB, que queremos con-
si derar, com um nmero i nfi ni to de curvas de i ndi ferena, tendo cada
uma seu ndi ce.
57. I sso nos d uma representao compl eta dos gastos do i ndi -
v duo, no que di z respei to ao po e ao vi nho, o que nos sufi ci ente
para determi nar o equi l bri o econmi co. O i ndi v duo pode desaparecer
desde que nos dei xe essa fotografi a de seus gostos.
evi dente que podemos repeti r para todas as mercadori as o que
di ssemos do po e do vi nho.
58. O l ei tor que tenha usado cartas topogrfi cas sabe que h o
hbi to de nel a descrever certas curvas que representam os pontos que
tm, para uma mesma curva, a mesma al tura aci ma do n vel do mar
ou de qual quer outro n vel .
PARETO
139
114 Essa expresso se deve ao prof. F. Y. Edgeworth. El e supunha a exi stnci a da utilidade
(ofel i mi dade) e da deduzi da as curvas de i ndi ferena; eu, ao contrri o, consi dero as curvas
de i ndi ferena como um dado de fato e da deduzo tudo que me necessri o para a teori a
do equi l bri o, sem recorrer ofel i mi dade.
115 Ver I V, 32, outra condi o que ti l acrescentar, mas que no necessri o fazer i ntervi r aqui .
As curvas da Fi g. 5 so curvas de n vel , contanto que se consi dere
que os ndi ces de ofel i mi dade representam a al tura aci ma do pl ano
CAB, suposto hori zontal , pontos de uma col i na. E o que se pode chamar
col i na dos ndi ces do prazer. Exi stem outras semel hantes, em nmero
i nfi ni to, segundo o si stema arbi trri o de ndi ces escol hi do.
Se o prazer pode ser medi do, se a ofel i mi dade exi ste, um desses
si stemas de ndi ce ser preci samente o dos val ores da ofel i mi dade, e
a col i na correspondente ser a col i na do prazer ou da ofel i mi dade.
59. Um i ndi v duo que desfruta de certa combi nao de po e de
vi nho pode ser representado por um ponto dessa col i na. O prazer que
esse i ndi v duo senti r ser representado pel a al tura desse ponto aci ma
do pl ano OAB. O i ndi v duo senti r prazer tanto mai or quanto mai s
al ta for a al tura em que esti ver entre duas combi naes preferi r
sempre a que representada por um ponto mai s el evado da col i na.
60. Os atalhos Suponhamos um i ndi v duo que possua a quan-
ti dade de po representada por oa e a quanti dade de vi nho representada
por ab; di zemos que o i ndi v duo se encontra no ponto da col i na que
se projeta em b sobre o pl ano hori zontal xy, ou, de manei ra el pti ca,
que el e est em b. Suponhamos que em outro momento o i ndi v duo
tenha oa de po e ab de vi nho; abandonado b, estar em b. Se, em
segui da, tem oa" de po e a"b" de vi nho, el e ter i do de b a b", e
assi m por di ante at c. Suponhamos que os pontos b, b, b" estejam
mui to prxi mos e reunamo-l os por uma l i nha; di remos que o i ndi v duo
que teve sucessi vamente a quanti dade oa de po e ab de vi nho, oa
de po e ab de vi nho etc., percorreu sobre a col i na um atalho, ou estrada,
ou cami nho que se projeta, sobre o pl ano hori zontal oxy, segundo a linha
b, b b" ... c, ou, de manei ra el pti ca, que percorreu o atal ho bc.
Fi gura 6
OS ECONOMISTAS
140
61. Observemos que, se um i ndi v duo percorresse um nmero
i nfini to de atal hos hb, hb, h"b", ... e se deti vesse nos pontos b, b,b", ...,
seri a preciso consi der-lo percorrendo na real idade o atalho b, b, b" ... c.
62. Consi deremos um atal ho mn tangente em c a uma curva de
i ndi ferena t"; e suponhamos que os ndi ces de ofel i mi dade vo cres-
cendo de t em di reo a t", e o atal ho v subi ndo de m at c para, em
segui da, descer de c para n. Um ponto a que, parti ndo de m precede
o ponto c, e al m do qual exi stem obstcul os que no permi tem o
i ndi v duo de chegar, ser chamado PONTO TERMI NAL. Encontremo-l o
somente subi ndo de m para c e no descendo de c para n. Em conse-
qnci a, b no seri a ponto termi nal para quem percorresse o atal ho
mn; mas s-l o-i a para quem percorresse o atal ho nm, i sto , para aquel e
que, parti ndo de n, fosse at m.
63. O ponto termi nal e o ponto de tangnci a possuem uma pro-
pri edade comum: so o ponto mai s al to que o i ndi v duo pode ati ngi r
percorrendo o atal ho mn. O ponto c o ponto mai s al to de todo o
atal ho; o ponto a o ponto mai s al to do pedao de atal ho ma que
permi ti do ao i ndi v duo percorrer.
64. Veremos, em segui da, como essa manei ra de representar os
fenmenos pel as curvas de i ndi ferena e dos atal hos cmoda para
expor as teori as da Economi a.
65. Variaes contnuas e variaes descontnuas As curvas
Fi gura 7
PARETO
141
de i ndi ferena e os atal hos poderi am ser descont nuos; e, na real i dade,
o so. I sto , as vari aes das quanti dades se produzem de manei ra
descont nua. Um i ndi v duo passa de um estado no qual possui 10 l enos
para um estado no qual possui 11, e no passa pel os estados i nterme-
di ri os, nos quai s teri a, por exempl o, 10 l enos e um centsi mo de
l eno, 10 l enos e doi s centsi mos etc.
Para aproxi marmo-nos da real i dade, seri a preci so, portanto, con-
si derar vari aes termi nadas, mas exi ste a uma di fi cul dade tcni ca.
Os probl emas que tm por objeto quanti dades que vari am em
graus i nfi ni tamente pequenos so mui to mai s fcei s de resol ver do que
os probl emas nos quai s as quanti dades sofrem vari aes acabadas.
preci so, portanto, todas as vezes que for poss vel , substi tui r estas por
aquel as; assi m que se precede em todas as ci nci as f si co-naturai s.
Sabe-se que dessa manei ra se comete um erro, mas podemos negl i -
genci -l o, seja quando for pequeno de manei ra absol uta, seja quando
for menor que outros erros i nevi tvei s, o que torna i nti l a pesqui sa
de uma preci so que escapa por outro l ugar. Este o caso em Economi a
Pol ti ca porque no se consi deram seno os fenmenos mdi os e que
se referem a grandes nmeros. Fal amos ao i ndi v duo, no para pes-
qui sar efeti vamente o que o i ndi v duo consome ou produz, mas somente
para consi derar um dos el ementos de uma col eti vi dade e para total i zar
em segui da o consumo e a produo de um grande nmero de i ndi v duos.
66. Quando di zemos que um i ndi v duo consome um rel gi o e um
dci mo, seri a ri d cul o tomar essas pal avras ao p da l etra. O dci mo
de um rel gi o um objeto desconheci do e do qual no se faz uso. Essas
pal avras, porm, si gni fi cam si mpl esmente que, por exempl o, cem i n-
di v duos consomem 110 rel gi os.
Quando di zemos que o equi l bri o acontece no momento em que
um i ndi v duo consome um rel gi o e um dci mo, queremos si mpl esmente
di zer que o equi l bri o acontece quando 100 i ndi v duos consomem, al guns
um, outros doi s rel gi os ou mai s ou ai nda nenhum, de manei ra que
todos juntos consumam cerca de 110, e que a mdi a de 1,1 por i n-
di v duo. Essa manei ra de expri mi r-se no espec fi ca da Economi a
Pol ti ca, encontramo-l a em numerosas ci nci as.
Nos seguros, fal a-se de fraes de seres vi vos, por exempl o, 27
seres vi vos e 37/100. E mai s do que evi dente que no exi stem 37/100
de ser vi vo!
Se no se esti pul asse substi tui r as vari aes descont nuas por va-
ri aes cont nuas, no se poderi a fazer a teoria da alavanca. Di z-se que
uma alavanca com braos i guai s, uma bal ana, por exempl o, est em
equi l brio quando suporta pesos iguais; eu tomo uma balana que sens vel
ao centi grama, col oco em um dos pratos um mi l i grama mai s do que no
outro e constato que, contrari amente teori a, el a conti nua em equi l bri o.
A bal ana em que se pesa o gosto dos homens tal que, para
OS ECONOMISTAS
142
certas mercadori as, sens vel ao grama, para outras somente ao hec-
tograma, para outras ao qui l ograma etc.
A ni ca concl uso que se pode ti rar a de que no preci so
exi gi r das bal anas mai s preci so do que a que el as podem dar.
67. Al m di sso, j que se trata s de di fi cul dade tcni ca, aquel es
que tm tempo a perder podem di verti r-se consi derando as vari aes
acabadas, e, depoi s de um trabal ho perseverante e extremamente l ongo,
chegaro a resul tados que, no l i mi te dos poss vei s erros, no se di fe-
renci am daquel es a que se chega fci l e rapi damente consi derando as
vari aes i nfi ni tesi mai s, pel o menos nos casos comuns. Ns escrevemos
para pesqui sar de forma objeti va as rel aes dos fenmenos e no para
agradar os pedantes.
68. Os obstculos So de duas espci es: os que sal tam aos
ol hos e os menos evi dentes.
69. Pertence ao pri mei ro gnero os gostos das pessoas com as
quai s o i ndi v duo efetua um contrato. Se uma quanti dade dada de
mercadori a deve ser reparti da entre di ferentes i ndi v duos, o fato de
que essa quanti dade fi xa consti tui um obstcul o. Se se deve produzi r
a mercadori a a ser reparti da, o fato de que el a no pode ser obti da
sem o emprego de outras mercadori as consti tui tambm um obstcul o.
O fato de que a mercadori a no se encontra di spon vel no l ugar e no
tempo em que se tem necessi dade tambm consti tui obstcul o. Enfi m,
exi stem obstcul os que deri vam da organi zao soci al .
70. De manei ra geral , quando um i ndi v duo renunci a a certa
quanti dade de mercadori a para proporci onar-se outra, di remos que
TRANSFORMA a pri mei ra mercadori a na segunda. El e pode proceder
por troca, cedendo outra a pri mei ra mercadori a e recebendo a se-
gunda; pode tambm chegar a i sso por mei o da produo, transformando
el e mesmo, efeti vamente, a pri mei ra mercadori a na segunda. Para efe-
tuar essa operao, pode ai nda di ri gi r-se a uma pessoa que transforme
as mercadori as, a um produtor.
71. Reservaremos a esta l ti ma operao o nome de PRODUO
ou de TRANSFORMAO e chamaremos PRODUO OBJETI VA ou
TRANSFORMAO OBJETI VA a produo, abstrao fei ta daquel e
que a faz, como o fari a, por exempl o, por conta prpri a, o i ndi v duo
que desfruta da mercadori a transformada.
72. No que di z respei to transformao objeti va, devemos di s-
ti ngui r, pel o menos por abstrao, trs categori as de transformaes
que so:
PARETO
143
1) A transformao materi al : por exempl o, a transformao do
tri go em po, e das ervas da campi na (e preci so acrescentar aqui o
emprego da superf ci e do sol o e das casas) em l de ovel ha etc.
2) A transformao no espao: por exempl o, o caf do Brasi l trans-
formado em caf na Europa.
3) A transformao no tempo: por exempl o, a col hei ta do tri go
atual conservada e transformada em tri go di spon vel dentro de al guns
meses; e i nversamente, o tri go da futura col hei ta em tri go consumi do
atual mente, e que se obtm substi tui ndo em segui da a quanti dade de
tri go consumi da atual mente pel o produto da futura col hei ta, medi ante
o que se transformou economi camente essa col hei ta futura em bem
presente (V, 48).
73. I sso, porm, no sufi ci ente; a questo no est esgotada,
exi stem outros i mpedi mentos ou obstcul os que consti tuem o SEGUN-
DO GNERO DE OBSTCULOS. Um i ndi v duo possui , por exempl o,
20 qui l os de tri go; destes, el e troca 10 por 15 qui l os de vi nho, e depoi s
os outros 10 por 15 qui l os de vi nho. Em suma, el e trocou seus 20
qui l os de tri go por 30 qui l os de vi nho. Ou ento comea a trocar 10
qui l os de tri go por 10 qui l os de vi nho e em segui da 10 qui l os de tri go
por 20 qui l os de vi nho. No total , ter trocado 20 qui l os de tri go por
30 qui l os de vi nho.
O r esul tado fi nal o mesmo, mas o i ndi v duo pode chegar a
el e de duas manei r as di fer entes. Pode acontecer que el e seja l i vr e
par a escol her a manei r a que mai s l he convm, como i gual mente
pode acontecer que no o seja. Este l ti mo caso o mai s ger al .
Fi gura 8
OS ECONOMISTAS
144
Aqui l o que se ope a que o i ndi v duo tenha l i berdade de escol ha um
obstcul o do segundo gnero.
116
74. H um nmero i nfi ni to de atal hos, como seja, msn, msn,
ms"n etc., que parti ndo do ponto m nos conduzem ao ponto n.
Um desses atal hos pode ter a forma de uma reta ou de uma
curva qual quer. O segundo gnero de obstcul os tem como efei to de-
termi nar, s vezes, o ni co atal ho que se pode segui r parti ndo de m,
e s vezes somente a espci e dos atal hos que se pode segui r. Veremos,
por exempl o, um caso ( 172) no qual o i ndi v duo no pode dei xar m
seno segui ndo uma ni ca l i nha. Veremos um outro caso ( 172) no
qual essa l i nha reta pode ser qual quer uma, i sto , que o i ndi v duo
pode escol her entre um nmero i nfi ni to de atal hos que passam por m,
desde que todos sejam reti l neos.
Veremos outros casos nos quai s o i ndi v duo segue uma l i nha
quebrada (VI , 7).
75. As linhas de indiferenas dos obstculos, nas transformaes
objetivas Exi stem, para os obstcul os do pri mei ro gnero, certas
l i nhas que so anl ogas s l i nhas de i ndi ferenas dos gostos.
Suponhamos que uma mercadori a A seja transformada em outra
B, e se conheam as quanti dades B que se obteri am com 1, 2, 3 ... de A.
Tracemos doi s ei xos coordenados (Fi g. 9), e para cada quanti dade
oa de A i ndi quemos a quanti dade ab de B produzi da. Obtemos, assi m,
uma curva bbb" ..., que chamaremos LI NHA DE I NDI FERENA DOS
OBSTCULOS. Dar-l he-emos o ndi ce zero porque sobre essa l i nha as
transformaes se efetuam sem dei xar res duos.
Tornemos i guai s a 1 as pores bc, bc ... de retas paral el as ao
ei xo oA; teremos uma outra l i nha de i ndi ferena cc ... qual daremos
o ndi ce 1. Se temos a quanti dade oa" de A, e se fazemos uma trans-
formao que d a"c de B, sobra ai nda aa" de A, i sto , um res duo
de A i gual a 1; e por essa razo que o ndi ce 1 dado l i nha cc ...
Da mesma manei ra tomemos bd, bd ... i guai s a 1 e l i guemos os
pontos dd...; teremos uma outra l i nha de i ndi ferena qual daremos
o ndi ce negati vo 1, porque fal ta preci samente uma uni dade na trans-
formao oa de A em ab de B, obtm-se apenas oa" de A.
Assi m procedendo, cobri remos todo pl ano de curvas de i ndi feren-
a, al gumas com ndi ces posi ti vos, outras com ndi ces negati vos, sepa-
radas pel a l i nha do ndi ce zero. Essa l i nha deve merecer nossa ateno,
cham-l a-emos l i nha das TRANSFORMAES COMPLETAS, porque
sobre el a as transformaes se efetuam sem dei xar res duo, nem po-
si ti vo, nem negati vo.
PARETO
145
116 A mai ori a dos economi stas l i terri os tem apenas uma i di a mui to i mperfei ta desse gnero
de fenmenos.
76. As linhas de indiferena do produtor Se consi deramos apenas
um produtor, as l i nhas que acabamos de i ndi car so i gual mente l i nhas
de i ndi ferena para o produtor, porque sobre cada uma del as el e obtm
o mesmo l ucro, se o ndi ce for posi ti vo; ou a mesma perda, se o ndice
for negati vo e no ganha nem perde se o ndi ce for zero, i sto , sobre a
l i nha das transformaes compl etas. Mas quando exi ste um grande nmero
de produtores, o prpri o nmero de produtores pode consti tui r parte dos
obstcul os, e nesse caso as l i nhas de i ndi ferena vari am.
77. Analogias das linhas de indiferena dos gostos e das linhas
de indiferena dos obstculos Essas l i nhas se correspondem em parte
e em parte di ferem. Exi ste anal ogi a entre o esforo do i ndi v duo em
passar, tanto quanto l he seja permi ti do, de uma l i nha de i ndi ferena
para outra que tenha ndi ce mai s el evado, e aquel e fei to pel o produto.
78. Observemos, por outro l ado, que o i ndi v duo que sati sfaz seus
prpri os gostos gui ado por consi deraes de ofel i mi dade, e o produtor,
por consi deraes de quanti dades de mercadori as ( 76).
79. No que di z respei to ao produtor, comumente i ntervm certas
ci rcunstnci as que o i mpedem de subi r aci ma da l i nha das transformaes
compl etas. E el e no pode fi car por mui to tempo abai xo dessa l i nha porque
perde: em conseqncia, v-se obri gado a permanecer sobre essa l i nha.
Exi ste a uma di ferena essenci al nos fenmenos que se referem aos gostos.
80. Enfi m, as formas das l i nhas de i ndi ferena dos gostos so,
habi tual mente, di ferentes das formas das l i nhas de i ndi ferena dos
obstcul os: podemos i ntei rar-nos di sso, grosso modo, comparando a Fi g.
5 e a Fi g. 9.
Fi gura 9
OS ECONOMISTAS
146
81. Se se consi deram as l i nhas de i ndi ferena do produtor como
projees das l i nhas de n vel de uma superf ci e em que todos os pontos
tm, sobre o pl ano, uma al tura i ndi cada pel o ndi ce desse ponto, ob-
tm-se uma COLI NA DO LUCRO, anl oga, em parte, col i na do prazer
( 58), mas que del a di fere pel o fato de estar em parte aci ma e em
parte abai xo do pl ano ao qual se refere. Assemel ha-se a uma col i na
que se banha na gua; a superf ci e da col i na emerge em parte aci ma
do n vel do mar, e tambm se prol onga abai xo.
82. A concorrncia Fi zemos al uso a el a no 16, agora
necessri o fazer uma i di a preci sa a seu respei to.
preci so di sti ngui r a concorrnci a dos que trocam da concorrnci a
dos que produzem, e esta l ti ma apresenta ai nda mui tos ti pos.
83. Aquel e que troca esfora-se por se erguer o quanto poss vel
sobre a col i na do prazer. Se exi ste uma quanti dade mai or de A, procura
ter mai or quanti dade de B, e para chegar a el a, cede uma quanti dade
mai or de A pel a mesma quanti dade de B, i sto , encontra-se em l
di mi nui a i ncl i nao de ml sobre o ei xo oA. Se exi ste um excesso de
B, i sto , se el e se encontra em r, cede menos de A pel a mesma quan-
ti dade de B, i sto , el e aumenta a i ncl i nao de mr sobre o ei xo oA.
A concorrnci a tem como efei to i mpedi -l o de comparar as posi es
sobre doi s atal hos di ferentes e de l i mi tar sua escol ha a posi es do
mesmo atal ho ou a posi es bastante prxi mas. Al m di sso, os i ndi v -
duos que esto em concorrnci a movi mentam-se at que todos estejam
sati sfei tos; e basta que apenas um no esteja sati sfei to para obri gar
os demai s a se movi mentarem.
Fi gura 10
PARETO
147
84. Quem produz esfora-se para subi r, tanto quanto possa, na
col i na do l ucro ( 81), i sto , esfora-se para ter o mai or res duo poss vel
de A; jamai s tem excesso de A. Em conseqnci a, move-se sempre no
mesmo senti do e no ora num senti do, ora em outro, como na Fi g. 10.
Para mudar o senti do do seu movi mento preci so que mude o senti do
no qual h mai or quanti dade de A.
85. Geral mente se comea pel o estudo de uma col eti vi dade i so-
l ada, sem comuni cao com outras. Em tal col eti vi dade o nmero da-
quel es que trocam i nvari vel ; ao contrri o, o nmero dos produtores
especi al mente vari vel , porque aquel es que fazem maus negci os
acabam parando de produzi r, ao passo que, se os negci os vo bem,
i medi atamente se apresentam outros produtores para comparti l har dos
benef ci os. Acontece al go semel hante com os consumi dores, e ser pre-
ci so que consi deremos quando fal armos da popul ao. A produo dos
homens, porm, no segue as mesmas l ei s que a das mercadori as e
sobretudo el a se estende sobre um espao de tempo mai s consi dervel ;
devemos tambm consagrar-l he um estudo separado.
86. Tenha ou no concorrnci a, o produtor no pode fi car do l ado
dos ndi ces negati vos, onde fi ca com preju zo. Se no h concorrente,
el e pode, ao contrri o, fi car do l ado dos ndi ces posi ti vos, onde consegue
l ucros, com a tendnci a, al m di sso, de mover-se para o l ado em que
obter l ucros mai s consi dervei s. A concorrnci a tende a di mi nui r esse
l ucro, empurrando-o em di reo aos ndi ces negati vos.
Essa concorrnci a pode acontecer tanto na suposi o de que sejam
constantes as condi es tcni cas da fabri cao como na de que sejam
vari vei s. Neste cap tul o ns nos prenderemos pri mei ra espci e de
concorrnci a.
87. Suponhamos doi s consumi dores. O pri mei ro possui oa de A,
o segundo possui oa de A: os doi s juntos possuem, portanto, oA, que
i gual soma dessas duas quanti dades. Suponhamos que esses doi s
consumi dores possam percorrer apenas as l i nhas paral el as ad, ad.
El es deter-se-o em certos pontos d, d; i sso si gni fi ca que o pri mei ro
transformar ab de A ou bd de B, e o segundo ab de A ou bd de B.
Faamos as somas das quanti dades assi m transformadas e veremos
que, no total , os consumi dores transformam AB de A em BD de B,
percorrendo um atal ho paral el o a ad, ad. No l ugar desses doi s con-
sumi dores pode-se, portanto, consi derar apenas um, que percorre o
atal ho AD. O mesmo raci oc ni o se apl i ca a um nmero qual quer de
consumi dores, que podem, em conseqnci a, ser substi tu dos por ape-
nas um consumi dor fi ct ci o, que os representa em sua total i dade.
88. Poder-se-i a fazer o mesmo com os produtores, mas apenas
no caso em que se desprezam as modi fi caes que seu nmero pode
acarretar aos obstcul os.
OS ECONOMISTAS
148
89. Tipos de fenmenos referentes aos produtores Da mesma
manei ra que para os consumi dores, devemos consi derar os ti pos (I ) e
(I I ), aos quai s podemos acrescentar o ti po (I I I ). As caracter sti cas so
as mesmas. O ti po (I ) sempre o da concorrnci a; mas a concorrnci a
dos consumi dores di fere daquel a dos produtores,
90. O equilbrio Como vi mos anter i or mente ( 27), o equi -
l br i o se pr oduz quando os movi mentos que conduzi r i am os gostos
so i mpedi dos pel os obstcul os e vi ce-ver sa. O pr obl ema ger al do
equi l br i o se ci nde, em conseqnci a, em outr os tr s que consi stem:
1) em deter mi nar o equi l br i o no que se r efer e aos gostos; 2) em
deter mi nar o equi l br i o no que se r efer e aos pr odutor es; 3) em en-
contr ar um ponto comum a esses doi s equi l br i os, que for mar um
ponto de equi l br i o ger al .
91. Quanto aos atal hos, devemos: 1) consi derar o equi l bri o sobre
um atal ho determi nado; 2) consi der-l o entre uma cl asse de atal hos e
ver de que manei ra se escol he o que ser segui do.
92. No que se refere aos ti pos de fenmenos, devemos estudar pri -
mei ro o ti po (I ) com rel ao ao que troca e ao que produz. Estudaremos
em segui da o ti po (I I ), que em geral se apresenta apenas com rel ao aos
indi v duos que contratam com outros que atuam segundo o ti po (I ).
Fi gura 11
PARETO
149
93. O equilbrio em relao aos gostos Comecemos por consi derar
um indi v duo que segue um cami nho determi nado e que se esfora em
chegar nesse cami nho at onde seus gostos sero mui to bem sati sfei tos.
94. Se os obstcul os do pri mei ro gnero fornecem, nesse cami nho,
um ponto al m do qual el e no pode i r, e se as posi es que precedem
aquel a ocupada por esse ponto so menos vantajosas para o i ndi v duo,
el e i r evi dentemente at esse ponto e a se deter.
Nesse ponto exi ste equi l bri o com rel ao aos gostos. Esse ponto
pode ser um ponto de tangnci a de atal ho e de uma curva de i ndi ferena,
ou ento um ponto termi nal ( 62). De toda manei ra, o ponto mai s
al to da poro de atal ho que permi ti da ao i ndi v duo percorrer.
95. O ponto de tangnci a poderi a ser tambm o ponto mai s bai xo
do atal ho, e nesse ponto o equi l bri o seri a i nstvel . No momento, no
nos ocuparemos desse caso.
96. A parti r daqui consi deraremos apenas os atal hos reti l neos,
poi s, na real i dade, estes so os mai s freqentes; mas nossos raci oc ni os
so gerai s e podemos, por mei o de l i gei ras modi fi caes ou restri es,
apl i c-l os a outras espci es de atal ho.
97. Consi deremos um i ndi v duo para o qual t, t, t" ... representam
as curvas de i ndi ferena dos gostos, i ndo os ndi ces de ofel i mi dade
aumentando de t a t". Esse i ndi v duo tem, a cada semana, uma quan-
ti dade om de A. Suponhamos que para transformar A em B el e si ga
o atal ho reti l neo mn. No ponto a, onde o atal ho encontra a curva de
i ndi ferena t, no exi ste equi l bri o porque mel hor para o i ndi v duo
i r de a para b, sobre a curva t, onde el e ter um ndi ce mai or de
ofel i mi dade.
Pode-se di zer outro tanto de todos os pontos em que o atal ho
encontra curvas de i ndi ferena, porm no do ponto c", em que o atal ho
tangente a uma curva de i ndi ferena. Com efei to, o i ndi v duo no
pode i r de c" seno em di reo a b ou b, e nos doi s casos o ndi ce de
ofel i mi dade di mi nui . Os gostos se opem a todo movi mento do i ndi v duo
que chegou a c", percorrendo o atal ho mn; em conseqnci a, c" um
ponto de equi l bri o. Acontece o mesmo com os pontos anl ogos c, c,
c", c", si tuados em outros atal hos que se supe poder ser percorri dos
pel o i ndi v duo. Reuni ndo-se esses pontos por uma l i nha, obter-se- a
l i nha de equi l bri o em rel ao aos gostos; chamamo-l a tambm LI NHA
DE TROCAS.
117
OS ECONOMISTAS
150
117 Poder amos cobri r o pl ano com um grande nmero de l i nhas de trocas, ter amos assi m
uma representao da col i na dos ndi ces de ofel i mi dade, que seri a anl oga que se obtm
cobri ndo o pl ano com l i nhas de i ndi ferena.
Os pontos termi nai s que, vi ndo de m, precedem os pontos da
l i nha de trocas tambm podem ser pontos de equi l bri o.
98. Poderi a acontecer que um atal ho l evasse a se ter zero de A,
sem ser tangente a nenhuma l i nha de i ndi ferena. Neste caso, ter-se-i a
um ponto termi nal no l ugar em que o atal ho corta o ei xo oB, e i sso
si gni fi cari a que, nesse atal ho, o i ndi v duo est di sposto a dar no so-
mente toda a quanti dade de A que possui , para ter B, mas que, ai nda
que el e ti vesse uma mai or quanti dade de A, el e a dari a para possui r
mai s de B.
99. Efetuando a soma das quanti dades de mercadori as transfor-
madas por cada i ndi v duo, obtm-se a l i nha de troca para a col eti vi dade
desses i ndi v duos. E, se o qui sermos, pode-se i gual mente representar
as curvas de i ndi ferena para essa col eti vi dade. El as resul taro das
curvas de i ndi ferena dos i ndi v duos que a compem.
100. O equilbrio para o produtor O produtor busca consegui r
o mxi mo de l ucro e, se nada di sso se opuser, el e subi r o mai s al to
poss vel na col i na do l ucro. Segui ndo um atal ho, o l, o produtor pode
chegar a um ponto, c, onde esse atal ho tangente a uma curva de
i ndi ferena dos obstcul os, e este ponto pode ter um ndi ce mai or de
l ucro do que os pontos vi zi nhos sobre o atal ho. Nesse caso o equi l bri o
do produtor se real i za no ponto c, sobre o atal ho o l, da mesma manei ra
que i sso se d com o consumi dor. Di remos, nesse caso, que a concor-
rnci a i ncompl eta.
Fi gura 12
PARETO
151
101. Pode ocorrer o contrri o, quer porque o atal ho o l, no seja
tangente a nenhuma curva de i ndi ferena dos obstcul os, quer porque,
encontrando-se o l tangente a c em uma de suas curvas, o ndi ce de
c seja mai s fraco que aquel e dos pontos vi zi nhos sobre o atal ho. Neste
caso a concorrnci a compl eta.
O produtor esforar-se- em continuar seu cami nho pelo atalho o l
at esse ponto termi nal que as outras condies do probl ema l he i mpem.
102. Consi deremos duas categori as de mercadori a: 1) exi stem certas
mercadori as tais que a quanti dade de B obti da pela unidade de A aumenta
a quanti dade de A transformada; 2) exi stem outras mercadori as para as
quais, ao contrri o, essa quanti dade de B di mi nui .
118
103. No pr i mei r o caso estamos di ante de l i nhas anl ogas s
l i nhas t, t ... da Fi g. 14, sobr e as quai s mar camos o ndi ce cor r es-
pondente. evi dente que nenhum atal ho do gnero ol pode ser tangente
a uma curva de i ndi ferena de ndi ce posi ti vo.
A l i nha t de ndi ce zero, i sto , a l i nha das transformaes com-
pl etas, di vi de o pl ano em duas partes ou regi es; de um l ado se en-
contram as l i nhas de ndi ce negati vo, do outro, as l i nhas de ndi ce
posi ti vo. O pr odutor no pode deter -se na pr i mei r a r egi o ou, pel o
Fi gura 13
OS ECONOMISTAS
152
118 A pri mei ra categori a compreende as mercadori as B cujo custo de produo di mi nui com o
aumento da quanti dade de mercadori a produzi da; a segunda categori a compreende as mer-
cadori as cujo custo de produo aumenta.
menos, no pode deter-se a por mui to tempo, porque estari a com perda.
E evi dente que el e no o quer e que, al m di sso, no pode i ndefi ni -
damente. O equi l bri o no , portanto, poss vel nessa regi o. El e o
na segunda, que chamaremos REGI O DE EQUI L BRI O POSS VEL.
Com efei to, o produtor pode deter-se num ponto qual quer em que haja
l ucro. Por outro l ado, el e procura aumentar esse l ucro tanto quanto
poss vel , i sto , procura i r to l onge quanto poss vel sobre o atal ho o
l; o equi l bri o faz-se nos pontos termi nai s ( 62) e no mai s nos pontos
de tangnci a. Para essas mercadori as a concorrnci a compl eta.
104. raro, al i s, que as l i nhas de i ndi ferena tenham, i ndefi -
ni damente, a forma que i ndi camos. Em geral , al m de certo ponto T,
mai s ou menos di stanci ado, o fenmeno muda e a pri mei ra categori a
transforma-se na segunda. O ponto T e os outros pontos anl ogos podem
encontrar-se al m dos l i mi tes consi derados e, nesse caso, como se
el es no exi sti ssem.
105. A segunda categori a de mercadori a i ndi cada no 102 tem
l i nhas de i ndi ferena cuja forma anl oga quel a por ns representada
na Fi g. 13. Exi stem atal hos como oc que so tangentes a uma curva
de i ndi ferena; exi stem outros, como ol, que no podem ser tangentes
a nenhuma dessas curvas. Reuni ndo os pontos de tangnci a cc"... temos
uma l i nha que chamaremos LI NHA DO MAI OR LUCRO. El a corres-
ponde l i nha das trocas, que se obtm por mei o de curvas de i ndi ferena
dos gostos. A regi o das curvas de i ndi ferena com ndi ce posi ti vo ,
em geral , a regi o de equi l bri o poss vel ; mas evi dente que, se puder,
o produtor se detm sobre a l i nha do l ucro mxi mo. Para essas mer-
cadori as a concorrnci a i ncompl eta (V, 96).
Fi gura 14
PARETO
153
Quando h concorrnci a, os atal hos, que no encontram a l i nha
de l ucro mxi mo e o conduzem a qual quer ponto com ndi ce negati vo,
no podem ser segui dos ( 137).
106. O equilbrio dos gostos e dos obstculos Consi deremos
certo nmero de consumi dores e um ni co produtor, ou ento certo
nmero de produtores com a condi o, porm, de que seu nmero no
tenha nenhuma ao sobre os obstcul os. I ndi quemos para os consu-
mi dores a l i nha de trocas mcc, para as quanti dades totai s de merca-
dori as, i sto , consi deremos a col eti vi dade como se tratasse de um s
i ndi v duo ( 87).
Para os produtores, i ndi quemos a l i nha hk, que ser a das trans-
formaes compl etas para as mercadori as da pri mei ra categori a ( 102),
i sto , com concorrnci a compl eta, e que ser a l i nha do l ucro mxi mo
para as mercadori as da segunda categori a ( 102), com concorrnci a
i ncompl eta. Consi deremos os fenmenos do ti po (I ).
107. Se exi ste uma l i nha de l ucro mxi mo e se el a corta a l i nha
das trocas dos consumi dores, os produtores se detm sobre a l i nha do
l ucro mxi mo porque nel a encontram sua vantagem. Do contrri o, ve-
r emos ( 141) que ser o caados sobr e a l i nha das tr ansfor maes
compl etas. A l i nha hk , por tanto, aquel a sobr e a qual se detm os
Fi gura 15
OS ECONOMISTAS
154
produtores, e os pontos de equi l bri o sero i ndi cados pel os pontos c,
c, pontos em que essa l i nha corta a l i nha das trocas dos produtores.
108. Tudo i sso verdadei ro no caso em que os atal hos percorri dos
so retos, parti ndo de m, porque justamente a esses atal hos que se
referem as l i nhas das trocas e do l ucro mxi mo. Se os atal hos mudam,
as l i nhas mudam i gual mente. Se, por exempl o, os produtores fossem
forados a segui r a l i nha das transformaes compl etas, haveri a equi -
l bri o no ponto em que essa l i nha tangente a uma curva de i ndi ferena
dos gostos.
109. Se doi s i ndi v duos trocam mercadori as entre si , os pontos
de equi l bri o encontram-se nas i ntersees das l i nhas de trocas dos
doi s i ndi v duos; no caso de os ei xos coordenados estarem di spostos de
manei ra tal que o atal ho percorri do por um coi nci da com o atal ho
percorri do pel o outro ( 116).
O mesmo ocorrer se, em vez de doi s i ndi v duos, consi derarmos
uma col eti vi dade.
110. O caso abstrato de doi s i ndi v duos que agem segundo o ti po
(I ) dos fenmenos, caso que consi deramos freqentemente, no corres-
ponde real i dade. Doi s i ndi v duos que contratassem juntos seri am
provavel mente gui ados por moti vos bem di ferentes daquel es que su-
pusemos. Para estar com o certo, devemos supor que o par consi derado
no est i sol ado, mas que el emento de um conjunto que compreende
numerosos pares. Comearemos pri mei ro a estudar um, a fi m de chegar
em segui da a ver como as coi sas acontecem quando exi stem mui tos.
Suponhamos, portanto, que o par consi derado se conduz no como se
esti vesse i sol ado, mas como se fi zesse parte de uma col eti vi dade.
preci so fazer a mesma restri o quando se consi dera um s
produtor e um s consumi dor.
111. Quando um i ndi v duo opera segundo o ti po dos fenmenos
(I I ), i mpe aos outros o atal ho que l he pessoal mente mai s vantajoso,
e o ponto de equi l bri o se encontra na i nterseo desse atal ho e da
l i nha de equi l bri o dos outros i ndi v duos.
112. Consi derando tudo o que precedeu, podemos deduzi r o se-
gui nte teorema geral :
Para os fenmenos (I ): se existe um ponto em que um atalho per-
corrido pelos indivduos que contratam tangente s curvas de indi-
ferena desses indivduos, este o ponto de equilbrio.
Com efei to, se doi s i ndi v duos contratam juntos, os pontos que
cortam as l i nhas das trocas desses i ndi v duos consti tuem pontos de
equi l bri o; mas nesses pontos os atal hos so tangentes s l i nhas de
PARETO
155
i ndi ferena dos gostos, poi s est preci samente a a condi o que de-
termi na essas l i nhas ( 97). Natural mente, preci so que os ei xos es-
tejam di spostos de tal manei ra que os i ndi v duos percorram o mesmo
atal ho (116). O mesmo raci oc ni o se apl i ca s duas col eti vi dades.
113. No caso de consumi dores que negoci am com produtores com
uma l i nha de l ucro mxi mo ( 105), as i ntersees dessa l i nha com a
l i nha das trocas dos consumi dores daro os pontos de equi l bri o; nesses
pontos, porm, os atal hos so tangentes s curvas de i ndi ferena dos
gostos e s curvas de i ndi ferena dos obstcul os, poi s preci samente
esta l ti ma condi o que determi na o l ucro mxi mo. O teorema, por-
tanto, est demonstrado.
114. Se os pontos de tangnci a no exi stem, o teorema j no se
apl i ca e substi tu do pel o teorema segui nte, que mai s geral e que
o compreende.
O equilbrio se produz nos pontos de interseo da linha de equi-
lbrio dos gostos e da linha de equilbrio dos obstculos. Essas linhas
so o lugar dos pontos de tangncia dos atalhos com os linhas de in-
diferena, ou o lugar dos pontos terminais desses atalhos.
115. Para os fenmenos do ti po (I I ) temos o segui nte teorema:
Se um indivduo opera segundo os fenmenos do tipo (I I ) com
outros que operam segundo os fenmenos do tipo (I ), o equilbrio tem
Fi gura 16
OS ECONOMISTAS
156
lugar no ponto mais vantajoso para o primeiro desses indivduos, sendo
esse ponto um daqueles em que os atalhos cortam a curva que marca
o lugar do ponto de equilbrio possvel.
116. Modos e formas de equilbrio na troca Estudemos agora,
em seus detal hes, os fenmenos que acabamos de estudar em geral .
Suponhamos que os obstcul os consi stam uni camente no fato de
que a quanti dade total de cada mercadori a constante e que somente
exi ste vari ao na reparti o entre doi s i ndi v duos. o caso da troca.
Suponhamos que o pri mei ro i ndi v duo, cujas condi es so re-
presentadas pel a Fi g. 16, possua om da mercadori a A, enquanto o
outro i ndi v duo tem certa quanti dade de B, mas no de A. Os ei xos
coordenados do pri mei ro so oA, oB; os do segundo wa, wb, sendo a
di stnci a wm i gual quanti dade de B que o segundo i ndi v duo possui .
As curvas de i ndi ferena so t, t, t" ..., para o pri mei ro e s, s, s" ...,
para o segundo. Consi derando a manei ra como esto di spostas as fi -
guras, uma ni ca l i nha sufi ci ente para i ndi car o atal ho percorri do
pel os doi s i ndi v duos. Os ndi ces de ofel i mi dade vo aumentando de t
em di reo a t", e de s para s".
117. Estudemos os fenmenos do ti po (I ). Se um atalho mc tangente
em c a uma curva t e a uma curva s, c um ponto de equil brio. Portanto,
se os obstcul os do segundo gnero i mpem no um atalho, mas somente
o ti po de atal ho, os doi s i ndi v duos experi mentaro di ferentes atal hos
dessa espci e, at que encontrem um semelhante a mc.
Para determi nar o ponto c, pode-se operar da segui nte manei ra.
I ndi ca-se para cada i ndi v duo a curva das trocas ( 97) e tem-se assi m,
para cada i ndi v duo, o l ugar dos pontos em que deve ocorrer o equi l bri o.
O ponto em que a curva das trocas do pri mei ro i ndi v duo corta a curva
das trocas do segundo , evi dentemente, o ponto de equi l bri o buscado,
poi s um ponto de equi l bri o para os doi s i ndi v duos.
118. Se os obstcul os i mpusessem um atal ho determi nado mhk,
tangente em h a uma das curvas s, s ... e em k a uma das curvas t,
t ... os pontos de equi l bri o seri am di ferentes para os doi s i ndi v duos.
Conseqentemente, se nenhum dos doi s pode i mpor sua vontade ao
outro, i sto , se se trata do ti po (I ) dos fenmenos, o probl ema que
l evantamos i nsol vel . Se o pri mei ro i ndi v duo pode i mpor suas con-
di es ao segundo, el e o forar a segui -l o at o ponto k, onde se dar
o equi l bri o.
119. preci so observar que esse caso no se confunde com aquel e
em que um i ndi v duo pode i mpor a outro o atal ho a segui r ( 128).
PARETO
157
No pri mei ro caso, o cami nho determi nado, e um i ndi v duo pode, nesse
caso, forar um outro a percorrer uma di stnci a mai s ou menos l onga.
No segundo, o cami nho i ndetermi nado, e um i ndi v duo pode fi x-l o
sua vontade, mas em segui da no pode forar outrem a percorrer,
nesse cami nho, uma di stnci a mai s ou menos l onga.
120. Di ssemos que se experi mentam di versos atal hos antes de
encontrar aquel e que conduz ao ponto de equi l bri o. Vejamos a coi sa
mai s de perto.
Se traarmos as curvas das trocas de doi s i ndi v duos, veremos,
em casos mui to numerosos, que el as apresentam formas anl ogas s
da Fi g. 17, e que se cortam mai s ou menos como i ndi cado nessas
fi guras; uma del as d trs pontos de i nterseo, a outra um. Estes so
de trs espci es, que desi gnaremos pel as l etras a, b, y; e so mostrados
com mai ores detal hes na Fi g. 18.
A l i nha das trocas para o pri mei ro i ndi v duo, para o qual os
ei xos so, na Fi g. 17, oA, oB, ser sempre i ndi cada por cd na Fi g. 18.
Para o segundo i ndi v duo, essa l i nha, cujos ei xos so i ndi cados por
wa, wb, na Fi g. 19, ser sempre i ndi cada por hk na Fi g. 18. O ponto
de encontro dessas duas l i nhas de contratos, i sto , o ponto de equi l bri o,
marcado pel o ponto l.
Fi gura 17
OS ECONOMISTAS
158
121. Consi der emos o equi l br i o par a o pr i mei r o i ndi v duo. No
caso dos pontos (a) e (y) os pontos da l i nha lh pr ecedem os da l i nha
cd e, em conseqnci a, so pontos ter mi nai s ( 62) par a o pr i mei r o
i ndi v duo. A l i nha sobr e a qual el e pode encontr ar -se em equi l br i o
, por tanto, c l h. Por r azo anl oga, a l i nha sobr e a qual o segundo
i ndi v duo pode encontr ar -se em equi l br i o, sempr e no caso dos pontos
(a) e (y), tambm c l h. No caso do ponto (b), essa l i nha de equi l br i o
, tanto par a o pr i mei r o quanto par a o segundo i ndi v duo, h l d.
Temos por tanto que consi der ar apenas o que acontece sobr e essas
l i nhas.
122. Ocupemo-nos dos pontos (a) e (y). O pri mei ro i ndi v duo en-
contra-se em posi o de equi l bri o. Consi derando que estamos di ante
do ti po (I ), el e compara uni camente as condi es em que se encontrari a
nos di ferentes pontos do atal ho mhd, e observa que estari a em mel hores
condi es em d do que em h; el e no pode chegar a d porque i mpedi do
pel os gostos do segundo i ndi v duo. Se um grande nmero de i ndi v duos
est em concorrnci a com um grande nmero de outros i ndi v duos, se
nosso par no est i sol ado, o pri mei ro i ndi v duo tem um mei o para
chegar, se no a d, pel o menos a um ponto bastante prxi mo. El e
segue um atal ho md um pouco menos i ncl i nado do que md sobre o
ei xo ox, i sto , cede uma mai or quanti dade de A pel a mesma quanti dade
de B. Dessa manei ra el e atrai os cl i entes do segundo i ndi v duo, recebe
B de outros i ndi v duos e pode chegar a d", que o mai s al to do atal ho,
onde fi ca em equi l bri o.
Fi gura 18
PARETO
159
Vejamos o que acontece com o segundo i ndi v duo. El e se encon-
trava em h, que para el e o ponto mai s al to do atal ho. A perda dos
cl i entes ati ra-o para trs; el es l he trazem menos de A, porque o pri mei ro
i ndi v duo j recebeu mai s do que el e. Assi m, este segundo i ndi v duo
encontra-se rechaado, por exempl o para h. Comparando sempre e
uni camente o estado em que estari a nos di ferentes pontos do atal ho
mhd, el e percebe que sua si tuao pi orou, que tem vantagem em tentar
retornar a h, ou, pel o menos, a um ponto mui to prxi mo. Para i sso i mi tar
o exempl o dado pel o pri mei ro i ndi v duo e l he pagar na mesma moeda.
Segui r um atal ho mui to mai s prxi mo, mas um pouco menos i ncl i nado
que md, e chegar assi m, por exempl o, ao ponto h" da linha kh.
Agora, cabe ao pri mei ro i ndi v duo fi car atento borrasca, tomar
cui dado e percorrer um atal ho menos i ncl i nado. Dessa manei ra, os
doi s i ndi v duos se aproxi maro do ponto l i ndo no senti do da seta.
Fenmenos anl ogos ocorrem parti ndo do ponto c. O segundo
i ndi v duo que se encontra em c c para el e um ponto termi nal
quer aproxi mar-se de k, o ponto mai s al to do atal ho mck; em conse-
qnci a, el e consente em receber um pouco menos de A pel a mesma
quanti dade de B e segue, por i sso, um atal ho mk, mai s i ncl i nado que
mk sobre o ei xo ox. O pri mei ro i ndi v duo obri gado a i mi tar essa
manei ra de agi r; assi m, pouco a pouco, os doi s i ndi v duos aproxi mam-se
de XI , no senti do da seta.
123. O ponto de equi l bri o encontra-se, portanto, em l, e chama-
l o-emos ponto de EQUI L BRI O ESTVEL, porque, se os doi s i ndi v duos
se di stanci am de l, tendem, em segui da, a el e retornar.
124. Ocupemo-nos do ponto (). Como j vi mos, a l i nha de equi -
l bri o a l i nha h l d. Suponhamos que os doi s i ndi v duos estejam em
d; o segundo i ndi v duo quereri a, a parti r desse ponto, que para el e
um ponto termi nal , aproxi mar-se de k. Para a chegar, deve confor-
mar-se em receber menos de A pel a mesma quanti dade de B, i sto ,
percorrer um atal ho mdk, mai s i ncl i nado do que mk sobre o ei xo ox,
e se di stanci ar de l. O pri mei ro i ndi v duo forado a segui r seu
exempl o; el es i ro, portanto, no senti do da seta. Acontece o mesmo do
outro l ado de l. Se os doi s i ndi v duos se encontram em h, o pri mei ro
querer aproxi mar-se de c. Para i sso, dar mai or quanti dade de A
pel a mesma quanti dade de B; segui r, ento, um atal ho menos i ncl i nado
que mc e se di stanci ar de l. O segundo i ndi v duo deve segui r seu
exempl o e assi m por di ante. Os doi s i ndi v duos se movem, portanto,
di stanci ando-se de l. O ponto l um ponto de EQUI L BRI O ESTVEL.
125. Retornemos Fi g. 17. Para o i ndi v duo (2), h apenas um
ponto de equi l bri o e um ponto de equi l bri o estvel . Para o i ndi v duo
(1) exi stem doi s pontos de equi l bri o estvel a saber () e (), e um
OS ECONOMISTAS
160
ponto de equi l bri o i nstvel , a saber (). Em geral , entre doi s pontos
de equi l bri o estvel h um ponto de equi l bri o i nstvel , que marca o
l i mi te entre as posi es de onde al gum se aproxi ma de um ou de
outro dos doi s pontos de equi l bri o estvel .
A l i nha de equi l bri o a l i nha m u d l a m.
126. Chamemos de senti do posi ti vo das rotaes aquel e i ndi cado
pel a seta na Fi g. 19, que faz crescer o ngul o . Se, no senti do da
rotao negati va, antes do encontro das duas l i nhas de equi l bri o, a
l i nha do i ndi v duo que troca A por B precede a l i nha do i ndi v duo que
troca B por A, o equi l bri o estvel . No caso contrri o, i nstvel .
127. Pel a Fi g. 18 v-se que cada i ndi v duo procura sempre gal gar
a col i na do prazer, aumentar sua ofel i mi dade, conti nuando a segui r o
atal ho percorri do. A concorrnci a, porm, f-l o desvi ar-se, escorregar,
aproxi mando-o de l , nos casos de equi l bri o estvel , di stanci ando-o de
l , nos casos de equi l bri o i nstvel .
Trata-se de saber se, entre esses doi s equi l bri os, parti ndo do
ponto de equi l bri o e no senti do da rotao posi ti va, o i ndi v duo pode
manter-se sobre sua l i nha de contratos, ou se deve passar para aquel a
do segundo i ndi v duo, cujos pontos se tornam pontos termi nai s para
el e. No pri mei ro caso, temos os pontos () e () da Fi g. 18; no segundo,
o ponto (). Podemos expri mi -l o ai nda da segui nte manei ra: no caso
de uma rotao negati va, se o pri mei ro i ndi v duo no consegue se
manter sobre a l i nha de trocas e se deve passar para a do segundo
i ndi v duo pontos () e () , o equi l bri o estvel ; se, ao contrri o,
consegue manter-se sobre sua prpri a l i nha das trocas ponto () ,
o equi l bri o i nstvel .
128. Consi deremos agora os fenmenos do ti po (I I ). Suponhamos
Fi gura 19
PARETO
161
que o segundo i ndi v duo agi sse segundo esse ti po, enquanto o pri mei ro
conti nua a segui r o ti po (I ).
Para esse pri mei ro i ndi v duo, a curva de equi l bri o ai nda matsb,
que rene os pontos de tangnci a dos di versos atal hos que partem de
m com as curvas de i ndi ferena. O segundo i ndi v duo pode, perfei ta-
mente, escol her o atal ho mde, mas no pode forar o pri mei ro a ul -
trapassar o ponto d, para chegar a e. Al i s, el e poderi a deter-se antes
de chegar a d e forar assi m o pri mei ro i ndi v duo a se deter. Em
resumo, o equi l bri o poss vel em todo o espao compreendi do entre
m e matsdb. A manei ra de chegar ao ponto de equi l bri o di ferente
nesses doi s casos. Para os fenmenos do ti po (I ), os i ndi v duos eram
conduzi dos a esse ponto pel a concorrnci a; para os fenmenos do ti po
(I I ), um dos i ndi v duos escol he o ponto que mai s l he convm entre
aquel es em que o equi l bri o poss vel .
129. O segundo i ndi v duo, que se encontra em d, no busca mai s,
como antes, i r para e, ou pel o menos para um ponto mui to prxi mo:
el e compara o estado no qual se encontra em d com aquel e em que
estari a em qual quer outro ponto onde o equi l bri o fosse poss vel ; e
escol he o ponto que l he convm, i mpondo ao outro i ndi v duo o atal ho
que necessari amente o conduz a esse ponto.
130. O ponto no qual a si tuao do segundo i ndi v duo a mel hor
, evi dentemente, o ponto que tem o mai or ndi ce de ofel i mi dade, o ponto
mai s al to entre todos aquel es que possa escol her, i sto , o ponto mai s
al to sobre a col i na do prazer do segundo i ndi v duo. Ora, evi dente que
Fi gura 20
OS ECONOMISTAS
162
os pontos compreendi dos entre m e mats so mai s bai xos que os que
se encontram al m de mts. Pode-se consi derar essa l i nha como um
atal ho; seu ponto mai s al to sobr e a col i na do pr azer do segundo
i ndi v duo ser o ponto t ao qual el a tangente numa cur va de
i ndi fer ena. Este , por tanto, o ponto conveni ente par a o segundo
i ndi v duo se deter .
131. A deter mi nao desse ponto , na pr ti ca, mui to di f ci l .
Tambm aquel e que oper a segundo o ti po (I I ) pr ope, habi tual mente,
um outr o fi m, a saber , obter a mai or quanti dade poss vel de A. O
ponto que sati sfaz essa condi o o ponto de tangnci a s da l i nha
comum de equi l br i o e de uma par al el a ao ei xo oy. Esse ponto se
deter mi na faci l mente poi s o pr pr i o or amento do i ndi v duo i ndi ca
o que el e r ecebe de A.
132. Quando a mercadori a A mui to mai s ofl i ma do que a
mercadori a B, para o segundo i ndi v duo, o ponto s quase se confunde
com o ponto t; confunde-se compl etamente se A ofl i ma apenas para
o segundo i ndi v duo, porque nesse caso as l i nhas de i ndi ferena so
paral el as ao ei xo oy (I V, 54).
Poder-se-i a escol her outras condi es, obtendo-se, ento, outros
pontos de equi l bri o.
Fi gura 21
PARETO
163
133. Se, em vez de percorrer os atal hos reti l neos que i ndi cam
os preos, o i ndi v duo percorre a l i nha de transformao i mposta pel os
obstcul os, ou em geral outro atal ho determi nado, o equi l bri o poder
ser estvel ou i nstvel . Consi derando acb uma l i nha de transformao,
c o ponto no qual el a tangente a uma l i nha de i ndi ferena dos gostos,
t o ponto em que ocorre o equi l bri o. Se, como acontece habi tual mente,
essa l i nha ab de transformao tal que o ndi ce de ofel i mi dade
mai or em cdo que os ndi ces dos pontos prxi mos a, b, o equi l bri o
estvel . Com efei to, o i ndi v duo que, por acaso, se di stanci a de c, procura
a el e retornar, porque sempre tenta passar, na medi da do poss vel , de
um ponto a outro, com ndi ce de ofel i mi dade mai or. Pel a mesma razo,
se a l i nha das transformaes ti vesse uma forma ab, tal que os ndi ces
de ofel i mi dade dos pontos ab prxi mos do ponto de equi l bri o c fossem
mai ores que o ndi ce de ofel i mi dade de c, o equi l bri o seri a i nstvel .
134. Mximos de ofelimidade Preci samos exami nar em por -
menores os di ferentes mxi mos dos pontos de equi l bri o. Temos, pri -
mei ro, um mxi mo absol uto no ponto mai s al to da col i na do prazer,
em seu cume. Nesse ponto o i ndi v duo tem de tudo vontade; no h
razo por que nos deter nesse caso.
Vem, em segui da, um grande nmero de mxi mos rel ati vos. O
ponto c", Fi g. 12, o mai s al to do atal ho mn; um mxi mo subordi nado
condi o de que o i ndi v duo se mova somente sobre o atal ho mn. Os
outros pontos de tangnci a c, c ..., so tambm mxi mos do mesmo
gnero. Um del es pode ser mui to mai s al to que os outros, um ma-
ximum maximorum [mxi mo dos mxi mos]. Exi ste tambm um ponto
termi nal que marca um mxi mo; o ponto mai s al to de uma poro
de atal ho, mas mai s bai xo do que o ponto de tangnci a que segue.
O ponto t, Fi g. 20, , para o segundo i ndi v duo, o ponto mai s
al to da l i nha comum de equi l bri o.
Quanto ao ponto s, el e i ndi ca um mxi mo de um gnero di ferente
dos precedentes, porque j no um mxi mo de ofel i mi dade, mas um
mxi mo de quanti dade da mercadori a A.
135. Modos e formas do equilbrio na produo Se se supe
que na Fi g. 18 a l i nha hk i ndi ca a l i nha do l ucro mxi mo do produtor
ou dos produtores, basta refazer os raci oc ni os que acabamos de apl i car
troca. A tendnci a do produtor fi car nessa l i nha, da mesma manei ra
que o consumi dor na l i nha das trocas.
136. Exi ste, no entanto, uma di ferena que di z respei to aos atal hos
que no encontram essa l i nha hk do l ucro mxi mo (Fi g. 22). Se o
produtor segue o atal ho mk, compreende-se por que el e se detm em
OS ECONOMISTAS
164
k, poi s sua condi o seri a menos boa aqum ou al m desse ponto. Se
el e segue, porm, o atal ho mc que no tangente a nenhuma curva
de i ndi ferena dos obstcul os, por que no i ri a por esse atal ho at o
ponto que permi tem os gostos de seus cl i entes?
137. Nesse ponto i ntervm a concorrnci a. A l i nha hk di vi de o
pl ano em duas regi es: na que se encontra aqum de hk em rel ao
a m, o produtor tem a vantagem de aumentar, ao l ongo de um atal ho
reti l neo mc, a quanti dade ma de mercadori a A transformada; na que
se encontra al m de hk, em rel ao a m, o produtor tem a vantagem
de di mi nui r, ao l ongo de um atal ho reti l neo mc, a quanti dade ma de
mercadori a B transformada. Ento as coi sas no so as mesmas para
os produtores que esto em c e para aquel es que esto em c.
138. Aquel e que se encontra em c pode tentar, ai nda que esteja
s, aumentar a transformao, e assi m ser se se supe que el e segue
ri gorosamente os pri nc pi os dos fenmenos do ti po (I ). El e comparar
o estado em que se encontrari a nos di versos pontos do atal ho mcd, e
ver que estari a mel hor al m de c; em conseqnci a, se o consumi dor
no qui ser i r por esse atal ho, al m de c, o produtor acei tar dar mai or
quanti dade de B por um de A, i sto , el e aumentar, l i gei ramente, a
i ncl i nao do atal ho mc sobre mo. Por outro l ado, se el e est s, acabar
percebendo que, se espera ganhar dessa manei ra, na real i dade est
perdendo, e ento dei xar de agi r segundo o ti po (I ) e agi r, ao contrri o,
segundo o ti po (I I ).
Se exi stem vri os concorrentes, aquel e que aumenta a i ncl i nao
do atal ho mc l eva vantagem, durante um curto espao de tempo. Por
Fi gura 22
PARETO
165
outro lado, se assi m no o fizesse, outros o fari am. Dessa manei ra aumenta,
pouco a pouco, a i ncl i nao de mc sobre mo, e aproxi mamo-nos da l i nha
hk. L chegando, no exi ste mai s vantagem al guma em aumentar a quan-
ti dade transformada de A. Desaparecendo a causa, cessa tambm o efei to.
139. Se o produtor se encontra em c, percebe rapi damente que l eva
vantagem di mi nuindo a quanti dade ma de A transformada. Para aumen-
tar essa quanti dade, deveri a l utar contra seus concorrentes, mas, para
di mi nu -l a, el e age por si prpri o, sem se preocupar com os outros. Di mi nui ,
portanto, a i ncl i nao de mc sobre mo e aproxi ma-se da l i nha do l ucro
mxi mo hk, sem preocupar-se em saber se os outros concorrentes o seguem
ou no. Observemos que seu movi mento pode se fazer todo el e sobre o
atal ho mc; em conseqnci a, operando exatamente segundo os pri nc pi os
do ti po (I ), el e se di ri ge para v onde est mel hor do que em c. Al m de
v el e no i r em di reo a m, poi s a si tuao pi orari a.
140. Em resumo, portanto, o produtor que se encontra al m de
hk, em rel ao a m, retorna sobre hk por seu i nteresse pessoal . O
produtor que se encontra aqum de hk, em rel ao a m, retorna, tal vez
por si mesmo, mas com certeza pel a concorrnci a, sobre hk. El e cer-
tamente a el e retornari a por si prpri o se se pudesse admi ti r que el e
se conduz exatamente segundo o ti po (I ).
141. Resta-nos exami nar o caso em que essa l i nha do l ucro m-
xi mo no exi ste.
Consi deremos cd a l i nha das trocas, hk a linha das transformaes
compl etas do produtor. A regi o dos ndi ces posi ti vos est al m de hk,
em rel ao a m. Doi s casos se apresentam, i ndi cados por () e por ().
142. Exami nemos pri mei ro o caso (). Em c o consumi dor est
em equi l bri o, poi s se encontra sobre a l i nha das trocas: o produtor
est sati sfei to, poi s se encontra na regi o dos ndi ces posi ti vos; esse
estado de coi sas poderi a, portanto, durar mui to tempo.
Fi gura 23
OS ECONOMISTAS
166
Mas, se o pr odutor deseja estar ai nda mel hor e, por conse-
qnci a, se el e se conduz r i gor osamente segundo o pr i nc pi o dos
fenmenos (I ), conti nuar a mover -se sobr e o atal ho mc: a el e
i mpedi do pel os gostos dos consumi dor es e tentar , ento, dar a esse
consumi dor uma mai or quanti dade de B pel a mesma quanti dade de
A, i sto , aumentar a i ncl i nao do atal ho sobr e o ei xo dos A, apr o-
xi mando-se assi m da l i nha hk.
Por outro l ado, se o produtor se encontrava s, perceberi a, rapi -
damente, que l oucura agi r dessa manei ra, poi s al cana um resul tado
oposto quel e que procurari a, portanto, de agi r segundo os pri nc pi os
dos fenmenos (I ) e apl i cari a aquel es dos fenmenos (I I ).
143. Quando exi ste um cer to nmer o de pr odutor es em con-
cor r nci a, aquel e que aumenta um pouco a i ncl i nao do atal ho mc
al cana, pel o menos por um cur to espao de tempo, o r esul tado de-
sejado. El e ti r a cl i entes de seus concor r entes e avana mai s ou menos
na r egi o dos ndi ces posi ti vos. El e poder i a at mesmo a per ma-
necer , se seus concor r entes no vi essem a i mi t-l o. Se el es o i mi tam,
se a concor r nci a r eal , el es aumentar o, por seu l ado, a i ncl i nao
do atal ho sobr e mn e assi m, pouco a pouco, i ndo no senti do da seta,
pr odutor es e consumi dor es se apr oxi mar o do ponto l onde a l i nha
hk das tr ansfor maes compl etas cor ta a l i nha cd das tr ocas. Os
pr odutor es no podem ul tr apassar essa l i nha, poi s entr ar i am na
r egi o dos ndi ces negati vos, segui ndo a l i nha cd das tr ocas; e no
podem i r sobr e lh por que os consumi dor es r ecusam segui -l os. pr e-
ci so, ento, que el es se detenham em l, que um ponto de equi l br i o
e um ponto de equi l br i o estvel .
144. De outra manei ra, pode-se observar que lc apenas uma
l i nha de equi l bri o poss vel ; o mesmo ocorrendo com ld, poi s el a se
encontra na regi o dos ndi ces negati vos. Sobre a l i nha c l, a concor-
rnci a dos produtores opera de tal manei ra que o ponto de equi l bri o
se aproxi ma de l.
145. Exami nemos agora o caso (). Veremos, como aci ma, que l
d a ni ca l i nha de equi l bri o poss vel , porque lc se encontra na regi o
dos ndi ces negati vos. Se os produtores esti verem em d, encontram-se
bem, poi s esto na regi o dos ndi ces posi ti vos; mas a concorrnci a
que fazem entre si os far aumentar a i ncl i nao de md sobre mx e
assi m nos di stanci amos de l. E justamente em l que poderi a haver
equi l bri o, poi s nesse ponto consumi dores e produtores se acham sa-
ti sfei tos. Porm, desde que nos di stanci amos de l, do l ado de h, em
vez de a retornarmos, del e nos afastaremos cada vez mai s. Do l ado
de k retornamos a l. Temos aqui um gnero de equi l bri o especi al ,
estvel por um l ado e i nstvel por outro.
PARETO
167
No temos exempl o desse equi l bri o na Fi g. 18. Se compararmos
o caso da Fi g. 18 com o caso () da Fi g. 23, veremos que as condi es
de estabi l i dade do equi l bri o so preci samente i nversas para (), i sto
, para a troca e a produo com concorrnci a compl eta, e para (),
i sto , para a concorrnci a compl eta. I sso acontece porque no caso (),
por ser a l i nha hk a l i nha das trocas (ou do l ucro mxi mo), os i ndi v duos
aos quai s el a se refere a permanecem de caso pensado, enquanto nos
casos () e (), por ser a l i nha de transformaes compl etas, os i ndi -
v duos aos quai s se refere so l evados uni camente pel a concorrnci a.
146. No caso (), aquel es que se encontravam em h a permane-
ci am porque a posi o l hes era vantajosa; no havi a movi mento seno
por efei to do consumi dor, que ti nha cd como l i nha das trocas e que
desejava i r para c. No caso (), ao contrri o, esse movi mento se produz
porque aquel es que esto em k gostari am de encontrar-se em mel hores
condi es e tentam avanar sobre o atal ho kc. No caso (), o equi l bri o
poss vel em d, e del e nos di stanci amos por causa daquel es que queri am
i r para k; no caso (), no poss vel deter-se em d porque os produtores
perdem, arru nam-se, desaparecem. Retornamos assi m a l.
Descrevemos o fenmeno tal qual el e se produz com o correr do
tempo. Torna-se sempre poss vel que os produtores estejam com perda
durante um pequeno l apso de tempo.
147. Vejamos o que acontece quando o nmero de produtores
atua sobre os obstcul os.
Consi deramos mo, mn os ei xos dos produtores, s, s ..., as l i nhas
Fi gura 24
OS ECONOMISTAS
168
de i ndi ferena, e cd a l i nha das trocas dos consumi dores. Se houver
apenas um produtor, el e se deter na i nterseo l da l i nha das trocas
e da l i nha hk do l ucro mxi mo. O mesmo se d se exi stem vri os
produtores, porm com a condi o de que seu nmero no atue sobre
os obstcul os e por conseqnci a sejam el es al guns ou um grande
nmero conseguem todo o l ucro mxi mo quando a quanti dade total
am de A transformada em a I de B.
148. Suponhamos, ao contrri o, que a l i nha hk se refi ra ao caso
de um s produtor e que outros possam aparecer nas mesmas condi es.
Se houver doi s, preci so, para que cada um tenha o l ucro mxi mo,
dobrar todas as quanti dades; se houver trs preci so tri pl i car etc. A
l i nha hk encontra-se assi m desl ocada quando se refere ao total da
produo, segundo o nmero de produtores. El a seri a i gual mente des-
l ocada se, de manei ra geral , em l ugar de dupl i car, tri pl i car etc. a pro-
duo, fosse preci so si mpl esmente aument-l a em certas propores.
A l i nha s das transformaes compl etas tambm seri a desl ocada.
Se, por acaso si ngul ar, as l i nhas assi m desl ocadas, quando exi s-
tem, por exempl o, doi s produtores, se cruzarem em um ponto g da
l i nha cd das trocas, o equi l bri o se dar em g. Com efei to um dos
produtores no pode conti nuar em l, porque o outro, para atrai r os
cl i entes, muda a i ncl i nao do atal ho m l at que este coi nci da com o
atal ho mg. El e no pode i r mai s l onge porque ento entrari a na regi o
dos ndi ces negati vos, e no exi ste um tercei ro produtor.
149. Ser mui to di f ci l acontecer que as l i nhas desl ocadas do
pequeno mxi mo e das transformaes compl etas se cruzem preci sa-
mente sobre a l i nha das trocas. Enquanto esta corta a l i nha do l ucro
mxi mo num ponto di ferente daquel e em que el a cortada pel a l i nha
das transformaes compl etas, o equi l bri o poder acontecer no ponto
de i nterseo da l i nha das trocas e da l i nha do l ucro mxi mo. Mas,
os produtores tendo l ucro nesse ponto, outros surgi ro, se i sso for pos-
s vel , natural mente, at que a l i nha do l ucro mxi mo no mai s cruze
a l i nha das trocas. Quando i sso ocorrer, estaremos no caso j tratado
( 141) e o equi l bri o se far no ponto de i nterseo da l i nha das trocas
e da l i nha das transformaes compl etas.
Podemos fazer o mesmo raci oc ni o para as mercadori as da se-
gunda categori a ( 102).
150. Em resumo, o equi l bri o se d no ponto em que se cruzam
a l i nha do l ucro mxi mo e a l i nha das trocas. Quando, porm, poss vel
que novos produtores se apresentem e que a l i nha do l ucro mxi mo
se encontre ento desl ocada de manei ra a no mai s cortar a l i nha das
trocas, o equi l bri o se d no ponto em que a l i nha das trocas corta a
PARETO
169
l i nha das transformaes compl etas. O pri mei ro caso se apresenta quan-
do a concorrnci a i ncompl eta ( 105), o segundo quando el a compl eta.
151. Para os fenmenos do ti po (I I ), se o produtor opera segundo
este ti po, avanar tanto quanto possa na regi o dos ndi ces posi ti vos
e, em conseqnci a, o ponto de equi l bri o se encontrar no ponto de
tangnci a da l i nha das trocas e de uma l i nha de i ndi ferena, no caso
de concorrnci a compl eta, Fi g. 14. El e estar no ponto de tangnci a
das trocas e das l i nhas de l ucro mxi mo, em caso de concorrnci a
i ncompl eta, Fi g. 13. Tudo i sso, bem entendi do, quando esses pontos
esto nos l i mi tes do fenmeno consi derado.
Se o consumi dor operar segundo o ti po (I I ), obri gar os produtores
a se deterem sobre a l i nha das transformaes compl etas. Se os atal hos
devem ser retas parti ndo de m, o equi l bri o, em caso de concorrnci a
compl eta, no ser di ferente daquel e que se produz para os fenmenos
do ti po (I ); poder, no entanto, ser di ferente se o consumi dor esti ver
em condi o de mudar a forma dos atal hos (VI , 17, 18).
152. Os preos At aqui , raci oci namos, em geral , esforando-nos
em no uti l i zar os preos, porm quando ti vemos de faz-l o, fi zemo-l o
i magi nando exempl os concretos, e mesmo nas teori as gerai s ti vemos
que us-l os mai s ou menos i mpl i ci tamente: servi mo-nos del es, embora
sem ci t-l os nomi nal mente. Agora i nteressante a el es recorrer, mas
seri a ti l demonstrar que as teori as da Economi a no deri vam di re-
tamente da consi derao de um mercado em que exi stam certos preos,
mas antes da consi derao do equi l bri o que nasce da oposi o dos
gostos e dos obstcul os. Os preos aparecem como auxi l i ares desco-
nheci dos, mui to tei s para resol ver os probl emas econmi cos, mas que
devem fi nal mente ser el i mi nados, para dei xar uni camente presentes
os gostos e os obstcul os.
153. Denomi na-se PREO de Y em X a quanti dade de X que
preci so dar para se ter uma uni dade de Y.
Quando o preo constante, pode-se comparar uma quanti dade
qual quer de X e de Y, procurar a rel ao entre a quanti dade de X que
se d e a quanti dade de Y que se recebe, obtendo-se, dessa manei ra,
o preo. Quando os preos so vari vei s, preci so comparar quanti dades
i nfi ni tesi mai s.
154. De nossa defi ni o do preo resul ta que se passa do ponto
c ao ponto d trocando ac de A contra ad de B, o preo de B em A
i gual i ncl i nao da reta dcm sobre o ei xo oB, e o preo de A em B
expri me-se pel a i ncl i nao dessa mesma reta sobre o ei xo oA.
OS ECONOMISTAS
170
155. Nos pargrafos anteri ores fal amos, com freqnci a, em au-
mentar ou di mi nui r a i ncl i nao de mn sobre um dos ei xos, por exempl o,
sobre oB. E como se houvssemos fal ado em aumentar ou bai xar o
preo de B em A.
156. O VALOR DE TROCA dos economi stas, quando se quer
preci sar as concepes nebul osas das quai s se cercam os economi stas
l i terri os ( 226), Corresponde, aproxi madamente, ao preo tal como
acabamos de defi ni -l o. raro, porm, que os autores que empregam
esse termo val or tenham uma i di a cl ara do que el e representa. Al m
di sso exi sti am economi stas que fazi am di sti no entre o valor, que era
uma frao qual quer, por exempl o 6/3, e o preo, que era uma frao
na qual o denomi nador era a uni dade, por exempl o 2/1. Se se trocam
6 de vi nho por 3 de po, o val or de troca do po em vi nho seri a 6/3,
e porque necessri o, nesse caso, dar 2 de vi nho para se ter 1 de po,
o preo do po em vi nho seri a 2. i nti l dar doi s nomes para coi sas
to pouco di ferentes como o so 6/3 e 2/1, sobretudo desde que a Eco-
nomi a Pol ti ca dei xou de ser um gnero l i terri o para se tornar uma
ci nci a posi ti va.
157. Os economi stas uti l i zavam essa noo de valor de troca para
estabel ecer o teorema de que era i mposs vel um aumento geral dos
val ores, ao passo que era poss vel um aumento geral dos preos. No
exempl o precedente o val or do po em vi nho era 6/3 e o do vi nho em
po 3/6. sufi ci ente ter todas as pri mei ras noes de Ari tmti ca para
Fi gura 25
PARETO
171
compreender que, quando uma dessas fraes aumenta, a outra di mi -
nui , seu produto sendo sempre i gual a 1. Assi m, se se trocam 12 de
vi nho por 3 de po, o val or do vi nho em po torna-se 3/12. Quanto ao
preo do po em vi nho, el e aumenta e torna-se 4 em l ugar de 2.
158. A noo geral do preo de uma mercadori a em outra ti l
na Ci nci a Econmi ca porque el a faz abstrao da moeda. Na prti ca,
nos povos ci vi l i zados, o preo de todas as mercadori as se refere a uma
s del as, que se chama moeda; fal ando de fenmenos concretos tam-
bm bastante di f ci l evi tar fal ar do preo nesse senti do. Mesmo na
teori a ti l i ntroduzi r essa noo desde o comeo. Anteci pa-se assi m,
verdade, a teori a da moeda, que deve vi r aps a teori a geral do
equi l bri o econmi co, mas i sso no causa grande mal , se se pensa,
sobretudo, na mai or cl areza que o emprego dessa noo d exposi o.
159. Rel embremos, fazendo uso da noo geral do preo, os re-
sul tados a que j chegamos.
160. O ti po (I ) dos fenmenos consti tu do por aquel es em que
o i ndi v duo acei ta os preos que encontra no mercado e procura sati s-
fazer seus gostos com esses preos. Assi m fazendo, el e contri bui , sem
querer, para modi fi car seus preos, mas no age di retamente com a
i nteno de modi fi c-l os. A certo preo el e compra (ou vende) certa
quanti dade de mercadori a; se a pessoa com a qual el e negoci a acei tasse
um outro preo, el e comprari a (ou venderi a) uma outra quanti dade de
mercadori a. Em outras pal avras, para faz-l o comprar (ou vender) certa
quanti dade de mercadori a, preci so prati car certo preo.
161. O ti po (I I ), ao contrri o, consti tu do pel os fenmenos nos
quai s o i ndi v duo tem por objeti vo pri nci pal modi fi car os preos, para da ,
em segui da, ti rar certa vantagem. El e no dei xa a escol ha de di ferentes
preos pessoa com a qual negoci a; el e i mpe um e s l he dei xa a escol ha
da quanti dade a comprar (ou vender) a esse preo. A escol ha do preo
no mai s bi l ateral como no ti po (I ), el a se torna uni l ateral .
162. J vi mos que, na real i dade, o ti po (I ) corresponde l i vre
concorrnci a ( 46) e que o ti po (I I ) corresponde ao monopl i o.
163. Onde exi ste a l i vr e concor r nci a, ni ngum sendo pr i vi l e-
gi ado, a escol ha do pr eo bi l ater al . O i ndi v duo 1 no pode i mpor
seu pr eo ao 2, nem o i ndi v duo 2 seu pr eo ao 1. Nesse caso, aquel e
que contr ata se col oca o segui nte pr obl ema: Dado o pr eo tal , que
quanti dade compr ar (ou vender )?. Ou, ai nda, em outr as pal avr as:
Par a que eu compr e (ou venda) tal quanti dade de mer cador i a, qual
dever i a ser o pr eo del a?.
OS ECONOMISTAS
172
164. Onde exi ste monopl i o, sob qual quer for ma, exi ste al gum
pr i vi l egi ado. Este se uti l i za de seu pr i vi l gi o par a fi xar o pr eo,
cuja escol ha se tor na uni l ater al . El e l evanta, por tanto, o pr obl ema
segui nte: Que pr eo devo i mpor ao mer cado par a ati ngi r o fi m a
que me pr oponho?
165. O ti po (I I I ) tambm corresponde ao monopl i o, mas se di -
ferenci a do ti po (I I ) pel o fi m a que se prope. O probl ema que o estado
soci al i sta deve col ocar o segui nte: Que preo devo fi xar para que
meus admi ni stradores gozem do bem-estar mxi mo compat vel com as
condi es nas quai s se encontram ou que eu ache bom l hes i mpor?
166. Observem que, mesmo se o Estado soci al i sta supri mi sse toda
facul dade de troca, i mpedi sse toda compra-venda, os preos no desa-
pareceri am por causa di sso; el es permaneceri am ai nda que como ar-
ti f ci o contbi l para a di stri bui o das mercadori as e suas transforma-
es. O emprego dos preos o mei o mai s si mpl es e mai s fci l para
resol ver as equaes de equi l bri o; se se tei masse em no empreg-l os,
acabar-se-i a provavel mente por uti l i z-l os sob outro nome e haveri a
ento uma si mpl es modi fi cao da l i nguagem, mas no das coi sas.
167. Os preos e o segundo gnero de obstculos Vi mos que,
entre os dados do probl ema, dev amos ter as rel aes segundo as quai s
se transformam as pores sucessi vas das mercadori as. Fazendo i n-
tervi r os preos, i sso se expri me di zendo que devemos dar o modo
segundo o qual vari am os preos das pores sucessi vas: fi xar, por
exempl o, que essas pores tenham todas o mesmo preo, que pode,
al i s, ser desconheci do, ou que seus preos vo aumentando (ou bai -
xando) segundo certa l ei .
168. Este um ponto sobr e o qual al guns autor es se equi vo-
car am e, por consegui nte, mer ece ser estudado mai s de per to. No
tocante s var i aes dos pr eos, pr eci so fazer uma di sti no fun-
damental . Os pr eos das por es sucessi vas que se compr am par a
chegar posi o de equi l br i o podem var i ar , ou ento so os pr eos
de duas oper aes conjuntas, que conduzem por o de equi l br i o,
que podem var i ar .
() Por exempl o, um i ndi v duo compra 100 gramas de po a 60
centavos o qui l o, depoi s 100 gramas a 50 centavos, depoi s ai nda 100
gramas a 40 centavos o qui l o, e chega assi m a uma posi o de equi l bri o
tendo comprado 300 gramas de po a preos di ferentes. Amanh el e
recomea a mesma operao. Nesse caso os preos so vari vei s para
pores sucessi vas que se compram para chegar posi o de equi l bri o,
mas el es no vari am quando se recomea a operao.
() Ao contrri o, o mesmo i ndi v duo, amanh, compra 100 qui l os
PARETO
173
de po a 70 centavos o qui l o, depoi s 100 qui l os a 65 centavos, depoi s
100 qui l os a 58 centavos. Os preos vari am no s para as pores
sucessi vas, mas tambm de uma operao que conduz ao equi l bri o
para outra.
() O i ndi v duo consi derado compra 300 gramas de po pel o mesmo
preo de 60 centavos o qui l o e chega assi m posi o de equi l bri o.
Amanh el e repete a mesma operao. Nesse caso os preos das pores
sucessi vas so constantes, e o preo no vari a mai s conduzi ndo de
uma operao ao equi l bri o para outra operao.
() Fi nal mente, esse i ndi v duo compra hoje 300 gramas de po,
ao mesmo preo de 60 centavos o qui l o, e chega assi m posi o de
equi l bri o. Amanh, para chegar a essa posi o, el e compra 400 gramas
de po, pagando todas as pores sucessi vas ao preo constante de 50
centavos. Os preos das pores sucessi vas so, nesse caso, tambm
constantes; o que vari a so os preos de uma poro conduzi ndo ao
equi l bri o para outra.
169. I sso ser mai s bem compreendi do por mei o de fi guras.
Em todas as fi gur as, ab, ac i ndi cam os cami nhos segui dos nas
di fer entes compr as, i sto , os pr eos pagos pel as di ver sas por es.
Em () e em () ab, ac so cur vas, i sto , os pr eos var i am de uma
por o par a outr a; em () e em () ab, ac so r etas, i sto , os pr eos
so constantes par a as di ver sas por es. Em () e em () o i ndi v duo
per cor r e cada di a o cami nho ab; em () e em () per cor r e hoje o
cami nho ab e amanh ac. As fi gur as r epr esentam, por tanto, os se-
gui ntes casos:
() Preos vari vei s para pores sucessi vas, mas que recomeam
i dnti cos para operaes sucessi vas que conduzem ao equi l bri o.
Fi gura 26
OS ECONOMISTAS
174
() Preos vari vei s para pores sucessi vas e para operaes
sucessi vas que conduzem ao equi l bri o.
() Preos constantes para pores sucessi vas e para operaes
sucessi vas que conduzem ao equi l bri o.
() Preos constantes para pores sucessi vas, mas vari vei s para
operaes sucessi vas que conduzem ao equi l bri o.
No atual estado da ci nci a, os casos gerai s a consi derar so os
de () e de (), mas nada i mpede que chegue o di a em que seja ti l
consi derar i gual mente () e ().
170. Quando grande nmero de pessoas se apresenta no mercado
e el as atuam i ndependentemente uma da outra, fazendo-se concorrncia,
evi dente que num mesmo momento al gumas compraro as pri mei ras
pores, outras as segundas etc., para chegar ao estado de equi l bri o; e
pel a razo de que, sobre certo mercado, em momento dado, admi te-se que
exi sta apenas um preo, v-se que o preo dessas di ferentes pores deve
ser o mesmo. A ri gor, i sto no i mpedi ri a que, para um mesmo i ndi v duo,
esse preo no possa vari ar de uma poro outra; essa hi ptese, porm,
acarreta conseqnci as estranhas e i ntei ramente di stanci adas da real i -
dade, e a hi ptese que mel hor se adapta real i dade a de preos i guai s
por pores sucessi vas. I sso no i mpede, natural mente, que exi stam preos
sucessi vamente di ferentes em (), Fi g. 26.
I sso sobretudo verdadei ro para o consumo. Se um i ndi v duo
compra 10 qui l os de acar, de caf, de po, de carne, de al godo, de
l , de pregos, de chumbo, de verni z etc., el e no compra o pri mei ro
qui l o a um preo, o segundo a um outro etc. No que i sso no seja
poss vel , mas, freqentemente, as coi sas no se passam assi m. Obser-
vem, por outro l ado, que pode perfei tamente acontecer que esse i ndi -
v duo compre hoje 10 qui l os de cebol a a certo preo e amanh 10 qui l os
a outr o pr eo, o que nos l eva ao caso () da Fi g. 26. Acontece fr e-
qentemente que no mer cado das gr andes ci dades o pei xe custa
mai s car o pel a manh do que por vol ta do mei o di a, na hor a de
fechar o mer cado. O cozi nhei r o de um r estaur ante de pr i mei r a cl asse
pode chegar de manh par a ter mai s escol ha e compr ar 20 qui l os
de pei xe a cer to pr eo. O cozi nhei r o de um r estaur ante de segunda
cl asse vi r mai s tar de e compr ar o que sobr ou a pr eo i nfer i or .
Conti nuamos no caso () da Fi g. 26. Por outr o l ado, no caso que
consi der amos, ser i a poss vel sem er r o gr ave basear -se num pr eo
mdi o. No nos esqueamos jamai s que nosso fi m si mpl esmente
chegar a uma noo ger al do fenmeno.
171. Quando se trata de especul ao, quase sempre preci so
consi derar que as di ferentes pores so compradas a preos di ferentes.
Se, por exempl o, certos banquei ros querem aambarcar o cobre, el es
no devem se esquecer que l hes necessri o comprar esse metal a
PARETO
175
preos crescentes; a consi derao de um preo mdi o poderi a faz-l os
i ncorrer em erros mui to graves.
119
Sucede o mesmo se se qui sesse fazer
um estudo dos di versos modos de venda em l ei l o de certas mercadori as,
pei xes, por exempl o; seri a necessri o consi derar as vari aes dos preos.
Mas tudo i sso consti tui um estudo especi al de fenmenos secundri os.
El es vm modi fi car o fenmeno pri nci pal que, em l ti ma anl i se, adapta
o consumo produo.
Al m di sso, o caso do qual fal amos, o da especul ao, pertence
mui to mai s di nmi ca do que estti ca. H que consi derar, portanto,
um mai or nmero de posi es sucessi vas de equi l bri o. Sal vo certos
casos excepci onai s, os preos, nos grandes mercados, vari am apenas
de um di a para o outro, pel o menos de forma consi dervel , e freqen-
temente se pode, sem cai r num erro grossei ro, substi tui r os di ferentes
preos reai s pel o preo mdi o.
120
172. Quando o preo das pores sucessi vas que so trocadas
constante, a rel ao entre essas quanti dades tambm constante, i sto
, se a pri mei ra uni dade de po trocada por duas de vi nho, a segunda
uni dade de po ser trocada ai nda por duas de vi nho, e assi m por
di ante. Representa-se grafi camente esse fenmeno por uma reta cuja
Fi gura 27
OS ECONOMISTAS
176
119 Este foi o obstcul o que fez fracassar a operao de aambarcamento do cobre tentada em
1887/88.
120 A nota 2 do 928 do Cours repousa sobre consi deraes errneas e deve ser i ntei ramente
modi fi cada.
i ncl i nao sobre um dos ei xos o preo ( 153). Quando portanto se
col oca essa condi o da constnci a do preo, determi na-se uni camente
que o atal ho segui do pel o i ndi v duo deve ser uma reta, porm no se
di z qual reta deve ser. Um i ndi v duo tem 20 qui l os de po e quer
troc-l os por vinho; se se admi te que o preo constante para pores
sucessivas trocadas, supe-se si mpl esmente que o cami nho a segui r uma
reta. Se se toma, sobre o ei xo sobre o qual se levam as quantidades de
po, o compri mento om i gual a 20, o indiv duo pode segui r qual quer cami nho
escol hido entre as retas ma, ma, ma" etc. Se, al m di sso, se estabel ecesse
que o preo do po em vinho 2, isto , que preci so dar 2 de vinho por
1 de po, a reta seria ento completamente determinada. Se consi derarmos
ac igual a 40, mc representar essa reta; e somente quando se percorre
essa reta, parti ndo de m, que 1 de po se troca por 2 de vi nho.
173. Os ngul os oma, oma, oma" ... devem ser todos agudos,
porque o preo essenci al mente posi ti vo. I sso si gni fi ca que, na troca,
para que um i ndi v duo receba qual quer coi sa, preci so que d qual quer
outra coi sa. Em conseqnci a, para que aumente a quanti dade de uma
mercadori a que el e possui , preci so di mi nui r a quanti dade de uma
outra mercadori a, i gual mente possu da por el e. Se um dos ngul os
oma, oma ... fosse obtuso, as duas quanti dades cresceri am ao mesmo
tempo. Se o ngul o oma fosse i gual a zero, o preo seri a zero; no se
receberi a nenhuma quanti dade de vi nho por no i mporta que quanti -
dade de po. Se o ngul o oma fosse reto, o preo seri a i nfi ni to. Para
um ngul o um pouqui nho menor, ter-se-i a um tal preo que uma quan-
ti dade mui to pequena de po seri a trocada por uma quanti dade mui to
grande de vi nho. Os ngul os oma, oma ... da fi gura representam os
preos conti dos entre esses doi s extremos.
174. Quando o cami nho segui do no dado di retamente, mas s
pel a i ndi cao dos preos das pores sucessi vas, preci so fazer um
cl cul o para conhecer as quanti dades de mercadori as transformadas.
Suponhamos que haja apenas duas mercadori as, A e B, que o
preo de B se expressa em A e que, por exempl o, se troque 1 qui l o de
A por certa quanti dade de B a um preo 1/2; em segui da, 2 qui l os de
A por outra quanti dade de B, a um preo 1/3, depoi s 1 qui l o de A por
outra quanti dade de B pel o preo 1/4. As quanti dades de B assi m
obti das sucessi vamente sero 2, 6, 4. Portanto, no total , 12 qui l os de
B tero si do obti dos a preos di ferentes pel a troca de 4 qui l os de A.
Se exi stem vri as mercadori as, e se se expressam os preos de
B, C, D ... em A, evi dente que a quanti dade total de A transformada
deve ser i gual ao que se obtm mul ti pl i cando cada poro de B, C, D
... por seu preo e fazendo o total . Essas i gual dades i ndi cam o ponto
em que se chega segui ndo certo cami nho.
175. Oramento do indivduo Pel a venda de coi sas que possui ,
PARETO
177
o i ndi v duo obtm certa soma de moeda; a i sso denomi naremos sua
receita. Para a compra de coi sas de que necessi ta, el e despende certa
soma de moeda; a i sso chamaremos sua despesa.
Se se consi dera a transformao de 8 de A em 4 de B, por exempl o,
e se A representa a moeda, o preo de B em A 2. A recei ta 8 de
A, a despesa , em moeda, 4 de B, mul ti pl i cando pel o preo 2 de B,
portanto 8. A recei ta i gual despesa e i sso si gni fi ca que 8 de A
transformou-se em 4 de B.
Se exi stem mai s de duas mercadori as, fci l ver que a recei ta
deve ser sempre i gual despesa porque, se assi m no fosse, i sso si g-
ni fi cari a que o i ndi v duo recebeu, ou gastou, di nhei ro por um outro
mei o que no o da transformao das mercadori as. Essa i gual dade das
recei tas e das despesas denomi nada ORAMENTO DO I NDI V DUO.
176. Oramento do produtor O produtor tem tambm seu or-
amento, e ns fal amos sobre i sso, embora sem menci on-l o expressa-
mente, quando estudamos a transformao de uma mercadori a em
outra. Vi mos que essa transformao poderi a dei xar um res duo posi ti vo
ou negati vo que , cl aramente, um el emento, ati vo ou passi vo que se
l eva a l ucros e perdas.
I sso verdadei ro para todas as transformaes. O produtor com-
pra certas mercadori as, faz certas despesas, a sa da de seu oramento;
vende mercadori as produzi das, a entrada de seu oramento. O l ugar
das transformaes compl etas aquel e em que o oramento se fecha
sem l ucro nem perda.
177. Custo de produo Se se consi deram todas as despesas
necessri as para obter uma mercadori a, e se di vi de o total pel a quan-
ti dade de mercadori a produzi da, obtm-se o CUSTO DE PRODUO
dessa mercadori a.
178. Esse custo de produo expresso em moeda. Al guns autores
consi deram um custo de produo expresso em ofel i mi dade. I sso i nti l
e acarreta equ vocos; no daremos jamai s esse si gni fi cado expresso
custo de produo. Se certa coi sa A pode ser consumi da di retamente
e se a transformamos em outra coi sa B, o sacri f ci o que se faz renun-
ci ando a consumi r A di retamente pode ser consi derado como o custo
em ofel i mi dade de B. Exi stem, porm, casos extremamente numerosos
em que A no pode ser consumi da di retamente; no exi ste ento, pro-
pri amente fal ando, sacri f ci os di retos quando se transforma A em B.
Para encontrar um custo em ofel i mi dade, somos obri gados a mudar o
senti do dessa expresso e di zer que se A pode ser transformada em
B ou em C, o custo de produo em ofel i mi dade de B o prazer a que
se renunci a transformando A em B, em l ugar de transform-l a em C
e vi ce-versa.
OS ECONOMISTAS
178
No preci so di scuti r sobre as pal avras, podendo-se dar o senti do
que se quei ra expresso: custo de produo em ofel i mi dade. preci so,
porm, sal i entar que o pri mei ro senti do que anotamos essenci al mente
di ferente do segundo. O pri mei ro separa a produo da troca, o segundo
as confunde. O pri mei ro proporci ona conheci mento real de certo custo
em ofel i mi dade, o segundo d apenas uma das condi es que, com
outras, poder determi nar esse custo.
121
Um i ndi v duo, por exempl o, possui fari nha e transforma-a em
po. Desprezando os gastos dessa transformao, el e pode consi derar
o custo em ofel i mi dade do po como i gual ao prazer ao qual renunci a
no comendo dessa fari nha sob forma de mi ngau. Mas el e deve l evar
em conta todos os empregos i ndi retos que pode ter essa fari nha, o que
l he torna i mposs vel ter uma ni ca coi sa qual possa dar este nome
de custo de produo. Essa fari nha pode ser transformada em carne
de coel ho, de peru, de capo, fazendo-a ser consumi da por esses ani mai s.
Pode ser dada a comer a operri os que faro uma casa, um chapu,
l uvas e assi m por di ante, i ndefi ni damente. A consi derao desse pseu-
docusto de produo conduz, ento, si mpl esmente, ao reconheci mento
da i gual dade das ofel i mi dades ponderadas das mercadori as que o i n-
di v duo consome ( 198).
179. Cada mercadori a no tem, propri amente, um custo de pro-
duo prpri o. Exi stem mercadori as que se devem produzi r juntas, por
exempl o, o tri go e a pal ha, e que tm, em conseqnci a, um custo de
produo conjunto.
180. Oferta e procura Tem-se o hbi to, em Economi a Pol ti ca,
de di sti ngui r entre a quanti dade de mercadori a que um i ndi v duo deu
ao chegar a um ponto de equi l bri o e aquel a que recebeu: a pri mei ra
chama-se sua OFERTA e a segunda sua PROCURA.
181. Esses doi s termos foram, como todos os termos da Economi a
no-matemti ca, empregados de manei ra pouco ri gorosa, equ voca, am-
b gua, e o nmero consi dervel de di scusses i ntei s, sem objeto, sem
p nem cabea de que foram objeto, verdadei ramente i ncr vel . Ai nda
hoje no di f ci l encontrar entre os economi stas no-matemti cos au-
tores que no sabem o que si gni fi cam esses termos, dos quai s se servem
a cada i nstante.
182. Comecemos consi derando duas mercadori as, e observamos
PARETO
179
121 ai nda uma das i nmeras tentati vas fei tas em vo para se subtrai r necessi dade de
resol ver um si stema de equaes si mul tneas ( 219 et seq); para se consi derar de forma
vaga a i nterdependnci a dos fenmenos econmi cos, para di ssi mul ar, sob termos sem pre-
ci so, a i gnornci a das sol ues dos probl emas que se abordam.
a Fi g. 12. Um i ndi v duo tem a quanti dade om de A e no tem de B;
segui ndo certo atal ho mn, chega a um ponto de equi l bri o c" trocando
qm de A por qc" de B. Di remos que, sobre esse atal ho e estando no
ponto de equi l bri o c" temos, para o i ndi v duo consi derado, a oferta
qm de A e a procura qc" de B.
183. preci so observar i medi atamente que essas quanti dades
seri am di ferentes se a forma do atal ho vi esse a mudar, o que quer
di zer que el as dependem dos obstcul os do segundo gnero. Mesmo
quando a forma do atal ho permanece a mesma, por exempl o, quando
o atal ho uma reta, essas quanti dades mudam com a i ncl i nao da
reta, i sto , com o preo.
184. Vol temos ai nda Fi g. 12: dado um preo qual quer de A em
B, i sto , dada a i ncl i nao de mn sobre om, o encontro dessa reta
com a l i nha das trocas cc nos faz conhecer a procura qc" de B e a
oferta qm de A. A curva das trocas ento pode tambm ser chamada
CURVA DA OFERTA e CURVA DA PROCURA. Na Fi g. 20, a curva
masb , para o pri mei ro i ndi v duo, a curva da procura de B, e essa
procura rel aci onada, comumente, ao preo de B em A, expressa pel a
i ncl i nao de um atal ho (por exempl o, me) sobre o ei xo oy. El a tambm,
sempre para o pri mei ro i ndi v duo, a curva da oferta de A; e essa oferta
rel aci onada, comumente, ao preo de A em B (e no mai s ao preo
de B em A), a saber, a i ncl i nao de um atal ho (por exempl o, me)
sobre o ei xo mo.
185. No caso de duas mercadori as, se supomos o atal ho reti l neo,
a procura de B depende, ento, uni camente do preo de B; a oferta de
A, uni camente do preo de A.
186. preci so evi tar estender essa concl uso ao caso de vri as
mercadori as. A oferta de uma mercadori a depende dos preos de todas
as outras mercadori as trocadas, acontecendo o mesmo com a procura
de uma mercadori a.
187. I sso no tudo. Supusemos que o ponto de equi l bri o estava
em c, Fi g. 7; poderi a acontecer que el e fosse o ponto termi nal a; nesse
caso, a quanti dade ofereci da de A seri a rm; a quanti dade procurada
de B seri a ra; essas quanti dades dependeri am da posi o do ponto a,
i sto , dos obstcul os.
Em geral , a oferta e a procura dependem de todas as ci rcuns-
tnci as do equi l bri o econmi co.
188. Quando se consi deram apenas doi s i ndi v duos que trocam:
um oferece A e procura B; o outro oferece B e procura A. Vi mos (
117) que h um ponto de equi l bri o da troca dos doi s i ndi v duos no
OS ECONOMISTAS
180
ponto de encontro das curvas das trocas dos doi s i ndi v duos. Servi n-
do-nos das novas denomi naes que acabamos de dar a essas curvas,
podemos di zer que o ponto de equi l bri o um daquel es no qual a curva
da procura B, do pri mei ro i ndi v duo, encontra a curva da oferta de B
do segundo i ndi v duo. Ou ento, o que d no mesmo: o ponto de equi -
l bri o um daquel es em que a curva de oferta de A, do pri mei ro i n-
di v duo, encontra a curva de procura de A, do segundo i ndi v duo; ou
ai nda, o ponto de equi l bri o um daquel es em que a procura de uma
das mercadori as i gual oferta.
189. A Economi a Pol ti ca no-matemti ca ti nha formul ado essa
proposi o, mas del a no ti nha noo preci sa, e notadamente no co-
nheci a as condi es que ss justi fi cam o teorema e as restri es que
el e comporta. Ai nda hoje a mai ori a daquel es que se di zem economi stas
as i gnoram.
Exi stem, por outro l ado, pessoas que pretendem que o mtodo
matemti co no formul ou at hoje nenhuma nova verdade o que
verdadei ro em certo senti do, porque para o i gnorante as coi sas das
quai s el e no tem a menor noo no podem ser nem verdadei ras nem
novas. Quando se desconhece at mesmo a exi stnci a de certos pro-
bl emas, no se sente, certamente, necessi dade de ter sua sol uo.
190. Para o produtor, a oferta e a procura no tm nenhum
senti do se no se l hes acrescenta uma condi o que determi na em que
parte da regi o de equi l bri o poss vel queremos nos deter. Para encon-
trar apl i cao do teorema precedente, em matri a de produo, ou
seja, para os fenmenos do ti po (I ), concorrnci a compl eta pode-se
acrescentar esta condi o de que a oferta e a procura so aquel es que
tm l ugar sobre a l i nha das transformaes compl etas.
191. Se se pretendesse em conti nuao que o teorema do equi -
l bri o, em conseqnci a da i gual dade da oferta e da procura, se apl i casse
tambm s mercadori as para as quai s exi ste uma l i nha de l ucro m-
xi mo, como no 105, seri a preci so dar outro senti do oferta e procura
e rel aci on-l as com essa l i nha.
192. No caso de vri os i ndi v duos e de vri as mercadori as, com-
preende-se que, efetuando a soma, para cada mercadori a, das procuras
dos di ferentes i ndi v duos, obtm-se a procura total de cada mercadori a;
o mesmo ocorrendo com a oferta.
193. O modo de vari ao da oferta e da procura foi chamado l ei
da oferta e procura. Fal aremos di sso em outro cap tul o; no momento
sufi ci ente saber que, no caso de duas mercadori as, quando o preo
PARETO
181
de uma mercadori a aumenta, a procura di mi nui , ao passo que a oferta
pri mei ro aumenta, mas pode di mi nui r em segui da.
194. Se consi derarmos um atal ho mc, Fi g. 15, que termi na em
um ponto c da l i nha das transformaes compl etas, a i ncl i nao de
reta mc sobre o ei xo mb, sobre o qual se l evam quanti dades da mer -
cadori a B, i gual ao custo de produo da mercadori a B, obti da pel a
transformao compl eta em c. E se c tambm se encontra sobre a
l i nha das trocas, essa i ncl i nao mede o preo de venda. Da resul ta
que nos pontos de i nterseo c, c da curva das trocas e da curva das
transformaes compl etas, i sto , nos pontos de equi l bri o, o custo de
produo i gual ao preo da venda.
195. Vi mos que o equi l bri o poderi a ser estvel ou i nstvel ; ei s
a expl i cao recorrendo s noes de preo, de oferta e de procura.
Doi s i ndi v duos que trocam esto num ponto de equi l bri o; su-
ponhamos que o preo de B aumente e vejamos o que se passa.
O pri mei ro i ndi v duo que vende A e compra B, di mi nui sua pro-
cura de B; o segundo i ndi v duo pode aumentar ou pode di mi nui r sua
oferta de B. preci so di sti ngui r doi s casos: 1) A oferta de B aumenta,
ou ento di mi nui , de manei ra porm a fi car superi or procura de B.
As coi sas ocorrem como nos doi s pontos () e () da Fi g. 18. 2) A oferta
di mi nui de manei ra a tornar-se i nferi or procura. o caso do ponto
() da Fi g. 10. Resumi ndo, s observar se, com o novo preo, a oferta
superi or ou i nferi or procura. No pri mei ro caso o equi l bri o estvel .
Com efei to, aquel e que oferece l evado a reduzi r seu preo para apro-
xi mar sua oferta da procura. No segundo caso, o equi l bri o i nstvel
porque aquel e que procura no est sati sfei to, poi s deve contentar-se
com a menor oferta que l he fei ta e, em conseqnci a, el a aumenta
seu preo para obter uma mai or quanti dade de mercadori a, mas el e
se engana e no fi m obtm menos.
Podem-se fazer observaes anl ogas no caso de produo; mui to
fci l traduzi r na nova l i nguagem o que expusemos nos 140, 141, 142.
196. Equilbrio no caso geral At aqui estudamos pri nci pal -
mente o caso de doi s i ndi v duos e de duas mercadori as; agora preci so
que nos ocupemos de equi l bri o de um nmero qual quer de i ndi v duos
e de um nmero qual quer de mercadori as.
Neste cap tul o l i mi tar-nos-emos a exami nar o caso geral do equi -
l bri o para os fenmenos do ti po (I ) com concorrnci a compl eta.
Supondo que tenhamos chegado ao estado de equi l bri o, i sto , ao
ponto onde se transforma, pel a troca ou de outra manei ra, i ndefi ni damente,
certas quanti dades de mercadori as, com certos preos, tendemos deter-
mi nar essas quanti dades e esses preos. Esse caso representado grafi -
camente por () na Fi g. 26; suponhamos que a operao i ndi cada por ()
OS ECONOMISTAS
182
se repi ta i ndefi ni damente. Um i ndi v duo qual quer troca, por exempl o,
10 qui l os de po por 5 qui l os de vi nho, chegando assi m a uma troca,
por exposi o de equi l bri o, e repete i ndefi ni damente essa operao.
No ti po (I ), o i ndi v duo dei xa-se gui ar uni camente por seus gostos
pessoai s, acei tando os preos do mercado tai s como se encontram. Para
que os gostos sejam sati sfei tos pel a troca aci ma, ser preci so que no
l he convenha i r al m nem fi car aqum. O preo do vi nho em po 2.
Se o i ndi v duo conti nua a troca e d mai s 10 gramas de po, receber
5 gramas de vi nho. Se a ofel i mi dade (ou ndi ce de ofel i mi dade) desses
10 gramas de po fosse menor que a ofel i mi dade desse 50 gramas de
vi nho, seri a conveni ente que esse i ndi v duo juntasse esta troca troca
j efetuada. Se a ofel i mi dade desses 10 gramas de po fosse mai or
que a ofel i mi dade dos 5 gramas de vi nho, seri a conveni ente no trocar
todos os 10 qui l os de po pel os 5 qui l os de vi nho, mas trocar somente
9 qui l os e 990 por 4 qui l os e 995 de vi nho. Portanto, se a ofel i mi dade
desses 10 gramas de po no deve ser, no ponto de equi l bri o, nem
mai or nem menor que a ofel i mi dade dos 5 gramas de vi nho, el a s
pode ser i gual .
197. Para que esse raci oc ni o fosse ri goroso, seri a preci so, al m
di sso, que as quanti dades fossem i nfi ni tesi mai s. Quando so fi ni tas,
no se pode di zer que a ofel i mi dade de 10 gramas de po, somados a
10 qui l os de po, seja i gual ofel i mi dade de 10 gramas de po. Po-
der-se-i a, al m di sso, raci oci nar si mpl esmente por aproxi mao e con-
si derar uma mdi a. No temos, porm, por que nos deter ni sso, poi s,
de uma manei ra ou de outra, temos uma noo do fenmeno.
198. Para quanti dades mui to pequenas pode-se supor que a ofe-
l i mi dade proporci onal s quanti dades. A ofel i mi dade dos 5 gramas
de vi nho ser, portanto, de cerca da metade da ofel i mi dade de 10 gramas
de vi nho (el a seri a ri gorosamente a metade se se consi derasse em
quanti dades i nfi ni tesi mai s). Poder-se-, portanto, di zer que para o equi -
l bri o preci so que a ofel i mi dade de uma mui to pequena quanti dade
de po seja i gual metade da ofel i mi dade da mesma mui to pequena
quanti dade de vi nho. A ofel i mi dade el ementar ( 33) do po dever
ser i gual metade da ofel i mi dade el ementar do vi nho. Ou ento, l em-
brando que o preo do vi nho 2, poderemos ai nda di zer que as ofel i mi dades
el ementares ponderadas ( 34) do po e do vi nho devem ser i guai s.
Sob essa for ma a pr oposi o ger al par a o ti po (I ) e apl i ca-se
a um nmer o qual quer de i ndi v duos que se dei xam gui ar di r eta-
mente por seus gostos pessoai s ( 41) e a um nmer o qual quer de
mer cador i as, vi sto que se supe que o pr azer que pr opor ci ona o
consumo de cada mer cador i a i ndependente do consumo de outr as
(I V, 10,11). Nesse caso cada i ndi v duo compar a uma das mer cador i as,
A, por exempl o, s outr as B, C, D ... ; e el e se detm nas tr ansfor -
PARETO
183
maes quando, para el e, as ofel i mi dades ponderadas de todas essas
mercadori as forem i guai s. Tm-se, assi m, para cada i ndi v duo, tantas
condi es quanto as mercadori as, menos uma. Se, por exempl o, exi stem
trs, A, B, C, deve-se di zer que a ofel i mi dade el ementar ponderada de
A i gual quel a de B, e tambm de C, e que nos d, preci samente
duas condi es.
199. Essa categori a de condi es expressa a i di a de que cada
i ndi v duo sati sfaz DI RETAMENTE ( 41) seus gostos, tanto quanto
seja permi ti do pel os obstcul os. Para di sti ngui -l os das outras, cham-
l os-emos categori a (A) das condi es.
200. Temos outra categori a de condi es que i ndi caremos por
(B), fazendo o oramento de cada i ndi v duo ( 175). O nmero de con-
di es dessa categori a , portanto, i gual ao nmero de i ndi v duos.
Se fi zermos a soma de todos os oramentos i ndi vi duai s, obtm-se
o oramento de toda a col eti vi dade, que formada pel os res duos de
cada mercadori a depoi s da compensao das vendas e compras. Se
uma parte dos i ndi v duos vendeu um total de 100 qui l os de l eo, e se
os outros i ndi v duos compraram 60, a col eti vi dade vendeu, no total ,
40 qui l os de l eo. Todos esses res duos, mul ti pl i cados pel os respecti vos
preos, devem ser bal anceados. Se, por exempl o, a col eti vi dade vendeu
20 qui l os de vi nho a 1,20 franco o qui l o e 60 qui l os de tri go a 0,20 o
qui l o, ti rou de suas vendas 36 francos; e se comprou apenas l eo, como
as recei tas bal ancei am as despesas, preci so que el a no tenha ul tra-
passado 36 francos pel o l eo. Conseqentemente, se conhecemos os
preos e as quanti dades compradas ou vendi das pel a col eti vi dade, para
todas as mercadori as menos uma, as condi es (B) nos l evam a conhecer
essa quanti dade at mesmo para a mercadori a emi ti da.
201. Contemos as condi es que acabamos de enumerar. Se h,
por exempl o, 100 i ndi v duos e 700 mercadori as, a categori a (A) nos dar,
para cada i ndi v duo, 699 condi es, e para 100 i ndi v duos, 69 900 condi es.
A categori a (B) nos dar 100 outras condi es; teremos no total : 70 000
condi es. Esse total em geral i gual ao nmero dos i ndi v duos mul ti -
pl i cado pel o nmero de mercadori as.
Contemos as i ncgni tas. Uma das mercadori as servi ndo de moeda,
exi stem 699 preos de outras mercadori as. Para cada i ndi v duo exi stem
as quanti dades que recebe (ou que d) de cada mercadori a; temos,
ento, no total , 70 000 quanti dades. Acrescentando os preos, temos
70 699 i ncgni tas.
Comparando o nmero 70 000 das condi es ao nmero 70 699
da i ncgni tas, veremos em breve que, para que o probl ema seja bem
determi nado ( 38), fal tam 699 condi es, a saber, geral mente tanto
quanto h de mercadori as menos uma.
OS ECONOMISTAS
184
202. Devemos obt-l as pel a consi derao dos obstcul os. Na troca,
os obstcul os, al m da oposi o aos gostos do i ndi v duo, que j consi -
deramos nas condi es (A), consi stem si mpl esmente no fato de que as
qual i dades de mercadori as so constantes, porque o que um dos i ndi -
v duos d recebi do pel os outros; e no total , para cada mercadori a,
as vendas da col eti vi dade compensam exatamente as compras. As con-
di es (B), porm, nos do a quanti dade total de uma mercadori a ven-
di da, ou comprada pel a col eti vi dade, quando se conhecem as quanti -
dades anl ogas para as outras mercadori as ( 200); ser sufi ci ente,
ento, col ocar como condi o para todas as mercadori as menos uma,
i sto , para 699 mercadori as, que o res duo das compras ou das vendas
da col eti vi dade seja i gual a zero. I sso porque as condi es (B) nos
mostram que esse res duo i gual mente zero para a l ti ma mercadori a.
Temos assi m uma nova categori a das condi es que se referem
aos obstcul os que desi gnaremos por (C).
203. Fal tavam-nos 699 condi es, e a categori a (C) preci samente
consti tu da pel as 699 condi es. O nmero de condi es agora i gual
ao das i ncgni tas e o probl ema compl etamente determi nado.
204. No tocante s 700 mercadori as poder amos ter di to que,
para a col eti vi dade, as quanti dades vendi das eram i guai s s quanti -
dades compradas, o que si gni fi ca um res duo zero para todas as 700
mercadori as. Ter amos ti do, assi m, mai s uma condi o na categori a
(C); mas, em compensao, ter amos ti do uma a menos na categori a
(B). Com efei to, quando todas as quanti dades de mercadori as so co-
nheci das, sufi ci ente ter o oramento de todos os i ndi v duos menos
um para ter, i gual mente, o oramento deste l ti mo. O que el e recebe
, evi dentemente, i gual ao que os outros do; e o que el e d i gual
ao que todos el es recebem.
205. Consi deremos a produo. Suponhamos que em 700 mercado-
ri as, 200 sejam transformadas em 500 outras, das quai s cal cul aremos o
custo de produo. Se a concorrncia compl eta, o equi l bri o s pode
acontecer onde esse custo de produo seja i gual ao preo de venda. Com
efei to, se el e for mai s el evado, o produtor est com perda e deve abandonar
a l uta; se el e mai s bai xo, o produtor ganha, e vi ro outros para reparti r
esse lucro. Temos assi m uma categori a que desi gnaremos por (D)
de condi es que expri mem, para cada uma das 500 mercadori as produ-
zi das, que o custo de produo i gual ao preo de venda.
206. No caso da troca seri a preci so expri mi r que as quanti dades
totai s de todas as 700 mercadori as, menos uma, permaneceri am cons-
tantes. No caso da produo j no assi m, e devemos expri mi r que
200 mercadori as foram transformadas em 500 outras, i sto , que a
PARETO
185
quanti dade das pri mei ras que desapareceu foi substi tu da pel a quan-
ti dade das que foram produzi das. Por moti vos anl ogos aos que aca-
bamos de i ndi car, sufi ci ente i ndi car o mesmo para as 200 mercadori as
menos uma. Temos, assi m, uma nova categori a (E) de condi es.
As condi es dessa categori a expressam que o equi l bri o se produz
sobre a l i nha das transformaes compl etas.
207. Total i zando o nmero das condi es (D) e o das condi es
(E), temos 699 condi es, ou seja, o que nos fal tava, e assi m o probl ema
fi ca compl etamente determi nado.
208. No caso dos fenmenos do ti po (I ), com concorrnci a compl eta
e preos constantes para as pores sucessi vas de uma mesma operao,
podemos enunci ar o segui nte teorema:
Temos um ponto de equi l bri o no ponto em que se real i zam as
condi es segui ntes: (A) I gual dade, para cada i ndi v duo, das ofel i mi -
dades ponderadas; (B) I gual dade, para cada i ndi v duo, das recei tas e
das despesas. Al m di sso, no caso de troca: (C) I gual dade, para todos
as mercadori as, das quanti dades exi stentes antes e depoi s da troca.
Em segui da, no caso da produo, as condi es aci ma so substi tu das
pel as segui ntes: (D) I gual dade do custo de produo e do preo de
venda, para todas as mercadori as produzi das; (E) I gual dade das quan-
ti dades de mercadori as requeri das para a transformao e das quan-
ti dades dessas mercadori as efeti vamente transformadas.
209. Al i s, entre as condi es (B) e (C) exi ste uma suprfl ua, o
mesmo ocorrendo entre as condi es (B) e (D) e (E).
210. Escol hamos, ao acaso, uma mercadori a A que servi r de
moeda; os preos de todas as mercadori as sero, em conseqnci a,
expressas em A. Al m di sso, como o fi zemos antes ( 198), comparemos
uma a uma, as outras mercadori as a A, e suponhamos que temos,
para cada i ndi v duo, as l i nhas de i ndi ferena de A e de B, as l i nhas
de i ndi ferena de A e de C etc. Os pontos de equi l bri o poss vel so
aquel es em que a curva de i ndi ferena de A e de B tem uma tangente
cuja i ncl i nao sobre o ei xo oB i gual ao preo de B em A. Da mesma
manei ra, para as l i nhas de i ndi ferena de C em A, a i ncl i nao da
tangente sobre o ei xo oC deve ser i gual ao preo de C em A etc.
211. Temos, assi m, condi es anl ogas quel as que constatamos
para o caso de duas mercadori as. Porm, enquanto se conheci a, ento
a priori, a di stnci a om, Fi g. 12, que a quanti dade de A possu da
na ori gem, pel o i ndi v duo, ao contrri o no caso de vri as mercadori as,
om uma i ncgni ta: essa parte de A que o i ndi v duo transforma em
outra mercadori a, por exempl o em B. A categori a (A) de condi es
OS ECONOMISTAS
186
expressa ento, si mpl esmente, que o equi l bri o poss vel nos pontos
em que a tangente da curva de i ndi ferena de uma mercadori a qual quer
e da mercadori a A tem, sobre o ei xo dessa mercadori a qual quer, uma
i ncl i nao i gual ao preo dessa mercadori a.
212. A categori a (B), no caso das duas mercadori as, i ndi ca-nos,
para cada i ndi v duo, o atal ho percorri do. Se exi stem trs mercadori as,
pode-se ai nda ter uma representao geomtri ca das condi es (B), l evando
a quanti dade dessas mercadori as sobre trs ei xos ortogonai s. Um dos
oramentos (B) representa um pl ano sobre o qual se efetua a troca ou a
transformao. Da mesma manei ra se pode di zer, em casos de mercadori as
em nmero superi or a trs, que cada oramento (B) i ndi ca o lugar das
transformaes do i ndi v duo ao qual o oramento se refere.
213. As condi es (C), no caso de duas mercadori as e de doi s
i ndi v duos, se reduzem a uma, i sto , a quanti dade de A cedi da por
um i ndi v duo recebi da pel o outro. E em vi rtude dessa condi o
que, se di spusermos as curvas de i ndi ferena dos doi s i ndi v duos como
el as o so na Fi g. 16, o atal ho segui do por cada um dos i ndi v duos
representado por uma ni ca l i nha reta.
214. Vejamos que correspondnci a exi ste entre as condi es que
di zem respei to aos obstcul os e as que di zem respei to aos produtores.
No caso de duas mercadori as, as condi es (D) se reduzem a uma, que
i ndi ca que o preo da mercadori a i gual a seu custo de produo. As
condi es (E) se reduzem tambm a uma s, ou seja, no exi ste nenhum
res duo de A, o que si gni fi ca que o equi l bri o teve l ugar sobre uma
l i nha das transformaes compl etas.
215. O equi l bri o pode ser estvel ou i nstvel . Por hi ptese, su-
pri mamos as equaes da categori a (A) que se referem ao pri mei ro
i ndi v duo, ou seja, no nos preocupemos em saber se os gostos destes
i ndi v duos esto sati sfei tos; seu oramento conti nua em equi l bri o, poi s
todas as condi es (B) subsi stem. As equaes por ns supri mi das na
categori a (A) so em nmero i gual ao das mercadori as menos uma (
198); este tambm o nmero dos preos. Da resul ta que, quando
admi ti mos que os gostos de um dos i ndi v duos da col eti vi dade podem
no ser sati sfei tos, podemos fi xar arbi trari amente os preos.
216. Essa demonstrao era necessri a para mostrar que a ope-
rao que amos efetuar era poss vel . Suponhamos que exi sta uma
posi o de equi l bri o para todos os membros da col eti vi dade: modi fi -
quemos l i gei ramente os preos e restabel eamos o equi l bri o para todos
os i ndi v duos da col eti vi dade, menos o pri mei ro; i sso poss vel graas
demonstrao precedente.
PARETO
187
Aps essa operao, todos os i ndi v duos esto sati sfei tos, exceo
do pri mei ro. preci so observar agora que este compara, sucessi va-
mente, todas as mercadori as a uma del as, i sto , em nosso caso a A,
e que, vi sto que consi deramos os fenmenos do ti po (I ), el e compara
uni camente a ofel i mi dade da qual usufrui nos di ferentes pontos de
cada atal ho. Para A e B, para A e C etc., estar-se-, portanto, di ante
de fenmenos como aquel es tantas vezes rel embrados dos pontos (),
() e () da Fi g. 18 e dos casos anl ogos de equi l bri o estvel e i nstvel .
Em outras pal avras, o i ndi v duo consi derado recebe e d, a novos preos,
certas quanti dades de mercadori as que so superi ores ou i nferi ores s
que, para el e, correspondem ao equi l bri o. El e se esforar, em conse-
qnci a, para retomar posi o de equi l bri o, o que s l he poss vel
modi fi cando os preos a que compra e aquel es a que vende. Assi m
fazendo, pode acontecer que el e se aproxi me da posi o de equi l bri o,
de onde supusemos que el e havi a si do expul so, ou ento pode ocorrer
que del a se di stanci e. No pri mei ro, trata-se de um caso de equi l bri o
estvel ; no segundo, de um caso de equi l bri o i nstvel . Para que o
equi l bri o seja estvel para a col eti vi dade, preci so, evi dentemente,
que el e o seja para todos os i ndi v duos que a compem.
217. As condi es que enumeramos para o equi l bri o econmi co
nos do uma noo geral desse equi l bri o. Para saber o que seri am
certos fenmenos, ti vemos que estudar sua mani festao; para saber
o que seri a equi l bri o econmi co, ti vemos que pesqui sar como el e era
determi nado. Observamos, al i s, que essa determi nao no tem, ab-
sol utamente, como fi nal i dade chegar a um cl cul o numri co dos preos.
Faamos a hi ptese mai s favorvel a tal cl cul o; suponhamos que te-
nhamos tri unfado sobre todas as di fi cul dades para chegar a conhecer
os dados do probl ema e que conhecssemos as ofel i mi dades de todas
as mercadori as para cada i ndi v duo, todas as ci rcunstnci as da pro-
duo das mercadori as etc. Tal hi ptese j absurda e, no entanto,
el a ai nda no nos fornece a possi bi l i dade prti ca de resol ver esse pro-
bl ema. Vi mos que no caso de 100 i ndi v duos e de 700 mercadori as
haveri a 70 699 condi es (na real i dade, um grande nmero de ci rcuns-
tnci as, que negl i genci amos at aqui , aumentari a ai nda mai s esse n-
mero); portanto, deveremos resol ver um si stema de 70 699 equaes.
Na prti ca i sso ul trapassa o poder da anl i se al gbri ca e ul trapassari a
mai s ai nda se se consi derasse o nmero fabul oso de equaes que dari a
uma popul ao de 40 mi l hes de i ndi v duos e al guns mi l hares de mer-
cadori as. Nesse caso, os papi s seri am trocados, e j no seri am as
Matemti cas que vi ri am em aux l i o da Economi a Pol i ti ca, mas a Eco-
nomi a Pol ti ca que i ri a em aux l i o das Matemti cas. Em outras pa-
l avras, se fosse poss vel conhecer verdadei ramente todas essas equa-
es, o ni co mei o acess vel s foras humanas para resol v-l as seri a
observar a sol uo prti ca que o mercado fornece.
OS ECONOMISTAS
188
218. Porm, se as condi es que acabamos de enumerar no po-
dem nos servi r na prti ca para cl cul os numri cos de quanti dade e
de preos, el as so o ni co mei o, at aqui conheci do, para se chegar
a uma noo da manei ra como vari am essas quanti dades e esses preos
ou, mai s exatamente, de modo geral , para saber como se produz o
equi l bri o econmi co.
219. Sob a presso dos fatos, at mesmo os economi stas aos quai s
eram desconheci das essas condi es ti veram que l ev-l as em consi de-
rao. Pode-se di zer que chegavam ao segui nte: el es procuravam a
sol uo de um si stema de equaes sem fazer uso das Matemti cas,
e, como i sso no poss vel , no ti nham outro mei o de escapar di fi -
cul dade a no ser com subterfgi os, al guns, justi a seja fei ta, bastante
engenhosos. Em geral , procedeu-se da segui nte manei ra; sups-se, mai s
ou menos i mpl i ci tamente, que todas as condi es (equaes) menos
uma estavam sati sfei tas restando apenas uma i ncgni ta a ser deter-
mi nada por mei o de quanti dades conheci das, o que era um probl ema
que no ul trapassava o poder da Lgi ca comum.
122
Em vez de uma s condi o, pode-se tambm consi derar apenas
uma das categori as de condi es (equaes) que determi nam o equi l -
bri o, poi s, sendo semel hantes as condi es, a l gi ca comum pode del as
se ocupar, al i s sem grande preci so, como de uma s equao.
Ei s um exempl o de frases anfi gri cas, tai s como ai nda so em-
pregadas em Economi a l i terri a: Se supomos uma condi o de pl ena
e l i vre concorrnci a, o grau de l i mi tao assi m como o custo de
substi tui o e o grau de uti l i dade margi nal se i denti fi caro com o
grau de l i mi tao quanti tati va, i sto , com o custo de produo.
I sso parece querer di zer al guma coi sa e no quer di zer absol u-
tamente nada. O autor evi tou defi ni r exatamente o que si gni fi ca o
grau de limitao: el e tem uma i di a mui to vaga de certa coi sa que
el e chama custo de produo e que no de modo al gum o custo em
moeda; el e entrev outra coi sa que a utilidade marginal; e por as-
soci ao de i di as estabel ece uma i denti dade que s exi ste em sua
i magi nao.
Natural mente, tal modo de raci oci nar s pode conduzi r a equ -
vocos. Com efei to, nos di zem: se consi deramos o val or de bem em
uma ni ca troca, s se pode di zer que o preo desse bem determi nado
por seu grau de l i mi tao quanti tati va.
Apl i quemos essa teori a a um exempl o. Um vi ajante se encontra
no centro da fri ca: el e possui uma parti tura da Traviata, que ni ca
na l ocal i dade. Seu grau de l i mi tao quanti tati va, se esse termo si g-
ni fi ca al guma coi sa, deve ento ser mui to el evado; e, no entanto seu
PARETO
189
122 Trata-se que j i ndi quei , pel a pri mei ra vez, no Giornale degli Economisti. Setembro de
1901. Ver sambem Systmes. I I , p. 228 et seq.
preo zero; os negros com os quai s nosso vi ajante se rel aci ona no
apreci am de modo al gum essa mercadori a.
Temos retrogradado; Fedro e La Fontai ne eram mel hores econo-
mi stas. O gal o que havi a encontrado a prol a j sabi a que, al m da
questo de l i mi tao quanti tati va, exi ste uma questo de gosto:
Ego quod te inveni, potior cui multo est cibus,
Nec tibi prodesse, nec mihi quidquam potest.
Quanto ao i gnorante de La Fontai ne, pode ser que o manuscri to
que el e havi a herdado ti vesse um al to grau de l i mi tao quanti tati va
e fosse at o ni co em seu gnero; mas se nenhum amador qui sesse
esse manuscri to, nosso i gnorante no teri a ti do seu ducado.
Pretendeu-se encontrar pel o menos um l i mi te dos preos, afi r-
mando que ni ngum consenti ri a em pagar a uma mercadori a mai s
do que el a custari a se el e prpri o a produzi sse.
Se entendermos ri gorosamente essa proposi o, s pode tratar-se
de um custo em moeda, poi s no se pode comparar duas quanti dades
heterogneas: preo e sacri f ci os. Dei xamos de l ado o erro que consi ste
em supor um custo de produo i ndependente dos preos, erro que
ser tratado mai s adi ante ( 224); l i mi temo-nos a sal i entar que essa
proposi o, ai nda que fosse verdadei ra, seri a as mai s das vezes i nti l ,
poi s entre as mercadori as que consumi mos quase no se encontram
aquel as que pudessem ser produzi das por ns, e estas, em nmero
mui to reduzi do, que poder amos produzi r, nos custari am um preo enor-
memente superi or quel e pel o qual as compramos. Como vocs se ar-
ranjari am para produzi r, di retamente, o caf que bebem, o teci do com
que se vestem, o jornal que l em? E qual seri a o preo de uma dessas
mercadori as se supondo at mesmo o i mposs vel vocs pudessem
produzi -l as di retamente?
Os economi stas l i terri os, querendo evi tar a todo preo estudar
o conjunto das condi es do equi l bri o econmi co, trataram de si mpl i -
fi car o probl ema trocando o senti do do termo custo de produo e
substi tui ndo o custo de produo em nmero por um custo de produo
expresso em sacri f ci os, que tem apenas um senti do vago e i ndetermi -
nado, prestando-se a todo ti po de i nterpretao.
Um i ndi v duo possui um qui ntal em que pode cul ti var morangos;
di z-se que evi dente que el e no pagar pel os morangos um preo
que represente para el e um sacri f ci o mai or do que aquel e que fari a
produzi ndo-os di retamente. Essa proposi o, que tem por fi nal i dade
evi tar a compl i cao dos fenmenos econmi cos, si mpl es apenas na
aparnci a; se qui sermos preci s-l a, a compl i cao que se acredi tava
evi tada aparecer novamente. Como aval i ar os sacri f ci os do i ndi v duo
que cul ti va seus morangos? Seri a o esforo que far mai s as despesas?
I gnoramos como se poder somar essas quanti dades heterogneas, mas
vamos adi ante: admi tamos que de al guma manei ra se tenha fei to essa
OS ECONOMISTAS
190
soma. Consegui mos, dessa manei ra, i sol ar do resto do fenmeno eco-
nmi co a produo de morangos de nosso i ndi v duo. S que, nesse
senti do, a proposi o fal sa. O dono do qui ntal um pi ntor de tal ento;
numa jornada de trabal ho el e ganha o sufi ci ente para comprar mui to
mai s morangos do que produzi ri a trabal hando sei s meses em seu qui n-
tal ; portanto, el e l eva vantagem em pi ntar e em comprar os morangos
por mui to mai s do que el es l he custari am.
Para tornar verdadei ra nossa proposi o, e preci so mudar o sen-
ti do do termo custar e di zer que nosso i ndi v duo deve consi derar no
o esforo que el e gasta di retamente para produzi r os morangos, mas
as vantagens a que renunci a empregando seu tempo em cul ti var mo-
rangos, em vez de empreg-l o de outra manei ra. Nesse caso, porm,
o fenmeno da produo de morangos no se encontra mai s i sol ado do
resto do fenmeno econmi co; a proposi o que enunci amos j no
sufi ci ente para determi nar o preo dos morangos; el a expressa apenas
o fato de que todo i ndi v duo trata de fazer uso o mai s vantajoso de
seu trabal ho e dos outros fatores de produo de que di spe; o que,
nesse caso, conduz si mpl esmente a col ocar uma parte das condi es
(equaes) do equi l bri o econmi co, e preci samente das condi es que
desi gnamos por A ( 199).
Podemos conti nuar nesse cami nho esforando-nos para l evantar
as di fi cul dades que assi nal amos no comeo. Objetam-nos que um ho-
mem est i mpossi bi l i tado de produzi r a mai or parte das mercadori as
que consome. Bem, faamos para as mercadori as que o i ndi v duo con-
some a mesma operao que fi zemos para os fatores de produo de
que el e di spunha. No l he peamos para produzi r di retamente seu
rel gi o, o pobre homem jamai s chegari a ao fi m; chamemos custo de
produo o prazer a que el e renunci a quando emprega seu di nhei ro
para comprar um rel gi o em vez de comprar outra coi sa. Desde que
se tenha a l eal dade de adverti r cl aramente o l ei tor de que se d esse
senti do estranho ao termo custo de produo, poder-se-, em segui da,
di zer que o preo que se paga por um rel gi o tal que representa um
prazer i gual ao custo de produo do rel gi o. Apenas se ter, assi m,
as equaes que fal tavam para compl etar o total das equaes A, das
quai s j obti vemos numa parte consi derando os fatores da produo.
Ter-se- fei to uma teori a da troca enquanto se ti nha a i mpresso de
fazer uma teori a de produo; e foi para dar o troco a esse assunto
que, sem que se ti vesse consci nci a, mudou-se de manei ra estranha o
senti do do termo: custo de produo.
Se nos estendemos um pouco sobre essa proposi o da Economi a
l i terri a, no porque seja pi or do que as outras, mas uni camente
para ci tar um exempl o, escol hi do ao acaso, da manei ra depl oravel mente
vaga e errnea como so ai nda tratadas essas questes, e dos absurdos
que se ensi nam corretamente sob o nome de Ci nci a Econmi ca.
PARETO
191
220. Consi deremos apenas a categori a (A), do 208, e suponhamos
que todas as outras categori as de condi es estejam sati sfei tas por si
prpri as. Nesse caso podemos di zer que os preos so determi nados
pel a ofel i mi dade, poi s preci samente a categori a (A) que estabel ece a
i gual dade das ofel i mi dades ponderadas. Ou ento, servi ndo-nos da fra-
seol ogi a dos economi stas que consi deram o probl ema dessa manei ra,
di remos que os valores so determi nados pel as utilidades, ou ai nda
que o val or tem como causa a uti l i dade.
221. Consi deremos, ao contrri o, uni camente a categori a (D) do
208 e suponhamos que todas as outras categori as de condi es estejam
por si mesmas sati sfei tas. Nesse caso podemos di zer que os preos so
determi nados pel a i gual dade do custo de produo de cada mercadori a
e de seu preo de venda.
123
Se qui sermos l evar em consi derao o fato de que as mercadori as
consi deradas so as que se podem produzi r por mei o desse preo no
momento em que o equi l bri o se estabel ece, fal aremos do custo de re-
produo e no do custo de produo.
Ferrara foi mai s l onge: el e consi derou o custo para produzi r, no
uma mercadori a, porm uma sensao
124
e dessa manei ra foi l evado
a consi derar, sem dvi da de manei ra i mperfei ta, no somente as con-
di es (D), mas tambm as condi es (A). Quando se i magi na que el e
chegou at a sem recorrer s consi deraes matemti cas, que tornam
o probl ema to si mpl es, deve-se admi rar o poder verdadei ramente ex-
traordi nri o de sua i ntel i gnci a. Nenhum dos economi stas no mate-
mti cos foi mai s l onge.
222. Consi deremos as categori as (A) e (B); el as nos permi tem
deduzi r as quanti dades das mercadori as determi nadas pel os preos
(as quanti dades em funo dos preos, ou seja, i sso que os economi stas
chamaram leis de oferta e da procura). E se, como aci ma, ns supu-
sermos que as outras categori as de condi es encontram-se sati sfei tas
por el as prpri as, poderemos di zer que as quanti dades so determi na-
das pel os preos, por i ntermdi o das l ei s da oferta e da procura.
Os economi stas no matemti cos no ti veram jamai s uma i di a
cl ara dessas l ei s. Freqentemente el es fal avam da oferta e da procura
de uma mercadori a como se el as dependessem apenas do preo dessa
mercadori a.
125
Quando perceberam seu erro, corri gi ram-no fal ando do
poder de compra da moeda, porm sem saber jamai s ao certo o que
era essa enti dade.
OS ECONOMISTAS
192
123 Cours. I , 80.
124 Cours. I . 80.
125 Cai rnes. Some Leading Principies of Pol. Econ. Cap. I I . Por oferta e procura, quando se
fal a em mercadori as especi ai s, preci so (...) entender oferta e procura a certo preo (...)
223. Al m di sso, como el es no vi am cl aramente que a procura
e a oferta resul tavam preci samente das condi es (A) e (B), fal avam
da procura e da oferta como de quanti dades que ti nham exi stnci a
i ndependente dessa condi o e col ocavam ento probl emas como onde
saber se o desejo que um i ndi v duo tem por um objeto que no tem
mei os de comprar pode ser consi derado como fazendo parte da procura,
ou ai nda se uma quanti dade de mercadori a exi stente no mercado mas
que seu possui dor no quer vender faz parte da oferta.
Thornton
126
faz a suposi o que se tem para vender certo nmero
de l uvas que so vendi das a preos sucessi vos decrescentes, at que
estejam todas vendi das; el e admi te que a quanti dade oferecida o
nmero total das l uvas e observa que somente a l ti ma poro vendi da
pel o preo que torna i guai s a oferta e a procura vendendo-se a mai or
parte a preos que tornari am a oferta e a procura desi guai s. El e con-
funde aqui o ponto de equi l bri o, em que a oferta e a procura so
i guai s, e o cami nho segui do para chegar a esse ponto, cami nho sobre
o qual a oferta e a procura so desi guai s ( 182).
224. O custo de produo foi concebi do pel os economi stas l i terri os
como um preo normal em torno do qual devi am gravi tar os preos
determi nados pel a procura e pel a oferta. Assi m chegavam a l evar em
consi derao, embora de manei ra i mperfei ta, as trs categori as de con-
di es (A), (B), (D). El es, porm, as consi deravam i ndependentemente
umas das outras, e pareci a que o custo de produo de uma mercadori a
era i ndependente dos preos desta mercadori a e das outras. fci l de
ver quo grossei ro era o erro. Por exempl o, o custo de produo do
carvo-de-pedra depende do preo das mqui nas, e o custo de produo
das mqui nas depende do preo do carvo. Em conseqnci a, o custo
de produo do carvo depende do preo desse mesmo carvo. E essa
dependnci a ai nda mai s di reta se consi derarmos o consumo de carvo
das mqui nas empregadas na mi na.
225. O preo ou o valor de troca determi nado ao mesmo tempo
que o equi l bri o econmi co, e este nasce da oposi o entre os gostos e
os obstcul os. Quem ol ha apenas um l ado e consi dera uni camente os
gostos, acredi ta que estes determi nam excl usi vamente o preo e en-
contra a causa do val or na utilidade (ofel i mi dade). Quem ol ha do outro
l ado e s consi dera os obstcul os cr que so excl usi vamente el es que
determi nam o preo e encontra a causa do val or no custo de produo.
E, se entre os obstcul os consi dera apenas o trabal ho, encontra a causa
do val or excl usi vamente no trabal ho. Se no si stema das condi es (e-
quaes) que, como vi mos, determi nar o equi l bri o supusermos que
PARETO
193
126 On Labour.
todas as condi es esto por si sati sfei tas, com exceo daquel es refe-
rentes ao trabal ho, poderemos di zer que o val or (preo) depende apenas
do trabal ho, e essa teori a no ser fal sa, mas si mpl esmente i ncompl eta.
El a ser verdadei ra desde que as hi pteses fei tas se real i zem.
226. As condi es que, mui tas vezes i nconsci entemente, se des-
prezavam, que se descartavam, retornavam por si mesmas, porque,
chegados sol uo do probl ema, senti a-se, freqentemente por i ntui o,
que era necessri o l ev-l as em consi derao. Foi dessa manei ra que
Marx, em sua teori a sobre o val or, teve que procurar el i mi nar, por
mdi a ou de outra manei ra, as condi es que teve que negl i genci ar
para fazer o val or depender apenas do trabal ho.
127
Assi m, para mui tos
economi stas, o termo valor de troca no si gni fi ca apenas uma rel ao,
a razo de troca de duas mercadori as, mas acrescenta, de manei ra um
pouco i mpreci sa, certas noes de poder de compra, de equi val nci a
de mercadori as, os obstcul os a vencer, resul tando da uma enti dade
mal defi ni da que, justamente por causa di sso, pode compreender certa
noo das condi es que se desprezaram mas cuja consi derao se sente
que preci so l evar em conta.
Tudo i sso di ssi mul ado pel a i ndefi ni o e pel a fal ta de preci so
das defi ni es por um ti ni do de pal avras que parecem querer al go e
sob as quai s no h nada.
128
Deram-se assi m tantos senti dos vagos e s vezes at mesmo con-
tradi tri os ao termo valor que seri a mel hor no uti l i z-l o no estudo
da Economi a Pol ti ca.
129
Foi o que fez Jevons, uti l i zando-se da expresso
taxa de troca; e seri a mel hor ai nda, como o fez Wal ras, servi r-se da
noo de preo de uma mercadori a B numa mercadori a A ( 153).
Ocorreu certa troca: trocou-se 1 de A por 2 de B; nessa troca o
preo de A em B 2. Este um fato e desses fatos que a Ci nci a
Econmi ca se prope fazer a teori a.
Vri os autores col ocam na noo do que determi nam valor al go
mai s do que exi ste nessa noo de preo, i sto , aos fatos do passado
el es acrescentam uma previ so do futuro. Di zem que o val or 2 se se
puder trocar corretamente 2 de B por 1 de A.
El es no se expressam assi m to cl aramente porque todas essas
teori as tm necessi dade, para di ssi mul ar erros que nel as se encontram,
de permanecer vagas, mas exatamente este o fundo de seu pensamento.
OS ECONOMISTAS
194
127 Num l i vro publ i cado recentemente, di z-se que o preo a mani festao concreta do val or.
T nhamos as encarnaes de Buda, ei s que agora temos as encarnaes do val or!
Que poder ser essa mi steri osa enti dade? Parece que a capaci dade que possui um bem
de ser trocado por outros bens. defi ni r uma coi sa desconheci da por uma outra coi sa
menos conheci da, poi s, o que poderi a ser essa capaci dade? E o que ai nda mai s i mportante,
como medi -l a? Dessa capaci dade ou de seu homni mo val or conhecemos apenas a ma-
ni festao concreta, que preo; e, francamente, ento i nti l nos embaraarmos com
essas enti dades metaf si cas, e podemos nos ater aos preos.
128 Systmes. I , p. 338 et seq; p. 121 et seq.
129 Systmes. I I , cap. XI I I .
preci so pri mei ro observar que nesse senti do as mercadori as
que se vendem no atacado quase nunca teri am val or, poi s seu preo
vari a de uma compra para outra; a cotao de abertura do mercado
mui tas vezes di ferente da cotao de fechamento.
H um esforo para escamotear essa di fi cul dade fazendo di sti no
entre o valor e sua grandeza: como se uma quanti dade pudesse exi sti r
i ndependente de sua grandeza! Al i s, ai nda que se admi ti sse i sso, a
consi derao dessa enti dade metaf si ca seri a da mai s perfei ta i nuti l i -
dade. Na real i dade, remetem-se assi m i mpreci so de uma defi ni o
as condi es que se i ncapaz de consi derar para determi nar o equi l bri o
econmi co.
Al m di sso, ao estabel ecer uma teori a, preci so que no confun-
damos jamai s os fatos que essa teori a deve expl i car e as previ ses que
se podem ti rar. Os preos real i zados para as vendas do cobre por ata-
cado na bol sa de Londres so fatos; preci so que se faa a teori a a
seu respei to antes de ter a menor esperana de conhecer o que sero
no futuro; e, neste momento, essa previ so absol utamente i mposs vel .
Nada exi ste de real , fora esses preos, que seja o val or do cobre. Se
as pessoas que no tm noes ci ent fi cas em Economi a Pol ti ca jul gam
de outra manei ra, porque entrevem vagamente que, se certos preos
foram real i zados em Londres para o cobre e se provvel que outros
preos, que no se saberi am preci sar, se real i zaro no futuro, porque
o cobre sati sfaz i ndi retamente os gostos dos homens e que exi stem
obstcul os para obt-l o. Nessas concepes, a que a ci nci a d preci so,
tm, para essas pessoas, apenas um senti do vago e i ndetermi nado, e
el as o l i gam ao termo valor, para dar-l he um nome.
No exi ste nenhuma enti dade que se assemel he a esta que os
economi stas l i terri os denomi nam valor, e que seja objeti vamente de-
pendente de uma coi sa, como o seri a a densi dade ou qual quer outra
propri edade f si ca dessa coi sa. Essa enti dade tambm no exi ste sob
a forma de esti mati va que um ou vri os i ndi v duos fazem dessa coi sa.
Para dar-l he exi stnci a, tambm no sufi ci ente consi derar certos obs-
tcul os produo.
Se essa coi sa vaga e i ndetermi nada que os economi stas l i terri os
denomi nam valor tem qual quer rel ao com os preos, pode-se afi rmar
que el a depende de todas as ci rcunstnci as, sem exceo, que i nfl uem
sobre a determi nao do equi l bri o econmi co.
Qual o valor dos di amantes? Vocs no podem resol ver essa
questo nem consi derando os desejos que el e desperta em homens e
mul heres, nem consi derando os obstcul os que sua produo encontra,
nem as aval i aes nas quai s se traduzem esses desejos e esses obst-
cul os, nem as l i mi taes de quanti dade, nem o custo de produo,
nem o custo de reproduo etc. Todas essas ci rcunstnci as i nfl uem
sobre o preo dos di amantes, mas sozi nhas, ou em grupo, no so
sufi ci entes para determi n-l o.
PARETO
195
Por exempl o, por vol ta do fi m do ano de 1907, nenhuma mudana
notvel ti nha aconteci do nas ci rcunstnci as que acabamos de enumerar,
mas o preo dos di amantes bai xava e teri a bai xado ai nda mai s se no
ti vesse si do sustado pel o monopl i o de um si ndi cato. A cri se era to
profunda que os pri nci pai s produtores de di amantes, a Companha Der
Beer e a Companhi a Premi er, suspendi am a di stri bui o dos di vi den-
dos. Que ci rcunstnci a vi ri a mudar assi m to bruscamente o valor dos
di amantes? Si mpl esmente a cri se fi nancei ra nos Estados Uni dos da
Amri ca e na Al emanha. Esses pa ses, grandes compradores de di a-
mantes, suspendi am quase que i ntei ramente suas compras.
Para expl i car e prover semel hantes fenmenos, as teori as metaf si cas
dos economi stas l i terri os no servem para nada; ao passo que as teori as
da Economi a ci ent fi ca se adaptam perfei tamente a esses fatos.
227. A coi sa i ndi cada pel as pal avras val or de troca, taxa de troca,
de preo, no tem uma causa; e podemos di zer, daqui para di ante, que
todo economi sta que procura a causa do val or demonstra que no en-
tendeu nada do fenmeno si ntti co do equi l bri o econmi co.
Outrora acredi tava-se que devi a haver uma causa do val or e
di scuti a-se si mpl esmente para saber qual seri a.
i nteressante notar que o poder da opi ni o segundo a qual de-
veri a haver uma causa do val or to grande que mesmo Wal ras no
pode se esqui var i ntei ramente, el e que, dando-nos as condi es de equi -
l bri o em caso determi nado, contri bui u para demonstrar o erro dessa
opi ni o. El e expressa duas noes contradi tri as. Por um l ado nos di z
que todas as i ncgni tas do probl ema econmi co dependem de todas
as equaes do equi l bri o econmi co; e essa uma boa teori a. Mas,
por outro l ado, afi rma que certo que a raridade (ofel i mi dade) a
causa do val or de troca e esta uma remi ni scnci a de teori as ul tra-
passadas, que no correspondem real i dade.
130
Esses erros so perdovei s e at mesmo naturai s, no momento em
que se passa de teori as i nexatas a novas e mel hores teori as; porm seri am
i mperdovei s agora que essas teori as foram el aboradas e progredi ram.
228. Em resumo, as teori as que l evam em conta apenas o val or
OS ECONOMISTAS
196
130 lments dconomie Politique Purs. Lausanne, 1900. Teori camente, todas as i ncgni tas
do probl ema econmi co dependem de todas as equaes do equi l bri o econmi co, p. 289.
certo que a rari dade a causa do val or de troca, p. 102.
provvel que Wal ras tenha-se dei xado enganar pel as notas acessri as da pal avra raridade.
Em suas frmul as, como el e prpri o concorda, o Grenznutzen dos al emes, o fi nal degree of
utility dos i ngl eses, ou ento nossa ofel i mi dade el ementar, mas no texto, aqui e al i , el e acrescenta,
de manei ra pouco preci sa, esta i di a de que a mercadori a rara para as necessi dades a
sati sfazer, em conseqnci a dos obstcul os a ul trapassar para obt-l a. Entrev-se, tambm
vagamente, uma noo dos obstcul os, e esta proposi o, a rari dade a causa do val or de
troca, torna-se menos i nexata. A cul pa dessas confuses no cabe a este sbi o emi nente; el a
pertence i ntei ramente ao modo de raci oc ni o em uso na Ci nci a Econmi ca; modo de raci oc ni o
para cuja reti fi cao os trabal hos de Wal ras tm, preci samente, contri bu do.
(preo), grau final de utilidade (ofel i mi dade), no possuem grande uti -
l i dade para a Economi a Pol ti ca. As teori as mai s tei s so aquel as
que consi deram, em geral , o equi l bri o econmi co e que pesqui sam
como el e nasce na oposi o entre os gostos e os obstcul os.
a mtua dependnci a dos fenmenos econmi cos que torna
i ndi spensvel o uso das Matemti cas para estudar esses fenmenos;
a Lgi ca comum pode servi r para estudar as estudar as rel aes de
causa e efei to, mas l ogo se torna i mportante quando se trata de rel aes
de mtua dependnci a. Estas, em Mecni ca raci onal e em Economi a
pura, necessi tam o uso das Matemti cas.
A pri nci pal uti l i dade que se ti ra das teori as da Economi a pura
que el a nos d uma noo si ntti ca do equi l bri o econmi co, e neste
momento no temos outros mei os para chegar a esse fi m. Porm, o
fenmeno que a Economi a pura estuda di fere, s vezes um pouco, s
vezes mui to, do fenmeno concreto; cabe Economi a apl i cada estudar
essas di vergnci as. Seri a pouco razovel pretender regul ar os fenme-
nos econmi cos apenas pel as teori as da Economi a pura.
PARETO
197
CAPTULO IV
Os Gostos
1. No cap tul o precedente procuramos chegar a uma noo mui to
geral , e em conseqnci a um pouco superfi ci al , do fenmeno econmi co;
descartamos, em vez de resol ver, um grande nmero de di fi cul dades que
encontramos. Fal ta-nos, agora, estudar mai s de perto os fenmenos, os
detal hes que desprezamos e compl etar as teori as que apenas i ndi camos.
2. Os gostos e a ofelimidade Tentamos reduzi r o fenmeno dos
gostos ao prazer que o homem sente quando consome certas coi sas ou
quando del as se serve de al guma manei ra.
Apresenta-se aqui , i medi atamente, uma di fi cul dade. Devemos
consi derar o uso e o consumo si mpl esmente como facul tati vos ou tam-
bm como obri gatri os? Em outras pal avras, as quanti dades de mer-
cadori as que fi guram nas frmul as da Economi a pura devem ser en-
tendi das como consumi das apenas quando i sso agrada ao i ndi v duo,
ou como necessari amente consumi das, mesmo que em vez de prazer
el as causem aborreci mentos? No pri mei ro caso, as ofel i mi dades so
posi ti vas, no podendo descer abai xo de zero, poi s quando o sujei to
est sati sfei to, el e se detm. No segundo caso, as ofel i mi dades podem
ser negati vas e representar uma dor em vez de um prazer.
Os doi s casos so teori camente poss vei s para resol ver a questo
que acabamos de col ocar; preci so debruar-se sobre a real i dade e ver
qual o caso do qual a Economi a Pol ti ca deve se ocupar.
3. No di f ci l ver que el a deve se ocupar em fazer a teori a da
pri mei ra categori a. Se um homem tem mai s gua do que l he neces-
sri o para saci ar-se, na verdade el e no forado a beb-l a toda; bebe
quanto quer e dei ta fora o resto. Se uma senhora tem 10 vesti dos, no
tem necessi dade de vesti -l os todos de uma vez; e no hbi to vesti r
todas as cami sas que se possuem. Enfi m, cada um se serve dos bens
que possui da manei ra que mai s l he convm.
199
4. Mas, deci di do i sso, muda um pouco o si gni fi cado das quanti -
dades que fi guram nas frmul as da Economi a para as mercadori as.
J no se trata das quanti dades consumi das, mas das quanti dades
que se encontram di sposi o do i ndi v duo. Por i sso o fenmeno con-
creto di verge um pouco do fenmeno teri co. Como causa das aes do
i ndi v duo, substi tu mos a sensao do consumo atual pel a sensao
atual do consumo futuro dos bens que esto a sua di sposi o.
5. Al m di sso, no caso em que o i ndi v duo possui uma quanti dade
de bens que chega fartura, desprezamos o aborreci mento que el e pode
ter para se desembaraar das quanti dades suprfl uas. verdade, porm,
que normal mente el a i nsi gni fi cante e, como di z o provrbio: abundncia
de bens nunca prejudi ca; mas exi stem casos excepci onai s em que el a pode
ser mui to i mportante e por i sso deve ser l evada em consi derao.
6. Quanto substi tui o da sensao do consumo efeti vo pel a
sensao do consumo poss vel , consi derando as aes que se repetem,
e o que faz a Economi a Pol ti ca, essas duas sensaes, em resumo,
encontraram-se em rel ao constante de tal manei ra que, sem erro
grave, a segunda pode substi tui r a pri mei ra. Nos casos excepci onai s,
por exempl o, para i ndi v duos mui to i mprevi dentes e estouvados, tor-
na-se ti l consi derar a di ferena que exi ste entre essas duas sensaes,
porm, neste momento, no nos deteremos ni sso.
7. A consi derao das quanti dades que esto di sposi o do i n-
di v duo tambm tem outra vantagem; permi te-nos l evar em consi de-
rao a ordem dos consumos e supor que essa ordem a que mel hor
convm ao i ndi v duo. evi dente que no se sente o mesmo prazer se
comemos a sopa no comeo da refei o e a sobremesa no fi m, ou se
comeamos pel a sobremesa para termi nar com a sopa. Dever amos,
portanto, l evar em consi derao a ordem, i sso porm aumentari a con-
si deravel mente as di fi cul dades da teori a e no h mal em nos desem-
baraarmos desse espi nho.
8. I sso no tudo. O consumo de mercadori as pode ser i ndepen-
dente: a ofel i mi dade que proporci ona o consumo de uma mercadori a
pode ser a mesma quai squer que sejam as outras mercadori as consu-
mi das. El a pode, portanto, ser i ndependente. Mas, em geral , i sso no
acontece, e constantemente ocorre que os consumos so dependentes,
o que si gni fi ca que a ofel i mi dade proporci onada pel o consumo de mer-
cadori a depende do consumo de outras mercadori as.
preci so di sti ngui r duas espci es de dependnci as: 1) a que nasce
do fato de que o prazer de um consumo encontra-se em rel ao com
o prazer dos outros consumos; 2) A que se mani festa quando se pode
substi tui r uma coi sa por outra para produzi r, no i ndi v duo, sensaes,
seno i dnti cas, pel o menos aproxi madamente i guai s.
OS ECONOMISTAS
200
9. Exami nemos, agora, o pri mei ro gnero de dependnci a. Na
real i dade, o prazer que nos proporci ona um consumo depende de nossos
outros consumos; e, al m di sso, para que certas coi sas nos proporci onem
prazer, preci so que estejam juntas a outras: por exempl o, uma sopa
sem sal pouco agradvel e uma roupa sem botes bastante i ncmoda.
No fundo, os casos que acabamos de consi der ar di fer em apenas
quanti tati vamente; o pr i mei r o apr esenta, embor a menos pr onunci a-
das, as mesmas car acter sti cas do segundo, e passa-se de um par a
outr o em gr aus i nsens vei s. Pode tor nar -se ti l , assi m mesmo, di s-
ti ngui r os casos extr emos, que so os segui ntes: () a dependnci a
dos consumos pode r esul tar do fato de que apr eci amos mai s ou menos
o uso e o consumo de uma coi sa, segundo o estado em que nos
encontr amos; () essa dependnci a pode ser pr oveni ente do fato de
que cer tas coi sas devem ser r euni das par a pr opor ci onar -nos pr azer ;
chamamo-l as BENS COMPLEMENTARES.
10. () O pri mei ro gnero de dependnci a mui to geral , e no
podemos desprez-l o quando consi deramos vari aes i mportantes das
quanti dades das coi sas; somente quando essas vari aes so pouco
i mportantes que se pode supor, aproxi madamente, que certos consumos
so i ndependentes. certo que aquel e que sofre cruel mente de fri o
apreci a pouco uma bebi da suave; aquel e que tem fome no experi menta
grande prazer apreci ando um quadro, escutando uma narrati va bem-
ordenada, e, se l he dermos de comer, pouco l he i mporta ser servi do
numa sopei ra grossei ra ou em porcel ana fi na. Por outro l ado, nesse
gnero de dependnci a e para pequenas vari aes de quanti dade, a
parte pri nci pal das vari aes da ofel i mi dade provm da vari ao da
quanti dade dessa mercadori a. prefer vel comer um frango num prato
boni to, mas, em suma, se esse prato si mpl esmente mai s ou menos
bel o, o prazer no di ferente. I nversamente, o prazer que se experi -
menta ao se servi r de um bel o prato depende pri nci pal mente desse
prato, e no vari a mui to se o frango mai s ou menos gordo e de
qual i dade mai s ou menos fi na.
11. Uns poucos autores que consti tu ram a economi a pura foram
l evados, para tornar mai s si mpl es os probl emas que queri am estudar,
a admi ti r que a ofel i mi dade de uma mercadori a dependi a apenas da
quanti dade da mercadori a di sposi o do i ndi v duo. No se pode cen-
sur-l os, poi s afi nal preci so resol ver as questes umas aps as outras,
e mel hor no se apressar. Porm, est na hora de se dar um passo
adi ante e consi derar tambm o caso no qual a ofel i mi dade de uma
mercadori a depende do consumo de todas as outras.
No que di z respei to ao gnero de dependnci a que estudamos
neste momento, poder-se-, embora sempre aproxi madamente e con-
quanto se trate de pequenas vari aes, consi derar a ofel i mi dade de
PARETO
201
uma mercadori a como dependendo excl usi vamente das quanti dades
dessa mercadori a. Mas ser preci so l evar em conta os outros gneros
de dependnci a.
12. () A noo de bens compl ementares pode ser mai s ou menos
extensa. Para se ter l uz preci so uma l mpada e tambm petrl eo;
porm no necessri o ter um copo para se beber vi nho, pode-se beb-l o
na garrafa.
Ampl i ando a noo de bens compl ementares poder-se-i a l evar em
conta essa dependnci a consi derando como mercadori as di sti ntas todas
as combi naes de mercadori as das quai s o i ndi v duo se serve ou que
so consumi das di retamente por el e. Por exempl o, no se consi derari am
separadamente o caf, o acar, a x cara, a col her, consi derando-se
apenas uma mercadori a composta por essas trs mercadori as neces-
sri as para se tomar uma x cara de caf. Descarta-se, assi m, uma
di fi cul dade para cai r em outras mai ores. Pri mei ro: por que se deter
na formao dessa mercadori a i deal , na col her? Seri a preci so l evar em
conta i gual mente a mesa, a cadei ra, o tapete, a casa em que se en-
contram todas essas coi sas, e assi m por di ante at o i nfi ni to. Mul ti -
pl i camos assi m, al m de qual quer medi da, o nmero de mercadori as,
porque toda combi nao poss vel das mercadori as reai s nos d uma
dessas mercadori as i deai s.
preci so, portanto, escol her o menor de doi s mal es e apenas
l evar em consi derao essas mercadori as compostas nos casos em que
so mui to estrei tamente dependentes entre si , o que tornari a mui to
penoso consi der-l as parte. Em outros casos prefer vel consi der-l as
separadamente, e reca mos, assi m, no caso precedente. preci so, po-
rm, quando assi m se procede, no nos esquecermos que a ofel i mi dade
de uma dessas mercadori as depende no somente das quanti dades
dessas mercadori as mas tambm das quanti dades das outras merca-
dori as que a acompanham no uso ou consumo, e que se comete um
erro consi derando-a apenas como dependente da quanti dade dessa mer-
cadori a. Esse erro pode ser menosprezado quando exi stem apenas pe-
quenas vari aes das quanti dades das mercadori as, porque nesse caso
se pode supor, aproxi madamente, que o consumo da mercadori a con-
si derada se efetua em certas condi es mdi as em rel ao s merca-
dori as acessri as.
Retomando o exempl o precedente, se devssemos consi derar o
caso extremo no qual no exi ste x cara para o caf, no se poderi a,
sem grave erro, supor a ofel i mi dade do caf i ndependente da x cara;
mas se, ao contrri o, se consi dera um estado que se desvi a um pouco
do estado exi stente, i sto , um estado no qual as vari aes consi stem
si mpl esmente em se ter uma x cara de qual i dade um pouco mel hor
ou um pouco pi or, pode-se, sem erro grave, consi derar a ofel i mi dade
do caf como i ndependente da x cara. A ri gor, a ofel i mi dade do caf
OS ECONOMISTAS
202
para um i ndi v duo vari a com o acar, a x cara, a col her etc., que el e
tem sua di sposi o; porm, se supusermos um estado mdi o para todas
essas coi sas, poderemos, com uma aproxi mao grossei ra, supor que a
ofel i mi dade do caf depende uni camente da quanti dade de caf da qual
di spe um i ndi v duo dado. Da mesma manei ra, a ofel i mi dade do acar
depender uni camente da quanti dade de acar etc. I sso no mai s seri a
verdadei ro se consi derssemos as vari aes notvei s das quanti dades ou
dos preos. Que o acar custe 40 ou 50 cnti mos o qui l o, i sso pouco
modi fi ca a ofel i mi dade do caf; mas se j no pudssemos obter acar,
i sso mudari a mui to a ofel i mi dade do caf, e a si mpl es al ta do preo do
acar de 50 cnti mos para 2 francos o qui l o l evari a a uma vari ao da
ofel i mi dade do caf que no se deveri a menosprezar.
13. Concl ui remos, portanto, que, se nos ocuparmos de vari aes
mui to extensas, ser preci so, pel o menos para a mai or parte das mer-
cadori as, consi derar a ofel i mi dade de uma mercadori a como dependen-
te, no somente da quanti dade uti l i zada ou economi zada dessas mer-
cadori as, mas tambm da quanti dade de mui tas outras mercadori as
que se uti l i zam ou se consomem ao mesmo tempo. Se no o fi zermos
e se nos contentarmos em consi derar a ofel i mi dade de uma mercadori a
como dependente uni camente da quanti dade dessa mercadori a, torna-se
necessri o raci oci nar uni camente sobre vari aes mui to pequenas e,
em conseqnci a, estudar o fenmeno apenas na vi zi nhana de uma
dada posi o de equi l bri o.
14. Passamos agora ao segundo gnero de dependncia. Um homem
pode se fartar de po ou de batatas, pode beber vi nho ou cerveja, pode
se vesti r de l ou de al godo, pode uti l i zar petrl eo ou vel as. Concebe-se
que se pode estabel ecer certa equi valnci a entre os consumos que corres-
pondem a certa necessi dade. Mas preci so, porm, di sti ngui r se essa
equi val ncia rel ati va aos gastos do homem ou a suas necessi dades.
15. Se a rel ao de equi val nci a se refere ri gorosamente aos gostos
do i ndi v duo, el a no outra coi sa seno a rel ao que d a curva de
i ndi ferena para as mercadori as equi val entes; , portanto, i nti l fazer
um estudo separado. Di zer que um homem consi dera equi val ente para
seus gostos substi tui r um qui l o de fei jo por doi s qui l os de batatas,
expri mi r a i di a de que a curva de i ndi ferena entre o fei jo e as
batatas passa pel o ponto 1 qui l o de fei jo e zero de batatas, e pel o
ponto 2 qui l os de batatas e zero qui l o de fei jo.
16. s vezes, a equi val nci a no se refere aos gostos, mas s
necessi dades. Nesse caso j no haveri a i denti dade entre a rel ao de
equi val nci a e a da curva de i ndi ferena. Por exempl o, um homem
pode se fartar comendo 2 qui l os de pol enta ou 1 qui l o de po; uma
PARETO
203
mul her pode se enfei tar com um col ar de prol as fal sas ou com um
de prol as fi nas. Com rel ao aos gostos no exi ste nenhuma equi va-
l nci a entre essas coi sas; o homem prefere o po, a mul her, as prol as
fi nas, e apenas sob presso da necessi dade que el es os substi tuem
pel a pol enta e pel as prol as fal sas.
17. Quando o homem consome ao mesmo tempo po e pol enta,
quando a mul her enfei ta-se com prol as fal sas e prol as fi nas, no se
pode mai s supor que a ofel i mi dade da pol enta i ndependente da do
po, nem que a ofel i mi dade das prol as fal sas i ndependente da das
prol as fi nas; preci so, ento, consi derar a ofel i mi dade de certa com-
bi nao de prol as fal sas e de prol as fi nas, de po e de pol enta ou
de outra manei ra qual quer, l evar em conta a dependnci a dos consumos.
18. O fenmeno dessa dependnci a mui to extenso. Mui tas mer-
cadori as exi stem com qual i dades mui to di ferentes, e essas qual i dades
se substi tuem umas pel as outras, quando os recursos do i ndi v duo
aumentam. Sob o nome de cami sa, arrumamos um grande nmero de
objetos mui to di ferentes, desde a grossei ra cami sa de uma camponesa
at a fi na cambrai a de uma mul her el egante. Exi ste um grande nmero
de qual i dades de vi nho, de quei jo, de carne etc. Quem no tem outra
coi sa, come mui ta pol enta; se ti ver po, comer menos pol enta; se ti ver
carne di mi nui r seu consumo de po. No se pode di zer qual o prazer
que proporci ona a al gum certa quanti dade de pol enta, se no se sabe
quai s so os outros al i mentos de que di spe. Que prazer proporci ona
a um i ndi v duo determi nado um casaco de l grossa? Para responder
preci so saber quai s as vesti mentas que el e tem a sua di sposi o.
19. Esses fenmenos nos fazem conhecer certa hi erarqui a das
mercadori as. Se, por exempl o, as mercadori as A, B, C... so capazes
de sati sfazer certas necessi dades, um i ndi v duo se servi r da merca-
dori a A porque no pode ter acesso s outras, que so mui to caras.
Se seu desafogo aumentar, uti l i zar, ao mesmo tempo, A e B; se au-
mentar ai nda mai s, el e se servi r apenas do B; depoi s de B e C, depoi s
uni camente de C; em segui da de C e D etc. Fi ca bem cl aro que no
temos aqui seno uma pequena parte do fenmeno, e que aquel e que
se serve de C, pode ai nda, s vezes, consumi r, ao acaso, pequenas
quanti dades de A, B, C etc.
Di remos que qual quer uma das mercadori as de uma sri e seme-
l hante superior s precedentes e inferior s segui ntes. Temos, por
exempl o, a sri e: pol enta, po, carne de segunda, carne de pri mei ra.
Aquel e que for mui to pobre come mui ta pol enta, pouco po e, mui
raramente, carne. Aumentando seus recursos, el e comer mai s po e
menos pol enta; se sua si tuao mel horar mai s, comer po e carne de
segunda e apenas, de tempos em tempos, a pol enta. Aumentando seu
OS ECONOMISTAS
204
desaperto, comer carne de pri mei ra e outros al i mentos de boa qual i -
dade, mui to pouca pol enta, pouco po e ai nda um po de qual i dade
superi or ao que comi a antes.
V-se quo extenso o gnero de dependnci a de que fal amos,
e preci so que o l evemos em consi derao. Como no caso precedente,
abrem-se-nos doi s cami nhos.
20. Podemos ocupar-nos desse gnero de dependnci a apenas nos
casos em que el a seja mui to marcada e em que a prefernci a do i ndi -
v duo no possa ser desprezada e consi derar os outros consumos como
i ndependentes.
21. Mas, poder amos proceder de outra manei ra nesse terreno
de aproxi mao, e estender, em vez de restri ngi r, a consi derao desse
gnero de dependnci a. Poder amos, por exempl o, consi derar um mai or
ou menor nmero de gostos e de necessi dades do homem, e por mei o
destes supor equi val entes certas quanti dades de mercadori as que po-
dem substi tui r-se umas pel as outras. Por exempl o, para a al i mentao,
estabel ecer certas equi val nci as entre as quanti dades de po, de ba-
tatas, de fei jo, de carne etc. Nesse caso, ter amos que consi derar ape-
nas a ofel i mi dade total dessas quanti dades equi val entes.
22. Sendo aproxi mati vas, essas equi val nci as de substi tui o no
devem, mesmo para o segundo gnero de dependnci a, se di stanci ar
de certo estado mdi o, para o qual essas equi val nci as foram estabe-
l eci das de forma aproxi mada.
23. As di fi cul dades aqui encontradas no so especi ai s dessa ques-
to. J observamos (18) que em geral as encontramos nos fenmenos
mui to compl exos. Exi ste, nos povos ci vi l i zados, uma quanti dade enorme
de mercadori as vari adas, suscet vei s de sati sfazer i nmeros gostos.
Para se ter uma i di a geral do fenmeno, absol utamente necessri o
desprezar numerosos detal hes, e pode-se faz-l o de vri as manei ras.
24. Consi deramos os pri nci pai s gneros de dependnci a; exi stem
outros, e o fenmeno mui to vari ado e mui to compl exo. Em resumo,
a ofel i mi dade de um consumo depende de todas as ci rcunstnci as nas
quai s se d o consumo. Porm, se queremos consi derar o fenmeno
em toda sua ampl i tude, j no haver teori a poss vel , pel as razes j
por di versas vezes abordadas; tambm absol utamente necessri o se-
parar as partes pri nci pai s, e reti rar do fenmeno compl eto e compl exo
os el ementos i deai s e si mpl es que podem ser objeto de teori as.
Podemos ati ngi r esse fi m de vri as maneiras; indi camos duas, mas
h outras poss vei s. Cada um desses procedi mentos apresenta vantagens
e, de acordo com as ci rcunstnci as, um pode ser preferi do ao outro.
PARETO
205
25. Como em todas as ci nci as concretas nas quai s se substi tui ,
de forma aproxi mada, um fenmeno por outro, a teori a no pode se
estender al m dos l i mi tes para os quai s foi constru da; e qual quer que
seja o cami nho segui do, no se pode estender as concl uses, pel o menos
sem novas pesqui sas, al m da regi o estrei ta que se encontra nas
proxi mi dades do ponto de equi l bri o consi derado.
26. Outros fatos de grande i mportnci a obri gam-nos a assi m pro-
ceder. Quando mudam as condi es, mudam tambm os gostos dos
homens. A uma mul her que j possui di amantes, podemos, na esperana
de obter uma resposta razovel , perguntar: se os di amantes custassem
um pouco mai s, quantos a menos voc comprari a? Porm, se pergun-
tarmos a uma camponesa, que jamai s possui u di amantes: se voc
fosse mi l i onri a, quantos di amantes comprari a a tal preo?, ter amos
uma resposta dada ao acaso e sem nenhum val or. Marci al nos di z num
de seus epi gramas: Voc sempre me pergunta, Pri sco, o que eu seri a
se me tornasse ri co e poderoso. Voc pensa que se possa conhecer os
senti mentos futuros? Di ga-me se voc fosse l eo, como seri a?
131
Se pretendemos ser exatos, preci so que di gamos que no
necessri o que as condi es dos fenmenos mudem radi cal mente para
que os gostos mudem: el es podem mudar tambm por l i gei ras mudanas
nas condi es exteri ores. Acrescentemos que um i ndi v duo no per-
fei tamente semel hante a el e mesmo no di a segui nte.
27. Essa observao nos col oca no cami nho de uma proposi o
que de grande i mportnci a. Comecemos por ci tar um exempl o. Na
I tl i a, o povo toma caf e no toma ch. Se o caf aumentasse mui to
o preo e se o ch bai xasse bastante seu preo, o efei to i medi ato seri a
a di mi nui o do consumo do caf, ao passo que o consumo do ch no
aumentari a, pel o menos de uma manei ra sens vel . Porm, pouco a
pouco, depoi s de um tempo que certamente ser l ongo, poi s os gostos
dos homens so mui to tenazes, o povo i tal i ano poder substi tui r o caf
pel o ch; o l ti mo efei to da di mi nui o consi dervel do preo do ch
ser o aumento consi dervel de seu consumo.
Em geral , devemos sempre di sti ngui r as mudanas que sobrevm
em curtos per odos das que sobrevm aps l ongos per odos. Sal vo casos
excepci onai s, preci so que a Estat sti ca econmi ca estude excl usi va-
mente os pri mei ros. Suponhamos que as curvas de di ferena entre
uma mercadori a B e uma outra mercadori a A (que poderi a ser a moeda)
sejam hoje as que i ndi cam as l i nhas chei as s da Fi g. 28, e que, depoi s
de um scul o, tornem-se as l i nhas ponti l hadas t. Suponhamos ai nda
que o i ndi v duo tenha a quanti dade oa de moeda. Hoje, qual quer que
OS ECONOMISTAS
206
131 XI I , 93.
seja o preo de B (em certos l i mi tes), esse i ndi v duo despender quase
a mesma quanti dade ah de A; em um scul o, despender uma quan-
ti dade ak, que ser quase a mesma quando o preo vari a, mas que
ser di ferente de ah.
28. preci so que passe mui to tempo antes que as curvas de i ndi -
ferena s se transformem em curvas de i ndi ferena t; podemos portanto
supor, sem erro sens vel , que num curto espao de tempo, por exempl o,
um, doi s, ou mesmo quatro ou ci nco anos, el as conti nuem i guai s a s.
29. Supusemos que um homem pode comparar duas sensaes;
mas, quando el as no so si mul tneas e, na verdade no parece poss vel
que el as o sejam, el e s pode comparar uma sensao com a i di a que
faz de outra sensao. Ai nda por essa razo o fenmeno real di fere do
fenmeno teri co, e pode ser ti l em al guns casos l evar em consi derao
essa di vergnci a para uma aproxi mao posteri or. Mui tas vezes, ao
contrri o, podemos admi ti r que a i di a de uma sensao futura no
nos engana demasi ado, pri nci pal mente porque, ocupando-se a Econo-
mi a apenas de fenmenos mdi os e repeti dos, se essa i di a, nas pri -
Fi gura 28
PARETO
207
mei ras experi nci as, se di stanci a demai s da sensao futura, el a
reti fi cada pel as experi nci as que se seguem pri mei ra.
30. V-se ento que, se o fenmeno teri co que estudamos di fere
mui to, em certos casos, do fenmeno concreto, na mai or parte dos fe-
nmenos concretos ordi nri os el e o representa com uma aproxi mao
mai s ou menos grossei ra, desde que as condi es segui ntes sejam rea-
l i zadas: 1) podemos estudar apenas o que se passa numa pequena
regi o cujo centro o fenmeno concreto que nos fornece os dados de
fato necessri os para consti tui r a teori a. Na real i dade, estamos di ante
de uma posi o vi zi nha posi o de equi l bri o do si stema econmi co;
podemos saber como se comporta o si stema nas cercani as dessa posi o,
porm fal tam-nos dados para saber como as coi sas se passari am se as
condi es de fato do si stema vi essem a ser consi deravel mente modi fi -
cadas; 2) consi deramos apenas os fenmenos mdi os e que se repetem,
de manei ra a el i mi nar o mai or nmero de vari aes aci dentai s.
Se al gum achar que mui to pouco, basta nos mostrar como se
pode fazer mel hor. O cami nho est l i vre e o progresso da ci nci a
cont nuo. Mas, enquanto esperamos, esse pouco val e mai s do que nada;
ai nda mai s que a experi nci a nos ensi na que em todas as ci nci as o
pouco sempre necessri o para se chegar ao mui to.
31. Certas pessoas acredi taram que, pel o ni co fato de uti l i zar
a Matemti ca, a Economi a Pol ti ca teri a adqui ri do em suas dedues
o ri gor e a certeza das dedues da Mecni ca Cel este. Ei s um grave
erro. Na Mecni ca Cel este, todas as conseqnci as que se ti ram de
uma hi ptese foram veri fi cadas pel os fatos; e concl ui u-se que mui to
provvel que essa hi ptese seja sufi ci ente para nos fornecer uma i di a
preci sa do fenmeno concreto. No podemos esperar resul tado seme-
l hante em Economi a Pol ti ca, poi s sabemos, sem nenhuma dvi da, que
nossas hi pteses se afastam em parte da real i dade, e apenas em
certos l i mi tes que as conseqnci as que podemos ti rar correspondem
aos fatos. Acontece o mesmo, al i s, na mai or parte das artes e das
ci nci as concretas, por exempl o, na arte do engenhei ro. Dessa manei ra,
a teori a mai s freqentemente um modo de pesqui sa do que de de-
monstrao e jamai s se deve menosprezar veri fi car se as dedues
correspondem real i dade.
32. A ofelimidade e seus ndices. Fal ando em ofel i mi dade,
preci so no se esquecer de di sti ngui r a OFELI MI DADE TOTAL (ou
seu ndi ce) da ofel i mi dade el ementar (ou seu ndi ce). A pri mei ra consi ste
no prazer (ou ndi ce do prazer) que proporci ona a quanti dade total de
mercadori a A possu da; a segunda o quoci ente do prazer (ou do ndi ce
OS ECONOMISTAS
208
do prazer) de uma nova e mui to pequena quanti dade de A di vi di da
por essa quanti dade (I I I , 33).
Um i ndi v duo que se encontra sobre um ponto da col i na do prazer
(I I I , 58) usufrui de uma ofel i mi dade total representada pel a al tura
desse ponto sobre um pl ano hori zontal . Se cortarmos a col i na do prazer
por um pl ano verti cal paral el o ao ei xo oA, sobre o qual se l eva as
quanti dades da mercadori a A, obtm-se certa curva; a i ncl i nao, sobre
uma reta hori zontal , da tangente a essa curva no ponto em que se
encontra o i ndi v duo i gual ofel i mi dade el ementar ( 60, 69).
O homem pode saber se o prazer que l he proporci ona certa combi -
nao I de mercadori a i gual ao prazer que reti ra de outra combi nao
I I , ou se mai or ou menor. Consi deramos esse fato (I I I , 55) para determi nar
os ndi ces de ofel i mi dade, i sto os ndi ces que i ndi cam o prazer que
proporci ona outra combi nao qual quer, ou se mai or ou menor.
Al m di sso, o homem pode saber, aproxi madamente, se, passando
da combi nao I combi nao I I , sente mai or prazer do que passando
da combi nao I I a outra combi nao I I I . Se esse jul gamento pudesse
ser fei to com sufi ci ente preci so, poder amos, no l i mi te, saber se, pas-
sando de I a I I , esse homem sente prazer i gual quel e que sente pas-
sando de I I a I I I ; e, em conseqnci a, passando de I a I I I senti ri a
prazer dobrado ao que senti ri a passando de I a I I . I sso seri a sufi ci ente
para nos permi ti r o prazer ou a ofel i mi dade como uma quanti dade.
No nos poss vel , porm, chegar a essa preci so. Um homem
pode saber que o tercei ro copo de vi nho l he proporci ona menos prazer
do que o segundo, porm no pode, de manei ra al guma, saber que
quanti dade de vi nho deve tomar depoi s do segundo copo para ter um
prazer i gual ao que l he proporci onou esse segundo copo de vi nho. Da
a di fi cul dade em consi derar a ofel i mi dade como uma quanti dade, se
no for apenas enquanto hi ptese.
Entre o nmero i nfi ni to de si stemas de ndi ce que se pode ter,
preci so que retenhamos apenas os que gozam da segui nte propri edade:
se ao passar de I a I I o homem sente mai s prazer do que passando
de I I a I I I , a di ferena dos ndi ces de I e de I I mai or que a di ferena
dos ndi ces de I I e de I I I . Dessa manei ra os ndi ces sempre representam
mel hor a ofel i mi dade.
A ofel i mi dade, ou seu ndi ce, para outro i ndi v duo, so quanti dades
heterogneas. No se pode som-l as nem compar-l as, No bridge, como
di zem os i ngl eses. Uma soma de ofel i mi dades das quai s usufrui ri am i n-
di v duos di ferentes no exi ste: uma expresso sem nenhum senti do.
33. Caractersticas da ofelimidade Em tudo que se segue i remos
supor que a ofel i mi dade para um i ndi v duo uma quanti dade; al i s,
seri a fci l modi fi car o raci oc ni o fazendo si mpl esmente uso da concepo
dos ndi ces de ofel i mi dade.
Em vi rtude da hi ptese fei ta sobre as quanti dades de mercadori as
PARETO
209
e por essas quanti dades compreendem-se apenas as que esto
di sposi o do i ndi v duo ( 3) a ofel i mi dade sempre posi ti va; e essa
sua pri mei ra caracter sti ca.
A segunda caracter sti ca, que foi reconheci da pel os pri mei ros eco-
nomi stas que estudaram esse assunto, consi sti ri a em que, se a ofel i -
mi dade de uma mercadori a consi derada dependente uni camente da
quanti dade dessa mercadori a, a ofel i mi dade el ementar (I I I , 33) decresce
quando aumenta a quanti dade consumi da. Pretendeu-se fazer essa pro-
pri edade depender da l ei de Fechner,
132
mas i sso supe, necessari a-
mente, o consumo e j vi mos ( 3) que i sso acarretava mui tas di fi cul -
dades; al m di sso, na grande vari edade de usos econmi cos, exi stem
mui tas que se di stanci am demasi ado dos fenmenos aos quai s se apl i ca
a l ei de Fechner.
mai s conveni ente recorrer di retamente experi nci a, e esta nos
demonstra que, efeti vamente, para mui tos usos e consumos, a ofel i mi dade
el ementar di mi nui com o aumento das quanti dades consumi das.
34. Enfi m, um fato bastante ger al que, quanto mai s possu -
mos de uma coi sa, menos pr eci osa nos cada uma das uni dades
dessa coi sa. Exi stem excees. Por exempl o, se fazemos uma col eo,
pr endemo-nos mai s a el a medi da que se tor na mai s compl eta;
um fato bastante conheci do que cer tos camponeses pr opr i etr i os se
tor nam tanto mai s desejosos de ampl i ar sua pr opr i edade quanto
mai s esta aumenta; enfi m, todo mundo sabe que o avar ento deseja
aumentar tanto mai s seu patr i mni o quanto mai s este aumenta.
Em ger al , a poupana tem cer ta ofel i mi dade que l he pr pr i a, i n-
dependentemente do l ucr o que se r eti r e de seus jur os e essa ofel i -
mi dade aumenta com a quanti dade de poupana at cer to l i mi te,
depoi s, exceo fei ta ao avar ento, el a di mi nui .
35. Exi stem ai nda as mercadori as cujas ofel i mi dades no so
i ndependentes ( 9). Para a dependnci a (), pode-se consi derar, pel o
menos em geral , que a ofel i mi dade el ementar di mi nui medi da que
a quanti dade aumenta; freqentemente mesmo el a di mi nui de manei ra
mai s rpi da do que se a ofel i mi dade fosse i ndependente. Para a de-
pendnci a (), a ofel i mi dade el ementar pode aumentar e di mi nui r em
segui da, medi da que a quanti dade aumenta. Por exempl o, se temos
uma cami sa qual fal ta um ni co boto, a ofel i mi dade desse boto
mai or que a dos outros; e a de um outro boto ai nda menor. Mas
esse fenmeno anl ogo, em parte, quel es das vari aes descont nuas
que j estudamos (I I I , 65). preci so l embrar que estudamos no os
fenmenos i ndi vi duai s, mas os fenmenos col eti vos e mdi os. No se
OS ECONOMISTAS
210
132 FECHNER. Revision der Hauptpunkten der Psychoph. Lei pzi g, 1888. WUNDT. Grundzge
der phisiol. Psychol.
vendem as cami sas com um boto a menos; o caso abstrato de que
acabamos de fal ar no exi ste na prti ca. Devemos consi derar o consumo
de mi l hares de mercadori as e de mi l hares de botes, e nesse caso se
pode admi ti r, sem grande erro, que a ofel i mi dade di mi nui com o au-
mento das quanti dades.
36. Quanto dependnci a do segundo gnero ( 8), pode-se ob-
servar, em geral , que a ofel i mi dade el ementar de uma mercadori a di -
mi nui at zero quando a quanti dade da mercadori a aumenta. Essa
ofel i mi dade el ementar permanece em zero at que a mercadori a qual
se refere seja el i mi nada do consumo, ou que reste apenas quanti dade
i nsi gni fi cante e seja substi tu da por outra mercadori a superi or.
37. Em resumo, sal vo uma parte do fenmeno no caso de bens
compl ementares, para a mai ori a das mercadori as, a ofel i mi dade el e-
mentar di mi nui quando a quanti dade consumi da aumenta. O pri mei ro
copo de gua proporci ona mai or prazer que o segundo a quem tem
sede, a pri mei ra poro de al i mentos proporci ona mai or prazer que a
segunda para quem tem fome, e assi m por di ante.
38. Nesse terreno podemos i r mai s l onge e encontrar uma tercei ra
caracter sti ca da ofel i mi dade de um grande nmero de mercadori as.
No somente o segundo copo de vi nho proporci ona menos prazer que
o pri mei ro, e o tercei ro menos que o segundo, mas a di ferena entre
o prazer que proporci ona o tercei ro e aquel e que proporci ona o segundo
menor que a di ferena entre o prazer do pri mei ro e o do segundo.
Em outras pal avras, medi da que aumenta a quanti dade consumi da,
no somente di mi nui o prazer proporci onado pel as pequenas novas
quanti dades i guai s acrescentadas ao consumo, como, al m di sso, os
prazeres que essas pequenas quanti dades proporci onam tendem a tor-
nar-se i guai s. Para quem tem 100 l enos, no somente o prazer que
l he proporci ona o 101 l eno mui to pequeno, mas tambm sensi -
vel mente i gual ao prazer que l he proporci ona o 102 l eno.
39. preci so pesqui sar agora o que se passa quando o que vari a
j no a quanti dade da mercadori a da qual se consi dera a ofel i mi dade
el ementar, mas a quanti dade de outras mercadori as com as quai s el a
tem rel aes de dependnci as.
No caso da dependnci a () ( 9), o prazer que nos proporci ona
uma pequena quanti dade de mercadori a A, acresci da quanti dade
consumi da, comumente mai or quando sofremos menos fal ta de outras
mercadori as. Em conseqnci a, a ofel i mi dade el ementar de A aumenta
quando aumentam as quanti dades de B, C... I sso acontece tambm no
caso da dependnci a (), pel o menos em certos l i mi tes. O prazer que
uma l mpada proporci ona, juntada a outras, mai or se se tem mui to
l eo, de manei ra a poder servi r-se i gual mente da nova l mpada; e,
i nversamente, de que adi anta ter mui to l eo se no temos l mpadas
PARETO
211
para quei m-l o? Concl ui remos ento que, em geral , para o pri mei ro
gnero de dependnci a, a ofel i mi dade el ementar de B aumenta quando
aumentam as quanti dades de certas mercadori as outras, B, C...
40. Para o segundo gnero de dependnci a acontece o oposto. Se A
pode substi tui r uma mercadori a B, a ofel i mi dade el ementar de A ser
tanto menor quanto se tenha maior abundncia de seu sucedneo B.
41. Para mel hor entendermos i sso traamos um quadro, com n-
meros escol hi dos ao acaso, e que tm to-somente, a fi nal i dade de dar
uma forma tang vel s consi deraes precedentes.
OS ECONOMISTAS
212
Observem que a di ferena dos prazeres proporci onados por um
de A posi ti va para a dependnci a do pri mei ro gnero; negati va para
a dependnci a do segundo gnero. Essa di ferena sempre i gual
que se obteri a comparando os prazeres proporci onados por um de B.
I sso ocorre porque supusemos, i mpl i ci tamente, que o prazer da com-
bi nao AB i ndependente da ordem dos consumos.
42. Vamos compor uma mercadori a A com partes proporci onai s
de duas ou trs mercadori as B e C, por exempl o, com 1 de po e 2 de
vi nho. Se B e C so i ndependentes, ou se exi ste entre el es uma de-
pendnci a do pri mei ro gnero, poderemos repeti r o raci oc ni o aci ma e
veri fi car que, em geral , a ofel i mi dade A di mi nui quando aumenta a
quanti dade A. As excees podem ser desprezadas pel as razes i ndi -
cadas no 35.
43. Caractersticas das linhas de indiferena Os economi stas
comearam por col etar da experi nci a as caracter sti cas da ofel i mi dade
e, deduzi ram, em segui da, as l i nhas de i ndi ferena.
Podemos segui r cami nho i nverso. No caso em que a ofel i mi dade
el ementar de uma mercadori a depende apenas da quanti dade dessa
mercadori a, os doi s procedi mentos so equi val entes. Porm, i nteres-
sante observar que, no caso geral , ou seja, no caso em que os consumos
so dependentes, o estudo das l i nhas de i ndi ferena nos fornece resul -
tados aos quai s se chegari a faci l mente, pel o menos neste momento,
recorrendo-se somente experi nci a para determi nar as caracter sti cas
da ofel i mi dade.
44. Uma pri mei ra caracter sti ca das l i nhas de i ndi ferena se ob-
tm observando que preci so aumentar a quanti dade de uma merca-
dori a para compensar a di mi nui o da quanti dade de outra. Da resul ta
que o ngul o a sempre agudo. Essa propri edade corresponde exata-
mente propri edade de as ofel i mi dades el ementares serem sempre
posi ti vas.
45. Al m di sso, se fi zermos exceo para o pequeno nmero de
fatos assi nal ados no 34, podemos constatar que para compensar as
fal tas de uma pequena quanti dade, sempre a mesma, de uma merca-
dori a dada, preci so tanto menos de outra quanto mai s se possua da
pri mei ra. Resul ta da que as l i nhas de i ndi ferena so sempre convexas
do l ado dos ei xos, tm formas anl ogas a t e jamai s formas como s,s
(Fi g. 29). Para que ti vessem estas l ti mas formas seri a preci so que se
referi ssem a uma mercadori a em que cada uni dade se torne mai s pre-
ci osa medi da que aumente a quanti dade dessa mercadori a de que o
i ndi v duo di spe. Fi ca cl aro que esse caso mui to excepci onal .
PARETO
213
46. Quando se consi deram vri as mercadori as A, B, C..., no se
pode mai s fal ar propri amente de l i nhas de i ndi ferena; mas exi stem
propri edades anl ogas a estas que acabamos de assi nal ar e que so
mui to tei s para a teori a.
Qual quer uma dessas mercadori as, A, por exempl o, pode ser es-
col hi da como moeda. Quanto s demai s, al gumas sero vendi das, outras
compradas; pode-se consi derar separadamente as quanti dades de moe-
das necessri as para essas compras, ou que se recebe dessas vendas;
supri mi ndo da soma forneci da pel as vendas a soma das despesas, te-
remos a quanti dade de A que resul tou do conjunto dessas operaes,
ou vi ce-versa.
Se compararmos A, sucessi vamente, a cada uma das mercadori as
B, C... teremos l i nhas de i ndi ferena gozando de propri edades i dnti cas
quel as que j assi nal amos.
47. E ai nda: 1) se no total temos certa despesa, i sso si gni fi ca
que as compras fi zeram mai s do que compensar as vendas, i sto , a
di mi nui o de A foi compensada pel o aumento de al gumas das mer-
cadori as B, C...; 2) qual quer que seja a dependnci a dos consumos,
suponhamos que para compensar a despesa de um franco seja neces-
sri a certa frao de uma combi nao de B, C, D...: medi da que
di mi nua a renda do i ndi v duo essa frao i r aumentando e vi ce-versa.
Se um i ndi v duo faz certa despesa para adqui ri r uma l mpada,
a mecha, o l eo (pri mei ro gnero () de dependnci a), e para habi tar,
se vesti r, se al i mentar (pri mei ro gnero () de dependnci a com a l m-
pada), e se exi ste para el e uma compensao exata entre a despesa e
as sati sfaes procuradas, fi ca cl aro que essa compensao j no exi s-
ti ri a se todas essas despesas vi essem a dobrar, porque, por um l ado,
Fi gura 29
OS ECONOMISTAS
214
a moeda torna-se mai s preci osa para el e porque possui ri a menos, e as
l mpadas etc., se tornam menos preci osas porque el e possui ri a mai s.
Comumente, consi derando um grande nmero de i ndi v duos, as
vari aes descont nuas se transformam, com l eve erro, em vari aes
cont nuas.
48. Relao entre a ofelimidade ou as linhas de indiferena e a
oferta e a procura As propri edades da ofel i mi dade e das l i nhas de
i ndi ferena esto estrei tamente l i gadas a certas caracter sti cas das l ei s
da oferta e da procura. Exporemos certo nmero dessas rel aes.
49. Consi deremos a oferta e a procura para um i ndi v duo que
possui duas ou um mai or nmero de mercadori as a sua di sposi o. Se
os consumos dessas mercadori as so i ndependentes, ou se exi ste entre
el as uma dependnci a de pri mei ro gnero, a procura de uma mercadori a
sempre bai xa com a al ta do preo dessa mercadori a; a oferta pri mei ro
aumenta, em segui da pode di mi nui r, enquanto o preo aumenta.
Para as mercadori as entre as quai s exi ste uma dependnci a do
segundo gnero, quando o preo sobe, a procura pode aumentar e em
segui da di mi nui r; a oferta pode di mi nui r, depoi s aumentar.
A di ferena exi ste na real i dade, especi al mente na procura. El a
mai s marcante em certas ci rcunstncias. Suponhamos um indi v duo que
di spe de certa renda que reparte na compra de di versas mercadori as.
Se os consumos dessas mercadori as so i ndependentes, ou se
exi ste entre el as uma dependnci a do pri mei ro gnero, a procura de
cada uma dessas mercadori as aumenta sempre quando a renda au-
menta. Se, ao contrri o, trata-se de uma dependnci a do segundo g-
nero, a procura pode aumentar e, em segui da, di mi nui r quando a renda
aumenta.
50. Essa proporo sufi ci ente para nos mostrar a necessi dade de
estudar a dependncia do segundo gnero. Com efei to, vejamos que cor-
respondnci a exi ste entre as duas dedues teri cas e os fatos concretos.
Se supomos que a ofel i mi dade de uma mercadori a depende apenas da
quanti dade dessa mercadori a que o i ndi v duo consome ou que tem sua
di sposi o, a concl uso teri ca que, para essas mercadori as, o consumo
aumenta quando a renda aumenta; ou, no limite, que constante acima
de certa renda. Conseqentemente, se um campons se al i menta apenas
de pol enta, e, se el e se torna ri co, comer mai s pol enta, ou, pel o menos
tanto quanto comi a quando era pobre. Aquel e que possui apenas um par
de tamancos por ano, porque so mui to caros, poder usar, quando se
tornar ri co, uma centena de pares, porm, de toda maneira usar pel o
menos um par. Tudo isso est cl aramente em contradi o com os fatos:
nossa hiptese deve, portanto, ser rejei tada, a menos que se possa admi ti r
que esses fatos so i nsi gni fi cantes.
PARETO
215
51. Por m, esse no o caso. Al m di sso, como j vi mos (
19), estamos di ante de um fenmeno mui to ger al , por que, par a um
gr ande nmer o de mer cador i as, exi ste cer to nmer o de qual i dades
de cada mer cador i a; e, medi da que a r enda aumenta, as qual i dades
super i or es ocupam o l ugar das qual i dades i nfer i or es, e, em conse-
qnci a, a pr ocur a destas l ti mas pr i mei r o aumenta com o aumento
da r enda, mas em segui da di mi nui at tornar -se i nsi gni fi cante ou
at mesmo nul a.
52. Essa concl uso j no seri a verdadei ra se, em vez de consi -
derar novas mercadori as reai s, ti vssemos l evado em consi derao
grandes categori as de mercadori as i deai s ( 21); por exempl o, se con-
si derssemos a al i mentao, a habi tao, o vesturi o, os objetos de
decorao, os di verti mentos. Nesse caso no absurdo di zer que, com
o aumento da renda, aumenta a despesa para cada categori a de mer-
cadori as, e poder amos, sem erro grossei ro, supor que as ofel i mi dades
so i ndependentes, ou mel hor, que exi ste entre as ofel i mi dades uma
dependnci a do pri mei ro gnero.
53. Na r eal i dade, um i ndi v duo pr ocur a em ger al uma gr ande
var i edade de mer cador i as e ofer ece apenas uma ou al gumas. Um
gr ande nmer o ofer ece si mpl esmente o tr abal ho; outr os, o uso da
poupana; outr os, cer tas mer cador i as que pr oduzem. O caso da si m-
pl es tr oca de duas mer cador i as entr e aquel es que tm uma depen-
dnci a do segundo gner o absol utamente excepci onal ; um ser vente
vende seu tr abal ho e compr a fub e po, mas ns no constatamos
a tr oca do po pel o fub. As dedues da teor i a no poder i am, por -
tanto, ser ver i fi cadas di r etamente nesse caso, e ser i a pr eci so haver
um outr o pr ocedi mento de ver i fi cao, que pode ser fei to consi de-
r ando a r epar ti o da r enda.
54. Variao das formas das linhas de indiferena e das linhas
dos trocas ti l representar por grfi cos as propri edades da ofel i -
mi dade. Suponhamos que um i ndi v duo tenha duas mercadori as, A e
B, em que apenas uma, A, ofl i ma para el e. Nesse caso, as l i nhas
de i ndi ferena so retas paral el as ao ei xo oB. A col i na da ofel i mi dade
uma superf ci e ci l ndri ca onde uma seo qual quer, fei ta paral el a-
mente a oA, i ndi cada por bgh. Se a quanti dade oA de A sufi ci ente
para saci -l o a superf ci e ci l ndri ca termi na num anti pl ano represen-
tado por bgh, sobre a seo. A propri edade que a ofel i mi dade el ementar
possui de descrever quando quanti dade de A aumenta faz com que a
encosta da col i na di mi nua de oB para g, i sto , sobre a seo, de b
para f e para g ( 32).
OS ECONOMISTAS
216
O i ndi v duo jamai s procura B, poi s, para el e, essa mercadori a
no ofl i ma, mas pode oferec-l a, se ti ver certa quanti dade del a, por
exempl o ob. Estamos di ante do caso i ndi cado (I I I , 98). No exi ste atal ho
reti l neo que, parti ndo de b possa ser tangente a uma l i nha de i ndi -
ferena, e temos outro tanto de pontos termi nai s a, a, a...; o ei xo oA
faz, portanto, parte da l i nha dos negci os. evi dente que at bo faz
parte. Se a l i nha dos negci os de um outro i ndi v duo corta bo em c,
a quanti dade de B cedi da bc, e o preo zero. Se essa curva de negci os
corta oA em a, ou em outro ponto anl ogo, a quanti dade cedi da
sempre toda a quanti dade bo; o preo vari a segundo a posi o dos
pontos a, sendo i gual i ncl i nao da reta ba sobre oB. No caso da
Fi g. 40, di zemos oferece-se toda a quantidade existente de B.
55. Se A e B so doi s bens compl ementares, dos quai s somente
se pode usufrui r combi nando-os em propores ri gorosamente defi ni das,
as l i nhas de i ndi ferena so retas c, c , que se cortam em ngul o
reto. A col i na da ofel i mi dade formada por duas superf ci es ci l ndri cas
e pode exi sti r e g um anti pl ano que marca a saci edade. O prazer que
os i ndi v duos sentem em c o mesmo que aquel e que sentem em d
Fi gura 30
PARETO
217
ou em e, porque devendo os bens se combi nar em propores ri goro-
samente defi ni das, as quanti dades cd de A, ou ce de B, so suprfl uas.
56. Quando a col i na da ofel i mi dade tem uma superf ci e cont nua,
uma seo fei ta segundo u (Fi g. 32) apresenta uma forma anl oga a
(I ). Na real i dade, para mui tos bens compl ementares, temos, ao con-
trri o, uma escada, como em (I I ). Por exempl o, o cabo de uma faca
tem por compl emento uma l mi na e no poss vel se uti l i zar de um
cabo e de um dci mo de l mi na. Em conseqnci a, teremos outro tanto
de degraus de uma l argura exatamente i gual uni dade. Como mui tas
Fi gura 31
Fi gura 32
OS ECONOMISTAS
218
vezes repeti mos, podemos, para grandes nmeros, substi tui r, com erro
pequeno, essa escada pel a superf ci e cont nua onde a superf ci e se as-
semel har seo (I ) e ser l i mi tada por uma curva cont nua (I I I , 65).
57. Se os bens so apenas aproxi mati vamente compl ementares,
os ngul os a, a... so mai s ou menos arredondados. Consi deraremos
um i ndi v duo que s possui po A e gua B, ou, se qui sermos, um
al i mento e uma bebi da. Sem po, el e morre de fome, qual quer que
seja a quanti dade de gua de que di sponha, e, em conseqnci a, ao
l ongo de oB a ofel i mi dade total i gual a zero e a ofel i mi dade el ementar
de uma pequena poro i nfi ni ta, i sto , a col i na sobe em perpendi cul ar.
Sem gua el e morre de sede, qual quer que seja a quanti dade de
po de que di sponha, e, em conseqnci a, sobre oA a ofel i mi dade total
ou o prazer senti do i gual mente zero, e a ofel i mi dade el ementar ai nda
i nfi ni ta. Seja oa a menor quanti dade de po do qual tem necessi dade
para no morrer de fome, e ob a menor quanti dade de gua de que
tem necessi dade para no morrer de sede. Fi ca cl aro que el e no pas-
sari a sem uma pequena quanti dade de po ai nda que fosse para ter
mui ta gua ou vi ce-versa. Em conseqnci a, as l i nhas de i ndi ferena
sero c, c com um ngul o mui to fracamente arredondado em c. Para
mai ores quanti dades de po e de gua, o ngul o poder ser mai s ar-
redondado, mas el e quase no o ser ou o ser mai s em c
1
, quando o
i ndi v duo ter a quanti dade oa
1
, de po e ob
1
de gua que o saci am
compl etamente. Mai s al m se estende o pl at G.
58. O l ei tor no deve jamai s se esquecer de que a Economi a
Fi gura 33
PARETO
219
Pol ti ca, como toda outra ci nci a concreta, procede apenas por aproxi -
mao. A teori a estuda, por razes de si mpl i ci dade, casos extremos,
mas os casos concretos si mpl esmente aproxi mam-se daquel es. Assi m,
para saber quantos metros cbi cos de al venari a deve pagar ao emprei -
tei ro, o arqui teto consi dera o muro como um paral el ep pedo retangul ar.
Seri a verdadei ramente ri d cul o observar-l he que o muro no um pa-
ral el ep pedo geomtri co perfei to e fal ar-l he, parvamente, do ri gor das
matemti cas. o que acontece freqentemente em Economi a Pol ti ca.
59. Obtm-se a l i nha das trocas juntando os pontos c, c..., da
Fi g. 31, ou os pontos c, c, c
1
... da Fi g. 33, na qual os atal hos reti l neos
parti ndo de um ponto anl ogo ao ponto a da Fi g. 28 so tangentes s
pequenas curvas que substi tuem os ngul os, ou ento os pontos an-
l ogos que se obteri am se os atal hos parti ssem de um ponto si tuado
sobre o ei xo oB.
60. Suponhamos que as ofel i mi dades el ementares de A ou de B
sejam i ndependentes, i sto , que a ofel i mi dade el ementar de A depende
apenas da quanti dade de A, e a ofel i mi dade el ementar de B uni camente
da quanti dade de B. Essa propri edade se traduz grafi camente da se-
gui nte manei ra. Tracemos uma reta qual quer uv paral el a a oB, e fa-
amos l i nhas bh, bh..., paral el as oA. A col i na da ofel i mi dade ser
seci onada por outras tantas curvas bc, bc...; a i ncl i nao sobre as
l i nhas hori zontai s bh, bh... das tangentes bt, bt... a essas curvas, aos
pontos b, b... i gual ofel i mi dade el ementar de A correspondente
quanti dade ou de A ( 32). Vi sto que essa quanti dade el ementar no
vari a com a quanti dade de B, as i ncl i naes das tangentes bt, bt ...
so todas i guai s. Ter amos propri edades anl ogas para uma reta pa-
ral el a a oA.
Fi gura 34
OS ECONOMISTAS
220
61. Da resul ta que as l i nhas da Fi g. 31 no podem representar
as l i nhas de i ndi ferena de duas mercadori as cujas ofel i mi dades so
i ndependentes, poi s as i ncl i naes de que acabamos de fal ar so, na
verdade, constantes de em c, mas di mi nuem em segui da de um gol pe,
ou rapi damente, em c e tornam-se i guai s a zero de c para a. Encon-
tramos assi m a confi rmao da necessi dade que exi ste de consi derar
como dependentes os consumos de certas mercadori as.
62. Para ter uma i di a das curvas de i ndi ferena quando se trata
de dependnci as do segundo gnero, consi deremos duas mercadori as
A e B, de tal manei ra que A seja i nferi or a B ( 19) e que el as possam
ser substi tu das uma pel a outra. Seri a o caso, por exempl o, do po e
da pol enta. Um i ndi v duo pode se saci ar comendo apenas pol enta ou
apenas po, ou comer de um e de outro desses al i mentos; el e prefere,
pel o menos em certa proporo o po pol enta.
Suponhamos, para si mpl i fi car, que 3 de A possam substi tui r 2 de
B; o raci oc ni o, al is, seri a o mesmo, qual quer que seja a l ei de substi tuio.
Faamos om i gual a 3 e on i gual a 2, e tracemos a l i nha mn. Nessa linha
a necessi dade materi al do i ndi v duo est sati sfei ta. Por exempl o, el e se
saci a em m com 3 de pol enta; em n, com 2 de po em a, com ba de po
e ob de pol enta, porm sua sati sfao no i gual . Quando el e se encontra
em a, toda nova quanti dade de A suprfl ua, em conseqncia oa, paral el a
a om, uma linha de indi ferena. Essa l i nha se di ri ge em segui da segundo
a. Em n o i ndi v duo teri a de B at fartar-se, em ter um pouco menos
essa di ferena de prazer entre o uso de on e o de o a mesma que a
que sente o i ndi v duo quando pode uti l i zar apenas B e quando deve se
contentar com ab de B e ob de A.
Fi gura 35
PARETO
221
Se o i ndi v duo possui oh de B, que troca por A, ao preo de A
em B dado pel a i ncl i nao de hc sobre oA, el e procura ok de A; e, a
um menor preo, consi derando a i ncl i nao de hc, el e procura uma
quanti dade mai or, i sto , ok.
63. No caso extremo de duas mercadori as A, B, onde uma pode
substi tui r a outra, sempre na mesma proporo, por exempl o se 4 de
A equi val em sempre a 3 de B, as l i nhas de i ndi ferena so retas cuja
i ncl i nao tal que oa est para ob assi m como 3 est para 4. Parti ndo
de a, a l i nha dos contratos essa mesma l i nha reta ab.
64. Se possu mos certo nmero de mercadori as A, B, C..., podemos
supor, por um momento, que os preos de B, C..., sejam fi xados, e
reparti r entre essas mercadori as certa soma de moeda. Essa soma de
moeda torna-se, nesse caso, uma mercadori a que podemos comparar
a A e podemos, assi m, estender o uso das fi guras grfi cas a um grande
nmero de mercadori as.
65. As curvas de i ndi ferena entre essa soma de moeda e a mer-
cadori a A tero, freqentemente, uma forma anl oga de Fi g. 37.
Sobre oQ l evam-se as quanti dades de moeda; sobre oA, as quanti dades
da mercadori a A. Dos pontos q, q, q", traam-se as tangentes qm,
qm, q"m" s curvas de i ndi ferena. Essas so de tal manei ra que as
i ncl i naes dessas tangentes sobre oA vo aumentando quando nos
afastamos de o em di reo a Q.
A i ncl i nao de qm sobre oA nos d o preo da mercadori a A.
Fi gura 36
OS ECONOMISTAS
222
Observemos que para aquel e que se encontra em q, o equi l bri o no
poss vel com uma reta mai s i ncl i nada do que qm sobre oA, i sto ,
com um preo mai s el evado. Se portanto o preo m ni mo de A dado
pel a i ncl i nao de qm sobre oA, quem possui oq de recursos pode apenas
comear a comprar de A; quem ti vesse apenas oq de recursos nada
poderi a comprar, porque a tangente qm menos i ncl i nada sobre oA
do que qm. Quem se encontra em q pode, ao contrri o, comprar certa
quanti dade da mercadori a A, porque q"m" mai s i ncl i nado que qm
sobre oA. Em conseqnci a, quando uma mercadori a tem um preo
m ni mo abai xo do qual no se pode adqui ri -l a, somente quem ti ver
uma renda que ul trapassa certo l i mi te que poder compr-l a. E
justamente assi m, como o sabemos, que as coi sas se passam.
66. Assi m, e consi derando a hi erarqui a das mercadori as, temos
uma representao aproxi mada do fenmeno concreto. Suponhamos
que temos di ferentes sri es A, B..., dessas mercadori as que substi tuem
umas s outras.
Fi gura 37
PARETO
223
Quando o i ndi v duo tem certa renda, uti l i za as mercadori as fe-
chadas no retngul o i ndi cado pel as l i nhas chei as; se sua renda au-
menta, usa as mercadori as fechadas no retngul o i ndi cado pel as l i nhas
ponti l hadas; com o aumento de sua renda, el e menospreza certas mer-
cadori as de menor preo e de qual i dade i nferi or e uti l i za mercadori as
mai s caras e mel hores.
67. As curvas de i ndi ferena que tm formas como as das Fi g.
38 no correspondem mai ori a das mercadori as correntes, porque,
segundo essas curvas, at mesmo o i ndi v duo que ti vesse uma renda
mui to bai xa comprari a mercadori as de um preo mui to el evado, em
pequena quanti dade, sem dvi da.
No entanto, se qui sssemos consi derar as curvas de i ndi ferena
sobre um pequeno espao G, poder amos adotar esta, ou outra, segundo
as conveni nci as. As curvas reai s so certamente mui to compl i cadas,
sufi ci ente que as curvas teri cas se harmoni zem, aproxi madamente,
com as curvas reai s pel a pequena parte que quei ramos consi derar.
Al m di sso, pode acontecer que as curvas que se aproxi mam mai s do
que as outras das curvas reai s para esse pequeno espao di vi rjam, em
segui da, consi deravel mente, e vi ce-versa.
68. O caso em que possu mos mui tas mercadori as mui to com-
pl exo; ti l , portanto, ter di sposi o vri os mei os para si mpl i fi c-l o.
Para se passar de certa combi nao de mercadori as A, B, C..., a outra
A, B, C..., podemos di vi di r a operao em duas: 1) conservam-se i n-
tactas as propores da combi nao e aumentam-se (ou di mi nuem-se)
proporci onal mente todas as quanti dades; 2) mudam-se as propores,
chegando assi m, defi ni ti vamente, combi nao A, B... Com efei to,
suponhamos, por exempl o, um i ndi v duo que tem 1 200 francos de
renda anual ; essa renda aumenta e torna-se 2 400. A reparti o ser
a segui nte:
Fi gura 38
OS ECONOMISTAS
224
preci so observar que a pri mei ra operao mui to mai s i mpor-
tante, do que a segunda, sobretudo pel os aumentos de renda no mui to
grandes. Quando a renda aumenta, as despesas com os grandes i tens,
com a al i mentao, a moradi a, o vesturi o, mudam, verdade, de
proporo, porm este um fenmeno secundri o di ante do fenmeno
pri nci pal que o aumento de todas essas despesas.
69. A colina da ofelimidade Como resul tado da propri edade
da ofel i mi dade el ementar de uma mercadori a de descrever quando au-
menta a quanti dade dessa mercadori a da qual o i ndi v duo di spe, a
col i na da ofel i mi dade apresenta uma encosta mai s ngreme na base,
mai s fraca medi da que aumenta a al tura ( 32).
70. Uma propri edade de grande i mportnci a para a teori a a
que se segue. Quando, percorrendo em certa di reo um atal ho reti l neo,
se comea a descer, desce-se sempre em segui da percorrendo-o no mes-
mo senti do. Ao contrri o, se se comea a subi r, pode ocorrer que se
desa em segui da.
Daremos aqui mesmo um esboo i ntui ti vo.
Fi gura 39
PARETO
225
Para os atal hos do gnero ab, evi dente que se sobe sempre no
senti do da seta e se desce no outro senti do.
Para os atal hos como mc, se sobe no senti do da seta at c e
depoi s se desce. De c para m, i ndo em senti do contrri o ao da seta,
desce-se sempre. Para poder subi r seri a preci so que, qual quer ponto
como c em vez de passar de ci ma para bai xo da l i nha de i ndi ferena,
como em c, passasse de ci ma para bai xo. Mas, se i sso ocorrer a curva
que passa em c", devendo sempre ter essa tangente que faz um ngul o
agudo a, como o i ndi ca a Fi g. 29, no pode i r de c" para e, mas deve,
necessari amente, i nfl ecti r para i r em di reo a f. Ora, essa concavi dade
em h contrri a propri edade das l i nhas de i ndi ferena que i ndi camos
no 45; portanto, nossa hi ptese no pode ser conservada.
OS ECONOMISTAS
226
CAPTULO V
Os Obstculos
1. O estudo da manei r a de tr i unfar sobr e os obstcul os, i sto
, o estudo da pr oduo, mai s l ongo que o estudo do modo de ao
dos gostos, em conseqnci a da compl exi dade da pr oduo nos povos
ci vi l i zados.
2. A diviso do trabalho e a empresa Em todos esses povos
encontramos um fenmeno conheci do sob o nome cl ssi co de DI VI SO
DO TRABALHO. Consi ste essenci al mente em que a produo necessi ta
a reuni o e o emprego de um grande nmero de el ementos. Como
observou bastante bem Ferrara, se consi deramos cada um desses el e-
mentos e o papel que desempenha na produo, estamos di ante da
diviso do trabalho; se consi deramos esses el ementos em seu conjunto
e se encaramos o objeti vo em funo do qual so reuni dos, estamos
di ante da cooperao.
133
O mesmo fenmeno apresenta doi s nomes di -
ferentes, segundo o ponto de vi sta do qual nos col ocamos.
3. Quando se d a di vi so do trabal ho seu si gni fi cado mai s es-
trei to, eti mol ogi camente o mel hor, a da reparti o do trabal ho entre
vri os i ndi v duos, constata-se que, por um l ado, el a tem por efei to
separar as funes e, por outro, fazer com que os i ndi v duos dependam
reci procamente uns dos outros. Com o desenvol vi mento da di vi so do
trabal ho, h aumento do nmero de partes cujo conjunto consti tui a
produo. Como essas partes dependem umas das outras, h extenso
da cooperao dos i ndi v duos.
227
133 Ferrara emprega a pal avra associao. No prefci o i nti tul ado: A Agri cul tura e a Di vi so
do Trabal ho, XI V, aps haver l embrado o fato de que vri os i ndi v duos, em vez de apenas
um, concorrem para a obra de produo, el e acrescenta: Quando encaramos esse fato, esse
concurso, de ponto de vi sta do objeti vo e do resul tado comuns, vemos que exi ste associao;
quando o encaramos do ponto de vi sta dos i ndi v duos, vemos que exi ste diviso.
4. A empresa a organi zao que rene os el ementos da produo
e que os di spe de manei ra a real i z-l a. uma abstrao, como o
homo oeconomicus, e tem, com as empresas reai s, a mesma rel ao do
homo oeconomicus com o homem verdadei ro, o homem concreto. A con-
si derao da empresa apenas um mei o para se estudar separadamente
as di ferentes funes preenchi das pel o produtor. A empresa pode re-
vesti r-se de di ferentes formas: pode ser confi ada a parti cul ares, ou ser
exerci da pel o Estado, prefei turas etc.; i sso, porm, no muda nada em
sua natureza.
5. Podemos fazer uma representao materi al da empresa, con-
si derando um reci pi ente em que vm dar i nmeros canai s, que repre-
sentam os el ementos da produo e do qual sai uma corrente ni ca
que si gni fi ca o produto.
6. Esses el ementos da produo provm, em parte, dos i ndi v duos,
como, por exempl o, o trabal ho e certos produtos; em parte tambm de
outras empresas, como, por exempl o, certos produtos que devem servi r
obteno de outros produtos.
A ci rcul ao econmi ca pode ser grossei ramente representada da
segui nte manei ra. A, A, A"..., so as empresas; m, m, m"..., n, n, n"...,
so os i ndi v duos. Uma parte desses i ndi v duos, por exempl o m, m,
m, n, n, n, fornece certas coi sas empresa A (por exempl o, trabal ho,
Fi gura 40
OS ECONOMISTAS
228
poupana etc.); e podemos i magi nar certo nmero de canai s que, par-
ti ndo desses i ndi v duos, vo se l anar em A, onde chegam i gual mente
os produtos de outras empresas. Pode ocorrer que os produtos de A
no sejam di retamente prpri os ao consumo; nesse caso, sai de A uma
corrente de produtos que se repartem por outras empresas A, A". Os
i ndi v duos m, m.... n, n..., recebem os produtos que consomem, seja
da empresas A, A", seja excl usi vamente de outras empresas A"... Essas
ci rcul aes se entrecruzam de uma manei ra quase i nconceb vel , to
grande sua vari edade. Comumente um operri o fornece seu trabal ho
a apenas uma empresa e recebe produtos de um nmero mui to grande
de outras empresas, que podem no ter nenhuma espci e de rel ao
com a pri mei ra. preci so encontrar o fi o dessa meada to enrol ada
e tentar restabel ecer o fenmeno em seus el ementos.
7. Para faz-l o, consi deremos separadamente uma empresa; ve-
remos o que el a recebe e o que el a d; aval i aremos as recei tas e as
despesas e estudaremos a manei ra como el a regul a a produo.
8. O fim a que a empresa se prope preci so fazer uma di sti no
semel hante quel a que fi zemos para o i ndi v duo (I I I , 40). Temos doi s
ti pos de fenmenos: (I ) A empresa acei ta os preos do mercado, sem
tentar modi fi c-l os di retamente, se bem que contri bua, sem o saber e
sem o querer, para modi fi c-l os i ndi retamente. El a no possui outro
gui a a no ser o fi m que pretende ati ngi r. Para os i ndi v duos, era a
sati sfao de seus prpri os gostos; fal aremos mai s adi ante do fi m a
que a empresa se prope. (I I ) A empresa pode, ao contrri o, ter como
objeti vo modi fi car i ntei ramente os preos do mercado, para da ti rar
em segui da certo l ucro ou com qual quer outra fi nal i dade.
9. O que di ssemos para os ti pos (I ) e (I I ) com rel ao ao i ndi v duo
apl i ca-se i gual mente empresa, e poderemos repeti -l o. Para a empresa,
como para o i ndi v duo, o ti po (I ) o da l i vre concorrnci a, o ti po (I I )
o do monopl i o.
Pode-se conceber para a empresa um grande nmero de fi ns; mas
preci so, evi dentemente, ater-nos quel es que a real i dade nos fornece.
10. Muito freqentemente as empresas buscam proporcionar-se a
mai or vantagem, e essa vantagem quase sempre, poder amos di zer sem-
pre, medi da em dinheiro. Os demai s casos podem ser consi derados excees.
Para obter o mai or l ucro em di nhei ro, serve-se de mei os di retos
e mei os i ndi retos. Di retamente, cada empresa esfora-se por pagar o
mai s barato poss vel o que el e adqui re, e cobrar o mai s caro poss vel
o que vende. Al m di sso, quando exi stem vri os mei os para obter uma
mercadori a, el a escol he aquel e que l he custe menos. I sso verdadei ro
tanto para o ti po (I ) como o ti po (I I ); a di ferena entre esses doi s ti pos
PARETO
229
consi ste uni camente no fato de que no ti po (I ) a empresa acei ta as
condi es do mercado tai s quai s so, enquanto no ti po (I I ) el a se prope
modi fi c-l as.
I ndi retamente, a empresa, quando tem poder para tanto, i sto ,
quando se encontra no ti po (I I ), procura l evar s condi es do mercado
e da produo todas as modi fi caes que podem, ou que esta empresa
acredi ta poder, proporci onar-l he al gum l ucro pecuni ri o. Quando fal a-
mos da troca (I I I , 47), i ndi camos al guns dos mei os dos quai s se serve;
veremos outros agora.
11. Observemos que o fi m que a empresa persegue pode no ser
ati ngi do, e i sso de di ferentes manei ras. Pri mei ro, el a pode enganar-se
compl etamente; e, na esperana de consegui r um l ucro pecuni ri o, em-
pregar mei os que, ao contrri o, l he causem preju zo. Pode acontecer
tambm que esse l ucro em di nhei ro corresponda a uma perda em ofe-
l i mi dade para as pessoas que del e usufruem. Enfi m, e trata-se de um
caso menos aparente e mai s suti l , o prpri o fi m pode modi fi car-se pel o
efei to dos mei os que se pretendem uti l i zar para ati ngi -l o, e a empresa
pode percorrer uma destas curvas que chamamos curvas de perseguio.
Por exempl o, a empresa, estando em a, quer chegar a m, segui ndo o
cami nho am, porm, agi ndo assi m, el a desl oca m, e quando est em
b, m est em m. Novamente a empresa tende em di reo a m, e segue
por i sso o cami nho bm; mas, uma vez chegada em c, o objeti vo
desl ocado e encontra-se em m"; el a segui r ento o cami nho cm", e
assi m por di ante. Dessa manei ra, tendo parti do de a para chegar a
m, el a vai fi nal mente para M, que representa um fi m que el a no
persegui a no comeo. Veremos mai s adi ante como as coi sas se passam
num caso mui to i mportante, que o da l i vre concorrnci a ( 74).
12. Da mesma manei ra que para a troca (I I I , 49), preci so, para
a produo, que destaquemos do ti po (I I ) um ti po de fenmenos que
Fi gura 41
OS ECONOMISTAS
230
so caracteri zados pel o fato de a empresa ter por objeti vo proporci onar
o mxi mo de bem-estar a todos aquel es que parti ci pam do fenmeno
econmi co; temos assi m o mesmo ti po (I I I ), do qual j fal amos a pro-
psi to da troca.
13. Os diversos meios da empresa Pri mei ro, quando a empresa
vai ao mercado para comprar ou para vender, pode segui r di ferentes ca-
mi nhos que estudamos a propsi to da troca (I I I , 97, 98): el a tem tambm,
comumente, di versas vi as para obter a mercadori a que quer produzi r.
Certos el ementos da produo so fi xos; outros, porm, so vari vei s.
Para obter fari nha de tri go, preci so, evi dentemente, tri go, porm pode-se
moer o tri go num moi nho posto em movi mento pel a mo do homem ou
por um ani mal , pel o vento, pel a gua, pel o vapor. Pode-se uti l i zar m de
pedra ou de ci l i ndros de ferro endureci do. Pode-se uti l i zar mei os mai s ou
menos perfei tos para separar o farel o da fari nha etc.
14. Al m di sso, as prpri as quanti dades desses el ementos so
vari vei s em certos l i mi tes, mai s ou menos estrei tos. Nessa matri a,
o exempl o cl ssi co da cul tura extensi va ou i ntensi va do sol o. Pode-se
obter a mesma quanti dade de tri go com uma grande ou uma pequena
superf ci e de sol o cul ti vado, fazendo vari ar os outros el ementos da cul -
tura. Mas esse mesmo fenmeno se veri fi ca em todas as outras pro-
dues. Certos el ementos vari am mui to pouco; por exempl o, pode-se
obter de uma mesma quanti dade de tri go um pouco mai s ou um pouco
menos de fari nha. Outros el ementos vari am consi deravel mente; exi ste
uma di ferena enorme entre um moi nho movi do por mul a e um desses
grandes moi nhos a vapor usados atual mente para transformar o tri go
em fari nha; exi ste tambm uma di ferena enorme entre a tri pul ao
das anti gas gal eras a remo e a tri pul ao de um transatl nti co, e, em
conseqnci a, uma tambm grande di ferena entre as rel aes, para
esses doi s modos de transporte, da mo-de-obra e do val or do navi o.
Poder amos mul ti pl i car vontade esses exempl os.
preci so que a empresa faa sua escol ha entre esses di versos
mei os, e i sso tanto no caso do ti po (I ) como no caso do ti po (I I ).
15. Encontramos aqui um dos mai s graves erros da Economi a
Pol ti ca. Sups-se que essa escol ha i mposta pel o estado tcni co da
produo, i sto , determi nada excl usi vamente pel o estado do progresso
tcni co. I sso no exato. O progresso tcni co apenas um dos el ementos
da escol ha. Natural mente, quando as estradas de ferro no ti nham
si do i nventadas, no se poderi a a el as recorrer para transportar as
mercadori as, mas atual mente el as no substi tu ram todos os demai s
mei os de transporte. Em determi nadas ci rcunstnci as transportam-se
as mercadori as em charretes; em outras, em carros puxados a brao,
em outras por outros mei os. Desde que se i nventou as mqui nas de
PARETO
231
costura, costura-se mqui na, evi dentemente, mas a costura mo
no desapareceu. Para a i l umi nao, uti l i zam-se ao mesmo tempo, ve-
l as, l eo, petrl eo, gs, el etri ci dade.
134
16. Em cada caso, preci so pesqui sar qual o mel hor mei o. Um
emprei tei ro deve transportar cascal ho da pedrei ra para outro l ugar.
Dependendo do caso, ser-l he- conveni ente transport-l o por mei o de
charretes puxadas por caval os, ou ento construi r uma pequena estrada
de ferro. Outro possui madei ra para serrar; dependendo do caso, el e
uti l i zar homens para serr-l a, ou i nstal ar uma serrari a mecani zada.
Nesses casos e em todos os casos anl ogos, a deci so do emprei tei ro
ser determi nada, no somente pel as consi deraes tcni cas, mas tam-
bm por consi deraes econmi cas.
Para poder escol her entre di ferentes mei os preci so conhec-l os.
Escol hamos um que i remos estudar.
17. Os capitais
135
Suponhamos que qui sssemos estabel ecer a
conta de um moi nho movi do por roda hi drul i ca.
Produzem-se fari nha e farel o. Os pri nci pai s el ementos da produ-
o so: o curso de gua a construo do moi nho a roda hi drul i ca
as transmi sses, as mqui nas etc. os i nstrumentos de trabal ho,
os aparel hos de i l umi nao etc. o l eo para as mqui nas, outros
materi ai s para a i l umi nao, l i mpeza e mui tos outros usos o trabal ho
do mol ei ro e de seus ajudantes o di nhei ro que ci rcul a para as des-
pesas o tri go para ser mo do.
18. preci so que col oquemos um pouco de ordem em todos esses
el ementos to vari ados e fazer uma cl assi fi cao que ser, como todas
as cl assi fi caes, em parte arbi trri a.
Na real i dade, a energi a, a fora mecni ca do curso de gua
que transformada na produo; mas, no fenmeno econmi co, esse
el emento da produo se apresenta sob di versas formas, i sto , sob a
forma da ocupao, do uso do curso de gua.
Da mesma manei ra a construo tambm transformada, pouco
OS ECONOMISTAS
232
134 Essa condi o essenci al . Se oti mi da, torna-se fal sa uma proposi o que era verdadei ra.
fal so que os preos do mercado exi stem i ndependentemente da empresa. verdade
que el a efetua suas contas como se el es no exi sti ssem, e que, mesmo sem o querer e
mesmo freqentemente sem o saber, el a os modi fi ca. O fenmeno do gnero dos que so
representados pel as curvas de persegui o, 11.
Systmes. I I , p. 372 et seq. Ver outro erro semel hante, 70.
135 Sobre os di ferentes senti dos que essa pal avra pode ter, ver FI SHER, I rvi ng. What i s
Capi tal ? I n: Economic J ournal. Dezembro de 1896; Senses of Capi tal . I b., junho de 1897;
Procedents for Defi ni ng Capi tal . I n: Quart. J ourn. of Economics. Mai o de 1904. The
Nature of Capital and I ncome; The Rate of I nterest. Estes doi s l ti mos l i vros so de i m-
portnci a capi tal .
Ver tambm nossos Systmes. I , p. 158, 357-362.
a pouco, na produo. Essa construo repousa, necessari amente, sobre
a superf ci e do sol o. Nesse caso, como a superf ci e no consumi da
de nenhuma manei ra, temos a um el emento do qual nos servi mos
sem consumi -l o.
19. Podemos, ento, estender essa concepo, de forma aproxi -
mati va, a outros objetos e fazer duas grandes cl asses dos el ementos
da produo: a pri mei ra compreende as coi sas que no so consumi das,
ou que so consumi das l entamente; a segunda compreende as coi sas
que se consomem rapi damente.
20. Essa cl assi fi cao arbi trri a e pouco ri gorosa, como so
arbi trri as e pouco ri gorosas as pal avras: lentamente, rapidamente;
porm a experi nci a nos mostra que el a mui to ti l em Economi a
Pol ti ca. Da mesma manei ra seri a bastante di f ci l , fal ando de homens,
dei xar de uti l i zar as expresses, jovem, velho, se bem que ni ngum
possa di zer em que momento preci so termi na a juventude e comea a
vel hi ce. A l i nguagem corrente obri gada a substi tui r di ferenas quan-
ti tati vas reai s por di ferenas qual i tati vas arbi trri as.
21. Deu-se um nome s coi sas que no se consomem, ou que se
consomem l entamente, no ato da produo; so chamadas CAPI TAI S.
O ponto preci so onde termi na a cl asse dos capi tai s e onde comeam
as outras cl asses dos el ementos da produo, no mel hor determi nado
do que aquel e onde termi na a juventude e comea a i dade madura.
Al m di sso, uma coi sa pode ser, dependendo do ponto de vi sta,
cl assi fi cada entre os objetos de consumo ou entre os capi tai s. No exem-
pl o precedente consome-se a energi a mecni ca da gua que faz fun-
ci onar o moi nho, de tal manei ra que, desse ponto de vi sta, pode-se
di zer que para produzi r fari nha consome-se energi a, e no oramento
da empresa pode-se col ocar tantos caval os-vapor consumi dos, a tal pre-
o. Porm, pode-se expri mi r essa mesma coi sa de outra manei ra. Para
produzi r fari nha servi mo-nos do curso de gua, que no se consome,
que permanece; e, no oramento da empresa, pode-se regi strar um
tanto de despesas, j no pel o consumo, mas pel o uso da gua. Em
l ti ma anl i se, nada mudou no oramento.
22. Se qui sermos uti l i zar a noo de capi tal , faremos nel e i ncl ui r,
sem di fi cul dade, o curso de gua cuja uti l i zao faz funci onar o moi nho;
e o mesmo se pode fazer com rel ao construo do moi nho. A roda
hi drul i ca pode tambm fazer parte del e. Mas que di remos das ms?
Se consi derarmos que el as se consomem l entamente, as col ocaremos
entre os capi tai s; porm se observarmos que el as se consomem mui to
mai s rapi damente do que a construo ou a roda hi drul i ca, poderemos
cl assi fi c-l as entre os objetos de consumo.
PARETO
233
23. Uma cl assi fi cao to incerta, se del a nos servi rmos sem precau-
es, pode nos conduzi r, faci l mente, a concluses sem senti do, e, efeti va-
mente, os economi stas que se servi ram dessas cl assi fi caes quali tati vas,
sem correo, chegaram, freqentemente, a verdadei ras logomaqui as.
Apesar da uti l i dade de se recorrer l i nguagem corrente, no
hesi tar amos em abandon-l a, se no nos fosse dado corri gi -l a, retor-
nando real i dade quanti tati va.
24. I sso poss vel , e sufi ci ente col ocar no oramento da empresa
certas despesas que servi ro para substi tui r as coi sas que se consi deram
como capi tai s; podemos, em segui da, admi ti r de manei ra ri gorosa, que
del as nos servi mos sem consumi -l as.
Suponhamos que nosso mol ei ro consome preci samente doi s pares
de m por ano. El e comea o ano com um par de ms novas e termi na-o
depoi s de haver consumi do o segundo par de ms. Se el e deseja col ocar
as ms entre os objetos de consumo, el e contabi l i zar entre as despesas:
em 1 de janei ro, a compra do pri mei ro par de ms; em 1 de jul ho, a
compra do segundo par. Se el e deseja consi der-l as como capi tai s, co-
l ocar entre as despesas em 1 de jul ho a despesa com um pri mei ro
par de ms, para rei ntegrar o capi tal ; em 31 de dezembro, a despesa
com o segundo par, para rei ntegrar novamente o capi tal .
As despesas, portanto, so i dnti cas, qual quer que seja a manei ra
com que encaremos as ms; exi ste uma di ferena nas pocas em que
so fei tas, porm di sso fal aremos quando tratarmos das transformaes
no tempo; para o momento, vemos que qual quer que seja a manei ra
com que cl assi fi quemos as ms, o resul tado do oramento o mesmo
e se ver que conti nua o mesmo quando fal armos das transformaes
no tempo ( 47); e como o que i nteressa o resul tado do bal ano,
podemos conservar a cl assi fi cao qual i tati va dos capi tai s e fazer entrar
ou excl ui r, nossa vontade, certos objetos ou certos outros.
Da mesma manei ra, para uma empresa de seguros que tem qua-
dros de mortal i dade preci sos, pouco i mporta que um homem de 30
anos seja cl assi fi cado entre os jovens ou entre os homens maduros; de
toda manei ra, o coefi ci ente de mortal i dade o mesmo para el e.
25. A teoria do equilbrio econmico sem e com a noo de capital
Consi derando que o equi l bri o econmi co resul ta do contraste que exi ste
entre os gostos do homem e as di fi cul dades que el e encontra para adqui ri r
coisas aptas a sati sfaz-l os, pode-se consi derar apenas as coi sas que sero
consumidas di retamente ou das quais se consumir o uso. Para produzi r
essas coi sas, podemos consi derar excl usi vamente os consumos e, nesse
caso, fazemos abstrao da noo de capi tal ; ou ento podemos consi derar
os consumos de certas mercadori as e o uso de certos capi tai s. No fundo,
chegaremos ao mesmo resul tado. Tanto num caso quanto no outro,
necessri o consi derar as transformaes no tempo ( 47).
OS ECONOMISTAS
234
Essas duas manei ras de consi derar o fenmeno encontram-se
mai s ou menos na real i dade. Para ter po e saci ar-se, exi ste como
obstcul o o fato de que preci so ter um forno para assar o po. O
forno aparece aqui como um capi tal ; medi ante certas despesas, el e
durar i ndefi ni damente e sempre produzi r po. Ou ento o obstcul o
consi ste em obter coi sas (ti jol os, cal etc.) que, consumi das e transfor-
madas, formaro o forno. Sob essa forma j no exi ste capi tal ; exi stem
somente consumos que se repartem entre uma quanti dade mai or ou
menor de po produzi do. Ademai s, haver despesas para as transfor-
maes no tempo, de que no nos ocuparemos neste momento.
Nos pa ses ci vi l i zados, o forno e todas as coi sas necessri as para
constru -l o so consi deradas equi val entes a seu preo em numerri o; i sso
si gni fi ca que os capi tai s, assi m como os consumos, podem ser substi tu dos
por seu preo em numerri o. O obstcul o nos aparece aqui sob uma tercei ra
forma, i sto , sob a de que preci so fazer al guma despesa.
26. Em conseqnci a, para se ter po, um dos obstcul os se apre-
senta sob uma das trs formas segui ntes: ter um forno ter um
terreno, a mo-de-obra, os ti jol os, a cal etc., necessri os para construi r
o forno di spor da quanti a que custa o forno ou da quanti a que
custam as coi sas necessri as para constru -l o.
27. Di ssemos que seri a preci so di spor dessa quanti a, e no que seri a
preci so possu -l a materi al mente sob forma de moeda. Com efei to, graas
a certas combinaes em uso nos povos ci vi l i zados, pode-se fazer uma
despesa consi dervel com uma pequena quanti dade de moeda que ci rcula.
s vezes no se tomou o cui dado de fazer essa observao, j
por si mui to evi dente, e cai u-se num erro si ngul ar. Acredi tou-se que
o obstcul o, sob essa tercei ra forma, consi sti a na posse materi al de
toda a soma de moeda i gual ao preo do objeto, i sto , em nosso exempl o,
do forno. Depoi s, retornando noo de capi tal e pri mei ra forma,
concl ui u-se que o capi tal consi sti a excl usi vamente em moeda.
O que exi ste de verdadei ro nessa afi rmao que todo capi tal pode
ser aval i ado em numerri o ou em moeda. Todo consumo pode, i gual mente,
ser aval i ado em numerri o ou em moeda. Quando se di z que um i ndi v duo
fez um jantar de 5 francos, no se di z que el e comeu uma pea de 5
francos; quando se di z que, para produzir po, preci so uma coi sa que
vale 1 000 francos, no se di z que preci so empregar materi al mente 200
escudos, ou 50 l u ses, para produzi r o po. Tanto num caso quanto no
outro, para fazer uma despesa total de 1 000 francos, pode ser sufi ci ente
o emprego materi al de 10 l u ses; e so, ento esses 10 l u ses, i sto ,
2 000 francos, que se podem consi derar como capi tal .
O estudo do equi l bri o econmi co, consi derando-se apenas os con-
sumos, nos fornece a i di a do conjunto do fenmeno, e faz-nos desprezar
as di ferentes partes. I sso pode ser ti l em certos casos, mas em geral
PARETO
235
no podemos desprezar essas partes. certo que os obstcul os que
exi stem para vi ajar por estradas de ferro se rel aci onam, em l ti ma
anl i se, sem fal ar nas transformaes no tempo, de que trataremos
mai s adi ante, mo-de-obra e aos materi ai s necessri os para construi r
a estrada de ferro, ao materi al de transporte e execuo. De tal
manei ra, no h dvi da de que o equi l bri o deve, fi nal mente, resul tar
do contraste que exi ste entre esses obstcul os e os gostos dos homens
para vi ajar. Porm o sal to mui to grande destes para aquel es, e
preci so i nsi sti r um pouco sobre os arcos i ntermedi ri os de uma to
l onga corrente. Ser-nos- preci so consi derar parte pel o menos a cons-
truo e a di reo da empresa. Estudemos, assi m, o fenmeno sob a
pri mei ra forma, e, se o qui sermos, sob a tercei ra.
28. Poder amos fazer observaes anl ogas a respei to das mercado-
ri as que se consomem na produo. No se v por que, antes, ns nos
deti vemos nos ti jol os, na cal etc., necessri os construo do forno, e por
que no nos referi mos argi l a, aos consumos necessri os para construi r
o forno que cozi nha os ti jol os, e assi m por di ante; mas chegar amos assi m
a uma idi a mui to geral do fenmeno e mui to di stanci ada da real i dade.
De fato, exi stem di ferentes empresas; e esta que produz o po, geral mente
no produz ti jol os. Devemos, portanto, consi der-l as parte.
Certos economi stas pretenderam reduzi r, em l ti ma anl i se, a pro-
duo aos sacri f ci os de ofel i mi dade. verdade que, se a produo trans-
forma apenas as mercadori as que possam ser consumidas di retamente
ou aquel as das quai s pel o menos o uso possa ser consumi do, essa reduo
poss vel . Mas el a no tem razes para as coi sas, em grande nmero,
que s so ofl i mas aps terem si do transformadas. Assi m, por exempl o,
uma mi na de cobre no tem outro uso seno aquel e de produzi r cobre.
O custo el evado de produo do ouro no provm do fato de que, expl orando
mi nas de ouro, faz-se o sacri f ci o de renunci ar ao prazer que proporci onari a
o uso di reto dessas mi nas, porque esse prazer no exi ste. Ao se despojar
da poupana, renuncia-se, verdade, ao prazer que se poderi a senti r
contempl ando-a sob a forma de moedas de ouro, mas i sso tem uma rel ao
mui to l ong nqua com a taxa de juros.
Segue-se assi m por um mau cami nho, que no pode conduzi r a
nenhum resul tado sati sfatri o. preci so, ao contrri o, consi derar o
conjunto das coi sas que se tem di sposi o e comparar os resul tados
que se obtero di spondo dessas coi sas de di ferentes manei ras, para a
produo. Esses resul tados podem ser caracteri zados por aval i aes
em numerri o, ou ento pel os di ferentes prazeres e di ferentes sacri f ci os
que el es proporci onam. Exi stem a concordnci as e di scordnci as, acor-
do e antagoni smo que ser preci so estudar.
29. O oramento da empresa ser estabel eci do da segui nte ma-
nei ra: el a recebe de outras empresas certas mercadori as que consome:
OS ECONOMISTAS
236
possui certas coi sas chamadas capi tai s que, graas aos arti f ci os da
contabi l i dade, sero consi deradas como permanecendo sempre i dnti cas
a si mesmas. Em seu oramento esses capi tai s fi guraro nas despesas
necessri as para renov-l os e, al m di sso, como certa soma se paga
por seu uso. No exempl o das ms, essa soma servi r, preci samente,
para cobri r a di ferena que exi ste entre os doi s fenmenos de que
fal amos no 24. Para o pri mei ro, i sto , quando as ms so consi deradas
objetos de consumo, encontramos, no i nventri o em 1 de janei ro e em
1 de jul ho, as despesas para comprar um par de ms; no segundo,
i sto , quando se consi deram as ms como capi tai s, essas despesas
aparecem em 1 de jul ho e em 31 de dezembro.
Retornaremos a tudo i sso quando estudarmos as transformaes
no tempo; agora necessri o estudar um pouco mai s de perto as des-
pesas fei tas para substi tui r os objetos consi derados capi tai s.
30. Amortizao e seguro As coi sas podem deperecer l enta-
mente, porque so usadas ou ento podem ser destru das, compl eta-
mente ou em parte, por um caso fortui to.
Os concertos e a amorti zao permi tem reconsti tui r o capi tal , no
pri mei ro caso; o seguro, no segundo.
Os consertos mantm uma mqui na em bom estado, enquanto
el a envel hece, e chega o di a em que mai s conveni ente comprar outra
do que conti nuar a gastar para mant-l a em estado de uso. Um navi o
pode ser conservado em bom estado por consertos, mas no i ndefi ni -
damente. A amorti zao deve prover ao depereci mento materi al , mas
tambm ao que poder amos chamar, depereci mento econmi co. Com
efei to, chega o di a, em que a mqui na, o navi o etc., podem estar ai nda
em bom estado, mas esto envel heci dos, e preci so ento substi tu -l os
por outra mqui na, por um outro navi o etc., de ti po mai s moderno e
aperfei oado. No oramento, as despesas de conserto fi guram, geral -
mente, no l ugar das despesas para expl orao; a amorti zao serve
para reconsti tui r o capi tal .
D-se o nome de prmi o de seguro quanti a que preci so eco-
nomi zar cada ano e acumul ar a fi m de fazer face aos casos fortui tos.
Uma empresa pode assegurar, el a prpri a, os objetos que possui e que
esto sujei tos aos casos fortui tos. o que ocorre, de fato, em certas
grandes companhi as de navegao que asseguram, el as mesmas, seus
prpri os navi os. Nesse caso o seguro fi gura no bal ano como amorti -
zao, e uma quanti a que consti tui um fundo especi al admi ni strado
pel a soci edade. O mai s freqente o caso de uma outra empresa ocu-
par-se do seguro, empresa esta que se ocupa excl usi vamente desses
ti pos de operaes. Nesse caso, a empresa que tem objetos a segurar
paga um prmio de seguro a uma dessas soci edades, que l he resti tui
o preo do objeto, se este vi er a perecer em sua total i dade ou em parte
em razo de um desses casos fortui tos enumerados no contrato. Exi ste,
PARETO
237
por outro l ado, uma i nfi ni dade de contratos poss vei s; mas o fundo
sempre o mesmo, tratando-se sempre de reconsti tui r o capi tal .
31. As soci edades i ndustri ai s tm, comumente, um tercei ro fundo
especi al , chamado fundo de reserva, que serve para fi ns vari ados, onde
o mai s i mportante sempre o de assegurar o capi tal soci al e recons-
ti tu -l o quando necessri o. Na real i dade, o caso fortui to no se mani -
festa apenas pel a perda de objetos materi ai s. Uma guerra, uma epi -
demi a, uma cri se comerci al , mudando as condi es nas quai s uma i n-
dstri a trabal ha, podem ocasi onar-l he perdas momentneas e transi -
tri as. Uma parte do capi tal da soci edade perdi do e reconsti tu do
por mei o do fundo de reserva.
Pretendemos, por essas breves i ndi caes, si mpl esmente mostrar
por mei o de que procedi mentos se consegue reconsti tui r o capi tal , e
no ti vemos, de manei ra al guma, a i ntenso de esgotar a matri a.
sufi ci ente sabermos que, de uma ou de outra manei ra, preci so prover
reconsti tui o do capi tal e l evar em consi derao suas vari aes.
32. Uma casa se acha si tuada numa ci dade que se despovoa e
na qual as construes vem seus preos bai xarem. Ser preci so l evar
em conta esse fato na amorti zao. Uma outra casa si tua-se numa
ci dade que prospera e na qual as construes aumentam de val or.
Estamos ento di ante de um fenmeno i nverso do precedente e, para
no mul ti pl i car as denomi naes, consi deraremos como amorti zao
negati va a quanti a de que se necessi ta para manter o capi tal sempre
no seu mesmo val or. Da mesma manei ra pode exi sti r um prmi o de
seguro negati vo, quando o caso fortui to vantajoso e no prejudi ci al
ao possui dor do objeto.
Os t tul os de bol sa fornecem-nos um bom exempl o desses fen-
menos. Suponhamos que um i ndi v duo compre, ao preo de 120 francos,
t tul os de val or nomi nal de 100 francos e que sero reembol sados dentro
de dez anos pel a soci edade pel o pagamento de 100 francos ao portador
do t tul o. O possui dor desse t tul o tem em mos um objeto que, custando
hoje 120 francos, custar apenas 100 francos dentro de dez anos. Se
se consi deram esses t tul os como capi tal , preci so recorrer amorti -
zao para cobri r a di ferena.
Se esses t tul os custassem hoje 80 francos em vez de 120, haveri a
ai nda uma di ferena com rel ao a seu preo daqui a dez anos, mas
essa di ferena seri a vantajosa ao possui dor atual , o que seri a l evado
em conta por uma morti zao negati va.
Se, em vez de serem todos reembol sados depoi s de dez anos, os
t tul os de que fal amos so reembol sados por sortei os anuai s, aquel e
que possui um t tul o comprado por 120 francos perde este ano 20
francos se o nmero de seu t tul o chamado para o reembol so. El e
OS ECONOMISTAS
238
ganhari a 20 se ti vesse comprado seu t tul o por 80 francos. Ao pri mei ro
caso corresponde um prmi o de seguro posi ti vo; ao segundo, um prmi o
de seguro negati vo.
Seri a o caso de l evar em conta as vari aes di nmi cas, da valo-
rizao ou da desvalorizao do ouro; porm, aqui faremos abstrao
desse gnero de fenmenos.
33. Os servios dos capitais Em razo de uma fi co que mai s
ou menos nos aproxi ma da real i dade e que se torna a prpri a real i dade
se se faz i ntervi r a amorti zao e o seguro, os capi tai s devem perma-
necer sempre em seu estado pri mi ti vo, no se podendo di zer que el es
se transformam no produto. Seu uso apenas contri bui para obter esse
produto, e di remos que nel e que se transforma o SERVI O do capi tal .
Observemos que esta apenas uma questo de forma. Na real i dade,
a energi a, o trabal ho mecni co do curso de gua que desagrega a matri a
do tri go e d a fari nha; , portanto, propri amente a energi a do curso de
gua que, com o gro, se transforma em fari nha. No fundo, expressamos
a mesma coi sa, mas sob outra forma, quando di zemos que o uso do curso
de gua nos serve para obter fari nha, ou ento que o SERVI O do
curso de gua que, com o tri go, se transforma em fari nha.
34. Bens materiais e bens imateriais Os economi stas do comeo
do scul o XI X di scuti ram l ongamente a questo de saber se todos os
bens econmi cos so materi ai s, ou se exi stem tambm bens i materi ai s;
e a di scusso termi nou em puras l ogomaqui as. A questo foi , em nossa
opi ni o, defi ni ti vamente deci di da por Ferrara, que demonstrou de uma
manei ra evi dente que
todos os produtos so materi ai s se se consi dera o mei o pel o qual
se mani festam; e que todos so i materi ai s se se consi dera o efei to que
el es esto desti nados a produzi r.
Por outro l ado, preci so acrescentar, i medi atamente, que a i den-
ti dade materi al de duas coi sas no acarreta sua i denti dade econmi ca;
essa observao ser uti l i zada mai s adi ante.
35. Os coeficientes de produo Para obter uma uni dade de
um produto, empregam-se certas quanti dades de outros produtos e de
servi os de capi tai s. Essas quanti dades so chamadas COEFI CI ENTES
DE PRODUO.
36. Se, em vez de consi derar a uni dade de produto, se consi dera
uma quanti dade qual quer de produto, as quanti dades dos outros pro-
dutos e dos servi os de capi tai s empregados para obter essa quanti dade
de produto consti tuem os FATORES DA PRODUO.
PARETO
239
Assi m, torna-se verdadei ramente i nti l ter duas expresses para
coi sas que di ferem apenas por uma si mpl es proporo, e empregaremos
geral mente a denomi nao de coefi ci ente de produo. Fi zemos meno
de outra porque el a empregada por al guns autores.
37. Os coefi ci entes de produo podem vari ar de di versas manei -
ras ( 15, 76) e so determi nados pel as empresas de di ferentes ma-
nei ras, dependendo de os fenmenos econmi cos corresponderem ao
ti po (I ) ou ao ti po (I I ).
38. Transformaes no espao (I I I , 72) No preci samos nos
ocupar l ongamente dessas transformaes. preci so si mpl esmente ob-
servar que el as nos fornecem um pri mei ro exempl o de coi sas que, mes-
mo sendo materi al mente i dnti cas, so economi camente di ferentes.
Uma tonel ada de tri go em Nova York e uma tonel ada dessa mesma
quanti dade de tri go em Gnova so coi sas materi al mente i dnti cas,
mas economi camente di ferentes: a di ferena dos preos no neces-
sari amente i gual ao custo de transporte de uma dessas l ocal i dades
para a outra. Esse modo de aval i ao de di ferena dos preos repousa
sobre uma teori a i nexata do equi l bri o econmi co (I I I , 224).
Exi stem sempre transformaes no espao: s vezes, el as so
i nsi gni fi cantes, outras, de pri mei ra i mportnci a. Exi stem empresas que
del as fazem sua ocupao excl usi va, so as empresas de transporte.
A faci l i dade das transformaes no espao ampl i a a extenso dos mer-
cados e torna a concorrnci a mai s ati va: essas transformaes tm,
portanto, grande i mportnci a soci al . O scul o XI X permanecer como
um dos em que se aperfei oa bastante esse gnero de transformaes,
o que l evou a mudanas soci ai s mui to i mportantes.
39. Transformaes no tempo (I I I , 72) So bastante anl ogas
s precedentes; se, porm, sempre se consi deraram as transformaes
no espao, mui freqentemente se desprezaram, e ai nda mui tas vezes
se desprezam, as transformaes no tempo. As razes so ml ti pl as,
mas assi nal aremos apenas duas.
As transformaes no espao necessi tam um trabal ho e um custo
que sal tam vi sta; e, quando fal amos del as no nos chocamos com os
preconcei tos daquel es que acredi tam que a di ferena de preo de duas
mercadori as depende apenas da di ferena de trabal ho necessri o para
a produo dessas mercadori as ou, de modo mai s geral , da di versi dade
do custo de produo. Nas transformaes no tempo, no se vem as
dependnci as materi ai s dessas transformaes com rel ao s fal sas
teori as de que acabamos de fal ar.
Mas outra razo, a mai s i mportante, que faz desconhecer o
papel dessas transformaes no tempo. Acontece que esta uma ma-
tri a que se estuda mui to mai s com o senti mento do que com a razo,
OS ECONOMISTAS
240
e esses senti mentos se api am, el es prpri os, sobre certos preconcei tos.
Ni ngum, ou quase ni ngum, estuda a questo das transformaes no
tempo com esp ri to desprovi do de opi ni o preconcebi da. Cada um sabe,
mesmo antes de haver estudado a questo, em que senti do el a deve
ser destri nchada, e del a fal a como um advogado fal a da causa cuja
defesa encarregado.
40. Se nos col ocarmos do ponto de vi sta excl usi vamente ci ent fi co,
veremos em breve que, da mesma manei ra que doi s objetos materi al -
mente i dnti cos di ferem entre si economi camente, segundo o l ugar onde
esto di spon vei s, di ferem i gual mente do ponto de vi sta econmi co,
dependendo do tempo em que esto di spon vei s. Uma refei o para
hoje e uma refei o para amanh no so de manei ra al guma a mesma
coi sa; se um i ndi v duo sente fri o tem necessi dade i medi ata de um ca-
saco, e esse mesmo casaco di spon vel num di a, dentro de um ms,
dentro de um ano, no l he presta o mesmo servi o. evi dente, portanto,
que doi s bens econmi cos materi al mente i dnti cos, porm di spon vei s
em momentos di ferentes, podem ter preos di ferentes, da mesma ma-
nei ra que podem ter preos di ferentes bens que no so materi al mente
i dnti cos. No se concebe por que achar perfei tamente natural que o
preo do vi nho seja di ferente do po, ou que o preo do vi nho num
l ugar no seja o mesmo que o do vi nho em outro, e depoi s assustar-se
pel o fato de que o preo do vi nho hoje no seja o mesmo que o preo
do mesmo vi nho di spon vel daqui a um ano.
41. Mas, em conseqnci a dessa tendnci a i rresi st vel de l anar-se
rapi damente apl i caes prti cas, ni ngum se detm no probl ema ci en-
t fi co que acabamos de col ocar; ao contrri o, i medi atamente se procura
pesqui sar se no poss vel encontrar mei os que permi tam tornar o
preo do vi nho di spon vel hoje preci samente i gual ao do vi nho di spon vel
no prxi mo ano.
No esta a questo que pretendemos estudar neste momento,
da mesma manei ra que no pesqui samos se exi stem mei os tcni cos
para tornar o preo do vi nho i gual ao preo do po, ou o preo do tri go
em Nova York i gual ao preo do tri go em Gnova. Para ns sufi ci ente
haver demonstrado que mercadori as di spon vei s em momentos di fe-
rentes so mercadori as economi camente di ferentes e que podem ter,
em conseqnci a, preos di ferentes.
42. A teori a do equi l bri o econmi co nos ensi nar como so de-
termi nados esses preos. preci so, portanto, tomar cui dado para no
cometer o erro que consi ste em di zer que a causa da di ferena desses
preos est na di ferena dos tempos em que estes bens esto di spon vei s.
Porque no exi ste uma causa dessa di ferena; exi ste um grande nmero
de causas; e so todas as ci rcunstnci as, sem excetuar uma ni ca, que
PARETO
241
determi nam o equi l bri o econmi co. A consi derao do tempo serve uni -
camente para di ferenci ar os bens que no esto di spon vei s ao mesmo
tempo. Da mesma manei ra a composi o qu mi ca di ferenci a o mi nri o de
cobre do cobre metal , porm el a no a CAUSA da di ferena entre o
preo do mi nri o de cobre e o preo do cobre metl i co. Essa di ferena no
tem uma causa; tem um grande nmero de causas, ou, para expressar-
mo-nos com mai or ri gor, el a est em rel ao com mui tos outros fatos,
que so preci samente aquel es que determi nam o equi l bri o econmi co.
43. O balano da empresa e as transformaes no tempo Vi mos,
no 26, que a produo pode ser consi derada de trs manei ras di fe-
rentes, que, no fundo, l evam ao mesmo resul tado.
44. I . Consideram-se exclusivamente os consumos sem fazer uso
da noo de capital Nesse caso, a transformao no tempo consi ste
em substi tui r um bem di spon vel em certo momento por um bem di s-
pon vel em outro momento. Para produzi r tri go preci so empregar
uma semente. El a pode ser consi derada como um consumo fei to no
momento em que se faz a semeadura. Essa quanti dade de tri go no
economi camente i dnti ca a outra quanti dade de tri go que estari a
di spon vel somente na poca da prxi ma col hei ta. As duas combi naes
para a produo: (A): 100 qui l os de tri go a serem consumi dos na poca
da semeadura; (B): 100 qui l os de tri go a serem consumi dos na poca
da prxi ma col hei ta no so i dnti cos; so mercadorias di ferentes. Em
conseqnci a, (A) pode ter um preo di ferente de (B); em geral , esse
preo mai or (excepci onal mente poderi a ser menor). A di ferena entre
o preo de (A) e o preo de (B) o preo de uma transformao no
tempo, e fi gura nas despesas da empresa. Por exempl o, aquel e que
semei a tri go pel a pri mei ra vez no pode, cl aro, se servi r do tri go de
sua ltima colheita. Poi s esta no exi ste, e el e ter di spon vel , em seu
tempo, apenas o tri go da colheita futura. Em seu oramento el e deve,
portanto, col ocar no dbi to certa despesa para essa transformao.
45. I I . Usa-se a noo de capital Nesse caso, a transformao
no tempo resul ta da necessi dade que exi ste de possui r, ou de produzi r,
esse capi tal antes de poder possui r a mercadori a. O preo da trans-
formao no tempo far parte daqui l o que custa o uso do capi tal .
A semente necessri a para produzi r tri go pode ser consi derada
como capi tal . El a consumi da no momento em que se semei a, re-
consti tu da no momento da col hei ta, de tal manei ra que para a empresa
agr col a el a permanece sempre a mesma e somente seu uso durante
certo tempo que serve produo do tri go. Em 1895, a empresa agr col a
ti nha 100 qui l os de tri go; el es servi ram de semente; na col hei ta de
1896 el a dei xou de l ado 100 qui l os de tri go que foram novamente em-
pregados neste mesmo ano como semente; na col hei ta de 1897, dei xou
OS ECONOMISTAS
242
de l ado 100 qui l os de tri go. Pra-se ento e faz-se o bal ano da operao.
A empresa comeou com 100 qui l os de tri go sua di sposi o; termi -
nando, el a possui ai nda 100 qui l os de tri go. Na real i dade, el a no o
consumi u; si mpl esmente fez uso dessa quanti dade. A transformao
no tempo consi ste nesse uso, e o preo dessa transformao faz parte
do preo desse uso. Se a empresa ni ca, o preo desse uso ser pago
prpri a empresa, e estar em rel ao com os sacri f ci os necessri os
para produzi r o objeto que uti l i za. Se a empresa compra esse objeto
de outra empresa, el a dever l evar em consi derao, de um l ado, o
sacri f ci o que suporta em decorrnci a da anteci pao do preo que el a
paga pel o objeto; e, de outro, a vantagem que reti ra de seu uso, e ver,
ento, se h compensao e equi l bri o. Enfi m, a empresa, em vez de
produzi r o objeto ou de compr-l o, pode comprar si mpl esmente seu
uso; e o preo desse uso fi gurar nas despesas de seu oramento.
46. I I I . Considera-se o valor, em moeda, dos fatores da produo
Nesse caso a transformao no tempo di z respei to moeda e consi ste
em trocar uma soma di spon vel em certo momento contra uma soma
i dnti ca di spon vel em outro momento.
Suponhamos que 100 quilos de trigo valham 20 francos. Possuir
esses 20 francos di spon vei s si gni fi ca, para a empresa agr col a, ter di s-
poni bi l i dade de 100 qui l os de tri go necessri os para a semeadura. No
necessri o que el a di sponha, materi al mente, de 1 l u s; pode ser-l he sufi -
ci ente, por exempl o, ter 1/2 l u s. Com esse di nhei ro el a compra 50 qui l os
de tri go; depoi s vende quei jo e obtm 1/2 l u s, com o qual compra, nova-
mente, 50 qui l os de tri go; el a tem assi m 100 qui l os de tri go. A transfor-
mao no tempo consi ste, portanto, no fato de que a empresa tem neces-
si dade, em 1895, de 20 francos di spon vei s, que resti tui r apenas em
1897. Em seu oramento deve col ocar a despesa necessri a para ter essa
soma di spon vel , para del a servi r-se; e i sso tanto no caso de essa despesa
ser paga prpri a empresa quanto no caso de ser paga a outras.
47. Retornemos ao exempl o do 24. Se o mol ei ro consi dera suas
ms como objetos de consumo, temos nas despesas de seu oramento
(A)
1 de janei ro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 francos
1 de jul ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 francos
Total no ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 francos
Se as consi dera como capi tal , as despesas so:
(B)
1 de jul ho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 francos
31 de dezembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 francos
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 francos
PARETO
243
A combi nao (A) d a mesma despesa que a combi nao (B),
porm em poca di ferente.
As ms devem ser pagas com a fari nha produzi da. Na combi nao
(A), em 1 de janei ro preci so comprar as ms que sero pagas com a
fari nha produzida de 1 de janeiro a 30 de junho; preci so, portanto,
fazer uma transformao no tempo, a fi m de ter di spon vel em 1 de
janei ro o que estari a di spon vel apenas em 30 de junho do mesmo ano.
Se se usa a noo de moeda, preci so ter di spon vel em 1 de janei ro,
uma soma de 100 francos, que estari a di spon vel apenas em 30 de junho.
Suponhamos que se pague por i sso 2 francos. Ser preci so recomear a
mesma operao de 1 de jul ho a 31 de dezembro. Gastar-se- em tudo
4 francos, e a despesa total da combi nao (A) ser de 204 francos.
Na combi nao (B), as ms so pagas apenas em 1 de jul ho,
momento em que, de 1 de janei ro a 30 de junho, se produzi u uma
quanti dade de fari nha sufi ci ente para fazer essa despesa. Por outro
l ado, porm, para poder se servi r da combi nao (B), preci so ter o
uso desse capi tal . preci so, em conseqnci a, exatamente como na
combi nao (A), ter, desde 1 de janei ro, o uso das ms. Se se aval i a
esse capi tal em moeda, preci so, ter o uso de 100 francos durante um
ano, e se se gastam 4 francos por esse uso, a despesa total da combi nao
(B) ser 204 francos e ser i gual da combi nao (A).
48. A renda dos capitais O obstcul o que se mani festa pel o
custo do uso de um capi tal , em parte, i ndependente da organi zao
soci al e tem sua ori gem na transformao no tempo. Seja qual for a
organi zao da soci edade, evi dente que uma refei o que se pode
fazer hoje no i dnti ca refei o que se poder fazer amanh, e que
10 qui l os de morangos di spon vei s em janei ro no so i dnti cos a 10
qui l os de morangos di spon vei s em junho. A organi zao da soci edade
deci de sobre a forma como esse obstcul o se mani festa e modi fi ca, em
parte, sua substnci a. Acontece exatamente o mesmo com as transfor-
maes materi ai s e com as transformaes no espao.
Um mesmo objeto pode ser produzi do por qual quer uma dessas trs
transformaes. Por exempl o, um i ndi v duo se serve, no ms de jul ho em
Genebra, de um pedao de gel o para refrescar sua bebi da. Esse pedao
de gel o pode ter si do produzi do por uma fbrica de gelo arti fi ci al (trans-
formao materi al ); pode ter si do transportado de uma gel ei ra (transfor-
mao no espao); pode ter si do recol hi do durante o i nverno e conservado
at o vero (transformao no tempo).
136
Essas transformaes so com-
OS ECONOMISTAS
244
136 Estas so as transformaes pri nci pai s dos trs casos consi derados; mas, em cada um
desses casos, a transformao pri nci pal acompanhada das outras duas, que so secun-
dri as. A fbri ca de gel o arti fi ci al no produz gel o no momento preci so em que o consumi mos,
preci so certo tempo para l evar o gel o do fabri cante ao l ugar em que consumi do. A
transformao no tempo no fal ta, portanto, nesses doi s casos, embora seja secundri a.
Da mesma manei ra a transformao no espao no fal ta no pri mei ro e no tercei ro caso.
Enfi m, a transformao materi al , ai nda que fosse apenas para cortar o gel o em pedaos,
no fal ta tambm no segundo e no tercei ro caso.
pradas ao preo de certos sacri f ci os ou custos, que dependem, em parte,
da organi zao soci al , mas que del a so tambm, em parte, i ndependentes.
Por exempl o, se os membros de uma col eti vi dade recol hem gel o em janei ro
e l enha em jul ho do mesmo ano, tero bebi das frescas em jul ho mas tero
passado fri o em janei ro. Se ti vessem podi do recol her l enha nesse ms de
janei ro e gel o no ms de jul ho segui nte, o trabal ho forneci do teri a si do o
mesmo, e el es teri am ti do cal or no i nverno e fri o no vero. O fato de ter
ti do que fornecer pri mei ro o trabal ho necessri o para recol her o gel o,
custa-l hes o fri o que senti rem durante esse ms de janei ro e i sso , evi -
dentemente, i ndependente da organi zao soci al .
Se exi ste uma segunda col eti vi dade que empresta pri mei ra, em
janei ro, a l enha que ser resti tu da em jul ho, a pri mei ra col eti vi dade j
no senti r fri o; graas a esse emprsti mo, consumi r, no materi al mente
mas economi camente, em janei ro, a l enha que el a recol her apenas da
a sei s meses; e gozar dessa transformao no tempo. A segunda col eti -
vi dade executa uma transformao no tempo preci samente i nversa.
49. Quando os capi tai s so propri edade pri vada, aquel e que o
empresta, i sto , que concede seu uso a outro, recebe, normal mente,
certa soma que chamaremos JURO BRUTO desses capi tai s.
50. Esse juro o preo do uso dos capi tai s; el e que paga os servios
( 33). Esta tambm uma questo de forma e no de substncia. Se
um indi v duo paga 10 francos para ter certa quanti dade de cerejas, el e
compra uma mercadori a. Suponhamos que essa quanti dade seja preci sa-
mente produzida por uma cerejeira num ano; se esse indi v duo compra,
com 10 francos, o uso dessa cerejei ra por um ano, ter, no fundo, pel o
mesmo preo, a mesma quanti dade de cerejas de antes. Somente di fere
a forma da operao; el e comprou agora o servio de um capi tal ( 33).
51. Observamos que se a pessoa que come as cerejas a mesma
que possui a cerejei ra, j no exi ste pessoa a quem pagar os 10 francos,
mas permanece o fato de que essa pessoa tem o usufruto das cerejas;
e esse fato pode ser consi derado sob doi s aspectos: 1) di retamente,
como o usufruto de uma mercadori a; 2) i ndi retamente, como o usufruto
do servio de um capi tal .
52. Quando se estuda o fenmeno sob a forma dos servi os dos
capi tai s, preci so pesqui sar como seu preo se estabel ece, i sto , que
val or possui o juro bruto. Seri a faci l mente compreens vel , se el e fosse
i gual a todas as despesas necessri as para resti tui r o capi tal , i sto ,
s despesas de reparao, al m de amorti zao e do seguro; porm,
comumente, esse juro bruto mai or do que essa quanti a e a di ferena,
que chamaremos JURO L QUI DO, nos aparece como uma enti dade
cuja ori gem no to evi dente.
PARETO
245
53. Quando se di z que esse juro l qui do paga a transformao
no tempo, afastamos a di fi cul dade sem resol v-l a, poi s em segui da,
perguntaremos por que a transformao no tempo tem um preo, e
como esse preo determi nado.
54. Vem mente reuni r, como uma rel ao do efei to sua causa,
o fato da exi stnci a deste juro l qui do e aquel e da apropri ao dos
capi tai s. Com efei to, so fatos concomi tantes e, por outro l ado, torna-se
cl aro que se no houvesse propri etri os dos capi tai s, no exi sti ri a ni n-
gum a quem se pudesse pagar o juro l qui do; sobrari am apenas as
despesas para restabel ecer os capi tai s, despesas que, em todos os casos,
se devem fazer. Em outras pal avras, os obstcul os que se mani festam
pel a exi stnci a do juro l qui do tm sua ori gem, excl usi vamente, no fato
de que os capi tai s so apropri ados.
55. Essa afi rmao est l onge de ser absurda a priori e poderi a
mui to bem ser verdadei ra. preci so, portanto, exami nar os fatos e
ver se el es confi rmam ou no essa afi rmao.
Os obstcul os que se enfrentam, na I tl i a, para obter gua do
mar, se desprezamos o trabal ho e as demai s despesas necessri as para
obt-l a, nascem excl usi vamente do fato de que o Governo, tendo o mo-
nopl i o da venda do sal , pro be aos parti cul ares carregar gua do mar.
Esses obstcul os dependem, portanto, excl usi vamente, da organi zao
soci al ; se o Governo dei xasse cada um l i vre para pegar a gua, todos
os obstcul os que i mpedem os i tal i anos de obt-l a desapareceri am, sal -
vo, bem entendi do, aquel es dos quai s fal amos: o trabal ho e as demai s
despesas necessri as para o transporte dessa gua de mar para o l ugar
que se quei ra. Temos a um exempl o favorvel tese de que o juro
l qui do dos capi tai s tem sua ori gem na organi zao soci al .
Os obstcul os que encontramos para obter cerejas mani festam-se
para ns sob a forma do preo que pede o vendedor de cerejas. Esse
novo exempl o parece semel hante ao precedente, e somos l evados tam-
bm a acredi tar que seri a sufi ci ente el i mi nar os vendedores de cerejas
para fazer desaparecer os obstcul os que nos i mpedem de obt-l as.
sufi ci ente, porm, refl eti r um pouco para ver que no bem assi m.
Atrs do vendedor est o produtor; atrs do produtor exi ste o fato de
que as cerejas no exi stem em quanti dade tal que ul trapassem a quan-
ti dade necessri a para sati sfazer nossos gostos, como acontece com a
gua do mar. Di remos ento que a organi zao soci al , em razo da
qual exi ste o vendedor de cerejas, no tem parte al guma nos obstcul os
que exi stem para se obter cerejas? De manei ra al guma; mas di remos
que exi ste a apenas uma parte dos obstcul os, e uma observao atenta
dos fatos tambm nos far acrescentar que comumente el a tem uma
parte mui to pequena, se a compararmos com a dos demai s obstcul os.
O obstcul o que encontramos para obter cerejas ou, o que d
OS ECONOMISTAS
246
no mesmo, para se ter o uso da cerejei ra decorre do fato de que as
cerejas que esto nossa di sposi o so em nmero menor do que
seri a necessri o para sati sfazer compl etamente nossos gostos. E da
oposi o entre esse obstcul o e nossos gostos que nasce o fenmeno
do preo do uso da cerejei ra.
56. Em geral , o obstcul o que se encontra no uso dos capi tai s ou
para a transformao correspondente no tempo decorre de que os capi tai s
ou os mei os para operar essa transformao no tempo so em quan-
ti dade menor que a necessri a para sati sfazer nossos gostos. E dessa
oposi o entre o obstcul o e nossos gostos que nasce o fenmeno do ren-
di mento l quido dos capi tai s ou do preo da transformao no tempo.
Somos assi m l evados teori a geral do preo de uma coi sa qual -
quer, que resul ta sempre da oposi o entre os gostos e os obstcul os,
oposi o que s pode exi sti r quando a coi sa consi derada est nossa
di sposi o em quanti dade menor que a necessri a para sati sfazer com-
pl etamente nossos gostos (I I I , 19).
57. O juro l qui do , portanto, regul amentado pel as mesmas l ei s
que regul amentam um preo qual quer; e o custo da transformao no
tempo segue as mesmas l ei s que o custo da transformao no espao,
ou o custo de uma transformao qual quer.
No se pode determi nar esse custo da transformao no tempo se-
paradamente dos outros preos e de todas as outras ci rcunstncias das
quai s depende o equi l bri o econmi co; el e determi nado, ao mesmo tempo
que todas as outras i ncgni tas, pel as condi es do equi l bri o econmi co.
137
58. J uros lquidos dos diversos capitais Do que precede no re-
sul ta, de manei ra al guma, a exi stncia de um ni co juro l qui do para
cada capi tal , i sto , o preo da transformao no tempo no vari a segundo
as ci rcunstnci as nas quai s el e se produz. Com efei to, os di ferentes capi tai s
fornecem juros l qui dos di ferentes. Pagam-se juros mui to di ferentes: pel o
uso de um caval o pel a quanti a que val e esse caval o por essa mesma
quanti a emprestada sob hi poteca ou emprestada sobre l etra de cmbi o
ou repousando sobre uma si mpl es obri gao etc.
A teori a do equi l bri o econmi co nos ensi nar que se pode esta-
bel ecer, aproxi madamente, di ferentes cl asses de capi tai s, e que na mai o-
ri a dessas cl asses os juros l qui dos tendem a tornar-se i guai s; e el a
nos ensi nar sob que condi es i sso se produz; porm, essenci al no
confundi r as caracter sti cas parti cul ares e certos fenmenos e as ca-
racter sti cas de que se revestem esses fenmenos uni camente no caso
em que exi sta equi l bri o econmi co.
PARETO
247
137 Systmes. I I , p. 288 et seq.
59. O balano da empresa e os juros dos capitais O balano de
uma empresa deve ser fei to numa poca determi nada; e todas as somas
recebi das ou despendi das pel a empresa devem ser transportadas a essa
poca; para i sso acrescenta-se ou subtrai -se certa quanti dade que depende
dos juros l qui dos. Para curtos per odos de tempo, consi dera-se geral mente
o juro si mpl es; para per odos mai s l ongos, o juro composto.
No cl cul o dos seguros, consi dera-se freqentemente, o val or atual
de uma quanti a futura. Suponhamos, por exempl o, que uma soci edade
deve pagar 100 francos no fi m de cada ano a um i ndi v duo de 30 anos,
e i sso at sua morte. Tomemos os dados experi mentai s recebi dos pel as
soci edades i ngl esas de seguro. Por procedi mentos di versos, sobre os
quai s i nti l que nos detenhamos aqui , esses dados so modi fi cados
de manei ra a fazer desaparecer certas i rregul ari dades que se supem
aci dentai s. Sabe-se assi m que, de 89 865 i ndi v duos vi vos de 30 anos,
restam 89 171 de 31 anos; 88 465 de 32 anos etc. Em conseqnci a,
se ti vssemos que pagar 100 francos a cada um desses i ndi v duos, no
fi nal do pri mei ro ano ter amos que ter pago 8 917 100 francos; no fi m
do segundo ano, 8 846 500 francos etc. Admi te-se, e i sso hi potti co,
que o futuro ser semel hante ao passado, e al m di sso, para cada
i ndi v duo uti l i zam-se nmeros proporci onai s quel es que acabamos de
rel aci onar; i sto , supe-se que, em mdi a a cada i ndi v duo se devero
pagar
8 917 100
89 865
= 99 228 no fi m do pri mei ro ano;
88 465 00
89 865
= 98 442
no fi nal do segundo ano e assi m por di ante.
Pesqui sam-se ento as quanti as que, com jur o composto, de
ano em ano, r epr oduzem as quanti as aci ma; aqui pr eci so fazer
uma hi poteca sobr e o jur o. Suponhamos que el e seja de 5%. Resul ta
que uma quanti a de 94 503 a 5% d, aps um ano, 99 228; uma
quanti a de 89 209 d, aps um ano, 93 754,5, e aps doi s anos 98 442.
Di remos, portanto, que o val or atual da quanti a de 99 228, pagvel aps
um ano, de 94 503; e o val or atual da quanti a 98 442, pagvel em
doi s anos, 89 290.
60. Os bal anos i ndustri ai s so fei tos de modo si mpl es. A mai or
parte dos juros si mpl es, e consi derado de manei ra aproxi mada.
Em resumo, cada bal ano, para ser preci so, deve ser fei to numa
poca determi nada, e todas as despesas e recei tas devem ser aval i adas
nessa poca. Suponhamos que o bal ano se faa em 1 de janei ro de
1903, e que o juro dos capi tai s seja 5%. Uma despesa de 1 000 francos
fei ta em 30 de junho de 1902 deve fi gurar no bal ano como 1 025
francos. A mesma coi sa para as recei tas. Na contabi l i dade comum,
essa despesa ou essa recei ta representada por 1 000 francos em 30
de junho; porm, no caso da despesa, encontra-se uma despesa de 25
francos gastos com juros, e no caso da recei ta, encontra-se uma quanti a
i gual de entrada em cai xa como juro. No fundo, a mesma coi sa.
OS ECONOMISTAS
248
61. O balano da empresa, o trabalho e os capitais do empresrio
No bal ano da empresa preci so l evar em consi derao todas as
despesas e, se o empresri o presta al gum servi o empresa, deve
aval i -l o e i nscrev-l o no montante das despesas.
Um i ndi v duo pode ser di retor de uma empresa por conta de
uma soci edade anni ma, ou de um outro i ndi v duo, e nesse caso recebe
um sal ri o; ou ento pode ser di retor de sua prpri a empresa e, nesse
caso, seu sal ri o se confunde com o l ucro reti rado da empresa. Devemos,
porm, evi tar essa confuso, se queremos conhecer o custo preci so dos
produtos e os resul tados da empresa. Da mesma manei ra, os capi tai s
que esse i ndi v duo emprega em sua empresa devem ser consi derados
como emprestados, e seu juro deve ser i nscri to nas despesas. Consi -
deremos um i ndi v duo que ganhava 8 mi l francos por ano, di ri gi ndo
uma empresa para um tercei ro; el e se i nstal a por sua conta, despende
100 mi l francos com a empresa que el e prpri o di ri ge. O l ucro dessa
empresa, sem consi derar o trabal ho e os capi tai s de seu propri etri o,
de 10 mi l francos. Na real i dade, exi ste uma perda de 2 mi l francos,
poi s seri a necessri o col ocar por conta das despesas 8 mi l francos pel a
remunerao do di retor e 4 mi l francos pel o juro dos capi tai s. Se esse
i ndi v duo ti vesse conti nuado como di retor a servi o de outrem e se
ti vesse comprado t tul os de renda a 4%, teri a ti do 12 mi l francos por
ano; el e tem apenas 10 mi l , perdendo, portanto, 2 mi l francos.
Esta apenas uma manei ra de estabel ecer as contas do l ucro,
ou da perda dentro de determi nadas hi pteses. Qual quer outra manei ra
de estabel ecer essas contas pode ser boa, desde que se atenha a contar
de forma exata os fatos. Um i ndi v duo que recebe sal ri o para di ri gi r
um negci o, quer saber se far bom ou mau negci o, pedi ndo sua de-
mi sso para se estabel ecer por conta prpri a. Sua contabi l i dade, se
bem-fei ta, deve i nformar-l he sobre i sso.
62. A empresa e o proprietrio dos bens econmicos A empresa,
como j di ssemos no 4, apenas uma abstrao, pel a qual se i sol a
uma das partes do processo da produo.
O produtor um ser compl exo, no qual so confundi dos o em-
presri o, o di retor da empresa e o capi tal i sta; ns os separamos, mas
no basta; preci so consi derar tambm o propri etri o de certos bens
econmi cos dos quai s a empresa se serve.
Suponhamos um pr opr i etr i o que pr oduz tr i go em sua ter r a;
el e pode ser r epr esentado pel o pr odutor consi der ado (I I I , 102) que
pr oduz uma mer cador i a a um custo cr escente com a quanti dade
pr oduzi da. Exi stem, por m, duas coi sas a consi der ar nesse i ndi v duo:
1) o pr opr i etr i o da ter r a; 2) o empr esr i o que se ser ve da ter r a e
de outr os bens econmi cos par a pr oduzi r tr i go. Par a val er -nos de
um exempl o concr eto, consi der emos um empr esri o que al uga essa
ter r a e pr oduz tr i go.
PARETO
249
63. Se o produtor se encontra do l ado dos ndi ces posi ti vos, obtm
l ucro. Para quem vai esse l ucro se temos agora um propri etri o e um
empresri o?
Esse probl ema pode ser resol vi do fazendo uso dos pri nc pi os gerai s
j estabel eci dos. Suponhamos que, para o propri etri o, a terra cuja
quanti dade por el e possu da representada por oh, no ofl i ma para
el e. Col oquemos sobre o ei xo oa, a quanti a, em numerri o, que o pro-
pri etri o reti ra de sua terra. Estamos no caso (I V, 54); a l i nha das
trocas hoa para o propri etri o. Para os empresri os, os ei xos sero
hn, ho. Seja hk uma l i nha tal que, se por uma quanti dade qual quer
hb de terra o empresri o paga bd, no obtm nenhum l ucro; hk ser
para el e uma l i nha de i ndi ferena, e preci samente a l i nha de ndi ce
zero, i sto , aquel a das transformaes compl etas. Se se faz kk i gual
a 1, a curva kh, paral el a a kh, ser outra curva de i ndi ferena, i sto
, aquel a de ndi ce 1, e sobre el a o empresri o obter um l ucro de 1.
Al m de hk encontram-se as curvas de ndi ce negati vo.
64. Se o empresri o tem monopl i o, el e procurar obter o mxi mo
de l ucro, i ndo sobre a curva de i ndi ferena h" k" que passa por o.
el e quem ter todo o l ucro da produo, e o propri etri o nada ter. Se
exi ste concorrnci a entre os empresri os, el e acabar por i r sobre a
l i nha hk por razes j tantas vezes desenvol vi das. O ponto de equi l bri o
est em k, na i nterseo de hk e da l i nha oa das trocas do propri etri o.
Este fi car com todo o l ucro da produo e o empresri o nada ter. O
mesmo aconteceri a evi dentemente, se a terra, ou qual quer outra mer-
cadori a desse gnero, fosse ofl i ma para o propri etri o.
65. Concl ui -se que, quando exi ste concorrnci a entre as empresas,
estas devem permanecer sobre as l i nhas das transformaes compl etas;
no tero, assi m, nem l ucro nem perda.
Fi gura 42
OS ECONOMISTAS
250
As curvas de i ndi ferena dos obstcul os no mudam, nem podem
mudar; mas a curva do l ucro mxi mo para o propri etri o se torna a
curva das transformaes compl etas para a empresa.
preci so que vejamos agora como, e at que ponto, essa propo-
si o teri ca pode ser verdadei ra para as empresas reai s, que di ferem
mai s ou menos das empresas teri cas.
66. As empresas reais, seus lucros e suas perdas Em pri mei ro
l ugar, evi dente que a proposi o s pode ser verdadei ra como mei o para
as empresas reai s. Com efei to, estas di ferem das empresas abstratas pel o
que tm de certa organi zao, certo renome que atrai a cl i entel a, certas
terras, mi nas, fbri cas, que el as compraram etc. O carter abstrato da
empresa al i a-se sempre, mai s ou menos, com o do propri etri o.
67. Para as empresas reai s, fci l ver, se se raci oci na de manei ra
objeti va, que no pode exi sti r, pel o menos para uma cl asse bastante
extensa e em mdi a, nem l ucro nem perda, desde que, bem entendi do,
se consi derem todas as despesas, i ncl ui ndo os rendi mentos dos capi tai s
da empresa. Atual mente, um grande nmero dessas empresas se re-
veste da forma de soci edades anni mas, e seus t tul os so vendi dos
na bol sa; al i s, a cada di a, so cri adas novas empresas. Em conse-
qnci a, todo i ndi v duo que tem di nhei ro, mesmo pequena quanti dade,
pode parti ci par dessas empresas comprando um ou vri os t tul os. No
se compreenderi a, portanto, como estas poderi am ter al guma vantagem
sobre os fundos pbl i cos ou sobre outros t tul os pel os quai s se paga
um rendi mento fi xo. Se essa vantagem exi sti sse, todo mundo comprari a
t tul os de soci edades anni mas. Di ssemos que seri a preci so l evar em
consi derao todas as ci rcunstnci as; preci so, portanto, consi derar o
carter i ncerto dos di vi dendos, pel o fato que essas soci edades tm uma
durao mai s ou menos l onga etc. Pode parecer que seus t tul os apre-
sentem mai ores vantagens; porm, fazendo as dedues, o rendi mento,
em mdi a, torna-se i gual aos dos t tul os dos fundos do Estado a ren-
di mentos fi xos. Na Al emanha, por exempl o, as aes das mi nas de
carvo que do em torno de 6% so quase equi val entes aos t tul os da
d vi da prussi ana que do 3 1/3%.
68. Al i s, pode-se observar que essa equi valncia , em parte, ob-
jeti va, i sto , que de fato os al emes acredi tam nessa equi val ncia de
outra maneira venderiam seus t tul os prussi anos consol i dados para com-
prar aes mi nei ras, ou outras , no entanto, a real i dade poderi a, pel o
menos em parte, di feri r da i di a que os homens del a fazem.
Assi m, o fenmeno concreto di fere do fenmeno teri co. Para ope-
raes de pouca durao, freqentemente repeti das, que podem ser objeto
de numerosas adaptaes e readaptaes, parece que essa di vergncia
PARETO
251
deve ser fraca; mas no podemos afi rmar, a priori, que el a i gual a
zero; parece mui to mai s que, embora fraca, el a sempre deve exi sti r.
Suponhamos, por exempl o, doi s empregos da poupana que dem
rendi mento l qui do i gual , l evando em conta, os prmi os de seguro e
amorti zao; todavi a, para o pri mei ro, exi stem probabi l i dades de gran-
des l ucros e de grandes perdas, que no exi stem para o segundo.
Uma popul ao aventurei ra preferi r o pri mei ro, uma popul ao
prudente, o segundo. Em conseqnci a, pel a razo da di versi dade na
procura desses doi s empregos de capi tal , os rendi mentos l qui dos po-
dero parar de ser i guai s. Um povo aventurei ro comprar com mai or
boa vontade aes de soci edades i ndustri ai s do que t tul os da D vi da
Pbl i ca; e um povo casei ro e economi camente t mi do, far o contrri o.
Pode ento ocorrer que, na real i dade, as empresas i ndustri ai s tenham
uma pequena vantagem, ou uma pequena di ferena a menos.
69. Somente a experi nci a pode nos escl arecer; e fel i zmente, uma
estat sti ca el aborada com mui to cui dado pel o Moniteur des I ntrts
Matriels, permi te-nos ter uma noo experi mental do fenmeno.
Esse excel ente jornal pesqui sou paci entemente, em documentos
ofi ci ai s, qual ti nha si do a sorte das soci edades anni mas bel gas cri adas
de 1873 a 1887. El as so em nmero de 1 088 com um capi tal total
de 1,6057 bi l ho. preci so deduzi r 112,6 mi l hes no i ncorporados;
sobra, portanto um capi tal total i ni ci al de 1,4931 bi l ho.
Dessas soci edades, 251, com um capi tal de 256,2 mi l hes desa-
pareceram, e del as j no poss vel encontrar vest gi o; provvel que
todo seu capi tal tenha si do perdi do. Outras 94, com um capi tal de
376,5 mi l hes, foram postas em l i qui dao, depoi s de terem perdi do,
ao que parece, todo seu capi tal . As soci edades restantes foram i gual -
mente l i qui dadas: 340, com um capi tal de 426,4 mi l hes, resti tu ram
cerca de 337,0 mi l hes; 132, com um capi tal de 166,8 mi l hes, l i qui -
daram com l ucro e resti tu ram 177,5 mi l hes. O total do reembol so
de 514,5 mi l hes. Sobram, para o capi tal col ocado nas soci edades, per-
di do em parte, em parte exi stente em 1901, 978,6 mi l hes. Total na
ori gem, como aci ma 1,4931 bi l ho.
O rendi mento total obti do pel as soci edades sobrevi ventes de
55,9 mi l hes por ano: comparando-o ao capi tal i ni ci al , v-se que este,
em l ti ma anl i se, produzi u 5,7%.
No estamos mui to l onge do rendi mento que se pode obter de
um si mpl es emprsti mo de di nhei ro.
O rendi mento l qui do deve ser i nferi or ao que t nhamos encon-
trado, porque preci so deduzi r dessa recei ta de 55,9 mi l hes, prmi os
de amorti zao e de seguro, cujo val or preci so desconheci do. Porm,
raci oci nando sobre o rendi mento de 5,7%, sabemos que de 1873 a 1886,
houve numerosas ocasi es de comprar D vi das Pbl i cas de Estados
perfei tamente sol v vei s de manei ra a se obter um rendi mento de 4 a
OS ECONOMISTAS
252
5%. V-se, portanto, que na Bl gi ca o rendi mento da poupana empre-
gada nas soci edades anni mas quase i gual ao que se obteri a com-
prando da D vi da Pbl i ca de Estados gozando de bom crdi to.
Fal ta-nos ai nda, notar que no rendi mento de uma parte dessas
soci edades, por exempl o, as soci edades mi nei ras, est i ncl uso o rendi -
mento do propri etri o.
Se, para l evar em consi derao o carter i ncerto das estat sti cas,
supusermos que as 251 soci edades que desapareceram sem dei xar ne-
nhum vest gi o resti tu ram a metade de seu capi tal e todos aquel es
que tm certa prti ca da bol sa sabem o quanto essa hi ptese pouco
provvel o rendi mento l qui do i nferi or a 6,6%; em conseqnci a,
a di ferena com rel ao ao rendi mento mdi o do emprsti mo si mpl es
no grande, se exi ste.
Esses resul tados so confi rmados por outras estat sti cas publ i -
cadas por esse mesmo jornal em 31 de janei ro de 1904.
De 1888 a 1892, consti tu ram-se na Bl gi ca 522 soci edades anni-
mas, com um capi tal, no l ti mo bal ano, de 631,0 mi l hes de francos.
Faltam deposi tar 37,3 milhes; o capi tal real , portanto, de 593,8 milhes.
J no se tem nenhuma i nformao sobre 98 soci edades, tendo
um capi tal de 114,3 mi l hes. Supomos que el as tenham resti tu do a
metade de seu capi tal , i sto , 57,6 mi l hes; 38 soci edades, com um
capi tal de 51,7 mi l hes, e para o qual fal tavam deposi tar 4,0 foram
l i qui dadas, com um ganho de 3,6; resti tu ram, portanto, 51,3. Outras
95 soci edades, com um capi tal de 94,7, para o qual fal tavam 3,1 a
serem deposi tados, foram l i qui dadas com uma perda de 18,6; el as res-
ti tu ram, portanto, 73,0. Outras ci nco soci edades l i qui daram com uma
perda m ni ma, e resti tu ram 35,5. Total dos reembol sos: 216,4. Resta,
portanto, um capi tal de 377,4 mi l hes.
O l ucr o anual er a de 12,5 mi l hes, o r endi mento er a, por -
tanto, de 5,9%.
Natural mente, se no se consi deram as empresas que esto com
perda e desaparecem, o rendi mento mai s consi dervel , e esse fato que
causa da opi ni o preconcebi da, segundo a qual , onde exi ste concorrncia,
as empresas obtm um l ucro consi dervel al m do rendi mento l quido
corrente dos capi tai s. Esse preconcei to ainda reforado porque se con-
funde o l ucro de empresa com o rendi mento do propri etri o, ou com os
rendi mentos de certos monopl i os, ou de patente de i nveno etc.
A mdi a dos rendi mentos obti da fazendo o total dos rendi mentos
al tos e dos rendi mentos bai xos. O jornal que ci tamos cal cul ou, em seu
nmero de 31 de maro de 1901, esses rendi mentos para di versas
empresas. Para os bancos el as vari am entre 10,7 e 1,8%; para as es-
tradas de ferro, entre 20,4 e 1,6%; para os bondes, entre 9,6 e 0,8%;
para as mi nas de hul ha, entre 17,8 (desprezando um caso excepci onal
no qual se tm 38,3) e 0,86%; para as forjas e i ndstri as mecni cas,
entre 12,9 e 2,10%; para os produtos de zi nco, entre 30,9 (Montanha
PARETO
253
Vel ha) e 11,8%; para as fbri cas que trabal ham o l i nho, entre 16,5 e
0,66% para as vi drari as, entre 13 e 3,1%. Todos esses rendi mentos
foram cal cul ados em rel ao ao capi tal nomi nal .
Em resumo, abstrao fei ta de toda teori a e consi derando l arga-
mente as i mperfei es e fal ta de certeza das estat sti cas, os fatos de-
monstram que, pel o menos na Bl gi ca, as empresas, onde exi ste l i vre
concorrnci a, obtm para seus capi tai s, em mdi a, um rendi mento l -
qui do que no di fere mui to do rendi mento comum dos emprsti mos,
mesmo que essas duas espci es de rendi mentos no sejam mui to i guai s.
Os fatos correspondem, portanto, mui to bem s dedues l gi cas.
70. Variabilidade dos coeficientes de produo J notamos (
15) o erro que consi ste em acredi tar que os coefi ci entes de produo
dependem uni camente das condi es tcni cas da produo.
Outra teori a, compl etamente errnea, a que chamam propores
definidas. Essa denomi nao si ngul armente mal escol hi da, poi s
emprestada qu mi ca que, com efei to, reconheceu que os corpos si mpl es
se combi nam em propores ri gorosamente defi ni das; mas, os fatores
da produo da Economi a Pol ti ca, mui to pel o contrri o, podem, dentro
de certos l i mi tes, combi nar-se em quai squer propores. Doi s vol umes
de hi drogni o se combi nam com um vol ume de oxi gni o, para dar a
gua; mas i mposs vel obter combi naes encerrando doi s vol umes e
1/10; doi s vol umes e 2/10 etc., de hi drogni o com um vol ume i gual de
oxi gni o. Pel o contrri o, se, em certa i ndstri a, 20 de mo-de-obra se
combi nam com 10 de capi tal mobi l i ri o, na mesma i ndstri a encon-
traremos propores l i gei ramente di ferentes, tal como 21, 22 etc., de
mo-de-obra por 10 de capi tal mobi l i ri o.
No i nsi stamos, porm, nesse ponto. Os nomes das coi sas no
tm i mportnci a, preci so estudar as prpri as coi sas.
Ora, a mai or parte dos economi stas que usam a teori a das pro-
pores definidas parecem acredi tar que exi stem certas propores nas
quai s conveni ente combi nar os fatores da produo, i ndependente-
mente dos preos desses fatores. fal so. Onde a mo-de-obra barata
e os capi tai s mobi l i ri os so caros, a mo-de-obra substi tui r as m-
qui nas e vi ce-versa. No exi ste nenhuma propri edade objeti va dos fa-
tores de produo que correspondam a propores fi xas com as quai s
seja conveni ente combi nar esses fatores; exi stem apenas propores,
vari vei s com os preos que do certos mxi mos de l ucros em numerri o
ou, ento, em ofel i mi dade.
E i sso no tudo; essas rel aes no somente vari am com os
preos dos fatores da produo, mas vari am tambm com todas as
ci rcunstnci as do equi l bri o econmi co.
Perguntem a um qu mi co em que propores o hi drogni o se com-
bi na com o cl oro, el e l hes responder sem hesi tar. Perguntem a um em-
presri o em que propores preci so combi nar a mo-de-obra com os
OS ECONOMISTAS
254
capitais mobil i ri os para o transporte dos fardos, el e no poder respon-
der-l hes se no comearem a l he di zer o preo da mo-de-obra e o preo
dos capitais mobi li ri os. I sso no ser sufici ente. El e querer saber ainda
a quanti dade de mercadori a a transportar, a di stncia a que dever ser
transportada e uma poro de outras ci rcunstncias anl ogas.
Essas consi deraes so gerai s para todos os ti pos de produo.
Sal vo casos excepci onai s, no exi stem propores fi xas que se devam con-
si gnar aos coefi ci entes de produo para obter o mxi mo de l ucro em
numerri o, mas essas propores vari am no somente com os preos mas
tambm com todas as demai s ci rcunstnci as da produo e do consumo.
Natural mente, exi stem l i mi tes al m dos quai s a vari abi l i dade
dos coefi ci entes de produo no pode se estender. Por exempl o, qual -
quer procedi mento aperfei oado de extrao de que se faa uso; certo
que no se poder extrai r de um mi neral mai s metal do que contm.
Pode-se, por procedi mentos de cul tura aperfei oados, obter 40 hectol i -
tros de tri go de um hectare de terra de l avra, que no dari a mai s do
que 10, mas, pel o menos no estado atual das coi sas, certamente no
se pode obter 100.
As condi es tcni cas estabel ecem os l i mi tes, entre os quai s a
determi nao dos coefi ci entes de produo um probl ema econmi co.
Em resumo, esses coefi ci entes no podem ser determi nados i n-
dependentemente das demai s i ncgni tas do equi l bri o econmi co; esto
em rel ao de mtua dependnci a com as outras quanti dades que de-
termi nam o equi l bri o econmi co.
138
A empresa tem por objeto pri nci pal , quando se trata da produo,
determi nar os coefi ci entes de produo em rel ao a todas as outras
condi es tcni cas econmi cas.
71. preci so que di sti ngamos aqui doi s ti pos de fenmenos, pre-
ci samente como o fi zemos para o consumi dor e o produtor (I I I , 40). O
ti po (I ), para o momento, aquel e que geral mente as empresas seguem.
PARETO
255
138 Os economi stas l i terri os que eram i ncapazes no s de resol ver o si stema de equaes
si mul tneas, o ni co a permi ti r uma i di a da mtua dependnci a dos fenmenos econmi cos,
mas tambm de compreender o que , envi dam esforos sobre-humanos para tratar i sol a-
damente os fenmenos que no sabem consi derar em seu estado de mtua dependnci a.
com esse objeti vo que i magi naram teori as vagamente metaf si cas do valor, com esse
objeti vo que tentaram determinar o preo de venda pel o custo de produo, com esse
objeti vo que cri aram a teori a das propores definidas, e ai nda, sempre com esse objeti vo,
que conti nuam a fornecer uma massa de proposi es equi vocadas.
Fal amos aqui , excl usi vamente, das pessoas que querem tratar questes de Economi a
pura sem possui r os conheci mentos necessri os para el aborar esse estudo. Nada mai s di s-
tante de nosso pensamento do que depreci ar a obra dos economi stas que tratam com con-
si deraes prti cas questes de Economi a apl i cada. Pode-se ser um emi nente engenhei ro e
possui r apenas noes superfi ci ai s de cl cul o i ntegral ; mas, nesse caso, deve-se agi r sabi -
damente, abstendo-se de escrever um tratado sobre esse cl cul o.
preci so acrescentar que exi stem matemti cos que, pretendendo tratar questes de
Economi a pura, sem ter os conheci mentos econmi cos necessri os, caem em erros compa-
rvei s aos dos economi stas l i terri os.
El as estabel ecem seus cl cul os segundo preos prati cados no mercado,
sem ter outra fi nal i dade; e ser-l hes-i a i mposs vel agi r de outra manei ra.
Uma empresa v que, aos preos do mercado, el a chega a um custo
de produo menor, di mi nui ndo a quanti dade de mo-de-obra e au-
mentando a quanti dade de capi tal mobi l i ri o (mqui nas etc.). El a segue
por esse cami nho. Na real i dade o aumento da procura de poupana
pode fazer subi r o preo; a di mi nui o da mo-de-obra pode fazer bai xar
o preo; porm a empresa no di spe de nenhum cri tri o para aval i ar
esses efei tos, mesmo com aproxi mao grossei ra, abstm-se de toda
previ so. Por outro l ado, quai squer que sejam as causas do fenmeno,
sufi ci ente ver como uma empresa qual quer procede, para se comprovar
que justamente dessa manei ra. Se um di a os trustes i nvadi rem uma
grande parte da produo, esse estado de coi sas poder mudar e mui tas
empresas segui ro o ti po (I I ) para a determi nao dos coefi ci entes de
produo. As coi sas ai nda no chegaram l , o que no i mpede que
mui tas empresas si gam o ti po (I I ) para a venda de seus produtos.
72. preci so que consi deremos bem a operao fei ta pel a empresa.
El a estabel ece seus cl cul os segundo os preos do mercado e, em con-
seqnci a, modi fi ca suas procuras de bens econmi cos e de trabal ho;
mas essas modi fi caes na demanda modi fi cam os preos, os cl cul os
estabel eci dos no so mai s exatos; a empresa os refaz segundo os novos
preos; novamente as modi fi caes nas procuras da empresa e de outras
que atuam do mesmo modo modi fi cam os preos; a empresa deve, uma
vez mai s, refazer seus cl cul os de preos, e assi m por di ante, at que,
depoi s de tentati vas sucessi vas, tenha encontrado a posi o em que
seu custo de produo m ni mo.
139
73. Como j temos vi sto em casos anl ogos (I I I , 122), a concor-
rnci a obri ga a segui r o ti po (I ) ai nda que o produtor no o quei ra.
Poderi a ocorrer que uma empresa se absti vesse de aumentar, por exem-
pl o, a mo-de-obra que emprega por temor de fazer aumentar seu
preo; mas o que essa empresa dei xar de fazer, outra empresa concor-
rente far, e a pri mei ra dever, fatal mente, agi r da mesma manei ra,
se no qui ser encontrar-se em condi es i nferi ores e arrui nar-se.
74. preci so, em segui da, observar que a concorrnci a, empurrando
as empresas sobre a l i nha das transformaes compl etas, l eva a que,
efeti vamente, se se consi dera o fenmeno mdi o e por um tempo mui to
prol ongado, so os consumi dores que acabam por aprovei tar-se da mai or
parte da vantagem que resul ta de todo esse trabal ho das empresas.
Dessa manei ra, as empresas concorrentes acabam chegando onde
no se propunham i r ( 11). Cada uma delas procurava apenas sua prpri a
OS ECONOMISTAS
256
139 Cours. 718.
vantagem, preocupando-se com os consumi dores apenas na medi da em
que podi a expl or-l os e, ao contrri o, como resul tado de todas essas
adaptaes e readaptaes sucessi vas i mpostas pel a concorrnci a, toda
essa ati vi dade das empresas se vol ta em provei to dos consumi dores.
75. Se nenhuma dessas empresas ganhasse nada nessas opera-
es, el as no agi ri am dessa manei ra durante tanto tempo assi m. Mas
na real i dade acontece que os mai s prudentes e os mai s atentos con-
seguem l ucro, durante certo tempo e at que se chegue ao ponto de
equi l bri o; enquanto aquel as que so mai s l entas e menos hbei s, per-
dem e arrui nam-se.
76. Exi stem certas rel aes entre os coefi ci entes de produo que
permi tem compensar a di mi nui o de uns pel o aumento de outro; i sso,
porm, no verdadei ro para todos os coefi ci entes. Por exempl o, na agri -
cul tura, pode-se compensar, dentro de certos l i mi tes, a di mi nui o das
superf ci es cul ti vadas pel o aumento dos capi tai s mobi l i ri os e da mo-de-
obra, obtendo sempre o mesmo produto. Mas bastante evi dente que no
se poderi a conservar a mesma produo de tri go aumentando os cel ei ros
e di mi nui ndo a superf ci e cul ti vada. Um joal hei ro pode aumentar a mo-
de-obra vontade, mas no poder jamai s reti rar de um qui l o de ouro
mai s do que um qui l o de ji as de ouro, ao mesmo t tul o.
77. Exi stem casos em que a compensao seri a teori camente pos-
s vel , porm no o seri a economi camente; i nti l que se consi derem
todas as rel aes entre coefi ci entes de produo que no entram no
rol das coi sas poss vei s na prti ca. i nti l , por exempl o, pesqui sar se
se pode di mi nui r a mo-de-obra necessri a para estanhar as caarol as
de cobre, servi ndo-se de caarol as de ouro. Mas, se a prata conti nuasse
a di mi nui r de preo, poder-se-i a pensar na substi tui o das caarol as
de cobre por caarol as de prata ou de cobre recobertas de prata.
78. Repartio da produo O custo de produo no depende
somente das qual i dades transformadas, depende tambm do nmero
de produtores ou de empresas. Para cada uma destas exi stem gastos
gerai s que preci so reparti r sobre sua produo; e, al m di sso, o porte
mai s ou menos consi dervel da empresa muda as condi es tcni cas
e econmi cas da produo.
79. Supe-se que as empresas estari am em condi es tanto me-
l hores quanto sua produo fosse mai s extensa, e essa concepo faz
nascer uma teori a segundo a qual a concorrnci a deve l evar consti -
tui o de um pequeno nmero de grandes monopl i os.
Os fatos no condi zem com essa teori a. Sabi a-se, desde h mui to,
que exi ste na agri cul tura para cada ti po de produo, certos l i mi tes
PARETO
257
extenso da empresa que convm no ul trapassar. Por exempl o, a cul -
tura de ol i vei ras na Toscana e a cri ao de gado na Lombardi a cons-
ti tuem doi s ti pos de empresa compl etamente di ferentes. Os grandes
fazendei ros l ombardos no teri am nenhuma vantagem em arrendar as
ol i vei ras da Toscana, onde o meei ro conti nua a prosperar.
Fatos numerosos demonstraram que, para a i ndstri a e para o
comrci o, a concentrao das empresas mai s noci va do que ti l quando
ul trapassa certos l i mi tes. Di zi a-se que em Pari s as grandes l ojas aca-
bari am por concentrar-se numa ni ca; ao contrri o, el as se mul ti pl i -
caram e seu nmero conti nua a crescer. Para os trustes ameri canos,
al guns prosperaram, outros fracassaram com enormes perdas.
80. Pode-se admi ti r, em geral , que, para cada gnero de produo,
exi ste certo tamanho de empresa que corresponde ao custo m ni mo de
produo; em conseqnci a, a produo l argada sua sorte, tende a
se reparti r entre empresas dessa espci e.
81. Equilbrio geral da produo Para os fenmenos do ti po
(I ), vi mos (I I I , 208) que o equi l bri o era determi nado por certas cate-
gori as de condi es,
140
que i ndi camos por (D, E). A pri mei ra, a categori a
(D), estabel ece que os custos de produo so i guai s aos preos de
venda; a segunda estabel ece que as quanti dades procuradas pel a trans-
formao so quanti dades efeti vamente transformadas.
A consi derao dos capi tai s, no fundo, nada muda nessas condies:
somente a forma di fere, pois, em vez de considerar apenas as mercadori as
transformadas, consi deram-se as mercadori as e os servi os de capi tai s.
Observemos que no necessri o que cada mercadori a tenha um
custo prpri o de produo. O tri go e a pal ha, por exempl o, so obti dos
ao mesmo tempo, e tm um custo de produo total . Nesse caso exi stem
certas rel aes que nos fazem conhecer que rel aes exi stem entre
essas mercadori as assi m reuni das. Por exempl o, sabe-se a quanti dade
de pal ha que se obtm por uni dade de tri go. Essas rel aes fazem
parte da categori a (D) das condi es.
82. preci so que consi deremos a vari abi l i dade dos coefi ci entes
de produo. Comecemos por supor que toda quanti dade de uma mer-
cadori a Y produzi da por uma ni ca empresa. Nos fenmenos do ti po
(I ), que estudamos neste momento, a empresa acei ta os preos do mer-
cado e se regul a por el es para ver como estabel ecer os coefi ci entes
de produo.
Suponhamos que, para produzi r essa mesma quanti dade Y, el a
possa, ao preo do mercado, por exempl o, ao preo de 5 francos por
OS ECONOMISTAS
258
140 Exi stem autores que confundem essas condi es com teoremas. preci so ser bem i gnorante
para no consegui r di sti ngui r coi sas to di ferentes.
jornada de operri o, di mi nui r a mo-de-obra em 50 francos por di a,
vi sto que el a aumenta a despesa com mqui nas a 40 francos por di a;
evi dente que esse empresri o ter i nteresse em agi r dessa manei ra.
Quando, porm, em razo dessa escol ha, a procura de mo-de-obra
ti ver di mi nu do e a das mquinas ti ver aumentado, os preos mudaro;
a quanti dade total da mercadori a Y produzi da pel a empresa mudar i gual -
mente, porque ao novo preo de Y se vender uma quanti dade di ferente.
Novamente, estando dados esses novos preos e a nova quanti -
dade total de mercadori a produzi da, a empresa refar seus cl cul os.
E conti nuar at que, por certos preos e por certas quanti dades, a
economi a de mo-de-obra seja i gual despesa mai or em mqui nas;
nesse momento se deter.
83. Para os fenmenos do ti po (I I ), proceder-se- de outra forma.
Quando poss vel na prti ca, o que no freqente, consi deram-se i me-
di atamente mudanas nos preos e nas quanti dades. Em conseqncia,
no exempl o precedente, a empresa no estabel ecer suas contas supondo
que a jornada do operri o ser de 5 francos, mas ir avali -l a, por exempl o,
em 4 francos e 80, para l evar em consi derao a bai xa do preo da jornada
que deve acompanhar a baixa da demanda de trabalho; far o mesmo
com as mqui nas e tambm com a quanti dade produzida.
evi dente que para poder operar assi m, preci so saber cal cul ar
as vari aes dos preos e as quanti dades; com efei to, i sso acontece
raramente e ai nda s poss vel nos casos de monopl i o. Um agri cul tor
pode cal cul ar faci l mente, aos preos do mercado, se l he mai s vantajoso
empregar a fora de um caval o ou a de uma l ocomoti va para aci onar
uma bomba; porm nem el e, nem ni ngum no mundo, estari a em con-
di es de saber o efei to que ter sobre os preos dos caval os e das
l ocomoti vas a substi tui o do caval o pel a l ocomoti va, nem a quanti dade
mai or de l egumes que ser consumi da no momento em que os consu-
mi dores desfrutarem da economi a que resul ta dessa substi tui o.
84. Retornemos ao caso dos fenmenos do ti po (I ). Em geral , exi stem
vri os produtores. A produo se reparte entre el es, como dissemos nos
78 a 80, e, em segui da, cada um del es determi na os coefi ci entes de produo
como se fosse o ni co produtor. Se a repartio se encontra modi fi cada,
refazem-se os clculos com a nova reparti o, e assi m por diante.
85. As condi es assi m obti das pel a reparti o e as condi es
para a determi nao dos coefi ci entes de produo, formaro uma ca-
tegori a que chamaremos (E).
Para determi nar os coefi ci entes de produo, haver pri mei ro as
rel aes que exi stem entre esses coefi ci entes e em segui da a i ndi cao
dos coefi ci entes que so constantes; depoi s vm as condi es em razo
PARETO
259
das quai s os val ores desses coefi ci entes so fi xados de manei ra a obter
o menor custo poss vel de produo ( 82).
Demonstra-se, de manei ra anl oga que fi zemos antes, que as
condi es (F) so em i gual nmero ao das i ncgni tas a determi nar.
86. Para os fenmenos do ti po (I I ) as condi es (D) so substi -
tu das, em parte, no caso das empresas que seguem o ti po (I I ), por
outras condi es que expri mem que essas empresas ti ram o mxi mo
de l ucro de seus monopl i os. Esses l ucros so, geral mente, expressos
em numerri o. As condi es (E) no mudam. As condi es (F) mudam,
seja porque, como vi mos no 83, o cami nho que segui mos di ferente,
seja porque pode exi sti r, no caso, monopl i o de certos fatores de pro-
duo ou de certas empresas.
87. Em geral , quando se consi dera toda uma col eti vi dade, l i mi -
tando-se a estudar os fenmenos econmi cos sem consi derar outros
fenmenos soci ai s, pode-se di zer que a quanti a em numerri o daqui l o
que as empresas vendem i gual quanti a gasta pel o consumo (a
poupana sendo consi derada como uma mercadori a), e que a quanti a
daqui l o que as empresas compram i gual soma dos rendi mentos
dos i ndi v duos da col eti vi dade.
88. Produo dos capitais Os pri nc pi os que acabamos de co-
l ocar so gerai s e apl i cam-se a todos os gneros de produo; porm,
entre estes, exi stem al guns que merecem ser consi derados parte.
Os capi tai s so comumente produzi dos pel as empresas que os
uti l i zam, mas so tambm, freqentemente, produzi dos por outras em-
presas. Trata-se de mercadori as que apresentam l ucros apenas pel os
juros que rendem; quem os produz ou os compra deve, portanto, pa-
gar-l hes um preo equi val ente ao juro, uma vez que o equi l bri o est
estabel eci do e que se opera segundo o ti po (I ).
Porm, nessas condi es, o preo de venda i gual ao custo de
produo; e, por outro l ado, h apenas um preo no mercado para a
mesma mercadori a. Segue-se a i sso que, nas condi es aci ma, os juros
l qui dos ( 52) de todos os capi tai s devem ser i guai s.
Essa concl uso encontra-se estrei tamente subordi nada hi ptese
de que todos esses capi tai s so produzi dos num mesmo momento.
Temos assi m apenas a parte pri nci pal dos fenmenos, geral mente
como quando se di z que a terra tem forma esfri ca.
preci so, como segunda aproxi mao, estabel ecer grandes cl asses
de capi tai s e consi derar restri es do gnero daquel as que expusemos
anteri ormente ( 58 et seq.).
89. Posies sucessivas de equilbrio Consi deremos certo n-
mero de espao de tempo i guai s e sucessi vos. Em geral , a posi o de
OS ECONOMISTAS
260
equi l bri o muda de um desses tempos para outro. Suponhamos que
certa mercadori a A tenha o preo 100 no pri mei ro espao de tempo e
que tenha o preo 120 no segundo. Se em cada espao de tempo se
consome preci samente a quanti dade de A produzi da nesse espao, no
h outra coi sa a di zer seno i sso: a pri mei ra poro de A consumi da
ao preo 100 e a segunda ao preo 120. Mas, se no pri mei ro espao
de tempo ai nda sobra uma poro de A (ou toda a quanti dade de A),
o fenmeno torna-se mai s compl exo e d l ugar a consi deraes de grande
i mportnci a.
A poro de A que sobrou ti nha o preo 100, porm, confunde-se
agora com a nova poro de A, que tem por preo 120, e ter por
consegui nte i gual mente esse preo. Dessa manei ra, aquel e que possui
essa poro de A, seja um parti cul ar ou a col eti vi dade, tem um ganho
i gual di ferena dos preos, i sto 20, mul ti pl i cado pel a quanti dade
da poro que sobrou. No caso contrri o teri a uma perda anl oga, se
o segundo preo fosse i nferi or ao pri mei ro.
Por outro l ado, esse ganho seri a apenas nomi nal se todos os
preos das outras mercadori as ti vessem aumentado nas mesmas pro-
pores; e para que a posse de A proporci one vantagem, comparada
posse de B, C..., preci so que essas propores sejam di ferentes.
90. A renda O fenmeno, embora no fundo seja o mesmo,
muda de forma quando i ntervm a noo de capi tal .
Seja A um capi tal . Como vi mos no 24, estabel ecem-se as
contas de manei r a que se possa supor que se empr ega A sem con-
sumi -l o, que el e si mpl esmente uti l i zado. Em conseqnci a, no
uma por o de A que sobr a aps o pr i mei r o espao de tempo, mas
toda a quanti dade de A.
Comecemos por supor que o juro l qui do dos capi tai s seja o mesmo
no pri mei ro espao de tempo e no segundo, e que el e seja, por exempl o,
de 5%. I sso si gni fi ca que A, que ti nha 100 por preo no pri mei ro espao
de tempo, dari a ento 5 l qui dos; e que, no segundo espao de tempo,
tendo por preo 120, d 6 de juro l qui do.
Pode-se, i nversamente, deduzi r os preos dos rendi mentos. Seja
A um capi tal que no se produz; por exempl o, a superf ci e do sol o. No
pri mei ro espao de tempo, el e dava 5 de rendi mento l qui do; deduz-se
ento que seu preo devi a ser 100; no segundo espao de tempo d 6
de rendi mento l qui do, deduz-se que seu preo passou para 120.
Exi ste, nesse caso, uma vantagem para quem possui este capi tal
A, mas, se todos os outros capi tai s aumentaram de preo nas mesmas
propores, no exi ste nenhuma vantagem em se possui r A em vez de
B, C... Se, ao contrri o, todos os capi tai s no aumentaram de preo
nas mesmas propores, a posse de um del es pode ser mai s ou menos
vantajosa do que a posse de um outro.
91. Suponhamos que, em mdi a, todos os preos dos capi tai s te-
nham aumentado de 10%; o preo de A, em vez de 100, deveri a ser
PARETO
261
110 e a 5% deveri a dar 5,50 de rendi mento l qui do; em conseqnci a,
comparado aos outros capi tai s, A d 0,50 de rendi mento l qui do a mai s.
Chamaremos essa quanti dade renda adquirida passando de uma po-
si o para outra.
141
92. Suponhamos em segui da que a mudana tr az conseqnci as
tambm par a a taxa de jur o l qui do. Esta er a de 5% na pr i mei r a
posi o e tor na-se 6% na segunda. Nesse caso, A, que val i a 100 na
pr i mei r a posi o, dava 5 de r endi mento l qui do, val endo 120 na
segunda, dar 7,20 de jur o l qui do. Mas suponhamos que, em mdi a,
os pr eos de todos os capi tai s tenham aumentado em 10%. Se A
esti vesse nas condi es dessa mdi a ter i a o pr eo de 110 e dar i a,
a 6% um r endi mento l qui do de 6,60; ao contr r i o, el e dar um
r endi mento l qui do de 7,20; a di fer ena, i sto , 0,60, i ndi ca-se a
vantagem daquel e que possui A, e esta a renda adquirida passando
da pr i mei r a posi o par a a segunda.
142
93. A renda da ter r a, ou r enda de Ri car do, um caso par ti cul ar
do fenmeno ger al que acabamos de estudar .
143
El e causou di scusses
i nfi ni tas, fr eqentemente i ntei s. Pesqui sou-se se a pr opr i edade da
ter r a er a a ni ca a gozar desse pr i vi l gi o, e houve al guns que r e-
conhecer am que o fenmeno er a mai s ger al ; outr os negar am a exi s-
tnci a da r enda, com o objeti vo de defender os l ati fundi r i os; outr os,
ao contr r i o, par a combat-l os, vi r am na r enda a or i gem de todos
os mal es soci ai s.
94. Ri cardo afi rmava que a renda no faz parte do custo de
produo. Exi ste, nessa afi rmao, pri mei ramente um exempl o do erro
corrente onde se i magi na que o custo de produo de uma mercadori a
i ndependente do conjunto do fenmeno econmi co. Se desprezarmos
esse ponto e exami narmos o raci oc ni o que prova que a renda no faz
parte do custo de produo, v-se que, no fundo, i sso l eva s segui ntes
proposi es: 1) supe-se que uma mercadori a, tri go, por exempl o,
produzi da em terras de ferti l i dade decrescente; 2) supe-se que a l ti ma
poro da mercadori a produzi da numa terra que d renda zero. Desde
que a mercadori a tem somente um preo, el e determi nado pel o custo
de produo, i gual ao preo de venda desta l ti ma poro, e esse preo,
evi dentemente, no vari ar se, para as pri mei ras pores, a renda, em
vez de ser recebi da pel o propri etri o recebi da pel o arrendatri o, ser
si mpl esmente um presente fei to a este l ti mo.
95. preci so observar que freqentemente a segunda hi ptese
no exata e que pode exi sti r, no caso, uma renda para todos os
OS ECONOMISTAS
262
141 Cours. 746 et seqs.
142 A noo geral , com s mbol os al gbri cos, encontra-se exposta em meu Cours, 747, nota.
143 Cours, 753.
propri etri os. Al m di sso, admi ti ndo que essas hi pteses sejam exatas,
observemos que, se o propri etri o fosse ao mesmo tempo empresri o
e consumi dor, a renda deveri a, necessari amente, ser deduzi da do custo
de produo. Temos, por exempl o, doi s terrenos que, com 100 de des-
pesas cada um, produzem: o pri mei ro 6 de tri go; o segundo, 5; o preo
do tri go de 20 francos. O pri mei ro terreno tem uma renda de 20, o
segundo de zero. Na organi zao em que exi ste um propri etri o, um
empresri o, um consumi dor, o consumi dor paga 220 por 11 de tri go;
dessa quanti a, 20 vo para o propri etri o como renda, 200 francos so
gastos. O custo de produo, para o empresri o, i gual ao preo de
venda, de 20.
Se h apenas uma pessoa que propri etri o, empresri o, con-
sumi dor, essa quanti dade 11 de tri go produzi da com um gasto de
200 e cada uni dade custa 18,18. O custo de produo no mai s o
caso de antes.
96. preci so que vejamos a rel ao que exi ste entre esses casos
parti cul ares e a teori a geral da produo (I I I , 100).
Levemos sobre oy os preos das quanti dades de tri go, sobre ox
as quanti dades de moeda que representam as despesas. Faamos oa
i gual a ab, i gual a 100; ah, i gual a 120, o preo da quanti dade de
tri go produzi da na pri mei ra propri edade; lk, i gual a 100, o preo da
quanti dade de tri go produzi do na segunda propri edade: ohk a l i nha
Fi gura 43
PARETO
263
das transformaes compl etas. Se l evamos a l i nha ost paral el a a hk,
hs ser i gual a 20, a l i nha ost a l i nha de i ndi ferena dos obstcul os
de ndi ce 20. a ni ca atravs da qual um atal ho reti l neo parti ndo
de o pode ser tangente a uma l i nha de i ndi ferena, aci ma de hl (el a
se confunde com essa l i nha de s a t). Exi ste uma l i nha de l ucro mxi mo,
que preci samente st. O equi l bri o dever acontecer sobre essa l i nha.
Pode-se repeti r o que j di ssemos nos pargrafos precedentes.
97. Quando o propri etri o se confunde com o empresri o e com
o consumi dor, j no consome seu tri go ao mesmo preo para todas
as pores; el e segue a l i nha das transformaes compl etas ohk, em
vez de segui r a l i nha dos preos constantes ost; o equi l bri o acontece
num ponto de hk, em vez de acontecer num ponto de st.
Esse fenmeno se produz em casos mui to mai s gerai s do que
este de que acabamos de fal ar. Ns os estudaremos no cap tul o segui nte.
OS ECONOMISTAS
264
CAPTULO VI
O Equilbrio Econmico
1. Exemplos de equilbrio Comecemos por estudar al guns casos
parti cul ares, os mai s si mpl es poss vei s.
Suponhamos um i ndi v duo que transforma vi nho em vi nagre, na
proporo de 1 de vi nho por 1 de vi nagre.
Desprezemos todas as demai s despesas de produo. Sejam t, t, t"...
as curvas de i ndi ferena dos gostos do i ndi v duo pel o vi nho e pel o vi nagre
e om a quanti dade de vinho de que pode di spor todos os meses; suporemos
que el a igual a 40 litros. Pergunta-se onde est o ponto de equi l bri o.
O probl ema extremamente si mpl es e se resol ve i medi atamente.
Tracemos de m a reta mn, com i ncl i nao de 45 sobre o ei xo ox; o
ponto c em que el a tangente a uma curva de i ndi ferena o ponto
de equi l bri o. A quanti dade de vi nho transformada i ndi cada por am,
que i gual a ac, que i ndi ca a quanti dade de vi nagre obti da.
Fi gura 44
265
O custo de produo do vi nagre, expresso em vi nho, 1; quando
traamos a reta mn, com i ncl i nao de 45 sobre o ei xo ox, supomos
que o preo do vi nagre, expresso em vi nho, 1.
2. preci so que vejamos o que se tornam as teori as gerai s nos
di ferentes casos parti cul ares que estudamos.
As l i nhas de i ndi ferena dos obstcul os so retas paral el as com
i ncl i nao de 45 sobre o ei xo ox. Com efei to, qual quer que seja a
quanti dade de vi nho de que se di spe, pode-se sempre transformar
uma parte, pequena ou grande, em vi nagre na proporo de 1 de vi nho
por 1 de vi nagre. A l i nha de i ndi ferena oh tem por ndi ce zero; a
l i nha das transformaes compl etas. Se fi zermos ca i gual a 1, a reta
ah paral el a a oh ser a l i nha de i ndi ferena de ndi ce posi ti vo i gual
a 1. Com efei to, se temos a quanti dade de vi nho oa, i gual a 2, e se
na transformao ns nos detemos em c, sobre a reta ah, teremos
transformado 1 de vi nho em 1 de vi nagre, e teremos um res duo posi ti vo
de 1 de vi nho. Se k"b, paral el a a ox, i gual a 1, a reta k"h", paral el a
a oh, ser uma l i nha de i ndi ferena com ndi ce menos 1. Com efei to,
se tendo 2 de vi nho ns nos detemos em d sobre essa l i nha, deveremos
ter 3 de vi nagre e fal ta-nos 1 de vi nho para possui r essa quanti dade.
3. O caso que exami namos um caso l i mi te. Se a reta oh fosse
transportada esquerda, tratar-se-i a do caso de mercadori as a custo
de produo crescente (I I I , 102); se fosse transportada di rei ta, tra-
tar-se-i a de mercadori as a custo de produo decrescente. No caso que
estudamos, o custo de produo constante, nem crescente nem de-
crescente. A reta oh no s a l i nha das transformaes compl etas,
mas tambm sua prpri a tangente. Al m di sso, se transportamos a
Fi gura 45
OS ECONOMISTAS
266
Fi g. 44 sobre a Fi g. 45, fazendo coi nci di r o ponto o da Fi g. 45 com o
ponto m da Fi g. 44, e os ei xos ox, oy da Fi g. 45 com mo, mp da Fi g.
44, a reta oh da Fi g. 45 coi nci di r com a reta mn da Fi g. 44, e i ndi car
o ni co atal ho percorri do na produo e no consumo.
4. Modi fi quemos um pouco as condi es do pr obl ema. Supo-
nhamos que a r el ao entr e a quanti dade de vi nho e a quanti dade
de vi nagr e obti da (pr eo do vi nagr e em vi nho) no seja constante.
Por exempl o, consi der emos as despesas de tr ansfor maes que ha-
v amos despr ezado. Cada semana se d 14 l i tr os de vi nho a um
homem que for nece o tonel e as fer r amentas e que tr abal ha par a
obter essa pr oduo. Dessa manei r a, pode-se tr ansfor mar at 60
l i tr os de vi nho em vi nagr e. Al m di sso, separ emos o pr odutor do
consumi dor . Haver um homem que pr oduz o vi nagr e, que o vende
ao consumi dor , e que r ecebe em vi nho.
Grafi camente, transportando a fi gura da produo sobre a do
consumo, faremos om i gual a 40 l i tros de vi nho, mh i gual a 14, e
traaremos a reta hk com i ncl i nao de 45 sobre mo;
144
esta ser a
l i nha de i ndi ferena de ndi ce zero, ou a l i nha das transformaes
compl etas. Se a l i nha das trocas do i ndi v duo consi derado acdc, suas
i ntersees c e c com a l i nha das transformaes compl etas sero pontos
de equi l bri o.
5. Se h apenas um produtor e se el e pode agi r segundo o ti po (I I )
Fi gura 46
PARETO
267
144 Em conseqnci a da fal ta de l ugar, o ponto e foi col ocado na fi gura entre c e c: na real i dade,
el e deve se si tuar al m de c, sobre a reta hk, parti ndo de c em di reo a c.
tratar de obter o mxi mo de l ucro, e o ponto de equi l bri o ser o
ponto d, onde a l i nha das trocas tangente reta hk paral el a a hk.
6. Se h concorrnci a, o produtor no poder permanecer em d
e ser rechaado para a l i nha hk.
7. Se o consumi dor a mesma pessoa que o produtor e se no
est deci di do a priori sobre o cami nho a segui r, el e segue a l i nha das
transformaes compl etas, sem preocupar-se com outra coi sa, e se de-
tm no ponto e, Fi g. 46, ponto em que essa l i nha tangente a uma
curva de i ndi ferena dos gostos t. O ponto e di fere dos pontos c e c
por que os gneros de atal hos segui dos so di ferentes.
Na troca a preos constantes, os atal hos segui dos so mc, mc;
quando o produtor se confunde com o consumi dor, o atal ho segui do
a l i nha quebrada mhe (V, 97).
8. Poder-se-i a segui r i gual mente esse cami nho na troca. Por exempl o,
um hotel ei ro pago por seus clientes: 1) uma quanti a fi xa por suas despesas
gerai s e seu l ucro; 2) o si mpl es custo dos al i mentos que l hes fornece.
Nesse caso o comprador segue um cami nho semel hante a mhk.
9. Observemos que o ponto e mai s al to que os pontos c, c; i sso
si gni fi ca que o cl i ente goza de mai s ofel i mi dade em e do que em c e c.
o que se pode constatar, na prti ca, sem fazer teori as. Um
hotel ei ro cobra 4 francos por 1 garrafa de vi nho, dos quai s 2 francos
so para as despesas gerai s e seus l ucros e 2 francos pel o preo do
vi nho. Um cl i ente bebe apenas uma dessas garrafas, por que por uma
segunda el e estari a di sposto a gastar 2 francos e no 4. Mas o hotel ei ro
muda sua manei ra de agi r. Pri mei ro el e cobra de cada cl i ente 2 francos;
depoi s l hes d tantas garrafas quantas quei ram ao preo de 2 francos.
O cl i ente consi derado beber duas garrafas. Em conseqnci a, ter
mai s prazer, enquanto o hotel ei ro ganhar o mesmo que antes.
10. Retor nemos ao caso do pr odutor que tem o poder de obr i gar
os consumi dor es a descer at d. Suponhamos que exi ste um si ndi cato
que pr o be aos pr odutor es de acei tar um pr eo i nfer i or quel e que
cor r esponde ao ponto d, ou a outr o ponto si tuado entr e d e c. A
concor r nci a no pode mai s oper ar como aci ma. O l ucr o que os pr o-
dutor es obtm em d l eva a que outr os pr odutor es quei r am par ti ci par ;
o nmer o de pr odutor es aumenta, e como cada um del es deve r eti r ar
da pr oduo sua pr pr i a manuteno, o custo de pr oduo aumenta,
necessar i amente. Em outr as pal avr as, a l i nha hk das tr ansfor maes
compl etas se desl oca e acaba por passar pel o ponto a que os pr o-
dutor es se atm. Esse fenmeno tor nou-se fr eqente em cer tos pa -
OS ECONOMISTAS
268
ses, onde um grande nmero de pessoas, graas aos si ndi catos, vi ve
como parasi tas da produo.
11. O caso que acabamos de consi derar o ti po si mpl i fi cado de
fenmeno mui to freqente, que se produz quando as despesas gerai s
se repartem sobre o produto, de manei ra que o custo da uni dade do
produto bai xa medi da que a produo aumenta. Dentro de certos
l i mi tes, bem entendi do.
12. Vejamos como as coi sas se passam numa categori a de mer-
cadori as, cujo custo de produo aumenta quando a quanti dade pro-
duzi da aumenta.
Suponhamos, por exempl o, que com 1 de A se obtm pri mei ro 2
de B e, em segui da, para cada uni dade de A, uma uni dade de B. Os
custos sero os segui ntes:
Grafi camente, se fi zermos mh i gual a 1, hl i gual a 2, e se tra-
armos a reta lk, com i ncl i nao de 45 sobre mo, a l i nha quebrada
hlk ser a l i nha das transformaes compl etas; as outras l i nhas de
i ndi ferena sero dadas pel as paral el as a hlk. Se arredondarmos um
pouco o ngul o em l, teremos no prpri o ponto l o ponto de tangnci a
do atal ho ml e de uma l i nha de i ndi ferena. Reuni ndo esses pontos
de tangnci a, teremos a l i nha ll. Em segui da, se kl passar por m, o
atal ho reti l neo parti ndo de m e tangente curva de i ndi ferena hlk
coi nci di r com a mesma reta lk. Em conseqnci a, o l ugar dos pontos
de tangnci a, i sto , a l i nha do l ucro mxi mo (I I I , 105), ser a l i nha
quebrada llk. Seu ponto de i nterseo c com a l i nha das trocas mcd
dar um ponto de equi l bri o.
O produtor natural mente desejari a i r um pouco mai s l onge do
l ado dos ndi ces posi ti vos. Por exempl o, el e se achari a mel hor no ponto
c"; porm el e expul so pel a concorrnci a, como j o vi mos (I I I , 137).
13. Mesmo nesse caso a concorrnci a pode ter outro efei to, como
j hav amos demonstrado para mercadori as com custo de produo
decrescente ( 10); el a pode, sem modi fi car os preos, fazer aumentar
o nmero de concorrentes, e, em conseqnci a, aumentar o custo de
produo. Dessa manei ra, a l i nha do l ucro mxi mo se desl oca e acaba
por passar pel o ponto em que os produtores permaneci am i mobi l i zados
pel o preo fi xado por seu si ndi cato, ou determi nado de outra manei ra.
PARETO
269
O equi l bri o ocorrer novamente sobre essa l i nha. Os produtores
aproxi mam-se dessa l i nha se a concorrnci a atua sobre os preos; el a
se aproxi ma dos produtores se a concorrnci a atua de manei ra a au-
mentar o nmero desses produtores e as despesas de produo.
14. Tudo i sso corresponde real i dade. Dadas as condi es eco-
nmi cas de um pa s, h certa produo de tri go por hectare que, para
uma terra determi nada, corresponde ao l ucro mxi mo; por esse pro-
duto que o cul ti vador se deci de. O preo determi nado pel a i gual dade
do custo de produo, i ncl ui ndo esse l ucro, e do preo que o produtor
est di sposto a pagar pel a quanti dade produzi da nessas condi es. Na-
tural mente, o cul ti vador gostari a bastante de obter um preo mai s
al to, porm, i mpedi do pel a concorrnci a.
15. A Economi a corrente senti u a di ferena que exi ste entre os
casos que exami namos, porm no chegou jamai s a ter uma noo
preci sa del a, e no sabi a nem mesmo expl i car as di ferentes manei ras
de agi r da concorrnci a.
Fi gura 47
OS ECONOMISTAS
270
16. Se, no caso hi potti co que acabamos de consi derar as pessoas
operam segundo o ti po (I I ) dos fenmenos, o ponto de equi l bri o ser
l", onde a l i nha das trocas mcd tangente a uma curva de i ndi ferena
do produtor, porque l o ponto em que h l ucro mxi mo. Se a forma
de mcd fosse um pouco di ferente, esse ponto poderi a se encontrar nas
cercani as de l.
17. Se o consumi dor i gual mente o produtor, segui r a linha das
transformaes compl etas hlk e o ponto de equi l bri o ser dado pel o ponto
de tangncia dessa linha e de uma linha de indi ferena dos gostos.
18. Poderi a haver tambm consumi dores podendo e querendo i m-
por aos produtores que segui ssem atal hos reti l neos que, parti ndo de
m, chegassem l i nha das transformaes compl etas. Nesse caso, o
ponto de equi l bri o estari a em e ( 43-47).
19. As formas correntes da troca e da produo Pode-se con-
ceber, para as curvas de i ndi ferena dos gostos e dos obstcul os, as
formas mai s estranhas. Seri a di f ci l demonstrar que el as jamai s exi s-
ti ram ou que no exi sti ro jamai s. preci so, evi dentemente, que nos
restri njamos a consi derar aquel as que so as mai s comuns.
20. Entre as mercadori as de grande consumo, apenas para o
trabal ho que podemos observar, na prti ca, que, al m de certo l i mi te,
a oferta, em vez de aumentar, di mi nui com o preo. O aumento dos
sal ri os tem como conseqnci a, em todos os pa ses ci vi l i zados, a di -
mi nui o das horas de trabal ho. Para as outras mercadori as consta-
tamos quase sempre que a oferta aumenta ao mesmo tempo que o
preo; i sso tal vez acontea porque observamos, no pel a l ei da oferta
na si mpl es troca, mas pel a l ei da oferta na produo.
21. Em todo caso, sal vo para o trabal ho, no podemos afi rmar
que constataremos na real i dade, para as curvas de troca, formas como
aquel as da Fi g. 17 (I I I , 120); el as parecem, ao contrri o, possui r formas
anl ogas s da Fi g. 48. A curva das trocas l evadas aos ei xos ox, oy
mcd; da mesma manei ra essa curva, para um outro i ndi v duo, l evada
aos ei xos wm, wn mcr. I sso verdadei ro, dentro dos l i mi tes, al i s
estrei tos, das observaes. No sabermos o que que se tornam essas
curvas al m de d e de r.
22. Nessas ci rcunstnci as, exi ste apenas um ponto de equi l bri o,
em c, e um ponto de equi l bri o estvel .
23. Para a produo, observamos mui tos exempl os de mercadori as
com custo decrescente e outras com custo crescente; porm parece que
o custo, pri mei ro decrescente, acaba sempre por crescer, al m de certos
PARETO
271
l i mi tes. Para essas mercadori as exi stem pontos de tangnci a dos ata-
l hos reti l neos parti ndo de m, e em conseqnci a uma l i nha lll" de
l ucro mxi mo. Se observssemos os fenmenos apenas na parte som-
breada da fi gura, onde os custos so sempre crescentes, com o aumento
da quanti dade transformada, essa l i nha lll" no exi sti ri a.
24. Para as mercadori as com custo decrescente, observa-se, na
real i dade, o doi s pontos de equi l bri o dados pel a teori a, Fi g. 46 ( 4),
mas exi stem atri tos poderosos que permi tem ao equi l bri o i nstvel du-
rar, s vezes, mai s ou menos mui to tempo.
Uma estrada de ferro pode fazer o bal ano de suas despesas com
tari fas el evadas e fazendo pouco transporte, ou tari fas bai xas, fazendo
Fi gura 48
Fi gura 49
OS ECONOMISTAS
272
mui to transporte. Temos assi m os doi s pontos c e c da Fi g. 46 ( 4).
Os pequenos l oji stas se atm ao ponto c, vendendo pouco a preos
el evados: as grandes l ojas l evaram o ponto de equi l bri o a c vendendo
mui to a preos bai xos; e agora os l oji stas pedem a i nterveno da l ei
para restabel ecer o ponto de equi l bri o em c.
25. Temos tambm numerosos exempl os da l i nha de l ucro mxi mo
para as mercadori as de custos crescentes. A cul tura extensi va nas cer-
cani as de Roma no pode ser expl i cada de outra manei ra. Na I ngl aterra,
depoi s da supresso dos di rei tos sobre o tri go, e como resul tado da
concorrnci a dos tri gos estrangei ros, as formas das curvas de i ndi fe-
rena dos obstcul os para a cul tura do tri go mudaram de forma e,
dentro de l i mi tes, o custo de produo do tri go bai xou, em vez de
aumentar, com a quanti dade produzi da. Resul tou da a mudana da
cul tura do tri go que se tornou ento mai s i ntensi va.
26. O equilbrio dos gostos e da produo Consi deremos uma
col eti vi dade i sol ada e suponhamos que todas as despesas do i ndi v duo
sejam fei tas pel as mercadori as que compra, e que suas recei tas pro-
venham todas das vendas de seu trabal ho, de outros servi os dos ca-
pi tai s ou de outras mercadori as.
Nessas condi es o equi l bri o determi nado pel as condi es que
j col ocamos (I I I , 196 et seq.) para os gostos e para os obstcul os.
Vi mos que os gostos e a consi derao das quanti dades exi stentes de certos
bens determinava as relaes entre os preos e as quanti dades vendi das
ou compradas. Por outro l ado, a teori a da produo nos ensi nou que,
dadas essas rel aes, se determi navam as quanti dades e os preos. O
probl ema do equi l bri o est, portanto, compl etamente resol vi do.
27. O equilbrio em geral O caso teri co precedente di fere
mui to, numa de suas partes, da real i dade. Com efei to, as recei tas do
i ndi v duo esto l onge de ter por ori gem apenas os bens que esse i n-
di v duo vende para a produo. A D vi da Pbl i ca dos povos ci vi l i zados
enorme; somente parte mui to pequena dessa d vi da servi u para a
produo e, freqentemente, mui to mal . Os i ndi v duos que usufruem
dos juros dessa d vi da no podem, de manei ra al guma, ser consi derados
como pessoas que cederam bens econmi cos produo. Dever amos
fazer consi deraes semel hantes para os honorri os da burocraci a, sem-
pre crescente nos Estados modernos; para as despesas da guerra, da
mari nha e para mui tas das despesas dos servi os pbl i cos. No pes-
qui samos aqui , absol utamente, se e em que medi da essas despesas
so mai s ou menos tei s soci edade, e em que casos el as l he so
i ndi spensvei s. Constatamos si mpl esmente que sua uti l i dade, quando
exi ste, de outro ti po, di ferente daquel e que resul ta di retamente da
produo econmi ca.
PARETO
273
28. Por outro l ado, as despesas dos i ndi v duos esto l onge de se
restri ngi rem aos bens econmi cos que compram. Os i mpostos consti -
tuem uma parte consi dervel .
Por um cl cul o bastante grossei ro mas que tal vez no se di stanci e
mui to da verdade, esti ma-se que, em certos pa ses da Europa, cerca de
25% dos rendi mentos dos i ndi v duos desti nam-se ao pagamento de i m-
postos. A teori a que expusemos teri a val or, portanto, apenas para, no
mxi mo, 3/4 das quanti as que formam o rendimento total de uma nao.
29. fci l modi fi car essa teori a de manei ra a l evar em consi de-
rao os fenmenos que acabamos de i ndi car. Para i sso basta di sti ngui r,
nos rendi mentos dos i ndi v duos, a parte que provm dos fenmenos
econmi cos daquel a que l he estranha; e proceder da mesma manei ra
com as despesas.
30. A parte dos rendi mentos que se dei xa com os i ndi v duos
gasta por estes segundo seus gostos; e, no que tange sua reparti o
entre as di ferentes despesas, retorna-se teori a, j exposta, do equi -
l bri o concernente aos gostos. A parte reti rada pel a autori dade pbl i ca
gasta de acordo com outras regras que a Ci nci a Econmi ca no tem
que estudar. Esta deve portanto supor que essas regras fazem parte
dos dados do probl ema a resol ver. As l ei s da oferta e da procura re-
sul taro da consi derao dessas duas categori as de despesas. Se se
consi derasse apenas uma, a di vergnci a com o fenmeno concreto po-
deri a ser consi dervel . Para o ferro e para o ao, por exempl o, as
procuras dos Governos concernem a uma parte notvel da produo.
31. No que se rel aci ona ao equi l bri o dos obstcul os, preci so
consi derar que a despesa das empresas no i gual , como anteri ormente,
renda total dos i ndi v duos, mas consti tui apenas uma parte, poi s o
resto tem outra ori gem (d vi da pbl i ca, honorri os etc.). A reparti o
da parte desti nada a comprar os bens transformados pel a produo
determi nada pel a teori a do equi l bri o com rel ao aos obstcul os. A
reparti o da outra parte de rendi mentos determi nada pel as consi -
deraes que, como no caso anl ogo precedente, escapam s pesqui sas
da Ci nci a Econmi ca e que se deve, em conseqnci a, i r buscar em
outras ci nci as; essa reparti o deve, portanto, fi gurar aqui entre os
dados do probl ema.
32. Propriedade do equilbrio O equi l brio, segundo as condies
pel as quai s obti do, goza de certas propri edades que i mportante conhecer.
33. Comearemos por defi ni r um termo do qual bom se servi r
para evi tar l ongas exposi es. Di remos que os membros de uma col e-
ti vi dade gozam, em determi nada posi o, do mximo de ofelimidade,
OS ECONOMISTAS
274
quando se torna i mposs vel encontrar um mei o de afastar-se mui to
pouco dessa posi o, de tal manei ra que a ofel i mi dade de que goza
cada i ndi v duo dessa col eti vi dade aumente ou di mi nua. I sso si gni fi ca
que todo pequeno desl ocamento a parti r dessa posi o tem, necessa-
ri amente, como efei to aumentar a ofel i mi dade de que gozam certos
i ndi v duos e di mi nui r a de que outros gozam: ser agradvel a uns e
desagradvel a outros.
34. Equilbrio da troca Temos o segui nte teorema:
Para os fenmenos do tipo (I ), quando o equilbrio acontece num
ponto em que as curvas de indiferena dos contratantes so tangentes, os
membros da coletividade considerada gozam do mximo de ofelimidade.
Observamos que se chega a essa posio de equi l brio seja por um
atal ho reti l neo, i sto , com preos constantes, seja por um atal ho qual quer.
35. S se pode fazer demonstrao ri gorosa desse teorema com
a ajuda das Matemti cas; contentar-nos-emos em fornecer um esboo.
Comecemos por consi derar a troca entre doi s i ndi v duos. Para o
Fi gura 50
PARETO
275
pri mei ro, os ei xos so ox e oy, e para o segundo, , ; di sponhamo-l os
de manei ra que os atal hos percorri dos pel os doi s i ndi v duos confun-
dam-se numa ni ca l i nha sobre a Fi g. 16 (I I I , 116). As l i nhas de i n-
di ferena so t, t, t"... para o pri mei ro i ndi v duo e s, s, s", para o
segundo. Para o pri mei ro a curva do prazer sobe de o para e para
o segundo, ao contrri o, sobe de para o.
Para os fenmenos do ti po (I ), sabe-se que o ponto de equi l bri o
deve si tuar-se num ponto de tangnci a das curvas de i ndi ferena dos
doi s i ndi v duos. Seja c um desses pontos. Se del e nos afastarmos se-
gui ndo o cami nho cc, sobe-se a curva do prazer do pri mei ro i ndi v duo,
e se desce a do segundo; e i nversamente se segui rmos o cami nho cc".
No poss vel , portanto, afastarmo-nos de c servi ndo ou prejudi cando
aos doi s i ndi v duos de uma s vez; porm, necessari amente, se se
agradvel a um, -se desagradvel a outro.
No , porm, a mesma coi sa para os pontos, como d, onde se
cortam duas curvas de i ndi ferena. Se segui rmos o cami nho dd, au-
mentamos o prazer dos doi s i ndi v duos; se segui rmos a l i nha dd" di -
mi nui -l o-emos para os doi s.
36. Para os fenmenos do ti po (I ), o equi l bri o ocorre num ponto
como c; para os fenmenos do ti po (I I ), o equi l bri o ocorre num ponto
como d; resul ta da a di ferena entre esses doi s ti pos de fenmenos,
no que se rel aci ona com o mxi mo de ofel i mi dade.
37. Voltando Fi g. 49, v-se de manei ra i ntui ti va que, prol ongando
o atal ho cc em di reo a h, descemos sempre a curva do prazer do segundo
indi v duo, enquanto, ao contrri o, comea-se a subir a curva do prazer
do pri mei ro i ndi v duo para descer em segui da, quando se est al m, do
ponto em que cch tangente a uma linha de indi ferena. Em conseqncia,
se nos di stanci armos em linha reta, de uma quanti dade fi nita, da posio
de equi l bri o, as ofel i mi dades de que gozam os doi s i ndi v duos podero
vari ar de maneira que uma aumenta enquanto a outra di mi nui, ou que
di mi nuam as duas; mas as duas no podero aumentar conjuntamente.
I sso verdadei ro, al i s, apenas para as mercadori as cujas ofel i mi dades
so i ndependentes ou em casos em que essas mercadori as tenham uma
dependnci a do pri mei ro gnero (I V, 42).
Somente as Matemti cas permi tem uma demonstrao ri gorosa,
no s nesse caso, mas tambm no caso geral de vri as mercadori as
e de vri os i ndi v duos.
38. Se se pudesse fazer com a soci edade humana experi nci as
como faz o qu mi co em seu l aboratri o, o teorema precedente nos per-
mi ti ri a resol ver o segui nte probl ema:
Considere-se uma coletividade dada; no se conhecem os ndices
de ofelimidade de seus membros; sabe-se que com a troca de certas
OS ECONOMISTAS
276
quantidades existe equilbrio; pergunta-se: ele obtido nas mesmas con-
dies em que seria obtido pela livre concorrncia?
preci so fazer uma experi nci a para ver se, permanecendo a
mesma manei ra como se efetuam as trocas pode-se acrescentar (ob-
servem bem: acrescentar e no substi tui r) outras trocas, fei tas a preos
constantes que contentem todos os i ndi v duos. Se si m, o equi l bri o no
acontece da mesma manei ra como quando exi ste a l i vre concorrnci a;
se no, ocorre nessas condi es.
39. Equilbrio da produo preci so que di sti ngamos aqui
vri os casos:
1) Preos de venda constantes. () Coefi ci entes de produo va-
ri vei s com a quanti dade total , i sto , mercadori as cujo custo de pro-
duo vari a com a quanti dade. () Coefi ci entes de produo constantes
com a quanti dade, i sto , mercadori as cujo custo de produo cons-
tante. 2) Preos de venda variveis.
40. 1) () Esse caso nos dado pel a Fi g. 46 ( 4). Os pontos c,
c de equi l bri o no so aquel es que do o mxi mo de ofel i mi dade na
transformao. Em conseqnci a, pode exi sti r, no caso, um ponto que
no esteja sobre a l i nha das transformaes compl etas e de tal manei ra
que a empresa da transformao tenha um l ucro, enquanto os consu-
mi dores esto mel hor do que c, c. Esse caso, na real i dade, acontece
s vezes com os trustes.
41. 1) (). o caso da Fi g. 44 ( 1). O ponto c de equi l bri o d
o mxi mo de ofel i mi dade para as transformaes.
42. 2) Os preos vari vei s podem ser tai s que produzam um fe-
nmeno anl ogo ao do caso 1 ().
Porm, se se pode di spor desses preos para obter o mxi mo de
ofel i mi dade nas transformaes, pode-se, dessa manei ra, ati ngi r o ponto
e, Fi g. 51, que fornece esse mxi mo.
43. Se segui mos o cami nho amu das transformaes compl etas,
certamente chegamos a ; da mesma manei ra tambm se se segue um
atal ho avu, que coi nci de com essa l i nha apenas na parte veu, ou, enfi m,
um atal ho all e tangente em e l i nha das transformaes compl etas
e l i nha de i ndi ferena t.
Na real i dade, este l ti mo atal ho mui to di f ci l segui r porque
preci so adi vi nhar preci samente onde se encontra o ponto e; os doi s
pri mei ros atal hos, ao contrri o, podem ser segui dos sem que se sai ba
preci samente onde est o ponto e..
PARETO
277
44. pr ovvel que a mai or par te da pr oduo seja do ti po no
qual o custo de pr oduo var i a com a quanti dade pr oduzi da; pode-se,
por conseqnci a, afi r mar que o si stema dos pr eos constantes, que
ger al mente uti l i zado em nossa soci edade, no pr opor ci one o m-
xi mo de ofel i mi dade; e, se se consi der a o gr ande nmer o de pr odutos
aos quai s se apl i ca essa concl uso, par ece que a per da da ofel i -
mi dade deve ser mai or .
45. por i sso que, mesmo em nossa organi zao soci al , os pro-
dutores l evam vantagem prati cando preos vari vei s e, como no podem
faz-l o i ndi retamente por mei o de expedi entes, se aproxi mam apenas
grossei ramente da sol uo que dari a o mxi mo de ofel i mi dade.
Em geral , obtm-se preos vari vei s di sti ngui ndo os consumi dores
em categori as; e esse expedi ente val e mai s do que nada, mas est
ai nda bem l onge da sol uo que fari a vari ar os preos para todos os
consumi dores.
46. O grave erro que l eva a jul gar os fatos econmi cos segundo
normas morai s l eva mui ta gente, de manei ra mai s ou menos consci ente,
a pensar que o l ucro do produtor no pode ser outro seno o preju zo
do consumi dor e vi ce-versa. Em conseqnci a, se o produtor no ganha
nada, se est sobre a l i nha das transformaes compl etas, i magi na-se
que o consumi dor no pode sofrer preju zo.
Sem i nsi sti r sobre o fato de que, j vi mos ( 10), a l i nha das
transformaes compl etas pode ser obti da com um excesso do custo de
produo, i nteressante no se esquecer o caso bastante freqente
i ndi cado no 39 (1) .
Fi gura 51
OS ECONOMISTAS
278
47. Suponhamos, por exempl o, que um pa s consome 100 de uma
mercadori a X, e que essa mercadori a seja produzi da por usi nas naci o-
nai s ao custo de 5 por uni dade. O custo total de 500; e, se o preo
de venda total tambm 500, os produtores naci onai s no obtm ne-
nhum l ucro.
Acontece que agora el es produzem 200, o que faz bai xar o custo
de produo a 3. El es vendem 120 no pa s ao preo de 3,50, e 80 no
exteri or ao preo de 2,50. Recebem no total 620 por uma mercadori a
que l hes custa 600, e em conseqnci a, obtm l ucro. Os consumi dores
naci onai s se l amentam porque pagam a mercadori a mai s cara do que
vendi da aos estrangei ros, mas, no fundo, pagam menos do que pa-
gavam antes, e, conseqentemente, tm vantagem e no preju zo.
Pode acontecer, porm no certo, que fenmeno semel hante
tenha se produzi do al guma vez na Al emanha, onde os produtores ven-
dem ao exteri or a um preo menor que vendem em seu pa s; porque
dessa manei ra podem aumentar a quanti dade produzi da e reduzi r o
custo de produo.
48. Os fenmenos que acabamos de estudar sugerem, de manei ra
abstrata e sem consi derar di fi cul dades prti cas, um argumento consi -
dervel a favor da produo col eti vi sta. Mui to mel hor do que a produo,
em parte submeti da concorrnci a, em parte aos monopl i os, que temos
atual mente, esta poderi a val er-se de preos vari vei s que permi ti ri am
segui r a l i nha das transformaes compl etas, e, em conseqnci a, ati n-
gi r o ponto e da Fi g. 46 ( 4), ao passo que atual mente devemos per-
manecer no ponto c, ou ai nda no ponto c. A vantagem que a soci edade
teri a poderi a ser to grande que compensari a os preju zos i nevi tvei s
de uma produo desse gnero. Mas para i sso seri a necessri o que a
produo col eti vi sta ti vesse como ni co objeti vo persegui r o mxi mo
de ofel i mi dade na produo, e no o de proporci onar l ucros de mono-
pl i os aos operri os ou persegui r i deai s humani tri os.
145
Como bem o
ti nham vi sto os anti gos economi stas, a procura da mai or vantagem
para a soci edade um probl ema de produo.
At mesmo as soci edades cooperati vas poderi am nos l evar sobre
a l i nha das transformaes compl etas, i sso porm no acontece porque
se dei xam desvi ar de seu objeti vo pel as vi ses ti cas, fi l antrpi cas,
humani tri as. No se poderi a persegui r doi s objeti vos ao mesmo tempo.
Se se consi dera o fenmeno excl usi vamente do ponto de vi sta
das teori as econmi cas, uma manei ra mui to m de organi zar a em-
presa das estradas de ferro exi gi ndo, das soci edades que as expl oram,
como se fez na I tl i a, uma cota fi xa sobre o produto bruto (ou ai nda
sobre o produto l qui do) em provei to do Estado, porque dessa manei ra,
PARETO
279
145 Entre os soci al i stas, G. Sorel tem o grande mri to de haver compreendi do que o probl ema
que o col eti vi smo deve resol ver pri nci pal mente um probl ema de produo.
em vez de for-l as a se aproxi mar da l i nha das transformaes com-
pl etas, acaba-se por i mpedi -l as.
49. A l i vre concorrnci a determi na os coefi ci entes de produo
de manei ra a assegurar o mxi mo de ofel i mi dade. El a tende a tornar
i guai s os rendi mentos l qui dos dos capi tai s que se podem produzi r por
mei o da poupana. Com efei to, a poupana , evi dentemente, trans-
formada nos capi tai s que do mai s rendi mento, at o momento em
que a abundnci a desses capi tai s faa bai xar a renda l qui da ao n vel
comum. Essa i gual dade dos rendi mentos l qui dos i gual mente uma
condi o para consegui r do uso desses capi tai s o mxi mo de ofel i mi dade.
Mesmo nesse caso, a demonstrao ri gorosa s pode ser fei ta pel as
Matemti cas.
146
Apenas i ndi caremos aqui , mai s ou menos, o andamento
do fenmeno.
50. No que se refere ao rendi mento dos capi tai s, pde-se observar
que, se a poupana ofi ci al obtm em certo emprego um rendi mento
mai or que em outro, i sso si gni fi ca que o pri mei ro emprego mai s
produti vo que o segundo. Em conseqnci a, h vantagem para a so-
ci edade em di mi nui r o pri mei ro emprego da poupana para aumentar
o segundo, e chega-se tambm i gual dade dos rendi mentos l qui dos
nos doi s casos. Porm, esse raci oc ni o bem pouco preci so, nada ri go-
roso, e, conseqentemente, por si prpri o no provari a nada.
51. Um pouco mel hor, mas bem pouco, o raci oc ni o que, sem
uso das Matemti cas, faz i ntervi r os coefi ci entes de produo.
As empresas os determi nam de manei ra a ter o custo m nimo: a
concorrncia, porm, empurra-os sobre a l i nha das transformaes com-
pl etas; e, em conseqncia, so seus cl i entes, compradores e vendedores
que, em defi ni ti vo, so benefi ci ados pel a obra executada pel as empresas.
O defei to desse gnero de demonstraes no resi de apenas em
sua fal ta de preci so, mas tambm, e pri nci pal mente, no fato de que
el as no fornecem uma i di a cl ara das condi es necessri as para que
os teoremas sejam verdadei ros.
52. O equilbrio no sociedade coletivista Fal ta-nos agora fal ar
dos fenmenos do ti po (I I I ), sobre os quai s apenas fi zemos al uses at
o momento (I I I , 49).
Par a dar -l hes uma for ma concr eta, e medi ante uma abstr ao
anl oga do homo oeconomicus, consi der emos uma soci edade col e-
ti vi sta que tenha por fi m pr opor ci onar o mxi mo de ofel i mi dade de
seus membr os.
OS ECONOMISTAS
280
146 Cours. 724.
53. O probl ema di vi de-se em outros doi s, que so compl etamente
di ferentes e que no podem ser resol vi dos com os mesmos cri tri os: 1)
Temos um probl ema de di stri bui o: como devem ser reparti dos entre
seus membros os bens que a soci edade possui ou produz? (I I I , 12, 16).
preci so fazer i ntervi r consi deraes ti cas, soci ai s de di ferente gnero,
comparaes de ofel i mi dade de di ferentes i ndi v duos etc. No temos
por que nos ocupar di sso aqui . Suporemos, portanto, resol vi do esse
probl ema; 2) Temos um probl ema de produo: como produzi r bens
econmi cos de manei ra que, di stri bui ndo-os em segui da segundo regras
obti das pel a sol uo do pri mei ro probl ema, os membros da soci edade
obtenham o mxi mo de ofel i mi dade?
54. Depoi s de tudo que di ssemos, a sol uo desse probl ema fci l .
Os preos, os juros l qui dos dos capi tai s podem desaparecer, se
que i sso poss vel , como enti dades reai s, mas permanecero como
enti dades contbei s: sem el es o ministrio da produo andari a s
cegas e no poderi a organi zar a produo. Fi ca bem entendi do que, se
o Estado o dono de todos os capi tai s, para el e que vo todos os
juros l qui dos.
55. Para obter o mxi mo de ofel i mi dade, o Estado col eti vi sta
dever tornar i guai s os di ferentes juros l qui dos e determi nar os coe-
fi ci entes de produo da mesma manei ra que a l i vre concorrnci a os
determi na. Al m di sso, depoi s de haver fei to a di stri bui o segundo
as regras do pri mei ro probl ema, el e dever permi ti r uma nova di stri -
bui o, que os membros da col eti vi dade podero fazer entre si ou que
o Estado soci al i sta poder fazer, mas que, em todos os casos, dever
ser fei to como se fosse executado pel a l i vre concorrnci a.
56. A diferena entre os fenmenos do tipo (I ) e aquel es do ti po (I I I )
resi de, portanto, pri nci pal mente, na reparti o dos rendi mentos. Nos fe-
nmenos do ti po (I ), essa reparti o se real iza de acordo com todas as
conti ngnci as histri cas e econmicas nas quai s a soci edade evolui ; nos
fenmenos do ti po (I I I ), el a a conseqnci a de certos pri nc pi os ti co-soci ais.
57. preci so, al m di sso, que pesqui semos se certas formas da
produo so mai s fcei s na real i dade com os fenmenos do ti po (I )
ou com os do ti po (I I I ). Teori camente, nada i mpede supor-se que, com
a l i vre concorrnci a, por exempl o, se si ga a l i nha das transformaes
compl etas. Prati camente, porm, pode ser mai s di f ci l com a l i vre con-
corrnci a do que com a produo col eti vi sta ( 48).
58. O Estado col eti vi sta, mel hor do que a l i vre concorrnci a, pa-
rece poder l evar o ponto de equi l bri o sobre a l i nha das transformaes
compl etas. Com efei to, di f ci l que uma soci edade pri vada si ga exa-
PARETO
281
tamente a l i nha das transformaes compl etas em suas vendas. Para
tanto el a deveri a cobrar de seus cl i entes pri mei ro as despesas gerai s e
depoi s vender-l hes as mercadori as ao preo de custo, deduzi das as despesas
gerai s. Sal vo em casos parti cul ares, no vemos como i sso poderi a acontecer.
O Estado soci al i sta, ao contrri o, pode col ocar, como i mposto sobre os
consumi dores de suas mercadori as, as despesas gerai s da produo dessa
mercadori a e em segui da, ced-l as ao preo de custo; el e pode, em con-
seqnci a, segui r a l i nha das transformaes compl etas.
59. O Estado soci al i sta pode abandonar aos consumi dores de uma
mercadori a a renda (V, 95) produzi da por essa mercadori a. Quando a
l i nha do l ucro mxi mo corta a l i nha das trocas, i sto , quando a con-
corrnci a i ncompl eta, com a si mpl es concorrnci a dos produtores pri -
vados o equi l bri o pode ter l ugar nesse ponto de i nterseo. O Estado
soci al i sta pode l evar esse ponto de equi l bri o sobre a l i nha das trans-
formaes compl etas como se a concorrnci a fosse compl eta.
60. No Estado econmi co baseado na propri edade pri vada, a pro-
duo regul ada pel os empresri os e pel os propri etri os; exi ste, em
conseqnci a, certa despesa que fi gura no nmero dos obstcul os. No
Estado col eti vi sta, a produo seri a regul ada pel os empregados desse
Estado; a despesa por el es ocasi onada poderi a ser mai or e seu trabal ho
menos efi caz; neste caso as vantagens assi nal adas poderi am ser com-
pensadas e transformarem-se em perda.
61. Em resumo, a Economi a pura no nos fornece cri tri o ver-
dadei ramente deci si vo para escol her entre uma organi zao da soci e-
dade baseada na propri edade pri vada e uma organi zao soci al i sta.
Somente se pode resol ver esse probl ema consi derando-se outras carac-
ter sti cas dos fenmenos.
62. Mximo de ofelimidade para coletividades parciais Os fe-
nmenos do ti po (I I I ) podem referi r-se no col eti vi dade i ntei ra, mas
a uma parte mai s ou menos restri ta. Se se consi dera apenas um i n-
di v duo, o ti po (I I I ) confunde-se com o ti po (I I ).
Para certo nmero de i ndi v duos consi derados col eti vamente, h
val ores dos coefi ci entes de produo que proporci onam tai s quanti dades
de bens econmi cos a essa col eti vi dade que, se el as so di stri bu das
segundo as regras fi xadas pel o probl ema da di stri bui o, proporci onam
o mxi mo de ofel i mi dade aos membros dessa col eti vi dade.
147
A demonstrao dessa proposi o semel hante que foi dada
quando consi deramos a col eti vi dade total .
OS ECONOMISTAS
282
147 Cours. 727.
63. Na real i dade, os si ndi catos operri os, os produtores que usu-
fruem da proteo al fandegri a, os si ndi catos de negoci antes que ex-
pl oram os consumi dores, nos fornecem numerosos exempl os nos quai s
os coefi ci entes de produo so determi nados com o fi m de favorecer
certas col eti vi dades parci ai s.
64. preci so observar que, sal vo casos excepci onai s, esses val ores
de coefi ci entes di ferem e, freqentemente, di ferem mui to dos val ores
que proporci onam o mxi mo de ofel i mi dade a toda col eti vi dade.
65. Comrcio internacional Sal vo o caso precedente, consi de-
ramos at aqui apenas as col eti vi dades i sol adas. preci so agora, para
nos aproxi mar da real i dade, consi derar as col eti vi dades em rel aes
rec procas. Essa teori a l eva o nome de teori a do comrci o i nternaci onal
e ns conservamos esse nome.
O caso anteri or di fere do caso presente. Naquel e supunha-se que
se poderi a i mpor certos coefi ci entes de fabri cao a toda uma col eti vi dade,
consti tu da pel as col eti vi dades parci ai s A, B, C..., e se procurava os val ores
desses coefi ci entes que proporci onavam o mxi mo de ofel i mi dade aos mem-
bros da col eti vi dade A. Agora no supomos que a col eti vi dade A possa
i mpor di retamente coefi ci entes de produo s demai s col eti vi dades B,
C..., mas, ao contrri o, supomos que cada uma dessas col eti vi dades
i ndependente e que, conseqentemente, pode bem regul ar sua prpri a
produo, mas no a das outras, pel o menos di retamente.
Mesmo quando se raci oci na apenas sobre uma col eti vi dade,
preci so consi derar as despesas de transporte, porm essa necessi dade
ai nda mai s evi dente quando se fal a de col eti vi dades separadas no
espao. Compreende-se, em conseqnci a, que os preos de uma mesma
mercadori a so di ferentes em duas col eti vi dades di ferentes.
66. Aps o que di ssemos para apenas uma col eti vi dade, as condi es
de equi l bri o para vri as col eti vi dades podem ser obti das com faci l i dade.
Consi deremos uma col eti vi dade X que est em rel ao com outras
col eti vi dades que chamaremos Y e que, para si mpl i fi car, consi derare-
mos formando apenas uma col eti vi dade. Para cada uma dessas col e-
ti vi dades, sabe-se j quai s so as condi es de equi l bri o dos gostos e
dos obstcul os; mas el as no so sufi ci entes agora para resol ver o
probl ema porque exi stem outras i ncgni tas, i sto , as quanti dades de
bens econmi cos trocados entre X e Y. Suponhamo-l os i guai s a 100;
fal tam-nos outras 100 condi es para determi n-l as.
67. Teremos pri mei ro o bal ano de X em suas rel aes com Y;
para estabel ec-l os ser preci so consi derar cada recei ta e cada despesa,
como i ndi camos no 27 et seq. O bal ano de Y i nti l , pel as razes
j dadas (I I I , 204). Nas rel aes de X com Y, a recei ta de X a despesa
PARETO
283
de Y e vi ce-versa. Em conseqnci a, se a recei ta e a despesa osci l am
para X, osci l am tambm para Y. Assi m, a consi derao dos bal anos
nos d uma ni ca condi o que chamaremos (.).
68. preci so em segui da que os preos, quando consi deramos as
despesas de transporte e outras despesas necessri as (por exempl o,
seguro, despesas de cmbi o etc.), sejam i guai s para as quanti dades
trocadas, porque, num mesmo mercado, no pode exi sti r doi s preos.
Uma das mercadori as pode ser tomada como moeda i nternaci onal ; so-
bram nesse caso, em conseqnci a, apenas 99 preos e as condi es
de i gual dade que chamaremos () so portanto em nmero de 99.
Se se acr escenta a condi o () aos 99 (), tem-se ao todo 100
condi es, exatamente o que pr eci so par a se deter mi nar as 100
i ncgni tas.
69. Mas em geral no se pode supor que exi sta apenas uma
moeda, i dnti ca para X e para Y; preci so supor que X e Y tm moedas
que l hes so prpri as, mesmo quando el as so i dnti cas, cunhadas
com o mesmo metal . Nesse caso, a moeda de Y tem determi nada rel ao
com a moeda de X, i sto , tem certo preo expresso em moeda de X,
e esta uma nova i ncgni ta. Se a acrescentamos s 100 outras, temos
101 i ncgni tas. Porm, como temos agora 100 preos, as condi es ()
so tambm em nmero de 100, e acrescentando-se a a condi o (),
exi stem 101 condi es, i sto , tantas condi es quanto i ncgni tas.
Restari a ver como se estabel ece o equi l bri o, porm no podemos
faz-l o seno aps o estudo da moeda.
70. O equilbrio dos preos Em todos os raci oc ni os que fi zemos
at aqui , tomamos uma mercadori a como moeda; as taxas de troca
desta mercadori a com as outras, i sto , os preos, dependem dos gostos
e dos obstcul os e so, em conseqnci a, determi nados quando estes
e aquel es o so.
preci so fazer certa modi fi cao nessa teori a em consi derao
quanti dade de moeda em ci rcul ao. Com efei to, preci so observar
que a mercadori a-moeda ofl i ma no apenas para o consumo, mas
tambm porque serve ci rcul ao. Por exempl o, para que todos os
preos possam aumentar em 10% seri a, portanto, necessri o no so-
mente que produzi sse uma mudana correspondente na ofel i mi dade
da mercadori a-moeda, comparada ofel i mi dade das outras mercado-
ri as, mas tambm que se pudesse ter a quanti dade de moeda que fosse
sufi ci ente ci rcul ao com novos preos.
71. Teoria quantitativa da moeda Suponhamos que a quanti -
dade de moeda em ci rcul ao deva vari ar proporci onal mente aos preos;
o que pode ocorrer, aproxi madamente, se, medi da que os preos mu-
OS ECONOMISTAS
284
dem, a rapi dez da ci rcul ao no mude, e se tambm no mudam as
propores dos sucedneos da moeda. Essa hi ptese a base do que
se chamou teori a quanti tati va da moeda. Se a acei tamos, seri a preci so
ento, desde que os preos aumentam em 10%, que a quanti dade de
mercadori a-moeda aumentasse no apenas de manei ra a poder ser
consumi da em mai or quanti dade, para que a ofel i mi dade el ementar
di mi nu sse, mas tambm de manei ra que a quanti dade de moeda em
ci rcul ao aumentasse em 10%.
Os preos seri am ento determi nados pel a ofel i mi dade da mer-
cadori a-moeda e pel a quanti dade que houvesse em ci rcul ao.
72. Se em vez de uma mercadori a, se ti vesse como moeda quai s-
quer bnus, papel -moeda, por exempl o, todos os preos dependeri am
apenas da quanti dade dessa moeda em ci rcul ao.
73. As hi pteses que acabamos de l evantar jamai s se veri fi cam
compl etamente. No apenas todos os preos no mudam ao mesmo
tempo na mesma proporo, mas al m di sso a rapi dez da ci rcul ao
certamente vari a e as propores dos sucedneos da moeda vari am
i gual mente. Resul ta da que a teori a quanti tati va da moeda s pode
ser aproxi mada e grossei ramente verdadei ra.
74. No caso do papel -moeda , portanto, poss vel haver duas po-
si es de equi l bri o para as quai s todas as ci rcunstnci as so i dnti cas,
sal vo as segui ntes: 1) Todos os preos so aumentados, por exempl o,
em 10%; 2) a rapi dez da ci rcul ao aumentada, e a proporo dos
sucedneos da moeda pode i gual mente haver aumentado, de manei ra
que a mesma quanti dade de moeda seja sufi ci ente para a ci rcul ao
com novos preos.
75. No caso de uma mercadori a-moeda, seri a necessri o que essa
rapi dez e essa proporo dos sucedneos aumentassem de manei ra a
tornar grande demai s a quanti dade em ci rcul ao, a fi m de que o
consumo da mercadori a-moeda possa aumentar para di mi nui r a ofel i -
mi dade el ementar.
76. A hi ptese que fi zemos para o papel -moeda pode ser veri fi cada
de forma aproxi mada; porm, a que fi zemos para a mercadori a-moeda
parece di f ci l de ser constatada nas propores i ndi cadas, se bem que
el a possa ocorrer freqentemente em propores mai s fracas. Concl ui -se
da que posi es i dnti cas de equi l bri o seri am poss vei s no pri mei ro
caso com preos di ferentes, i mposs vei s no segundo.
77. Esta l ti ma concl uso , tal vez, absol uta demai s. El a seri a
faci l mente atacvel se o consumo da mercadori a-moeda fosse quase
PARETO
285
to grande quanto a soma dos outros consumos. Suponhamos que numa
col eti vi dade de agri cul tores na qual se consome tri go, vi nho, l eo, l
e um pequeno nmero de outras mercadori as, tome-se o tri go como
mercadori a-moeda; a concl uso em questo certamente subsi sti ri a. Po-
rm, el a subsi sti ri a se, como em nossas soci edades, a mercadori a-moeda
fosse o ouro, cujo consumo mui to fraco em comparao com outros
consumos? Compreende-se mui to mal como todos os preos devam ser
regul ados de manei ra preci sa e ri gorosa pel o consumo do ouro, em
cai xas de rel gi o, ji as etc. A correspondnci a entre esses doi s fen-
menos no pode ser perfei ta.
78. preci so observar que sa mos aqui do dom ni o da Economi a
pura para entrar no da Economi a apl i cada. Da mesma manei ra a Me-
cni ca raci onal nos ensi na que duas foras i guai s e di retamente opostas
sempre se equi l i bram, seja qual for a i ntensi dade; mas a Mecni ca
apl i cada nos di z que, se um corpo sl i do se i nterpe entre essas foras,
preci so que se consi dere a resi stnci a dos materi ai s.
79. Suponhamos que todos os preos aumentam em 10% e que
todas as outras ci rcunstnci as permaneam as mesmas. Para que a
i gual dade das ofel i mi dades ponderadas estabel ea o equi l bri o subsi s-
tente, seri a preci so que a quanti dade de ouro que se pode consumi r
aumentasse; e porque essa quanti dade no pode aumentar que os
preos devem retornar ao que eram anteri ormente. preci so, porm,
observar aqui os segui ntes fatos: 1) a i gual dade das ofel i mi dades pon-
deradas se estabel ece aproxi madamente para as mercadori as de uso
exteri or e di ri o, menos bem para as mercadori as de uso restri to e
compradas apenas de tempos em tempos. Em conseqnci a, na real i -
dade, exi ste para a ofel i mi dade do ouro certa margem na i gual dade
que el a deve ter com as demai s; 2) se todos os preos aumentam, a
extrao do ouro deveri a se tornar menos vantajosa e, em conseqnci a,
di mi nui r. Mas essa extrao to al eatri a que regul ada por consi -
deraes compl etamente di ferentes; e, dentro de certos l i mi tes, as va-
ri aes dos preos das outras mercadori as no tm nenhum efei to, ou
um efei to quase nul o; 3) enfi m, uma mudana nas condi es da ci rcu-
l ao pode i gual mente ter certa ao ( 73). Conclu mos que com o ouro-
moeda, posi es i dnticas so poss vei s dentro de certos l i mi tes, com preos
di ferentes. Nesses l i mi tes, portanto, j no seri am determi nados compl eta
e excl usi vamente pel as frmul as da Economi a pura ( 82).
80. Relaes entre o equilbrio e os preos dos fatores da produo
1) Supomos que todos os preos dos fatores da produo mudam,
mas que as d vi das e os crdi tos exi stentes na soci edade (D vi da Pbl i ca,
crdi tos comerci ai s, hi potecri os etc.) no mudam. Por exempl o, se os
preos de todos os fatores e a produo aumentam 10%, os preos dos
OS ECONOMISTAS
286
produtos aumentam i gual mente 10%; em conseqnci a, desse ponto
de vi sta, no teri a mudado nada na si tuao real dos operri os e dos
capi tal i stas que parti ci pam da produo. El es recebem 10% a mai s e,
para seu consumo, gastam 10% a mai s. De outro ponto de vi sta sua
si tuao muda porque, conti nuando a pagar a mesma soma nomi nal
a seus credores, el es, na real i dade, do 10% a menos que antes em
mercadori as. Em conseqnci a, a mudana suposta favorece aquel es
que parti ci pam na produo e prejudi ca aquel es que tm rendi mento
fi xo, i ndependente da produo. i nti l acrescentar que uma mudana
oposta trari a efei tos opostos.
81. Para que seja poss vel a mudana dos preos, necessri o
que el es no sejam i mpedi dos pel a moeda: preci so, portanto, que
repi tamos as consi deraes i ndi cadas nos 71 et seq. No caso suposto,
e quando o ouro a moeda, aquel es que parti ci pam da produo con-
sumi ro tal vez ( 79) um pouco mai s de ouro; aquel es que possuem
rendi mentos fi xos, um pouco menos; no total , haver tal vez um pequeno
aumento do consumo que ser faci l mente forneci do pel as mi nas. Quanto
ci rcul ao, sua rapi dez poder aumentar, podendo-se fazer mai or
uso, se for necessri o, dos sucedneos. Os preos por outro l ado no
poderi am aumentar al m de certos l i mi tes porque a quanti dade de
ouro di spon vel se tornari a mui to fraca.
82. Na real i dade, os obstcul os s mudanas nos preos vm da
concorrnci a de col eti vi dades i ndependentes, seja de um mesmo pa s, seja
do estrangei ro (comrci o i nternaci onal ), e da di fi cul dade de se fazer mo-
vi mentar, ao mesmo tempo, todos os preos. Em conseqnci a, aquel es
que no mudam retm o movi mento dos outros. So estes os fatos que,
dentro dos l i mi tes permi ti dos pel as foras que nascem da vari ao do
consumo e da produo do ouro ( 79), determi nam os preos.
83. Se os preos da mai or parte das mercadori as ou de todas as
mercadori as de um pa s aumentam, a exportao di mi nui , a i mportao
aumenta, e o ouro sai do pa s para i r para o estrangei ro; em conseqncia,
os preos termi nam por bai xar e por retornar a seu estado pri mi ti vo.
Constata-se fatos opostos no caso de uma di mi nuio geral dos preos.
84. 2) Os preos dos fatores da produo nunca mudam todos ao
mesmo tempo. Suponhamos que os salri os aumentem em 10%; o juro
de novos capi tai s e de uma parte dos anti gos poder tambm aumentar
em 10%; mas para uma parte destes, o juro poder no se modi fi car, ou
no aumentar na proporo do aumento dos salri os, ou ainda di mi nuir;
e se no se pode reti r-l o da produo, tero rendi mento negati vo. Em
conseqncia, um aumento dos sal ri os benefi ci ar os operri os, poder
ser i ndi ferente aos possui dores de novos capi tai s, possui dores de uma
PARETO
287
parte dos anti gos capi tai s, mas prejudi car os possui dores de outra
parte desses capi tai s e todos aquel es que possuem rendi mentos fi xos.
85. Suponhamos agora que so os produtos que, pel o efei to de
certas medi das, por exempl o, os di rei tos proteci oni stas de al fndegas,
aumentem de preo, e vejamos quai s so as conseqnci as. Se, por
hi ptese, os preos de todos os produtos aumentam, os preos de todos
os fatores da produo podero aumentar na mesma proporo, se se
desprezam os rendi mentos fi xos, as d vi das e os crdi tos, e o equi l bri o
se estabel ecer novamente como no 71. Da mesma manei ra, consi -
derando-se os rendi mentos fi xos, as d vi das e os crdi tos, obter-se-o
resul tados semel hantes quel es do 80. Quanto aos fenmenos do
84, preci so observar que, quando os preos dos produtos aumentam,
todos os capi tai s, tanto os anti gos quanto os novos, so favoreci dos, e
v-se, ento, aparecerem as rendas posi ti vas.
86. A hi ptese que acabamos de fazer nunca se real i za na prti ca.
No poss vel que os preos de todos os produtos aumentem; em con-
seqnci a, certas produes so i ncenti vadas, outras desi ncenti vadas.
Os novos capi tai s podem vi rar-se em di reo a produes mai s vanta-
josas; os capi tai s anti gos, que no podem ser reti rados das produes
que sofreram preju zos, do rendas negati vas.
87. Consi deramos at aqui posi es sucessi vas de equi l bri o;
preci so que vejamos o que se torna o movi mento de uma outra. Uma
mudana produzi da numa parte do organi smo econmi co no se estende
i nstantaneamente a todas as outras partes; e durante o tempo em que
el a se propaga de um ponto a outro, os fenmenos so di ferentes da-
quel es que seguem o restabel eci mento do equi l bri o.
88. Se os sal ri os aumentam, os empresri os di fi ci l mente podero,
sal vo em casos parti cul ares, aumentar de manei ra correspondente os
preos dos produtos, conseqentemente at que essa al ta seja obti da,
sofrem preju zos. Enquanto i sso o aumento dos sal ri os traz mai s l ucro
aos operri os do que tero quando a operao esti ver acabada, por que
seus rendi mentos aumentaram, ao passo que suas despesas de consumo
ai nda no aumentaram na mesma proporo. Aquel es que tm renda
fi xa sofrem menores desvantagens enquanto o movi mento se produz
do que quando termi na.
89. Al m di sso, o movi mento nunca pode ser geral . Os sal ri os,
e mesmo os preos dos produtos num ramo da produo, podem mui to
bem aumentar, mas os preos nos outros ramos da produo ou no
aumentaro, ou aumentaro mui to pouco; e apenas aps um aumento
sucessi vo dos sal ri os, num nmero de ramos da produo, que se
constatam aumentos de preos que correspondem ao aumento geral
OS ECONOMISTAS
288
dos sal ri os, de tal manei ra que, quando se v o efei to, a causa fre-
qentemente j foi esqueci da.
90. Aqui est, portanto, a traduo subjeti va desses fenmenos.
O homem l evado a agi r mui to mai s sob i nfl unci a das sensaes do
estado presente do que sob aquel as das previ ses do futuro e mui to
mai s sob a i mpresso dos fatos que atuam di retamente sobre el e do
que sob aquel es que atuam apenas i ndi retamente. Em conseqnci a,
no caso que consi deramos, os operri os sero l evados a pedi r aumento
de sal ri os, mui to mai s do que o seri am se se ressenti ssem dos efei tos
de um aumento geral dos sal ri os; e da mesma manei ra os empresri os
sero mui to mai s l evados a resi sti r aos operri os. Quanto quel es que
tm rendi mentos fi xos, e que devem, afi nal , arcar com as despesas da
l uta entre os operri os e os empresri os, provam ter menos bom senso
do que as ovel has que, conduzi das ao aougue, resi stem, ati ngi das pel o
chei ro do sangue; el es i magi nam que as greves so di ri gi das contra os
capi tal i stas, que el es no sabem nem mesmo di sti ngui r dos empre-
sri os, e no vem que, em l ti ma anl i se, as greves ati ngem mui to
mai s os que tm rendi mentos fi xos e crdi tos do que os empresri os
e capi tal i stas.
91. Os empresri os so sempre l evados ao aumento dos preos
das mercadori as que produzem e perseguem assi m seu prpri o i nte-
resse, porque esses aumentos l hes proporci onam certamente uma van-
tagem durante o tempo, mai s ou menos l ongo, necessri o para chegar
a uma nova posi o de equi l bri o. Por outro l ado, cada um i magi na
gozar de toda a vantagem do aumento do preo de sua prpri a mer-
cadori a, sem ver a compensao parci al que segui r o aumento do
preo das outras mercadori as. Acontece o mesmo com os propri etri os
que buscam rendas posi ti vas. Os operri os so, geral mente, i ndi ferentes
a esses movi mentos de preos porque el es no repercutem i medi ata-
mente sobre seus sal ri os; el es acredi tam que apenas os capi tal i stas
tm que cui dar das vari aes dos preos; em conseqnci a, no rejei tam
as que, em l ti ma anl i se, l hes sero vantajosas. Entretanto exi stem
excees e, contrari amente a esse fato geral , os operri os se pronun-
ci aram na Al emanha contra os di rei tos proteci oni stas sobre gneros
al i ment ci os, e compreenderam que esses di rei tos se vol tari am fi nal -
mente contra el es prpri os. I sso provm, em parte tal vez, da educao
que os soci al i stas deram aos operri os desse pa s.
92. Circulao econmica Em resumo, a produo e a ci rcul ao
formam um c rcul o. Toda al terao num ponto do fenmeno repercute,
mas no i gual mente sobre todos os outros. Se fi zermos aumentar os
preos dos produtos, faremos aumentar i gual mente, como conseqnci a,
os preos dos fatores da produo. Se, ao contrri o, fi zermos aumentar
PARETO
289
estes, faremos, como conseqnci a, aumentar aquel es. Sob essa forma,
as duas operaes parecem i dnti cas, porm no assi m, poi s a presso
exerci da sobre os preos dos produtos no se propaga at os preos
dos fatores da produo de manei ra i gual que a presso exerci da
sobre esses preos se propaga quel es. Em suma, de uma ou de outra
manei ra, chega-se um aumento geral dos preos; porm esse aumento
no o mesmo para os di ferentes bens econmi cos e essas vari aes
di ferem do pri mei ro ao segundo modo. So i ndi v duos di ferentes que
o usufruem ou sofrem, dependendo da manei ra que se opera, segui ndo
o pri mei ro ou o segundo modo.
93. I nterpretaes errneas da concorrncia dos empresrios
A concor r nci a dos empr esr i os se mani festa pel a tendnci a que
tm a ofer ecer , a cer to pr eo, mai s mer cador i as do que pr ocur am
os consumi dor es; ou, o que d no mesmo, pel a tendnci a que tm
a ofer ecer cer ta quanti dade a pr eo i nfer i or quel e que pagam os
consumi dor es.
a observao desses fatos, mal i nterpretados, que fez nascer
o erro de que exi ste um excedente permanente de produo. Se esse
excedente exi sti sse real mente, dever-se-i a constatar uma acumul ao
sempre crescente das mercadori as e, por exempl o, deveri a ocorrer um
aumento constante do estoque exi stente no mundo de carvo de pedra,
de ferro, de cobre, de al godo, de seda etc. No o que se constata.
Portanto, o pretendi do excedente de produo somente pode exi sti r no
estado de tendnci a e no como um fato.
94. Tendo admi ti do esse excedente de produo, afi rmou-se que
seri a vantajoso aos empresri os aumentar o sal ri o dos operri os, por-
que assi m, di z-se, aumentar-se-i a o poder de compra dos operri os
e, em conseqnci a, o consumo.
95. Nessa proposi o, h apenas uma coi sa de verdadei ro. O em-
presri o que, por exempl o, paga sal ri os dobrados, juros dobrados dos
capi tai s e que vende as mercadori as produzi das a preo dobrado, se
encontra na mesma si tuao depoi s como antes. Mas nem esses sal ri os
dobrados, nem esses juros dobrados dos capi tai s faro aumentar o con-
sumo total das mercadori as; tero uni camente como efei to reparti r de
forma di ferente esse total : uma parte mai or i ndo para certos fatores
da produo e uma menor para aquel es que tm rendi mentos fi xos; e,
al m di sso, a produo de certas mercadori as poder aumentar, en-
quanto de outras mercadori as poder di mi nui r.
96. Pretendeu-se, por outro l ado, e medi ante novo e grossei ro
erro, deduzi r esse pretenso excedente de produo causa das cri ses
econmi cas.
OS ECONOMISTAS
290
97. Concepes errneas da produo Di zi a-se, comumente, e
di z-se ai nda freqentemente que exi stem trs fatores da produo, a
natureza, o trabal ho, o capi tal , entendendo por este l ti mo a poupana
ou ai nda os capi tai s mobi l i ri os. Essa proposi o no tem senti do, ou
quase nenhum. No se compreende por que a natureza est separada
do trabal ho e do capi tal , como se trabal ho e capi tal no fossem coi sas
naturai s. Em resumo, afi rma-se si mpl esmente que para produzi r
preci so trabal ho, capi tal e outra coi sa, que se desi gna sob o nome de
natureza. I sso no fal so, porm no nos serve de grande coi sa para
compreender o que produo.
98. Outros di zem que os fatores da produo so a terra, o tra-
bal ho, o capi tal ; outros atri buem tudo terra e ao trabal ho; outros,
apenas ao trabal ho. Da resul tam teori as compl etamente fal sas, como
a que afi rma que o operri o se col oca a servi o do capi tal i sta apenas
quando no h mai s terra l i vre
148
para cul ti var, ou como a que pretende
medi r o val or pel o trabal ho cri stal i zado.
149
99. Todas essas teori as tm um v ci o comum, que o de se es-
quecer que a produo no outra coi sa seno a transformao de
certas coi sas em outras, e de se fazer crer que os di ferentes produtos
podem ser obti dos graas a essas coi sas abstratas e gerai s que se cha-
mam terra, trabal ho, capi tal . No dessas coi sas abstratas que temos
necessi dade para a produo, mas de certas espci es concretas espe-
ci ai s, freqentemente mui to especi ai s, segundo o produto que se quei ra
obter. Para se obter vi nho do Reno, por exempl o, preci so no uma
terra qual quer, mas uma terra si tuada nas margens do Reno; para se
ter uma esttua, no se tem necessi dade de um trabal ho qual quer,
mas si m do trabal ho de um escul tor; para se ter uma l ocomoti va, no
preci so um capi tal mobi l i ri o qual quer, mas aquel e que tem preci -
samente por forma uma l ocomoti va.
100. Antes que sua terra fosse descoberta pel os europeus, os aus-
tral i anos no conheci am nossos ani mai s domsti cos; possu am terra
livre vontade; mas, qual quer que fosse o trabal ho que a el a pudessem
di spensar, certo que no poderi am ter nem ovel ha, nem boi , nem
caval o. Atual mente, i mensos rebanhos de ovi nos vi vem na Austrl i a,
mas no provm nem da terra livre em geral , nem do trabal ho, nem
mesmo do capi tal em geral , mas de um capi tal mui to especi al , i sto ,
dos rebanhos que exi sti am na Europa. Se os i ndi v duos que sabem
trabal har a terra tm uma terra onde o tri go possa brotar, se el es
possuem sementes de tri go e, al m di sso, capi tai s mobi l i ri os, arados,
PARETO
291
148 Systmes. I I , p. 285 et seq.
149 Systmes. I I , p. 342 et seq.
construes etc., e fi nal mente mui ta poupana para poder esperar a
prxi ma col hei ta, podero vi ver e produzi r tri go. Nada i mpede di zer
que esse tri go produzi do pel a terra, pel o trabal ho e pel o capi tal ; mas
se fal a tambm do gnero em vez de fal ar de espci e. Toda terra, todo
trabal ho, todo capi tal exi stente sobre o gl obo no podem nos dar um
s gro de tri go, se no possui rmos esse capi tal mui to especi al que
a semente do tri go.
101. Essas consi deraes seri am sufi ci entes para se ver o erro
dessas teori as; mas, al m di sso, essas teori as so, em mai s de um
ponto, i nconci l i vei s com os fatos hi stri cos e atuai s. El as so, si m-
pl esmente, um produto do senti mento que se i nsurge contra o capi -
tal i sta, e permanecem estranhas pesqui sa das uni formi dades de
que somente a ci nci a se ocupa.
OS ECONOMISTAS
292
CAPTULO VII
A Populao
1. o homem, enquanto produtor, o ponto de parti da do fenmeno
econmi co, e este chega ao homem consi derado como consumi dor. Es-
tamos, desse modo, di ante de uma corrente que retorna a si mesma,
manei ra de um c rcul o.
2. Heterogeneidade social Como j notamos
150
(I I , 102), a so-
ci edade no homognea, e aquel es que no fecham os ol hos vol un-
tari amente devem reconhecer que os homens di ferem bastante entre
si do ponto de vi sta f si co, moral e i ntel ectual .
A essas desi gual dades prpri as do ser humano correspondem desi -
gual dades econmi cas e soci ai s que observamos em todos os povos, desde
os tempos mai s anti gos at os tempos modernos e em todos os cantos do
gl obo, de tal manei ra que, estando esse carter sempre presente, pode-se
defi ni r a soci edade humana como uma col eti vi dade hi errqui ca.
Quanto a saber se poss vel que a col eti vi dade subsi sta e que
a hi erarqui a desaparea, o que no nos poremos a i ndagar, poi s
fal tam-nos el ementos para esse estudo. Li mi tar-nos-emos a consi derar
os fatos tai s quai s se apresentaram at o momento e tai s como ai nda
os observamos.
3. O tipo mdio e a distribuio das diferenas A di stri bui o
dos homens, do ponto de vi sta da qual i dade, apenas um caso parti cul ar
de um fenmeno mui to mai s geral . Pode-se observar um grande nmero
de coi sas que tm certo ti po mdi o; as que pouco se di ferenci am so
numerosas: as que se di ferenci am mui to, so em nmero restri to. Se
essas di ferenas podem ser medi das, pode-se construi r um grfi co do
fenmeno. Contemos o nmero de coi sas cujas di ferenas do ti po mdi o
293
150 Sobre a popul ao, ver BENI NI , R. Principii di Demografia. Fl orena, 1901. Obra de pouco
al cance, porm excel ente sob todos os pontos de vi sta.
esto compreendi das entre 0 e 1; faamos aa i gual a 1 e a superf ci e
a b b"a" i gual a esse nmero. Da mesma manei ra contamos as coi sas
cujas di ferenas do ti po mdi o esto compreendi das entre 1 e 2; faamos
aa" i gual a 1 e a superf ci e abb"a" i gual a esse nmero. Conti nuemos
do mesmo modo para todas as di ferenas posi ti vas, que vo de a para
n, obteremos assi m uma curva tbs.
4. Obtm-se uma curva anl oga em mui tos outros casos, entre
os quai s podemos notar o segui nte.
Suponhamos que temos uma urna que contm 20 bol as brancas
e 30 bol as pretas. Reti ram-se da urna 10 bol as, devol vendo, a cada
vez, a bol a reti rada urna; repete-se essa operao um grande nmero
de vezes. O ti po mdi o ser consti tu do por aquel e no qual o grupo
das 10 bol as ti radas da urna se compe de 4 bol as brancas e 6 bol as
pretas. Mui tas extraes di vergi ro mui to pouco desse ti po; um pequeno
nmero del e se di stanci ar bastante. O fenmeno nos dari a uma curva
anl oga da Fi g. 52.
Fi gura 52
OS ECONOMISTAS
294
5. Parti ndo dessa observao, mui tos autores concl uem, sem mai s,
que os doi s fenmenos so i dnti cos. Este um erro grave. Da seme-
l hana dessas duas curvas pode-se si mpl esmente concl ui r que os doi s
fenmenos tm carter comum, ou seja, dependem de coi sas que tm
tendnci a a se concentrar em torno de um ti po mdi o. Para poder
consi derar esses doi s fenmenos como i guai s, preci so l evar mai s l onge
a comparao das duas curvas, e ver se coi nci dem de fato.
6. Foi o que se fez com um caso parti cul ar. Se se mede um grande
nmero de vezes uma quanti dade, as medi das sero di ferentes; e pode-
se chamar de erros as quanti dades pel as quai s di vergem da medi da
verdadei ra. O nmero desses erros fornece uma curva que se chama
curva de erros, cuja forma anl oga da Fi g. 52. A observao nos
demonstra que essa curva i gual quel a que se obtm quando se
ti ram bol as de uma urna, procedendo como no 4.
151
7. Esse r esul tado no to si mpl es e tr az, no fundo, uma
peti o de pr i nc pi o. Na r eal i dade, no exato que a cur va dos
er r os tenha sempr e a for ma i ndi cada. Nesse caso, di z-se que o desvi o
pr ovm de er r os constantes; el i mi nados estes, obtm-se novamente
a cur va em questo. Concl ui -se da que a cur va dos er r os tem cer ta
for ma deter mi nada quando se el i mi nam todas as ci r cunstnci as que
a far i am apr esentar outr a for ma. Essa pr oposi o mui to evi dente,
mas no se fez outr a coi sa seno r epr oduzi r na concl uso o que as
pr emi ssas conti nham.
8. No temos por que preocupar-nos em demasi a com a teori a
dos erros; observemos apenas que em certos casos no se pode, em
razo da fal ta de dados, veri fi car se a curva do fenmeno geral i gual
curva das extraes da urna; ou ento essa veri fi cao d um resul tado
negati vo, e nesses doi s casos no se pode consi derar os fenmenos
como i guai s.
9. Acontece freqentemente que os fenmenos naturai s do no
uma corcova como na Fi g. 52, porm duas, como na Fi g. 53, ou ai nda
mai s. Nesse caso, os autores supem, comumente, que as duas corcovas
da Fi g. 53 resul tam da superposi o de duas curvas do gnero daquel a
da Fi g. 52 e, sem mai s, consi deram o fenmeno dado pel a Fi g. 53 como
i gual extrao de duas urnas de composi o constante.
andar depressa demai s. sufi ci ente observar que, mul ti pl i -
cando conveni entemente as curvas como as da Fi g. 52 e superpondo-as,
PARETO
295
151 Sobre esse mesmo probl ema, consi derado de outro ponto de vi sta, cf. BERTRAND. Calcul
des Probabilits. 149,150.
pode-se obter uma curva qual quer, em conseqnci a, o fato de que a
curva pode resul tar da superposi o de certo nmero de curvas anl ogas
da Fi g. 52, nada nos ensi na sobre a natureza dessa curva.
10. O estado das l ei s dos sal ri os nos fornece, em mui tos casos,
certo sal ri o mdi o com di vergnci as que se di spem segundo uma
curva anl oga da Fi g. 52, e que por outro l ado, no si mtri ca em
rel ao l i nha ab. Mas, dessa ni ca anal ogi a no se pode concl ui r
que essas di ferenas si gam a l ei chamada dos erros.
11. Repartio dos rendimentos.
152
Por anal ogi a com fatos da
mesma espci e, provvel que a curva dos rendi mentos deva ter uma
forma semel hante da Fi g. 54. Se fazemos mo i gual a certo rendi mento
x, mp i gual a 1, a superf ci e mnqp nos d o nmero de i ndi v duos que
tm rendi mento compreendi do entre x e x + 1.
Mas, para os rendi mentos totai s, a Estat sti ca nos fornece i nfor-
maes apenas para a parte cqp da curva, e tal vez, em nmero mui to
Fi gura 53
OS ECONOMISTAS
296
152 Cours. Li vro Tercei ro. Cap I . Aos fatos expostos no Cours podemos acrescentar estes que
esto rel atados no Giornale degli Economist. Roma, janei ro de 1897.
pequeno de casos, para uma pequena poro bb da outra parte; a
parte ab, ou mel hor, ab conti nua hi potti ca.
12. A curva no si mtri ca em rel ao a sb, a parte superi or sc
mui to al ongada, a parte sa mui to esmagada.
Dessa si mpl es constatao no se pode concl ui r que no exi sta
si metri a entre as qual i dades dos i ndi v duos que se di stanci am dos doi s
l ados da mdi a s. Com efei to, de doi s i ndi v duos que se afastam i gual -
mente da mdi a das qual i dades, o que possui apti des excepci onai s
para ganhar di nhei ro pode ter uma renda mui to al ta; o que possui
qual i dades negati vas i guai s no pode descer, sem desaparecer, abai xo
da renda m ni ma que permi ta vi ver.
13. A curva abnc no a curva das qual i dades dos homens, mas
a curva dos outros fatos que esto em rel ao com essas qual i dades.
14. Se consi deramos a curva dos pontos obti dos pel os estudantes
nos exames, obtemos uma curva anl oga a ABC. Suponhamos agora
que, por um moti vo qual quer, os exami nadores no dem jamai s menos
de 5 pontos, porque apenas um ponto abai xo da mdi a sufi ci ente
Fi gura 54
PARETO
297
para recusar um candi dato. Nesse caso, para esses mesmos estudantes,
a curva mudar de forma e ser sensi vel mente anl oga curva abC.
Acontece al go semel hante com os rendi mentos. Aci ma da mdi a
no exi ste l i mi te de al tura, exi ste um l i mi te abai xo.
15. A forma da curva cqb, Fi g. 54, que a Estat sti ca fornece, no
corresponde absol utamente curva dos erros, i sto , forma que teri a
a curva se a aqui si o e a conservao da ri queza dependessem apenas
do acaso.
153
16. Al m di sso, a Estat sti ca nos ensi na que a curva bcq, Fi g.
54, pouco vari a no espao e no tempo: povos di ferentes e em pocas
di ferentes apresentam curvas mui to semel hantes. Exi ste, portanto,
uma estabi l i dade notvel na forma dessa curva.
17. Parece, ao contrri o, que pode haver mai s di versi dade para
a parte i nferi or e menos conheci da da curva. Exi ste certa renda m ni ma
oa abai xo da qual os homens no podem descer sem perecer de mi sri a
e de fome. A curva pode se confundi r mai s ou menos com a l i nha ak
que i ndi ca esse rendi mento m ni mo (Fi g. 56). Entre os povos da An-
ti gui dade, onde a fome era constante, a curva tomava a forma (I );
entre os povos modernos el a toma a forma (I I ).
Fi gura 55
OS ECONOMISTAS
298
153 Cours. 962.
18. A superf ci e ahbc, Fi g. 56, nos fornece uma i magem da so-
ci edade. A forma exteri or vari a um pouco, a parte i nterna est, ao
contrri o, em perptuo movi mento: enquanto certos i ndi v duos sobem
s regi es superi ores, outros descem. Aquel es que chegam a ah desa-
parecem; desse l ado, certos el ementos so el i mi nados. estranho, po-
rm certo, que esse mesmo fenmeno se reproduz nas regi es superi o-
res. A experi nci a nos ensi na que os ari stocratas no duram; as razes
do fenmeno so numerosas e del as conhecemos mui to pouco; no exi ste,
porm, nenhuma dvi da sobre a real i dade do prpri o fenmeno.
19. Temos pri mei ro uma regi o ahkba na qual , sendo os rendi -
mentos mui to bai xos, os i ndi v duos no conseguem sobrevi ver, sejam
el es bons ou maus. Nessa regi o a sel eo i ntervm mui to pouco, porque
a mi sri a avi l ta e destri tanto os bons quanto os maus el ementos.
Em segui da, vem a regi o abbla" na qual a sel eo opera com seu
mxi mo de i ntensi dade. Os rendi mentos no so abundantes para sal -
var todos os el ementos, sejam el es aptos ou no para a l uta vi tal , e
el es no so sufi ci entemente fracos para depri mi r os mel hores el emen-
tos. Nessa regi o a mortal i dade i nfanti l consi dervel e provvel
que essa mortal i dade seja um poderoso mei o de sel eo.
154
essa regi o
o cadi nho em que se el aboram as futuras ari stocraci as (no senti do
eti mol gi co: = mel hor); dessa regi o que vm os el ementos
que se el evam regi o superi or a"lc. Uma vez chegados a esse ponto,
Fi gura 56
PARETO
299
154 Systmes. I . Cap. I X.
sua descendnci a decai ; essa regi o a"lc subsi ste apenas graas s emi -
graes da regi o i nferi or. Como j di ssemos, as razes desse fato so
mui tas e pouco conheci das; entre as pri nci pai s pode exi sti r a no i nter-
veno da sel eo. Os rendi mentos so to grandes que permi tem sal var
at mesmo os fracos, os i ndi v duos mal consti tu dos, i ncapazes, vi ci ados.
As l i nhas ab, a"l servem apenas para fi xar i di as, no tm ne-
nhuma exi stnci a real ; os l i mi tes das regi es no so r gi dos, e passa-se
por graus de uma regi o para outra.
20. Os el ementos i nferi ores da regi o abla" caem na regi o ahba
onde so el i mi nados. Se essa regi o vi esse a desaparecer, e se nenhum
outro mei o pudesse desempenhar seu papel , os el ementos i nferi ores
macul ari am a regi o abla", que se tornari a assi m menos apta a pro-
duzi r os el ementos superi ores, que vo regi o a"lc, e a soci edade
i ntei ra cai ri a em decadnci a. Essa decadnci a seri a ai nda mai s rpi da
se se pusessem sri os obstcul os sel eo que se faz na regi o abla".
O futuro mostrar a nossos descendentes se tai s no so os efei tos
das medi das humani tri as de nossa poca.
21. No apenas a acumul ao dos el ementos i nferi ores numa
camada que prejudi ca a soci edade, mas tambm a acumul ao, nas
camadas i nferi ores, de el ementos superi ores que so i mpedi dos de el e-
var-se. Quando, ao mesmo tempo, as camadas superi ores esto chei as
de el ementos i nferi ores e as camadas i nferi ores chei as de el ementos
superi ores, o equi l bri o soci al torna-se emi nentemente i nstvel , e uma
revol uo vi ol enta est prxi ma. De certa manei ra podemos comparar
o corpo soci al ao corpo humano que perece rapi damente se for i mpedi do
de el i mi nar as toxi nas.
22. O fenmeno , por outro l ado, mui to compl exo. No basta
l evar em consi derao os rendi mentos: preci so ai nda consi derar o
uso que del es so fei tos e a manei ra como so obti dos. Nos povos
modernos, os rendi mentos da regi o abla" cresceram de uma manei ra
que teri a si do seri amente poss vel pr obstcul os sel eo; mas uma
parte notvel desses rendi mentos agora gasta em bebi das al col i cas,
ou esbanjadas de outra manei ra, de tal modo que as condi es que
tornam a sel eo poss vel conti nuam a subsi sti r. Al m di sso, o prpri o
al cool i smo um poderoso agente de sel eo e faz com que desapaream
os i ndi v duos e as raas que no conseguem resi sti r-l he. Objeta-se,
geral mente, que o al cool i smo no prejudi ca apenas o i ndi v duo, mas
tambm sua descendnci a. Essa objeo mui to forte do ponto de
vi sta ti co, mas nul a do ponto de vi sta da sel eo; el a se vi ra contra
aquel es que a fazem. evi dente, com efei to, que um agente de sel eo
tanto mai s perfei to quanto mai s estenda sua ao no somente sobre
os i ndi v duos, mas tambm sobre seus descendentes. A tubercul ose tam-
OS ECONOMISTAS
300
bm um meio poderoso de sel eo e, ao mesmo tempo que destri um
pequeno nmero de fortes, destri um nmero mui to grande de fracos.
23. Os dados de que di spomos para determi nar a forma da curva
blc referem-se, pri nci pal mente, ao scul o XI X e aos povos ci vi l i zados;
em conseqnci a, as concl uses que se ti ram no podem ser apl i cadas
al m desses l i mi tes. Mas pode acontecer que, por i nduo mai s ou
menos provvel , em outros tempos e outros povos, se obti vesse uma
forma mai s ou menos semel hante quel a que encontramos hoje.
Da mesma manei ra, no podemos afi rmar que essa forma no
mudari a se a consti tui o soci al vi esse a mudar de manei ra radi cal ,
por exempl o, se o col eti vi smo substi tu sse a propri edade pri vada. Parece
di f ci l que j no haja hi erarqui a, e a forma dessa hi erarqui a poderi a
ser semel hante que nos forneci da pel os rendi mentos dos i ndi v duos,
mas no corresponderi a aos rendi mentos em di nhei ro.
24. Se nos ati vermos aos l i mi tes i ndi cados no 23, veremos que,
no transcurso do scul o XI X, a curva blc mudou l i gei ramente de forma
em certos casos. Temos ai nda o mesmo gnero de curvas, mas com
outras constantes: e essa mudana se faz em certo senti do.
Para i ndi car esse senti do, servi mo-nos, no Cours, do termo que
era de seu uso vul gar, di mi nui o da desi gual dade dos rendi mentos.
Esse termo, porm, provocou equ voco,
155
da mesma manei ra que o
termo utilidade, que ti vemos de substi tui r pel o termo ofelimidade. Seri a
preci so fazer o mesmo com o termo desi gual dade dos rendi mentos e
substi tu -l o por um neol ogi smo, do qual se dari a a defi ni o preci sa.
I nfel i zmente, a Economi a Pol ti ca no est ai nda bastante avanada
para que se possam empregar vontade termos novos, como se fazi a,
sem di fi cul dades, em Qu mi ca, F si ca etc. Empregaremos, portanto,
uma termi nol ogi a ai nda bastante i mperfei ta e desi gnaremos por di -
mi nui o da desi gual dade da proporo dos rendi mentos um certo
fenmeno que i remos defi ni r.
Seja uma col eti vi dade A formada por um i ndi v duo que possua
10 000 francos de renda e por nove i ndi v duos cada um com 1 000
francos de renda; seja outra col eti vi dade B formada por nove i ndi v duos
possui ndo cada um 10 000 francos de renda e por um i ndi v duo com
apenas 1 000 francos de renda. Chamemos, por ora, ri cos os i ndi v duos
que tm 10 000 francos de renda, e pobres os i ndi v duos que tm 1 000
francos de renda. A col eti vi dade A compreende um ri co e nove pobres e
a col eti vi dade B compreende nove ri cos e um pobre.
A l i nguagem vul gar expri me a di ferena entre A e B di zendo que
a desi gual dade das rendas mai or em A, onde exi ste apenas um ri co em
PARETO
301
155 Ver BRESCI ANI , C. Giornale degli Economisti. Janei ro de 1907.
dez i ndi v duos, do que em B, onde, ao contrri o, exi stem nove ri cos
em dez i ndi v duos. Para evi tar qual quer equ voco, di remos que, pas-
sando de A para B exi ste di mi nui o da proporo da desi gual dade
dos rendi mentos.
Em geral , quando o nmero de pessoas com um rendi mento
i nferi or a x di mi nui
156
em rel ao ao nmero de pessoas com um
rendi mento superi or a x, di remos que a desi gual dade da proporo
dos rendi mentos di mi nui .
157
Posto i sto, pode-se di zer que o senti do no qual a curva da repar-
ti o dos rendi mentos mudou l i gei ramente durante o scul o XI X, em
certos pa ses, o de uma di mi nui o da proporo
158
da desi gual dade
dos rendi mentos.
25. O fato que foi ri gorosamente posto l uz pel o estudo matemti co
da curva dos rendi mentos havi a si do constatado anteri ormente, empi ri -
camente e por i nduo, por Paul Leroy-Beaul i eu, que el aborou a respei to
uma obra cl ebre. Pretendeu-se ti rar da uma lei geral, segundo a qual
a desi gual dade dos rendi mentos deveri a conti nuar a di mi nui r. Essa con-
cl uso ul trapassa, de l onge, o que se pode ti rar das premi ssas. As l ei s
emp ri cas, como esta, tm mui to pouco val or, ou at mesmo nenhum, fora
dos l i mi tes dentro dos quai s foram reconheci das como verdadei ras.
26. Constatam-se vari aes mai ores em certos pa ses, como, por
exempl o, na I ngl aterra, e sempre no transcurso do scul o XI X, no que
di z respei to parte i nferi or ahb da curva. El a se confunde mui to menos
sobre a l i nha hk dos rendi mentos i ndi spensvei s para vi ver.
OS ECONOMISTAS
302
156 No Cours, 964, l -se: aumenta. Trata-se de um erro de i mpresso, que apuramos i me-
di atamente aps a publ i cao do Cours.
157 Essa defi ni o exatamente a mesma dada por ns no Cours, 964; sal vo que agora
acrescentamos as pal avras: da proporo.
Depoi s dessa defi ni o, l -se no Cours: Mas o l ei tor devi damente bem adverti do de
que por esses termos pretendemos i ndi car si mpl esmente i sso e nada mai s. E, em nota,
i ndi camos que se Nx, o nmero de i ndi v duos que tem um rendi mento de x e aci ma, e
Nh, o nmero de i ndi v duos que tem um rendi mento de h e aci ma, e que se escreve
Nx
ux =
Nh
"Segundo a defi ni o que demos, a desi gual dade dos rendi mentos i r di mi nui ndo medi da
que ux crescer."
Tudo i sso deveri a de fato ter si do sufi ci ente para di ssi par todo equ voco.
158 A anexao desse termo denomi nao do fato, da mesma forma que a substi tui o do
termo ofelimidade ao termo utilidade, no i mpedi r novos equ vocos, se nos obsti namos a
querer conhecer o senti do dos termos por sua eti mol ogi a, em vez de ater-nos s defi ni es
ri gorosas e, pri nci pal mente, s defi ni es matemti cas que l hes so dadas. Sobre esse
assunto ver: A Economi a e a Soci ol ogi a do Ponto de Vi sta Ci ent fi co. I n: Rivista di Scienza.
1907, n 2.
27. Se substi tu mos a forma da Fi g. 54 por outra na qual a parte
mui to achatada substi tu da por uma l i nha quase reta, temos uma
curva clb que coi nci de com a que a Estat sti ca nos fornece; e a parte
i nferi or bka, para a qual no possu mos dados, ser substi tu da pel a
reta sb que corresponde a um rendi mento os m ni mo, que substi tui os
rendi mentos m ni mos reai s que se si tuam entre os e oa.
28. Posto i sso, se se admi ti r que, como aconteceu com certos
povos no scul o XI X, o gnero da curva blc no muda e que somente
mudam as constantes, chegamos segui nte proposi o:
1) Um aumento do rendimento mnimo; 2) uma diminuio da
desigualdade da proporo dos rendimentos ( 24), no podem se pro-
duzir, separada ou conjuntamente, se o total dos rendimentos no au-
menta mais rapidamente que a populao.
29. O i nverso dessa proporo verdadei ro, sal vo uma exceo
teri ca que di fi ci l mente se veri fi ca na prti ca,
159
e podemos admi ti r a
segui nte proposi o:
Todas as vezes em que o total dos rendimentos aumenta mais ra-
Fi gura 57
PARETO
303
159 Cours. I I , p. 323,324.
pidamente que a populao, isto , quando a mdia dos rendimentos
aumenta para cada indivduo, podem-se constatar, separada ou con-
juntamente, os efeitos seguintes: 1) um aumento do rendimento mnimo;
2) uma diminuio da desigualdade da proporo dos rendimentos ( 24).
preci so usar as Matemti cas para a demonstrao desses doi s
teoremas; remetemos, portanto, ao nosso Cours.
30. Consi derando a tendnci a que a popul ao tem de arranjar-se
de certa forma no que di z respei to aos rendi mentos, resul ta da que
toda modi fi cao i ntroduzi da em certas partes da curva repercute sobre
as demai s partes; e fi nal mente a soci edade retoma a forma habi tual ,
da mesma manei ra que a sol uo de um determi nado sal sempre d
cri stai s semel hantes, sejam el es grandes ou pequenos.
31. Se, por exempl o, se ti rasse o rendi mento dos ci dados mai s
ri cos, supri mi ndo assi m a parte edc da fi gura dos rendi mentos, esta
no conservari a a forma abdc mas, cedo ou tarde, el a se restabel eceri a
segui ndo uma forma ats, semel hante pri mei ra. Da mesma manei ra,
se uma penri a ou qual quer outro aconteci mento do mesmo gnero
supri mi sse a parte i nferi or akbf da popul ao, a fi gura no conservari a
a forma fbdc, mas se restabel eceri a segundo uma forma, ats, seme-
l hante pri mei ra.
32. Relaes entre as condies econmicas e a populao
evi dente que o homem, como todos os seres vi vos, se mul ti pl i ca mai s
ou menos segundo as condi es de vi da sejam mai s ou menos favorvei s.
Fi gura 58
OS ECONOMISTAS
304
As popul aes agr col as sero mai s densas onde o sol o mai s frti l ,
e menos densas onde o sol o menos fecundo. O prpri o subsol o, de-
pendendo de que seja mai s ou menos ri co, permi ti r o desenvol vi mento
de mai or ou menor quanti dade de homens. As rel aes so menos
si mpl es no que concerne s i ndstri as e ao comrci o, cujas rel aes
com as condi es tel ri cas e geogrfi cas so mui to mai s compl exas.
Al i s, a prpri a popul ao reage sobre as condi es que l he permi tem
vi ver. Em conseqnci a, a densi dade da popul ao o efei to de certas
condi es econmi cas e a causa de certas outras.
33. Os pa ses em que a densi dade da popul ao mai s forte
esto l onge de ser os pa ses mai s ri cos. A Si c l i a, por exempl o, como
sal i enta M. Levasseur, tem uma densi dade de 113 habi tantes por qui -
l metro quadrado, e a Frana tem apenas 72. Evi dentemente a Si c l i a
no mai s ri ca que a Frana. Da mesma manei ra, o val e do Ganges
tem uma densi dade duas vezes mai or que a da Frana.
34. Se a densi dade, porm, no est em rel ao di reta com a
ri queza do pa s; el a est, no mesmo pa s, em rel ao com as vari aes
dessa ri queza. Temos aqui um exempl o de um fenmeno mui to geral .
As razes desse fato so as segui ntes. O nmero total dos i ndi v duos
que vi vem num terri tri o dado est em rel ao com mui tos outros
fatos A, B, C... que em parte so di ferentes para um outro terri tri o;
por exempl o ABC... Suponhamos que A i ndi que a ri queza; el a vari a
de um por terri tri o para outro, mas os fatos B,C... tambm vari am;
por exempl o, os costumes, a faci l i dade mai or nos pa ses quentes de
prover as necessi dades etc. Pode haver compensao entre os efei tos
de um desses fatos e os de outro, e o efei to total di fere daqui l o que
seri a se um desses fatos ti vesse mudado.
35. Quando se consi deram as vari aes da ri queza A num mesmo
pa s, consi deram-se doi s estados de coi sas, a saber, A, B, C... e ABC...,
nos quai s a vari ao mai s i mportante, seno a ni ca, a de A; o efei to
total , que podemos observar, coi nci de, portanto, mai s ou menos, com
o efei to da ni ca vari ao de A.
36. I sso no tudo. Se se consi deram uni camente as vari aes
da ri queza, pode acontecer, e acontece de fato, que o val or absol uto
da ri queza e o val or das vari aes da ri queza atuem em senti do oposto
sobre a popul ao.
37. Por exempl o, em certos pa ses, a parte mai s ri ca da popul ao
tem uma natal i dade i nferi or da parte mai s pobre
160
( 53); i sso no
PARETO
305
160 Systmes. I I , p. 139.
si gni fi ca que um aumento da ri queza tenha por pri mei ro efei to o au-
mento do nmero de casamentos e de nasci mentos.
38. No scul o XI X, nos pa ses ci vi l i zados, constata-se um aumento
consi dervel da ri queza, em mdi a, por habi tante. Ao mesmo tempo, a
nupcialidade (nmero de casamentos por 1 000 habitantes), a natalidade
(nmero de nascimentos por 1 000 habitantes), a mortalidade (nmero
de mortes por 1 000 habi tantes) bai xaram. A popul ao total aumentou,
mas a proporo de seu aumento anual tem tendnci a a decrescer.
39. Esses fatos tm rel aes rec procas. O aumento da ri queza
favoreceu o aumento da popul ao, contri bui u, mui provavel mente, para
l i mi tar a nupci al i dade e a natal i dade; teve, certamente, como efei to a
reduo da mortal i dade ao permi ti r notvei s e custosas medi das hi -
gi ni cas; e, habi tuando os homens a uma vi da cmoda, com mui ta
probabi l i dade tende a di mi nui r a proporo do aumento da popul ao.
40. A di mi nui o da nupci al i dade contri bui di retamente para a di -
mi nui o da natal i dade e, em conseqncia, para a di mi nui o da mor-
tal i dade total , que consi deravel mente i nfl uenci ada pel a mortal i dade i n-
fanti l . Cauderl i er at consi dera que as vari aes da natal i dade so, uni -
camente, conseqncias das vari aes da nupci al i dade. A di mi nuio da
nupci al i dade, di reta ou i ndi retamente, por mei o da di mi nui o dos nas-
ci mentos, ajudou a fazer crescer a ri queza mdi a por habitante.
41. A di mi nui o da natal i dade , em grande parte, uma causa
da di mi nui o da mortal i dade, e atuou, como j o demonstramos, sobre
a ri queza; el a , enfi m uma causa di reta da di mi nui o da proporo
do aumento anual da popul ao.
42. A di mi nui o da mortal i dade atua em senti do contrri o e,
no que di z respei to ao nmero da popul ao, compensou, em parte, a
di mi nui o da natal i dade. A mortal i dade i nfanti l di mi nui u, i ncontes-
tavel mente; a di mi nui o da mortal i dade dos adul tos menos i mpor-
tante e menos certa.
43. A popul ao par ece per manecer quase estaci onr i a na
Fr ana; aumenta mui to na I ngl ater r a e na Al emanha; mas mesmo
nesses pa ses a pr opor o do cr esci mento tende a di mi nui r . No scul o
XI X a popul ao da I ngl ater r a aumentou segundo uma pr opor o
geomtr i ca cuja r azo tal que a popul ao dobr a a cada 54 anos.
161
Como a r i queza mdi a por habi tante aumentou, e at mui to, i sso
OS ECONOMISTAS
306
161 Cours. 211.
si gni fi ca que, na I ngl aterra, os aumentos da ri queza foram mai ores
que os da progresso geomtri ca aci ma.
162
44. A mel hori a e a deteri ori zao das condi es econmi cas de
um pa s esto em rel ao com os fenmenos da popul ao. Para di sso
se i ntei rar preci so estabel ecer um cri tri o do estado das condi es
econmi cas. Para os povos agr col as de nossas regi es, podemos uti l i zar
o preo de tri go; para os povos i ndustri ai s e comerci antes, preci samos
consi derar outros fatos. Segundo Marshal l , a nupci al i dade na I ngl a-
terra, na pri mei ra metade do scul o XI X depende pri nci pal mente da
produo agr col a; na segunda metade do scul o XI X depende, ao con-
trri o, pri nci pal mente do movi mento comerci al . Essa mudana resul ta do
fato de que a I ngl aterra tornou-se um pa s pri nci pal mente i ndustri al , em
vez de ser pri nci pal mente agr col a, como o era no comeo do scul o XI X.
45. Atual mente, na I ngl aterra, a nupci al i dade encontra-se em
rel ao com o montante do comrci o exteri or e com o total das quanti as
compensadas no Cl eari ng-House; estes so si mpl esmente ndi ces de
movi mento i ndustri al e comerci al .
46. Exi stem certos fenmenos gerai s conheci dos sob o nome de
cri ses econmi cas (I X, 73). Os anos prsperos so segui dos de anos de
depresso econmi ca, aos quai s se sucedem outros anos prsperos, e
assi m por di ante. Pode-se saber, aproxi madamente, quando exi ste um
mxi mo ou um m ni mo de prosperi dade, mas no se pode fi xar o mo-
mento preci so do mxi mo e do m ni mo; preci so, portanto, que faamos
comparaes apenas de manei ra aproxi mati va.
47. Se no l evssemos em conta as consi deraes precedentes,
poder amos ti rar das estat sti cas tudo o que qui sssemos. Por exempl o,
se qui sermos demonstrar que a nupci al i dade di mi nui na I ngl aterra,
compararemos a taxa de nupci al i dade 17,6 do ano de 1873, que o
ano em que termi na um per odo de prosperi dade, com a taxa de nup-
ci al i dade 14,2 do ano de 1886, ano de depresso econmi ca. Se, ao
contrri o, qui sermos demonstrar que a nupci al i dade aumenta, compa-
raremos a taxa de nupci al i dade 14,2 do ano de 1886 com a taxa de
nupci al i dade 16,5 no de 1899. preci so, evi dentemente, abster-nos de
raci oc ni os semel hantes.
48. A teori a matemti ca das coi nci dnci as ou da correl ao nos
ensi na a determi nar se doi s fatos observados certo nmero de vezes
juntos so uni dos pel o acaso ou se se produzem ao mesmo tempo porque
PARETO
307
162 Cours. 212.
h uma rel ao entre el es. Al i s, di fi ci l mente poderemos uti l i zar essa
teori a em nossa matri a. No estamos di ante de fatos que devem coi n-
ci di r de manei ra i nstantnea, mas, ao contrri o, de fatos que atuam
reci procamente com certa l ati tude, e o nmero das coi nci dnci as tornam
verdadei ramente uma expresso desprovi da de senti do. A prosperi dade
econmi ca di mi nui ou aumenta gradual mente, e os si nai s que del a
temos representam-nos esse fenmeno apenas com uma aproxi mao
grossei ra: al m di sso, a di mi nui o ou o aumento dessa prosperi dade
no atua de i medi ato sobre os casamentos: el a atua mai s l entamente
ai nda sobre os nasci mentos e as mortes. Se representamos grafi camente
as curvas dos fenmenos que queremos comparar, podemos ver se suas
osci l aes tm al guma rel ao entre si . Esse mtodo, embora, mui to
i mperfei to, tal vez ai nda o mel hor do qual possamos nos servi r na
prti ca, neste momento.
49. O aumento da prosperi dade econmi ca tem como pri mei ro
efei to i medi ato aumentar a nupci al i dade e a natal i dade, e fazer di mi -
nui r a mortal i dade. O pri mei ro fenmeno notvel e se mani festa
cl aramente; o segundo menos pronunci ado, e pode ser, segundo a
teori a de Cauderl i er, pel o menos em grande parte, uma si mpl es con-
seqnci a do pri mei ro: o tercei ro um tanto duvi doso para os povos
ci vi l i zados e ri cos; para os povos mi servei s, no temos dados estat s-
ti cos preci sos; mas, se l evarmos em conta as penri as que eram fre-
qentes anti gamente, di fi ci l mente podemos neg-l o.
50. Um aumento rpi do da ri queza de um pa s favorvel , de
certa manei ra, s sel ees, poi s el a oferece aos i ndi v duos ocasi es
fcei s de enri quecer e de se el evar aos patamares superi ores da soci e-
dade. Obtm-se efei to semel hante, sem cresci mento da ri queza, quando
as condi es econmi cas da soci edade mudam rapi damente.
51. Fal amos at aqui apenas das vari aes da ri queza. Devemos
i gual mente consi derar no mai s as vari aes, mas o estado dessa ri -
queza, e comparar duas condi es soci ai s que di ferem, poi s numa del as
a quanti dade mdi a de ri queza por habi tante mai or do que na outra.
52. Vi mos, no 29, que essa di ferena corresponde a uma outra
di ferena na reparti o dos rendi mentos, e a uma di ferena dos ren-
di mentos m ni mos; mas a quanti dade mdi a de ri queza por habi tante
est em rel ao com outros fatos mui to i mportantes.
53. Povos mui to ri cos tm uma natal i dade mui to fraca, de onde
se pode concl ui r que o val or absol uto da ri queza atua de manei ra
di retamente contrri a s vari aes dessa mesma ri queza. Fi ca, contudo,
uma dvi da. Poderi a acontecer que entre a ri queza absol uta e a na-
OS ECONOMISTAS
308
tal i dade no houvesse uma rel ao de causa e efei to e que esses doi s
fenmenos fossem conseqnci a de outros fatos, i sto , que houvesse
certas causas que fi zessem ao mesmo tempo aumentar a ri queza e
di mi nui r a natal i dade.
54. As condi es econmi cas no atuam apenas sobre o nmero
dos casamentos, dos nasci mentos, dos bi tos, sobre o nmero da po-
pul ao, mas tambm sobre todos os caracteres da popul ao, seus
costumes, suas l ei s, sua consti tui o pol ti ca. Certos fatos somente so
poss vei s se exi ste um cresci mento notvel da ri queza. Nos povos que
mal tm com que al i mentar os adul tos, matam-se faci l mente as cri an-
as, destroem-se si stemati camente os vel hos;
163
em nossos di as, nos
povos ri cos, i nsti tuem-se penses para os vel hos e i nvl i dos. Nos povos
mui to pobres a mul her tratada com menos respei to do que os ani mai s
domsti cos, nos povos ci vi l i zados, entre a mui to ri ca popul ao dos
Estados Uni dos, el a tornou-se um objeto de l uxo que consome sem
produzi r.
164
preci so, evi dentemente, para que tal fato seja poss vel ,
que a ri queza do pa s seja mui to grande. Essa condi o da mul her
atua em segui da, sobre os costumes.
O feminismo uma doena que s pode ati ngi r um povo ri co, ou
a parte ri ca de um povo pobre. Com o aumento da ri queza na Roma
Anti ga, aumentou a depravao da vi da das mul heres. Se certas mu-
l heres modernas no possu ssem o di nhei ro necessri o para fazer pas-
sear sua oci osi dade e sua concupi scnci a, os gi necol ogi stas estari am
menos ocupados. A pi edade estpi da pel os mal fei tores, que se gene-
ral i zou em certos povos modernos, s pode subsi sti r nos povos ri cos,
aos quai s certa destrui o de ri queza no causa grande preju zo. Por
outro l ado, o aumento da ri queza, geral mente acompanhado de mai or
PARETO
309
163 Cours. 247.
164 Em senti do favorvel ao feminismo ameri cano, ver BENTZON, Th. As Americanas em Casa;
em senti do contrri o, uma pesqui sa de Cl evel and Moffet, Nova York, reproduzi da no Mercure
de France, 1904. Nosso pa s, di zem certos ameri canos, aquel e no qual as mul heres recebem
o mxi mo do homem e l he do o m ni mo. El es no so nada mai s para el as do que mqui nas
de ganhar di nhei ro. A mul her quase no sabe o que faz o seu mari do, mas somente o que
el e ganha.
preci so no se esquecer de que os l i teratos sempre exageram, tanto num senti do quanto
no outro.
Em arti go publ i cado no nmero de feverei ro de Everybodys Magazine, G. B. Baker escreve:
The Ameri can soci ety woman i s a creature of l uxury and l ei sure. Her sol e duty i n l i fe i s
to be amused and to be decorati ve. She has had ti me to acqui re the accompl i shment of
soci ety and the del i caci es of refi nement. Vastl y superi or i n appearance to her mother, she
i s even superi or to her father and brothers.
Antes, a si tuao era mui to di ferente, quando a ri queza, na Amri ca, era mui to i nferi or
ao n vel que ati ngi u hoje. Por exempl o, Mi stres Trol l ope, que vi ajava nesse pa s de 1827
a 1831, escreve: Com exceo dos bai l es (...) as mul heres so excl u das de todos os prazeres
dos homens. Estes tm reuni es numerosas e freqentes mas aquel as nunca so a admi ti das.
Se tal no fosse o costume constante, seri a i mposs vel que no se chegasse a i nventar
al gum mei o de poupar s damas ri cas e suas fi l has a pena de cumpri r mi l desprez vei s
cui dados domsti cos que quase todas el as cumprem em suas casas.
densi dade da popul ao e de mel hores mei os de comuni cao, faz de-
saparecer o bandi ti smo nos campos; a profi sso de bandi do torna-se
i mposs vel . Este no um efei to do progresso da moral , porque nas
grandes ci dades se constata um resul tado preci samente contrri o: as
agresses tornam-se mai s freqentes.
Com o aumento da r i queza, as l ei s contr a os devedor es podem
tor nar -se mui to menos dur as. Sabe-se, i gual mente, que os senti -
mentos soci al i stas aumentam aps um l ongo per odo de paz e do
aumento de r i queza. Num povo mui to pobr e, os r ar os capi tai s so
mui to pr eci osos, o tr abal ho humano mui to abundante e de bai xo
pr eo; em conseqnci a, o poder pol ti co per tence aos capi tal i stas,
mui fr eqentemente aos pr opr i etr i os de bens de r ai z. medi da
que a r i queza do pa s aumenta, a i mpor tnci a dos capi tai s di mi nui ,
a do tr abal ho aumenta; e os oper r i os adqui r em pouco a pouco o
poder e os pr i vi l gi os que antes per tenci am aos capi tal i stas. Cons-
tata-se, ao mesmo tempo, uma mudana dos costumes, da mor al ,
dos senti mentos, da l i ter atur a, da ar te. Nos povos pobr es, os l i ter atos
adul am os r i cos; nos povos r i cos, adul am os pobr es.
Os escri tores anti gos no i gnoravam as mudanas profundas que
o aumento da ri queza trazi a organi zao soci al , mas, comumente,
por necessi dade das decl amaes ti cas, qual i fi cavam de corrupo
essas mudanas. s vezes, no entanto, os fatos so mai s bem descri tos.
O autor da Repblica dos Atenienses, comumente atri bu da a Xenofonte,
vi u bem a rel ao que exi ste entre o aumento da ri queza e as atenes
mai ores que se tm para com as cl asses i nferi ores da popul ao. El e
demonstra como, pel o efei to do desenvol vi mento de seu comrci o, os
ateni enses ti nham si do l evados a tornar mel hor a condi o dos escravos
e dos metecos. Pl ato, para dar estabi l i dade organi zao de sua Re-
pbl i ca, toma grandes precaues para i mpedi r os ci dados de torna-
rem-se demasi ado ri cos.
No por acaso que a organi zao democrti ca se desenvol veu
nas ri cas ci dades de Atenas e de Roma. Mai s tarde, na I dade Mdi a,
no tambm por acaso que se assi ste ao renasci mento da democraci a
nos l ugares em que apareci a novamente a ri queza, como em Provena,
nas repbl i cas i tal i anas e nas ci dades l i vres da Al emanha; da mesma
forma, o acaso no i ntervm no desapareci mento da democraci a nesses
pa ses quando a ri queza di mi nui . A heresi a dos al bi genses parece um
fato puramente rel i gi oso, quando, no fundo, foi em grande parte um
movi mento democrti co que foi destru do pel os cruzados vi ndos dos
pa ses do Norte, onde a organi zao soci al era di ferente, porque l a
ri queza por habi tante era mui to menor.
A grande peste, que por vol ta da metade do scul o XI V devastou
a Europa, matando numerosos habi tantes, aumentou, durante certo
tempo, a mdi a de ri queza per capita; as cl asses i nferi ores ti veram
sua condi o mel horada e, em segui da, em certas regi es se produzi ram
OS ECONOMISTAS
310
movi mentos democr ti cos, como o foi , por exempl o, na I ngl ater r a,
a r evol ta de Wat Tyl er . Esta foi r epr i mi da, mas como a r epr esso
havi a dur ado pouco, houve pouca r i queza destr u da; per manecendo
as causas, os efei tos conti nuar am a se fazer senti r e, como o assi nal a
Thor ol d Roger s,
embora os camponeses rebel des ti vessem si do derrotados e di s-
persados, e seus chefes, condenados ou enforcados, no fundo res-
tou-l hes a vi tri a.
Vi l l ani observa
165
que, aps a grande mortal i dade que se segui u
peste em Fl orena,
sendo pouco numerosos, e enri queci dos pel os bens que l hes vi e-
ram por sucesso de bens i mobi l i ri os, os homens esqueceram
os fatos que passaram como se no ti vessem aconteci do, e se
entregaram vi da mai s desavergonhada e desordenada. O povo
mi do, homens e mul heres, em razo da abundnci a que havi a
de todas as coi sas, no mai s queri a trabal har nas profi sses cos-
tumei ras e exi gi a o al i mento mai s caro e mai s del i cado...
O mesmo sucedeu na I ngl aterra. Em Fl orena, onde j antes da
peste a ri queza era grande e as i nsti tui es democrti cas tambm, no
se tentou fazer oposi o s pretenses dos operri os; na I ngl aterra,
onde por efei to de mai or pobreza, essas i nsti tui es no exi sti am, pro-
curou-se, por mei o do cl ebre Estatuto dos Trabalhadores, obri gar os
trabal hadores a se contentar com os sal ri os que el es ti nham antes
da grande mortal i dade trazi da pel a peste, mas essa tentati va fracassou.
Os estudos recentes mai s bem el aborados mostraram como, na
Frana e na Al emanha, os anos que precederam o nasci mento do pro-
testanti smo foram anos de grande prosperi dade econmi ca. Essa pros-
peri dade favoreceu a extenso da reforma rel i gi osa e do movi mento
democrti co que, na ori gem, o acompanhava. Mas as guerras prol on-
gadas que se segui ram, tendo destru do grande quanti dade de ri queza,
fi zeram desaparecer as condi es que ti nham dado nasci mento ao mo-
vi mento democrti co e este acaba por desaparecer compl etamente ou
quase por compl eto
166
para renascer mai s tarde na I ngl aterra, na Fran-
a e no resto da Europa, com o novo cresci mento da ri queza. E, se
agora el e mai s i ntenso na Frana que em outros l ugares, no o
acaso que faz coi nci di r essa ci rcunstnci a com o cresci mento da ri queza
nesse pa s, enquanto o nmero de habi tantes permanece quase cons-
tante, e a ri queza mdi a por habi tante aumenta.
PARETO
311
165 Croni ca di Matteo Vi l l ani . I , 4.
166 Os Mdi ci , em Fl orena, se desembaraaram de seus adversri os medi ante o i mposto pro-
gressi vo e, ao mesmo tempo, enfraqueceram a democraci a, supri mi ndo as condi es sobre
as quai s el a se apoi ava.
55. preci so no esquecer que os fenmenos que vi mos segui r
uma marcha paral el a ao aumento da ri queza atuam, por sua vez, para
modi fi car o prpri o fenmeno do aumento da ri queza e que, em con-
seqnci a, estabel ece-se entre el es certo equi l bri o.
Pode i gual mente acontecer que essa conti nui dade de aes e de
reaes favorea o movi mento r tmi co que prpri o dos fenmenos
soci ai s. O aumento da ri queza mdi a por habi tante favorece a demo-
craci a; esta, porm, pel o menos tanto quanto se pde observar at
aqui , acarreta grandes destrui es de ri queza e chega mesmo a esgotar
suas fontes. Di sso resul ta que el a se torna seu prpri o covei ro, des-
trui ndo aqui l o que a havi a fei to nascer ( 83).
A hi stri a formi ga de exempl os que se poderi am i nvocar para
apoi ar essa constatao e, se hoje parece no ser mai s assi m, porque
o per odo de tempo durante o qual o trabal ho de destrui o da ri queza
aconteceu no mui to consi dervel e tambm porque os maravi l hosos
aperfei oamentos tcni cos da produo em nossa poca permi ti ram pro-
duzi r uma quanti dade de ri queza mai or do que a que foi destru da;
todavi a, se a destrui o de ri queza conti nuasse e se novos aperfei oa-
mentos no se real i zassem, de manei ra que a produo ul trapassasse
essa destrui o, ou pel o menos l he fosse i gual , o fenmeno soci al poderi a
mudar i ntei ramente.
Do ponto de vi sta objeti vo, os fenmenos que acabamos de estudar
esto si mpl esmente em rel ao de mtua dependnci a, mas, do ponto
de vi sta subjeti vo, so traduzi dos comumente como se esti vessem em
rel ao de causa e efei to; e, mesmo quando objeti vamente possa haver
al go que se aproxi me dessa rel ao, curi oso observar que mui tas
vezes a traduo subjeti va i nverte os termos. assi m que parece mui to
provvel , quase certo, que os senti mentos humani tri os, as medi das
l egi sl ati vas em favor dos pobres e as outras mel hori as na condi o
destes, no contri buem, ou pouco contri buem, para o aumento da ri -
queza, e freqentemente fazem-na di mi nui r. A rel ao de mtua de-
pendnci a entre esses fenmenos se aproxi ma, portanto, de uma rel ao
na qual o aumento da ri queza a causa, e na qual o desenvol vi mento
dos senti mentos humani tri os e a mel hori a da condi o dos pobres
so os efeitos. A traduo subjeti va, pel o contrri o, consi dera como
causa os senti mentos humani tri os e i magi na que so el es a causa da
mel hori a da condi o dos pobres, i sto , do aumento da poro de
ri queza que el es consomem.
Exi stem pessoas boas que i magi nam que, se o oper r i o come
hoje car ne todos os di as enquanto h um scul o somente a comi a
nos di as de festa, i sso decor r e do desenvol vi mento dos senti mentos
ti cos e humani tr i os; outr os di zem que por que se acaba por r e-
conhecer as gr andes ver dades do soci al i smo; mas no chegam a
compr eender que o aumento da r i queza uma condi o absol uta-
OS ECONOMISTAS
312
mente i ndi spensvel para que os consumos popul ares, i sto , do mai or
nmero de homens, possam aumentar.
167
O mai s das vezes, par a obter a mel hor i a das condi es econ-
mi cas do povo, os humani tr i os fazem si mpl esmente o papel da mos-
ca de coche.
168
56. De tudo o que precede resul ta que a mdi a de ri queza por
habi tante , pel o menos em parte, um ndi ce certo das condi es eco-
nmi cas, soci ai s, morai s, pol ti cas de um povo. cl aro que outros fatos
podem i ntervi r e que essa correspondnci a pode ser apenas aproxi ma-
ti va. Al m di sso, preci so l evar em consi derao o fato de que os
povos i mi tam, mai s ou menos, uns aos outros. Em conseqnci a, certas
i nsti tui es que, nos povos ri cos, esto em rel ao di reta com sua ri -
queza, podem ser copi adas por outro povo em que no teri am nasci do
espontaneamente.
57. A produo dos capitais pessoais Como todos os capi tai s,
o homem tem certo custo de produo. Esse custo, porm, depende da
manei ra de vi ver, do standard of life.
58. Se admi ti mos que o custo de produo do homem dado por
aqui l o que estri tamente necessri o para faz-l o vi ver e se i nstrui r,
e que para os capi tai s pessoai s exi ste tambm i gual dade entre o custo
de produo e o preo do capi tal obti do, consi derando como juros o
preo do trabal ho (V, 88), concl u mos que a condi o dos homens jamai s
pode ser mel horada de manei ra al guma; toda mel hori a obti da em favor
dos trabal hadores teri a si mpl esmente por efei to o custo de produo.
A est o ncl eo da lei de bronze de Lassal l e
169
e del e vi eram mui tos
erros de outros economi stas.
59. As duas premi ssas desse raci oc ni o no foram confi rmadas
pel os fatos. J fal amos da pri mei ra. Quanto segunda, pode-se i nvocar
a seu favor o fato que o pri mei ro efei to da mel hori a das condi es
econmi cas o de aumentar o nmero de casamentos e, em conse-
qnci a, o de nasci mentos; el a tem, porm, contra si este outro fato,
PARETO
313
167 Reprovaram-me por no haver sal i entado, ao mesmo tempo que a sucesso das elites, a
mel hori a das condi es das cl asses pobres. No o fi z porque no me parece, consi derando
os fatos que conheo, que esse segundo fenmeno seja conseqnci a do pri mei ro; el e
conseqnci a do aumento da ri queza, pel o menos em grande parte. Um navi o desce o ri o,
arrastado pel a correnteza, e comandado tanto por esta quanto por aquel a: os doi s fenmenos
so concomi tantes, no esto em rel ao de causa e efei to.
Fi ca bem cl aro que no se v assi m seno a parte pri nci pal do fenmeno. As cl asses
pobres podem, acessori amente, ti rar al guma vantagem da l uta das elites.
168 I magem al usi va fbul a de La Fontai ne, para desi gnar a pessoa que demonstra zel o
excessi vo, mas i nti l . (N. do Ed.)
169 Systmes. I I , p. 235.
que o aumento permanente da ri queza encontra-se l i gado a uma di -
mi nui o do nmero de nasci mentos, e esse segundo efei to supera em
mui to o pri mei ro.
60. O aumento da ri queza no segue uma marcha uni forme; h
per odos de aumentos rpi dos, outros de estagnao e at mesmo de
decrsci mo. O aumento do nmero de casamentos quando a mar sobe
, pel o menos em parte, compensado pel a di mi nui o desse nmero
quando a mar bai xa; permanece a reduo estvel que l i gada a um
aumento permanente da ri queza.
61. O custo de produo do homem adul to depende evi dentemente
da mortal i dade i nfanti l ; mas, contrari amente ao que se poderi a acre-
di tar, a di mi nui o da mortal i dade na pri mei ra i nfnci a no produz
uma di mi nui o correspondente desse custo.
170
I sso decorre do fato de
que mui tos daquel es que foram sal vos na pri mei ra i nfnci a morrem
pouco depoi s, antes de se tornarem adul tos.
62. Obstculos fora geradora O cresci mento da popul ao
resul ta da oposi o que exi ste entre a fora geradora e os obstcul os
que el a pode encontrar. Duas hi pteses so poss vei s: pode-se supor
que esses obstcul os no exi stem e que, em conseqnci a, o nmero
de nasci mentos sempre mxi mo; o nmero de bi tos, m ni mo; o au-
mento da popul ao, mxi mo. Ou ento, pode-se supor que a fora
geradora encontra obstcul os que di mi nuem o nmero de nasci mentos,
aumentam o nmero de bi tos e l i mi tam (desprezando, por ora, a emi -
grao) o aumento da popul ao.
63. A pri mei ra hi ptese mani festamente contrri a aos fatos.
sufi ci ente constatar as osci l aes que conhecemos das estat sti cas, no
nmero dos casamentos e dos nasci mentos; i mposs vel admi ti r que
el as correspondam preci samente s vari aes do i nsti nto da reproduo.
Al m di sso, constatam-se osci l aes mai s i mportantes em todos os po-
vos. As penri as, as epi demi as, as guerras di mi nu ram consi deravel -
mente o nmero de certas popul aes que, aps anos, retornaram a
seu estado pri mi ti vo.
64. Resta-nos, portanto, apenas a segunda hi ptese e podemos
demonstrar, de manei ra ri gorosa, que el a corresponde aos fatos. Os
autores que acei tam i mpl i ci tamente essa hi ptese l he do, comumente,
outra forma; especi fi cam os obstcul os e decl aram que os mei os sub-
si stenci ai s l i mi tam a popul ao. I sso d l ugar di scusso sobre a ma-
OS ECONOMISTAS
314
170 Cours. 255.
nei ra de aumentar a quanti dade desses mei os, seja di mi nui ndo o des-
perd ci o que del es se faz, seja aumentando-os com medi das consi deradas
tei s para esse fi m. Assi m, desvi a-se a di scusso. preci so abrevi ar
essas consi deraes e, em vez de um l i mi te el sti co, como o esse dos
mei os subsi stenci ai s, consi derar um l i mi te fi xo, como o o do espao.
65. Na Noruega, a di ferena entre os nasci mentos e os bi tos,
de 1805 a 1880, nos d um aumento anual de popul ao de 13,48;
para a I ngl aterra, de 1861 a 1880, temos 13,4; para o I mpri o al emo,
12,3. Suponhamos que a popul ao desses trs Estados, que era de
72 728 000 em 1880, conti nue a crescer segundo a mai s fraca das trs
propores aci ma, i sto , de 12,3 ao ano. Em 1 200 anos, teremos
um nmero de seres humanos i gual a 1 707 segui do de onze zeros.
Sendo a superf ci e do gl obo terrestre de 131 qui l metros quadrados,
ter amos, portanto, um habi tante por metro quadrado, o que absurdo.
, portanto, absol utamente i mposs vel que a popul ao dos trs Estados
consi derados possa conti nuar a crescer, no futuro, na mesma proporo
que no per odo de 1861 a 1880.
66. Com rel ao ao passado podemos observar que, se a popul ao
do gl obo ti vesse si do si mpl esmente de 50 mi l hes no comeo da era
cri st e se ti vesse cresci do na proporo constatada na Noruega, te-
r amos ti do, em 1891, um nmero de seres humanos i gual a 489 segui do
de dezessei s zeros. Suponhamos que em 1806 a popul ao da I ngl aterra
tenha si do de cerca de 2 mi l hes de habi tantes; se el a ti vesse aumentado
na proporo observada atual mente, el a deveri a ser, em 1806, de 84
bi l hes. Se a popul ao da I ngl aterra conti nuasse a crescer segundo
a l ei observada de 1801 a 1891, em cerca de sei s scul os e mei o haveri a,
na I ngl aterra, um habi tante por metro quadrado.
Tudo i sso absurdo. certo, no entanto, que a popul ao no
pde no passado e no poder no futuro aumentar na proporo atual ;
assi m, portanto, fi ca demonstrado que houve e haver obstcul os a
esse momento.
67. Buscando a demonstr ao de nossa pr oposi o, encontr a-
mos, i nci dental mente, uma outr a. Vi mos que o scul o XI X foi ex-
cepci onal do ponto de vi sta do aumento da Nor uega, da I ngl ater r a,
da Al emanha (I X, 37) e que no poder i a, nem no passado nem no
futur o, haver aumentos semel hantes dur ante um l ongo espao de
tempo nesses pa ses.
68. Os meios de subsistncia e a populao A fal ta de mei os
de subsi stnci a pode portanto, evi dentemente, ser um obstcul o ao
aumento da popul ao; el a atua de forma di ferente nas di ferentes ca-
madas soci ai s, Fi g. 54 ( 11). Na parte i nferi or, quando a camada dos
PARETO
315
rendi mentos quase se confunde com a l i nha do rendi mento m ni mo, a
fal ta de mei os de subsi stnci a atua pri nci pal mente aumentando a mor-
tal i dade. Esse fenmeno foi posto em evi dnci a por mui tos fatos reco-
l hi dos por Mal thus em seu l i vro. Na parte superi or, o efei to da fal ta
de mei os de subsi stnci a i ndi reto. Vi mos que a forma da curva da
di stri bui o dos rendi mentos pouco vari a; em conseqnci a, se se su-
pri me uma das camadas i nferi ores na Fi g. 54, todas as camadas su-
peri ores descem e a superf ci e total da fi gura torna-se menor. Com-
preende-se faci l mente que se os operri os desaparecessem, os patres
das ofi ci nas, em que trabal havam esses operri os, e aquel es que, nas
profi sses chamadas l i berai s, ti ravam seus ganhos desses patres, cai -
ri am na mi sri a. Na parte mdi a das camadas soci ai s, a fal ta de mei os
de subsi stnci a se faz senti r di retamente pel as camadas i nferi ores,
atua sempre l evando di mi nui o do nmero de casamentos, retar-
dando a i dade em que se casam, acarretando uma di mi nui o dos
nasci mentos. O campons que possui apenas uma propri edade no pode
ter um nmero grande de fi l hos, para no di vi di r essa propri edade
em nmero mui to grande de partes. O burgus a quem fal tam as fontes
comuns de ganho, l i mi ta as despesas da fam l i a e o nmero de seus
fi l hos. Nos pa ses em que uma parte i mportante do patri mni o reverte
ao mai s vel ho, os i rmos menores freqentemente no se casam. Cons-
tatam-se esses mesmos efei tos nas camadas mai s el evadas da soci edade;
nesse caso, porm, acrescenta-se o fenmeno mui to poderoso da deca-
dnci a das elites, que faz com que todas as raas el ei tas desapaream
mai s ou menos rapi damente.
69. Si smondi , di gno precursor de nossos humanitrios, acredi ta
poder provar o absurdo da teori a segundo a qual os mei os de subsi s-
tnci a l i mi tam a popul ao, tomando o exempl o de uma fam l i a, a dos
Montmorency, que estava a ponto de desaparecer em sua poca quando,
tendo sempre vi vi do na abundnci a, deveri a, segundo a teori a de Si s-
mondi , encher a terra de habi tantes. Com essa manei ra de raci oci nar,
aquel e que qui sesse provar que a tartaruga um ani mal mui to rpi do
poderi a ci tar o exempl o do caval o de corri da.
70. ti l observar o quanto essa expresso: mei os de subsi s-
tnci a pouco preci sa. El a certamente compreende, al m dos al i men-
tos, di ferentes segundo as raas e os pa ses, tambm os mei os de se
preservar das i ntempri es, i sto , as roupas e a moradi a, e al m di sso,
nos pa ses fri os, o combust vel para o aqueci mento. E todos esses el e-
mentos vari am segundo as ci rcunstnci as. No so certamente os mes-
mos, por exempl o, para o europeu e para o chi ns, nem para o i ngl s
e o espanhol .
71. Natureza dos obstculos Segui ndo o exempl o de Mal thus,
OS ECONOMISTAS
316
podemos di vi di r os obstcul os em PREVENTI VOS, que atuam antes
do nasci mento e at o momento deste, e em REPRESSI VOS, que atuam
aps o nasci mento.
72. Os obstcul os preventi vos podem atuar de duas manei ras:
() di mi nui ndo o nmero das uni es; () di mi nui ndo o nmero de nas-
ci mentos, seja qual for o nmero de uni es. O obstcul o () pode atuar
sobre a fecundi dade l eg ti ma, o obstcul o () sobre a fecundi dade i l e-
g ti ma. Uma parte da popul ao pode vi ver no cel i bato; mas essa di -
mi nui o de nmero de uni es () pode ser compensada por um au-
mento do nmero de nasci mentos por uni es contratadas ().
73. () 1) A Estat sti ca nos demonstra que em al guns povos ci -
vi l i zados modernos o nmero dos casamentos di mi nui , sem que por
i sso a fecundi dade i l eg ti ma aumente. 2) O cel i bato, quando real mente
observado, di mi nui o nmero das uni es. Os harns mui to numerosos
dos grandes senhores do Ori ente e a pol i andri a no Ti bete tm efei tos
semel hantes.
74. () 1) O costume de contrai r matri mni o em i dade avanada
di mi nui o nmero de nasci mentos. Esse obstcul o atua sobre al guns
povos ci vi l i zados. Mal thus aconsel hava recorrer excl usi vamente a esse
mei o; el e pretendera que homens e mul heres retardassem a i dade do
casamento, permanecendo ri gorosamente castos antes do casamento;
a i sso que chamavam restrio moral. 2) Os casamentos podem ser
numerosos e precoces e os cnjuges empregarem mtodos di retos para
di mi nui r o nmero de nasci mentos. o que se chama de malthusia-
nismo, termo i mprpri o porque Mal thus jamai s se mostrou favorvel
a essas prti cas. 3) Certamente para mui tos povos anti gos e para os
povos brbaros ou sel vagens, mesmo modernos, provavel mente para
os habi tantes de al gumas grandes ci dades modernas, o aborto deve
ser consi derado como um i mportante obstcul o preventi vo aos nasci -
mentos. 4) A i nconti nnci a, a prosti tui o tal vez devam ser col ocadas
no nmero dos obstcul os preventi vos. 5) Certas pessoas presumem,
i sso porm no seguro, que uma grande ati vi dade i ntel ectual con-
trri a reproduo. Poder amos enumerar um grande nmero de ou-
tras causas de di mi nui o do nmero de nasci mentos, porm esse
um assunto que ul trapassa de l onge o objeti vo de nosso estudo atual .
75. Os obstcul os repressi vos podem vi r: () do aumento do n-
mero de bi tos que provm di retamente da fal ta de al i mentos (mi sri a,
escassez), ou i ndi retamente das doenas causadas pel a mi sri a, ou que
so conseqnci a da fal ta de medi das hi gi ni cas que, no s por i gno-
rnci a, mas tambm por seu el evado custo, no podem ser postas em
prti ca; essa causa atua de forma cont nua, e de forma descont nua
PARETO
317
pel as epi demi as; () do aumento das mor tes vi ol entas, como os i n-
fanti c di os, os homi c di os, as mor tes causadas pel as guer r as; () da
emi gr ao.
76. Os obstcul os ao aumento da popul ao no di mi nuem ne-
cessari amente a desproporo entre a popul ao e a ri queza porque
el es podem i gual mente di mi nui r a ri queza. Por exempl o, a guerra pode
aumentar essa desproporo, destrui ndo proporci onal mente mai s ri -
queza do que homens; a emi grao pode empobrecer um pa s mai s em
homens do que em ri queza.
77. O efei to i ndi reto dos obstcul os pode ser di ferente do efei to
di reto ( 80).
preci so observar que uma popul ao A e uma popul ao B
podem ter o mesmo cresci mento anual , resul tando, para A, de um
grande nmero de nasci mentos e de um grande nmero de bi tos; e,
para B, de um pequeno nmero de nasci mentos e de um pequeno
nmero de bi tos. O pri mei ro ti po o dos povos brbaros e tambm,
em parte, dos povos ci vi l i zados de um scul o atrs; na Europa con-
tempornea, a Rssi a, a Hungri a, a Espanha aproxi mam-se desse ti po.
O segundo ti po aquel e dos povos mai s ri cos e mai s ci vi l i zados; na
Europa contempornea, a Frana, a Su a, a Bl gi ca del e se aproxi mam.
78. Ai nda que o aumento seja o mesmo para A e para B, a com-
posi o de sua popul ao di ferente. Em A exi stem mui tas cri anas
e menos adul tos, sendo o contrri o para B.
79. O equi l br i o entr e o nmer o de nasci mentos e dos bi tos,
de onde r esul ta o aumento da popul ao, depende de um nmer o
i nfi ni to de causas econmi cas e soci ai s; mas uma vez estabel eci do,
se uma var i ao se pr oduz num senti do, i medi atamente pr oduz-se
uma var i ao em senti do contr r i o, que l eva ao equi l br i o pr i mi ti vo.
A bem di zer , essa obser vao uma tautol ogi a,
171
poi s esse mesmo
fato que a car acter sti ca e a defi ni o do equi l br i o (I I I , 22);
pr eci so, por tanto, modi fi car a for ma da obser vao e di zer que a
exper i nci a nos mostr a que, na r eal i dade, h equi l br i o, o qual , al i s,
pode se modi fi car l entamente.
OS ECONOMISTAS
318
171 Certos autores vi ram nesses fatos a i ndi cao de uma l ei mi steri osa, qual deram o nome
de l ei de compensao. Descobri ram sua pretensa l ei em todos os casos em que exi ste
equi l bri o.
LEVASSEUR. La Population Franaise. I I , p. 11. Quando um fenmeno demogrfi co
se afasta bruscamente da mdi a produz-se, comumente, uma reao tambm brusca; no
ano segui nte, s vezes at mesmo vri os anos em segui da, esse fenmeno ai nda permanece
afastado de sua mdi a e apenas retoma seu n vel aps vri as osci l aes, obedecendo assi m
a uma lei de compensao.
um fato bastante conheci do que, aps uma guerra ou uma
epi demi a, os casamentos so mai s freqentes, e a popul ao que a
guerra ou a epi demi a di zi maram retoma rpi do seu n vel pri mi ti vo.
Da mesma manei ra um aumento da emi grao pode no acarretar
nenhuma di mi nui o da popul ao e ter ao apenas como esti mul ante
aos casamentos e aos nasci mentos. I nversamente, um aumento do n-
mero de casamentos e de nasci mentos pode ser rapi damente compen-
sado por um aumento do nmero de bi tos e da emi grao.
80. Certas prti cas desti nadas a di mi nui r a popul ao, e que
podem atuar de manei ra permanente sobre os costumes e, em conse-
qnci a, mudar o prpri o equi l bri o, tm efei to compl etamente di fe-
rente. assi m que se afi rma que a emi grao, provocando um canal
para o excesso de popul ao, aumenta a i mprevi dnci a na gerao; e,
em conseqnci a, a emi grao pode ser faci l mente, em certos casos,
uma causa no de di mi nui o mas de aumento de popul ao. Obser-
vaes semel hantes foram fei tas a respei to do aborto, do abandono das
cri anas, do i nfanti c di o. Por outro l ado, fal tam provas para que se
possa fornecer uma demonstrao ri gorosa.
81. Viso objetiva dos fenmenos relativos ao aumento da popu-
lao A questo do aumento da popul ao e de seus obstcul os
uma daquel as de que os homens no podem se ocupar sem serem
l evados pel a pai xo; a causa est em que no h preocupao al guma
em dedi car-se a pesqui sas ci ent fi cas, mas em defender uma teori a
preconcebi da; e sentem por aquel es que os contradi zem a cl era que
os crentes sentem contra os i nfi i s.
Temos aqui um bom exempl o da manei ra como as causas econ-
mi cas se combi nam com outras causas para determi nar as opi ni es
dos homens. A proporo que h entre o nmero de homens e a ri queza
um fator mui to poderoso dos fatos soci ai s; e so esses os fatos que,
pel a ao que exercem sobre os homens que vi vem nessa soci edade,
determi nam as opi ni es. , portanto, por essa vi a i ndi reta, e quase
sempre sem o conheci mento daquel e que sofre essa ao, que atua o
fato da proporo entre a ri queza e o nmero dos homens ( 54).
82. As cl asses ri cas e as ol i garqui as pol ti cas tm i nteresse em
que a popul ao aumente tanto quanto poss vel , porque a mo-de-obra
abundante faci l i ta sua compra e porque um nmero mai or de domi nados
aumenta o poder da cl asse que domi na pol i ti camente. Se no houvesse
i nterveno de outras causas, o fenmeno seri a ento mui to si mpl es:
de um l ado, as cl asses ri cas e pol i ti camente domi nantes enal teceri am
o aumento da popul ao; de outro l ado, as cl asses pobres seri am fa-
vorvei s sua restri o. Tal poderi a ser a teori a; porm, de fato, o
contrri o que poderi a suceder, e os ri cos poderi am l i mi tar o nmero
PARETO
319
de seus fi l hos a fi m de l hes conservar um patri mni o i ntato, enquanto
os pobres poderi am ter mui tos fi l hos para di sso ti rar provei to ou si m-
pl esmente por i mprevi dnci a. Constata-se na Frana um fenmeno des-
se gnero e no por acaso que os nacionalistas e os conservadores
so cal orosos parti dri os das medi das prpri as a aumentar o nmero
da popul ao ( 86). Os radi cai s-soci al i stas so menos prudentes e seu
Governo se mostra di sposto a fazer aprovar medi das l egi sl ati vas que
tendem a favorecer o aumento da popul ao ( 86). verdade que,
comumente, essas medi das so desprovi das de toda efi cci a; porm,
se o fossem, destrui ri am a base do poder dos radi cai s-soci al i stas.
83. O fenmeno, por outro l ado, mui to mai s compl exo do que
parece no pri mei ro momento. Para no sai r do terreno de ao do
pri nc pi o econmi co, sabe-se que esse pri nc pi o pode ter efei tos di fe-
rentes em decorrnci a da i gnornci a dos i ndi v duos e de suas neces-
si dades momentneas.
As revol ues acontecem mai s faci l mente quando as cl asses po-
bres sofrem a mi sri a, ou quando usufruem o bem-estar?
84. Se esse probl ema for resol vi do no senti do da pri mei ra hi ptese,
poder ocorrer que em determi nado momento as cl asses ri cas e as
cl asses domi nantes preguem a l i mi tao da popul ao no temor de ver
aumentar o poder de seus adversri os, e os chefes popul ares preguem,
ao contrri o, o aumento sem l i mi te da popul ao, justamente para
aumentar o nmero de suas tropas. o que se produzi u por vol ta do
fi m do scul o XVI I I e no comeo do XI X, e esta a base sobre a qual
repousa a di scusso entre Gol dwi n e Mal thus.
85. Se o probl ema for resol vi do no senti do da segunda hi ptese,
a qual , se bem que de i n ci o paradoxal , est mai s de acordo com os
fatos, como o demonstra um estudo cui dadoso ( 54), os efei tos do
pri nc pi o econmi co sero i ntei ramente di ferentes. As cl asses domi -
nantes compreendem-no s vezes, mas acontece tambm que el as no
se do conta di sso e parecem nada saber da razo dos fatos. Embora
que Tocquevi l l e tenha cl aramente demonstrado, num caso especi al ,
qual era a verdadei ra sol uo do probl ema, vemos ai nda hoje mui tos
membros da cl asse domi nante agi r de manei ra a causar preju zo no
futuro sua prpri a cl asse. Como o cego que anda tateando, el es pa-
recem no ter nenhuma noo do cami nho que seri a preci so segui r e
acabam por i r ao encontro de sua prpri a ru na. Razes ti cas e tambm
razes de decadnci a fi si ol gi ca contri buem, por outro l ado, para esse
resul tado. Os chefes das cl asses popul ares, numa pal avra, os membros
da nova elite que se apressam a desapossar os da anti ga el i te, com-
preenderam, s vezes, que o excesso de mi sri a l evava si mpl esmente
a tumul tos faci l mente repri mi dos pel a cl asse domi nante; e que, ao
OS ECONOMISTAS
320
contrri o, o aumento do bem-estar preparava mel hor as revol ues.
Ei s por que al guns del es so parti dri os da l i mi tao da popul ao,
enquanto outros no se preocupam com esse probl ema, ou ai nda tomam,
com i ndol nci a, as medi das que aumentari am a popul ao ( 82). To-
davi a os chefes, que estari am mai s di spostos a l i mi t-l a, encontram
um sri o obstcul o no fato de que devem dar sati sfaes aos senti mentos
de seus parti dri os ( 87). O homem do povo se preocupa especi al mente
com suas necessi dades presentes e quer comer, beber e sati sfazer suas
necessi dades sexuai s; e os chefes so l evados a prometer-l hes que, assi m
que o capi tal i smo for destru do e surgi r a i dade de ouro, todas essas
necessi dades, todos esses desejos podero ser sati sfei tos sem nenhuma
moderao.
86. No exi stem apenas moti vos econmi cos; exi stem moti vos ti -
cos, rel i gi osos, metaf si cos, ascti cos etc. Os conservadores rel i gi osos
se mostram i ndi gnados com a i di a, i ndependentemente de qual quer
moti vo econmi co, de que se pretenda agi r fraudando o precei to di vi no:
crescei e mul ti pl i cai -vos. Tudo o que se rel aci ona s rel aes sexuai s
foi coberto, nos tempos modernos, de um vu pudi co, freqentemente
hi pcri ta. A i di a de que o homem possa ter a audci a de cal cul ar as
conseqnci as de suas sati sfaes sexuai s e, prevendo-as, regul -l as,
parece a al guns uma i di a de tal manei ra monstruosa que l he di f ci l
del a fal ar fri amente. So esses moti vos, e outros que seri a mui to l ongo
enumerar, que l evam mui tos membros das cl asses el evadas da soci e-
dade a se oporem energi camente a tudo que possa aparentar tendnci a
a l i mi tar o nmero da popul ao. s vezes esses moti vos se juntam
aos moti vos econmi cos dos quai s acabamos de fal ar, s vezes, porm,
el es so de tal manei ra poderosos que podem determi nar por si s as
opi ni es dos homens. Essas doutri nas deri vam uni camente dos senti -
mentos e em vez de ti rar dos fatos as suas teori as, os autores pretendem
submet-l os s teori as. Antes de estud-l o, conhecem j a sol uo do
probl ema da popul ao, e, se recorreram observao, no para
pesqui sar a sol uo do probl ema l evantado, para nel a encontrar argu-
mentos que justi fi quem suas opi ni es preconcebi das.
87. No povo, outras causas tm efei tos semel hantes e j os i n-
di camos no 85. A promessa de uma extrema abundnci a de bens
econmi cos, graas a uma nova organi zao soci al , parece i nsufi ci ente
a al guns, que a el a querem ai nda acrescentar a l i berdade i l i mi tada
das pai xes; outros chegam at mesmo a pretender que o homem poder
dar l i vre curso a seu i nsti nto sexual , porque j no ter de temer
nenhuma conseqnci a i nconveni ente; e Fouri er, mai s l gi co do que
os outros, d, da mesma manei ra, sati sfao a todos os i nsti ntos hu-
manos. Encobrem-se, s vezes, com forma pseudoci ent fi ca essas fan-
tasi as e se pretende que poss vel ceder seu temor ao i nsti nto sexual
PARETO
321
porque este i r di mi nui ndo com o aumento da ati vi dade i ntel ectual .
Observem que o fato permanece o mesmo se nasce um pequeno nmero
de cri anas, seja porque o i nsti nto sexual poderoso, mas os homens
no se dei xam domi nar por el e, seja porque o i nsti nto sexual fraco,
mas os homens no l he pem nenhum frei o. Toda essa di scusso no
tem, portanto, outro objeti vo seno o de saber se, dentro de al guns
scul os, certos atos sero vol untri os ou no.
88. Os fatos que acabamos de exami nar so fatos ps qui cos, fatos
de opi ni o, de doutri na; preci so acrescentar i medi atamente que essas
crenas e essas opi ni es no ti veram nenhuma ao, ou ti veram uma
ao mui to fraca, sobre o aumento efeti vo da popul ao; parece mai s
que esse aumento que atuou sobre os fatos ps qui cos que acabamos
de i ndi car, do que o i nverso. Na pri mei ra metade do scul o XI X, os
sbi os e os estadi stas preconi zavam, na Frana, a uti l i dade da l i mi tao
da popul ao, o malthusianismo, e a popul ao aumentava; agora se
prega a necessi dade de aumentar a popul ao, e a popul ao permanece
estaci onri a.
89. Malthus e suas teorias
172
O hbi to que se tem ai nda hoje
no estudo da Economi a Pol ti ca no nos permi te estudar o probl ema
da popul ao sem fal ar de Mal thus; embora no aprovemos esse hbi to,
no podemos choc-l o demasi ado, poi s el e ai nda subsi ste. Por outro
l ado, podemos ti rar al gum provei to desse gnero de estudo, e as teori as
de Mal thus nos fornecero um exempl o dos erros nos quai s i nevi ta-
vel mente se cai quando se confunde a teori a com a prti ca, a pesqui sa
ci ent fi ca com a pregao moral .
90. A obra de Mal thus confusa: freqentemente di f ci l saber,
de manei ra preci sa, as questes que o autor col oca. Em suma, pode-
remos di sti ngui r quatro partes nessa obra.
91. 1) Uma parte ci ent fi ca, i sto , uma pesqui sa de uni formi dades
de fenmenos. Mal thus tem o grande mri to de se haver proposto e
de haver tentado demonstrar que a fora geradora por si prpri a teri a
l evado a um aumento da popul ao mai or do que o que se constata
na real i dade; de onde resul ta que essa fora conti da por certos obs-
tcul os. Mal thus, porm, acrescentou ao estudo dessa teori a geral , de-
tal hes menos certos. El e pretendeu estabel ecer que a popul ao tendi a
a crescer segundo uma progresso geomtri ca e os mei os de subsi stnci a
segundo uma progresso ari tmti ca; consi derava, al m di sso, que essa
OS ECONOMISTAS
322
172 Como adversri o do malthusianismo ver a obra de MARTELLO, TULLI O. LEconomia
Politica Antimalthusiana e il Socialismo. Veneza, 1894; um estudo chei o de observaes
penetrantes e de pensamentos profundos.
progresso geomtri ca era tal que a popul ao poderi a dobrar dentro
de cerca de 25 anos.
Um nmero i ncr vel de controvrsi as e de di scusses oci osas acon-
teceu a respei to dessas duas cl ebres progresses.
Em cer tos casos as i di as de Mal thus for am to mal compr een-
di das por seus di famador es que at pode-se i ndagar se el es agi am
de boa-f.
92. Se compararmos essa teori a de Mal thus com os fatos, veremos
que, num caso parti cul ar, o da I ngl aterra do scul o XI X, a popul ao
aumentou segundo uma progresso geomtri ca, dobrando a cada 54
anos aproxi madamente; contudo a ri queza aumentou segundo uma pro-
gresso ai nda mai s forte, e nesse caso a progresso ari tmti ca no
corresponde de manei ra al guma real i dade (Cours, 211, 212).
93. Da mesma manei ra, Mal thus no se atm apenas observao
dos fatos quando afi rma que os obstcul os pertencem necessari amente
a uma das trs cl asses segui ntes: a restrio moral, o v ci o e as mi se-
rvei s condi es de vi da (misery). Essa cl assi fi cao tem uni camente
por objeto obri gar os homens a recorrerem restrio moral.
94. 2) Uma parte descri ti va e hi stri ca, na qual o autor se prope
a demonstrar a exi stnci a e os efei tos dos doi s l ti mos gneros de
obstcul os. Di z el e que o pri mei ro atua francamente sobre os homens
no estado atual da soci edade, embora a absteno do casamento, quan-
do o consi deramos i ndependentemente de suas conseqnci as morai s,
atua poderosamente nos povos modernos, no senti do de reduzi r o n-
mero de nasci mentos.
95. 3) Uma parte da obra pol mi ca. O autor quer demonstrar
que o estado econmi co e soci al , bom ou mau, dos homens depende
quase excl usi vamente da restri o mai or ou menor que el es fazem ao
nmero de nasci mentos; e que pouco ou nada depende da ao do
Governo e da organi zao soci al . Essa parte cl aramente fal sa.
96. 4) Uma par te que tem em vi sta pr egar cer tas r egr as de
conduta. O autor descobr i u a panaci a uni ver sal , i sto , r estr i o
mor al , ou, par a nos expr i mi r mos com a ter mi nol ogi a cor r ente, el e
r esol veu a questo soci al ; el e sobe ctedr a e r evel a a nova f.
Podemos menospr ezar essa par te. Um ser mo a mai s, acr esci do a
todos os que j for am fei tos par a demonstr ar o que exi ste de ti l ,
de bel o e de nobr e na casti dade, no acr escenta ver dadei r amente
nada aos nossos conheci mentos.
97. A sociedade humana em geral Como j i ndi camos (I I , 102)
PARETO
323
a soci edade nos aparece como uma massa heterognea, hi erarqui ca-
mente organi zada.
173
Essa hi erarqui a sempre exi ste, com exceo na-
tural mente, das popul aes sel vagens que vi vem em estado de di sperso
como ani mai s. Resul ta desse fato que a soci edade sempre governada
por um pequeno nmero de homens, por uma elite, mesmo quando el a
parece ter uma consti tui o absol utamente democrti ca; o que se
reconheceu desde os tempos mai s remotos. Na democraci a ateni ense
havi a os demagogos, i sto , os condutores do povo,
174
e Ari stfanes,
em seus Cavaleiros, mostra-os tornando-se mestres do povo desprovi do
de bom senso. Em nossos di as, as democraci as francesa, i ngl esa, dos
Estados Uni dos etc. so, de fato, gover nadas por um pequeno nmer o
de pol ti cos. Da mesma manei r a, as monar qui as absol utas, sal vo
casos mui to r ar os, nos quai s o monar ca um gni o de pr i mei r a
or dem, so tambm el as gover nadas por uma el i te que mui tas
vezes uma bur ocr aci a.
175
98. Poder amos conceber uma soci edade na qual a hi erarqui a
fosse estvel , porm essa soci edade nada teri a de real . Em todas as
soci edade humanas, mesmo nas soci edades organi zadas em castas, a
hi erarqui a termi na por se modi fi car. A di ferena pri nci pal entre as
soci edades consi ste ni sto: essa mudana pode ser mai s ou menos l enta,
mai s ou menos rpi da.
99. O fato, to freqentemente l embrado, de que as ari stocraci as
desaparecem, resul ta de toda a hi stri a de nossas soci edades. um
fato tambm conheci do desde os tempos mai s remotos
176
e foi confi r-
mado ci enti fi camente pel as pesqui sas de Jacoby, Ammon.
177
A hi stri a
das soci edades humanas , em grande parte, a hi stri a da sucesso
das ari stocraci as.
OS ECONOMISTAS
324
173 Beni ni publ i cou excel ente estudo sobre essas hierarquias sociais.
174 LETRAS GREGAS [povo] e de LETRAS GREGAS [conduzir, levar].
175 Cavaleiros. 62: LETRAS GREGAS, quando el e o v nesse estado de estupi dez. Ver tambm
o escol i asta. Al i s, toda a comdi a exagera nesse ponto.
176 DANTE. Purgatrio. VI I , 121, 122:
Rade vol te ri surge per l i rami
Lumana probi tate...
Paraso. XVI , 76-78:
Udi r come l e schi atte si di sfanno
Non ti parr nuova cosa n forte,
Posci a che l e ci ttadi termi ne hanno.*
* Purgatrio. VI I , 121-122: Raras vezes a probi dade transmi ti da em geraes.
Paraso. XVI , 76-78: Se ouves, poi s, di zer que decaem as fam l i as, no te cause i sso mai or
surpresa do que veri fi car como deca ram as ci dades.
Traduo de H. Donato. DANTE. A Divina Comdia. Abr i l Cul tur al , S. Paul o, 1979.
(N. do T.)
177 JACOBY, Paul . tudes sur la Slection dans le Rapports avec lHrdit chez lHomme.
Pari s, 1881; AMMON, Otto. Die Gesellschaftsordnung und ihre natrlichen Grundlagen;
LAPOUGE, Vacher de. Les Slections Sociales.
100. Enfi m, exi ste um fato i mportante que, como j expl i camos,
est em rel ao com um grande nmero de fatos soci ai s, chegando
mesmo a determi n-l os parci al mente. Esse fato a proporo de ri -
queza, ou mel hor, de capi tai s por habi tante. A ci vi l i zao tanto mai s
desenvol vi da quanto mai or essa proporo. preci so, portanto, que
nos l embremos que somos obri gados a aval i ar a ri queza em numerri o
e que a uni dade de numerri o nada tem de fi xo, de onde resul ta que
a ri queza por habi tante no nos conheci da seno de manei ra mai s
ou menos aproxi mada.
Um gr ande nmer o de pessoas acr edi ta que as novas for mas
soci ai s so deter mi nadas mui to mai s pel as var i aes na di str i bui o
da r i queza do que pel as var i aes da quanti a mdi a de r i queza por
habi tante. Esta uma opi ni o absol utamente i nexata; obser vamos
que as mudanas na r epar ti o tm pouca i mpor tnci a ( 16), en-
quanto as var i aes na quanti dade mdi a podem ser mui to i mpor -
tantes ( 92).
101. Acabamos de menci onar quatro espci es de fatos, i sto : a
hi erarqui a a sucesso das ari stocraci as a sel eo a proporo
mdi a de ri queza ou de capi tai s por habi tante. Esses fatos so, de
l onge, os mai s i mportantes para determi nar o carter da soci edade,
i sto , dos outros fatos soci ai s. Na real i dade, porm, no se trata de
uma rel ao de causa e efei to. Os pri mei ros fatos atuam sobre os se-
gundos, mas estes, por sua vez, reagem sobre aquel es, e, em defi ni ti vo,
estamos di ante de uma rel ao de mtua dependnci a.
102. Condies quantitativas para a utilidade da sociedade e dos
indivduos No nos parece, no momento, que tenha senti do exami nar
a conveni nci a de pr um l i mi te no cresci mento da proporo mdi a
dos capi tai s, porm pode chegar o di a em que esse probl ema poder
se apresentar.
103. Para a hi erarqui a a sucesso das ari stocraci as a sel eo,
o probl ema do mxi mo de uti l i dade pri nci pal mente quanti tati vo. As
soci edades humanas no podem subsi sti r sem uma hi erarqui a; porm,
seri a um grave erro concl ui r da que el as sero tanto mai s prsperas
quanto mai s r gi da for essa hi erarqui a. Da mesma manei ra, a mudana
das ari stocraci as ti l ; todavi a certa estabi l i dade no de desprezar.
preci so que a sel eo se mantenha dentro de l i mi tes tai s que seus
efei tos para a uti l i dade da espci e no sejam adqui ri dos medi ante so-
fri mentos sucessi vos dos i ndi v duos.
Essas consi deraes l evantam probl emas numerosos e mui to gra-
ves, dos quai s no podemos nos ocupar aqui . Basta-se i ndi car que
exi stem, o que mui ta gente ai nda i gnora, col oca em dvi da ou se recusa
a admi ti r.
PARETO
325
104. Estabilidade e seleo Poder amos i magi nar uma soci e-
dade humana na qual cada i ndi v duo desenvol vesse a cada di a sua
prpri a ati vi dade i ndependentemente do passado; a facul dade de mu-
dana ou mutabi l i dade seri a ento mui to grande. De manei ra absol uta,
essa si tuao i mposs vel , porque i mposs vel i mpedi r que um i ndi -
v duo no dependa, pel o menos em parte, de sua prpri a ati vi dade
passada e das ci rcunstnci as nas quai s el e vi veu, pel o menos pel a
experi nci a que el e pde adqui ri r. Os povos sel vagens mai s mi servei s
aproxi mam-se desse estado porque, apesar di sso, sempre possuem al -
gum abri go, al guma arma, enfi m, al gum capi tal .
105. No outro extremo, podemos i magi nar uma soci edade em que
se determi nou a cada um seu papel , do nasci mento morte, sem que
el e possa escapar di sso; a estabi l i dade seri a mui to grande, a soci edade
seri a cri stal i zada. Esse caso extremo j no exi ste na real i dade; as
soci edades organi zadas em castas del e se aproxi mam mai s ou menos.
106. As soci edades que exi sti ram, e que exi stem, nos apresentam
casos i ntermedi ri os de toda espci e. Nas soci edades modernas, os el e-
mentos da estabi l i dade so dados pel a propri edade pri vada e pel a he-
redi tari edade; os el ementos da mutabi l i dade e da sel eo provm da
facul dade dada a todos de subi r o quanto for poss vel na hi erarqui a
soci al . Nada, a bem di zer, i ndi ca que esse estado seja perfei to, nem
que deva durar i ndefi ni damente. Se se pudesse, de manei ra efi caz,
supri mi r al guma espci e de propri edade pri vada, por exempl o, a dos
capi tai s e, em parte ou na total i dade, a heredi tari edade, enfraquecer-
se-i a bastante o el emento de estabi l i dade, e reforar-se-i a o el emento
de mutabi l i dade e de sel eo. No se pode deci di r a priori se i sso seri a
ti l ou noci vo soci edade.
107. Parti ndo dessa premi ssa, que no passado foi ti l para di mi nui r
a fora de um desses doi s el ementos e aumentar a do outro, concl ui -se
que ser i gual mente ti l proceder assi m no futuro; esses raci oc ni os, porm,
no tm nenhum val or porque em todos os probl emas quanti tati vos desse
gnero exi ste um mxi mo. Raci oci nar assi m como se, parti ndo do fato
de que a germi nao de uma semente favoreci da quando a temperatura
passa de 6 a 20, concl u ssemos que el a ser ai nda mui to mai s favoreci da
se a temperatura subir at atingi r 100, por exempl o.
108. Os raci oc ni os que, parti ndo dessa premi ssa de que no pas-
sado se observou a di mi nui o de um desses doi s el ementos e o aumento
do outro, concl uem que o que ai nda se observar no futuro, j no
tm val or. Os movi mentos das soci edades no se fazem constantemente
no mesmo senti do, el es so, em geral , osci l atri os.
178
OS ECONOMISTAS
326
178 Cours. I I , 258; Systmes. I , p. 344.
109. As vantagens da mutabi l i dade que uma causa de sel eo
e os i nconveni entes da estabi l i dade dependem, em grande parte, do
fato de que as ari stocraci as no duram. Al m di sso, em decorrnci a
do mi sone smo prpri o do homem e de sua repugnnci a em dedi car-se
a uma ati vi dade mui to grande, bom que os mel hores sejam esti mu-
l ados pel a concorrnci a daquel es que so menos capazes do que el es,
de manei ra que mesmo a si mpl es possi bi l i dade da mudana ti l . Por
outro l ado, a mudana l evada ao extremo mui to penosa ao homem,
desencoraja-o e reduz sua ati vi dade ao m ni mo. Aquel e cuja si tuao
pi or do que a de outro natural mente deseja mudar; mas, aps t-l o
consegui do, deseja ai nda mai s conservar o que adqui ri u e tornar sua
si tuao estvel . As soci edades humanas apresentam uma tendnci a
bastante forte a dar certa ri gi dez a toda nova organi zao, a se cri s-
tal i zar em toda nova forma. De manei ra que com mui ta frequnci a
acontece que se passa de uma forma a outra, no a parti r de um
movi mento cont nuo, mas por sal tos: uma forma se quebra e subs-
ti tu da por outra; esta, por sua vez, quebrar-se- e assi m por di ante.
o que se observa em todas as formas da ati vi dade humana, por
exempl o na l ngua, no Di rei to etc. Nenhuma l ngua vi va i mutvel
e, por outro l ado, uma l ngua composta excl usi vamente de neol ogi smos
no poderi a ser compreendi da; preci so ater-se a um mei o-termo. A
i ntroduo dos neol ogi smos no uni formemente cont nua, el a se pro-
duz em i nterval os, medi ante a autori dade de escri tores renomados ou
de al guma autori dade l i terri a, tal como a Academi a Francesa ou a
Academi a della Crusca na I tl i a. Podem-se obser var fenmenos an-
l ogos em matr i a de l egi sl ao; e no apenas nos pa ses em que
el a codi fi cada que as mudanas acabam em novo si stema r gi do,
mas at mesmo naquel es em que a l egi sl ao dever i a ser mui to
mai s mal evel .
179
110. Em Economi a soci al , a mutabi l i dade pode apresentar formas
vari adas e estas podem ser parci al mente substi tu das por outras. A
mutabi l i dade poderi a atuar em senti do contrri o sel eo; mas aqui
consi deraremos apenas aquel a que a favorece. As revol ues vi ol entas
tm freqentemente esse resul tado. Quando nas camadas i nferi ores
se acumul aram el ementos ati vos, enrgi cos, i ntel i gentes, e, quando, ao
contrri o, s camadas superi ores corresponde uma proporo mui to
PARETO
327
179 MAI NE, H. Summer. Ancient Law. Londres, 1861. Cap. I I I . El e compra os si stemas de
eqi dade em Roma e na I ngl aterra: Em Roma, como na I ngl aterra, a juri sprudnci a con-
duzi u, como sempre acontece, a um estado de di rei to semel hante quel e que consti tu a o
anti go di rei to consuetudi nri o no momento em que a eqi dade havi a comeado a modi fi c-l o.
Chega sempre uma poca em que os pri nc pi os morai s que se adotam trazem todas as
conseqnci as l eg ti mas; e ento o si stema que se assenta sobre el es torna-se to r gi do,
to pouco suscet vel de desenvol vi mento e to forado a permanecer por trs do progresso
dos costumes quanto o cdi go mai s severo das regras l egai s.
forte de el ementos degenerados ( 20, 21), uma revol uo estoura e
substi tui uma aristocracia por outra. A nova forma soci al toma, em
segui da, uma forma r gi da, e el a prpri a ser quebrada por uma re-
vol uo semel hante.
Essas r evol ues vi ol entas podem ser substi tu das por i nfi l -
tr aes que fazem subi r os el ementos el ei tos, os mai s aptos, e descer
os el ementos decadentes. Esse movi mento exi ste quase sempr e, mas
pode ser mai s ou menos i ntenso; e essa di ver si dade de i ntensi dade
que per mi te a acumul ao, ou a no-acumul ao, de el ementos i n-
fer i or es nas camadas super i or es, de el ementos super i or es nas ca-
madas i nfer i or es.
111. Para que o movi mento seja sufi ci ente para i mpedi r a acu-
mul ao, no basta que a l ei o permi ta, que no ponha nenhum ti po
de obstcul o (as castas, por exempl o), mas preci so ai nda que as ci r-
cunstnci as sejam tai s que o movi mento possa se tornar real . Entre
os povos bel i cosos, por exempl o, no basta que a l ei e os costumes
permi tam ao si mpl es sol dado tornar-se general , preci so que a guerra
l he fornea a ocasi o. Entre os povos comerci antes e i ndustri ai s no
basta que a l ei e os costumes permi tam ao ci dado mai s pobre se
enri quecer e chegar s cpul as mai s el evadas do Estado, preci so que
o movi mento comerci al e i ndustri al seja i ntenso o bastante para que
i sso se torne uma real i dade para um nmero sufi ci ente de ci dados.
112. As medi das que, di reta ou i ndi retamente, reduzem as d vi -
das, debi l i tam o el emento estvel e, em conseqnci a, reforam i ndi -
retamente o el emento de mutabi l i dade e de sel eo. O efei to o mesmo
para tudo aqui l o que, em geral , faz aumentar os preos, mas apenas
durante o tempo que dura esse aumento. Se, por exempl o, todos os
preos dobram, o equi l bri o econmi co acaba, aps um tempo mai s ou
menos l ongo, por vol tar a ser i dnti co ao que era pri mi ti vamente. Po-
rm, na passagem de um estado para outro, as d vi das di mi nuem, a
mutabi l i dade e a sel eo acham-se favoreci das. As al teraes das moe-
das, o aumento da quanti dade dos metai s preci osos (aps a descoberta
da Amri ca, por exempl o), as emi sses de papel -moeda, a proteo
al fandegri a, os si ndi catos operri os que obtm aumentos de sal ri os
etc. tm, em parte, por efei to, favorecer a mutabi l i dade e a sel eo.
Mas apresentam tambm outros efei tos: preci so ver em cada caso
parti cul ar se os preju zos que el es causam no ul trapassam as vanta-
gens que del e resul tam.
113. Observou-se que em Atenas, aps a reforma de Sl on, j
no foi preci so recorrer a nenhuma reduo de d vi das; a moeda no
sofreu nenhuma al terao e no se recorreu a nenhum outro procedi -
mento para aumentar os preos. A razo pri nci pal desse fato deve ser
OS ECONOMISTAS
328
buscada na i ntensa ati vi dade comerci al de Atenas, que por si s seri a
sufi ci ente para assegurar a ci rcul ao das aristocracias.
114. Desde os tempos da Anti gui dade cl ssi ca at nossos di as,
nos povos da Europa, constata-se uma sri e de revol ues, de medi das
l egi sl ati vas, de fatos desejados ou aci dentai s, que concorrem para re-
forar o el emento da mutabi l i dade e de sel eo. Podemos concl ui r, com
grande probabi l i dade, que o el emento de estabi l i dade, ou menos de
mutabi l i dade contrri o sel eo, era extremamente forte; e, em de-
corrnci a, por reao, produzi ram-se fatos tendentes a enfraquec-l o.
Para outras soci edades, a concl uso poderi a ser di ferente. A necessi dade
de prover as mudanas favorvei s sel eo est tambm em rel ao
com a proposi o de el ementos superi ores que as camadas i nferi ores
produzem. Pode ocorrer que a mai or estabi l i dade de certos povos ori en-
tai s se deve, pel o menos em parte, ao fato de que nel es essa proporo
mai s fraca do que nos povos oci dentai s.
115. Se em nossas popul aes oci dentai s o el emento de estabi l i -
dade fosse excl usi vamente o resul tado da i nsti tui o da propri edade
pri vada e da heredi tari edade, haveri a uma demonstrao mui to forte
da necessi dade de di mi nui r, ou mesmo de supri mi r, a i nsti tui o da
propri edade pri vada. estranho que os soci al i stas no tenham perce-
bi do o apoi o que essa manei ra de consi derar os fenmenos poderi a
trazer s suas teori as.
Todavi a o el emento de estabi l i dade que se ope mudana pel a
sel eo est l onge de ser excl usi vamente a conseqnci a, em nossas
soci edades, da i nsti tui o da propri edade pri vada. As l ei s e os costumes
di vi di ram os homens em cl asses, e, mesmo onde essas cl asses desapa-
receram, como nos povos democrti cos modernos, a ri queza assegura
vantagens que permi tem a certos i ndi v duos repel i r os concorrentes.
Nos Estados Uni dos da Amri ca, os pol ti cos e os ju zes freqentemente
se vendem aos que mai s oferecem. Na Frana, o Panam e outros
fatos anl ogos demonstraram que a democraci a europi a no di fere,
na essnci a, desse ponto de vi sta, da democraci a ameri cana. Em geral ,
desde os tempos anti gos at nossos di as, as cl asses al tas da soci edade
se uti l i zaram do poder pol ti co para despojar as cl asses pobres; atual -
mente, em certos pa ses democrti cos, parece haver comeado um fe-
nmeno di ametral mente oposto. Jamai s pusemos observar, durante um
tempo bastante l ongo, uma si tuao na qual o Governo permanea
neutro e no ajude estes a despojar aquel es ou vi ce-versa. No podemos,
portanto, deci di r, empi ri camente, se a fora consi dervel do el emento
de estabi l i dade que se ope sel eo dos el ementos das cl asses i nfe-
ri ores tem sua ori gem na i nsti tui o da propri edade pri vada ou na
opresso pol ti ca das cl asses superi ores. Para que possamos ti rar con-
PARETO
329
cl uses corretas, seri a preci so poder separar essas duas espci es de
fatos e estudar separadamente seus efei tos.
116. Traduo subjetiva dos fatos que precedem At aqui , ob-
servamos os fatos de manei ra objeti va; el es, porm, se apresentam de
manei ra bem di versa consci nci a e ao conheci mento dos homens.
Mostramos, em outro l ugar, como a ci rcul ao das elites se traduzi a
subjeti vamente, e no podemos deter-nos sobre esse ponto. Em geral ,
os homens so l evados a dar s suas rei vi ndi caes parti cul ares a
forma de rei vi ndi caes gerai s. Uma nova ari stocraci a que quer subs-
ti tui r-se outra mai s anti ga l uta, comumente, no em nome pessoal ,
mas em nome da mai ori a da popul ao. Uma ari stocraci a que se ergue
assume sempre a mscara da democraci a (I I , 104).
O estado mental produzi do pel a acumul ao de el ementos supe-
ri ores nas camadas i nferi ores, de el ementos i nferi ores nas camadas
superi ores mani festou-se mui tas vezes em teori as rel i gi osas, morai s,
pol ti cas, pseudoci ent fi cas sobre a i gual dade dos homens. Da resul ta
esse fato paradoxal de que foi preci samente a desi gual dade dos homens
que os l evou a procl amar sua i gual dade.
117. Os povos da Anti gui dade reduzi am as d vi das e os juros dos
emprsti mos, sem di scusses teri cas; os Governos dos tempos passados
al teravam as moedas, sem i nvocar as teori as econmi cas, e pregavam
medi das de proteo econmi ca, sem saber em que consi ste a proteo.
Os fatos no for am a conseqnci a das teor i as; mas, bem ao con-
tr r i o, as teor i as for am constr u das par a justi fi car os fatos. Em nos-
sos di as, pr etendeu-se dar um fundamento ter i co a todos esses
fatos. Deu-se um fundamento r el i gi oso r eduo, ou mesmo su-
pr esso do jur o do di nhei r o, e nascer am gr andes di scusses ter i cas,
cujo efei to pr ti co quase nul o, poi s no afetam, de manei r a al guma,
as causas r eai s dos fatos.
Suponhamos que se possa demonstrar de manei ra ri gorosa que
o juro do di nhei ro no l eg ti mo, ou, ao contrri o, que el e perfei -
tamente l eg ti mo. Nem nesse caso nem no outro, os fatos seri am mu-
dados, ou ento seri am mudados de manei ra total mente desprez vel .
O mesmo para a proteo al fandegri a. Todas as teori as, a favor ou
contra, no ti veram o menor efei to prti co; estudos ou di scursos sobre
esse assunto podem ter ti do certo efei to, no em razo de seu contedo
ci ent fi co, mas porque despertavam certos senti mentos e l evavam
uni o as pessoas que ti nham certos i nteresses comuns. As di scusses
teri cas que aconteceram h al guns anos sobre o bi metal i smo foram
absol utamente i ntei s; hoje el as termi naram porque o aumento dos
preos vei o de outra parte e no da cunhagem l i vre do di nhei ro. A
teori a do val or de Marx tornou-se hoje arti go de museu, desde que os
chefes soci al i stas chegaram, pouco a pouco, ao governo da coi sa pbl i ca.
OS ECONOMISTAS
330
A afi rmao de que o val or trabal ho cri stal i zado no era outra coi sa
seno a expresso do senti mento de mal -estar que senti am certos el e-
mentos superi ores da nova ari stocraci a, forados que eram a perma-
necer nas camadas i nferi ores. Em conseqnci a, um fato i ntei ramente
natural que, medi da que chegam s camadas superi ores, seus sen-
ti mentos mudem e, em conseqnci a, mude tambm seu modo de ex-
presso. I sso sobretudo verdadei ro para o conjunto de uma cl asse,
porque, para al guns i ndi v duos em parti cul ar, os senti mentos persi stem
mesmo quando mudaram as ci rcunstnci as que os fi zeram nascer.
preci so no se esquecer jamai s (I I , 4) que comumente os homens
no tm consci nci a da ori gem de seus senti mentos, de onde acontece
com freqnci a acredi tarem que cedem evi dnci a de um raci oc ni o
teri co, ao passo que atuam sob a i nfl unci a de razes mui to di ferentes.
PARETO
331
NDICE
MANUAL DE ECONOMI A POL TI CA
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Bi bl i ografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Advertnci a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sumri o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
CAP. I Pri nc pi os Gerai s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
CAP. I I I ntroduo Ci nci a Soci al . . . . . . . . . . . . . . . 55
CAP. I I I Noo Geral do Equi l bri o Econmi co . . . . . . 123
CAP. I V Os Gostos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
CAP. V Os Obstcul os . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
CAP. VI O Equi l bri o Econmi co . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
CAP. VI I A Popul ao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
333
Você também pode gostar
- SócratesDocumento253 páginasSócratesjose_carlos_da_4581100% (8)
- Os Pré-SocráticosDocumento353 páginasOs Pré-SocráticosDouglas Oliveira Soares100% (2)
- Introdução à Teoria Econômica de John R. CommonsNo EverandIntrodução à Teoria Econômica de John R. CommonsNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- FREIRE, Felisbello - As Constituições Dos Estados e A Constituição Federal PDFDocumento657 páginasFREIRE, Felisbello - As Constituições Dos Estados e A Constituição Federal PDFRaoniAinda não há avaliações
- Tributação, Mercado e Mínimo Existencial: Leitura da obra "Lei, Legislação e Liberdade", de Friedrich August von HayekNo EverandTributação, Mercado e Mínimo Existencial: Leitura da obra "Lei, Legislação e Liberdade", de Friedrich August von HayekAinda não há avaliações
- Elementos bonapartistas no processo de constitucionalização brasileiro: Uma análise crítico-reflexiva da história constitucional brasileira de 1823 a 1945No EverandElementos bonapartistas no processo de constitucionalização brasileiro: Uma análise crítico-reflexiva da história constitucional brasileira de 1823 a 1945Ainda não há avaliações
- Sete Constituições e uma História: paralelo cronológico esquematizado entre história e direito, da monarquia à repúblicaNo EverandSete Constituições e uma História: paralelo cronológico esquematizado entre história e direito, da monarquia à repúblicaAinda não há avaliações
- 41 John Stuart Mill Principios de Economia Politica Vol I Os Economist AsDocumento479 páginas41 John Stuart Mill Principios de Economia Politica Vol I Os Economist Asrui10costa100% (1)
- Contracorrente: Ensaios de teoria, análise e crítica políticaNo EverandContracorrente: Ensaios de teoria, análise e crítica políticaAinda não há avaliações
- A Boa-Fé Objetiva no Direito Tributário Brasileiro: jurimetria da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da quarta regiãoNo EverandA Boa-Fé Objetiva no Direito Tributário Brasileiro: jurimetria da jurisprudência do Tribunal Regional Federal da quarta regiãoAinda não há avaliações
- Dicionário histórico de conceitos jurídico-econômicos: (Brasil, séculos XVIII-XIX) - Vol. 02No EverandDicionário histórico de conceitos jurídico-econômicos: (Brasil, séculos XVIII-XIX) - Vol. 02Ainda não há avaliações
- Economia e A Sociedade - Max WeberDocumento10 páginasEconomia e A Sociedade - Max Weberadmraquel10% (10)
- I - Alexis de Tocqueville - A Democracia Na América - Livro I - Leis e CostumesDocumento661 páginasI - Alexis de Tocqueville - A Democracia Na América - Livro I - Leis e CostumesmfpenteadoAinda não há avaliações
- A cidade republicana na Belle Époque capixaba: Espaço urbano, poder e sociedadeNo EverandA cidade republicana na Belle Époque capixaba: Espaço urbano, poder e sociedadeAinda não há avaliações
- 1989 - A Maior Eleição Da História - Rodrigo de A. Gomes PDFDocumento140 páginas1989 - A Maior Eleição Da História - Rodrigo de A. Gomes PDFCiro Alcantara100% (1)
- Para Além de FHC: A Reforma Gerencial da Administração Pública Brasileira na Era LulaNo EverandPara Além de FHC: A Reforma Gerencial da Administração Pública Brasileira na Era LulaAinda não há avaliações
- Do Federalismo de Cooperação Ao Federalismo CanibalDocumento24 páginasDo Federalismo de Cooperação Ao Federalismo CanibalRaphael CarlosAinda não há avaliações
- VEBLEN, Thorstien - Consumo Conspícuo - A Teoria Da Classe OciosaDocumento17 páginasVEBLEN, Thorstien - Consumo Conspícuo - A Teoria Da Classe OciosaJulia Sellanes100% (1)
- As Dimensoes Possiveis Do Pos Fascismo eDocumento54 páginasAs Dimensoes Possiveis Do Pos Fascismo emmeeellll100% (1)
- Institucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraNo EverandInstitucionalismo, desenvolvimentismo e a economia brasileiraAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - Espinosa PDFDocumento10 páginasColeção Os Pensadores - Espinosa PDFRogerio LucioAinda não há avaliações
- BULL - A Sociedade AnárquicaDocumento390 páginasBULL - A Sociedade AnárquicaNeto Do WalterAinda não há avaliações
- Economia institucional e dimensões do desenvolvimentoNo EverandEconomia institucional e dimensões do desenvolvimentoAinda não há avaliações
- WEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Documento17 páginasWEBER, Max. Economia e A Sociedade, Vol. 1. Cap. 1Jônatas Roque100% (1)
- A "Caravana Integralista" em Tucano: poder local e integralismo no sertão baiano (1930-1949)No EverandA "Caravana Integralista" em Tucano: poder local e integralismo no sertão baiano (1930-1949)Ainda não há avaliações
- Trabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964No EverandTrabalhadores no tribunal: conflitos e justiça do trabalho em São Paulo no contexto do golpe de 1964Ainda não há avaliações
- Léon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Documento316 páginasLéon Walras - Compêndio Dos Elementos de Economia Política Pura (Os Econoistas)Mateus Ramalho100% (1)
- Representação Política - Celso Fernandes CampilongoDocumento37 páginasRepresentação Política - Celso Fernandes CampilongoLucas CameronAinda não há avaliações
- A História, A Retórica e A Crise Dos ParadigmasDocumento296 páginasA História, A Retórica e A Crise Dos ParadigmasEliane Martins de Freitas100% (2)
- SÁ, Alexandre. O Problema Da Tolerância Na Filosofia Politica de John Rawls PDFDocumento21 páginasSÁ, Alexandre. O Problema Da Tolerância Na Filosofia Politica de John Rawls PDFHelena PinelaAinda não há avaliações
- Inflação Legislativa: o sistema autopoiético-patrimonialista deteriorador da macroarquitetura constitucionalNo EverandInflação Legislativa: o sistema autopoiético-patrimonialista deteriorador da macroarquitetura constitucionalAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - KantDocumento9 páginasColeção Os Pensadores - KantTibes_Junior_4291Ainda não há avaliações
- A construção do antitruste no Brasil: 1930-1964No EverandA construção do antitruste no Brasil: 1930-1964Ainda não há avaliações
- O Colapso Da Bolsa - GalbraithDocumento115 páginasO Colapso Da Bolsa - GalbraithMalandragem dá um tempo100% (3)
- HARDT, M. NEGRI, A. (2001) - Imperio PDFDocumento253 páginasHARDT, M. NEGRI, A. (2001) - Imperio PDFKFerrazAinda não há avaliações
- Política de Financiamento da Educação e Valorização do Magistério Público Estadual do AcreNo EverandPolítica de Financiamento da Educação e Valorização do Magistério Público Estadual do AcreAinda não há avaliações
- Split - História Do Pensamento Econômico - Hunt & ShermanDocumento244 páginasSplit - História Do Pensamento Econômico - Hunt & ShermanYuri Avanci Laguardia100% (2)
- Lessa e Dain 1980 Capitalismo AssociadoDocumento12 páginasLessa e Dain 1980 Capitalismo AssociadoLeonardo VeigaAinda não há avaliações
- As ideias e os fatos: Ensaios em teoria e HistóriaNo EverandAs ideias e os fatos: Ensaios em teoria e HistóriaAinda não há avaliações
- BourdieuDocumento17 páginasBourdieuantonio lomeuAinda não há avaliações
- Seidl - 2013 - Estudar Os Poderosos A Sociologia Do Poder e DasDocumento25 páginasSeidl - 2013 - Estudar Os Poderosos A Sociologia Do Poder e DasBeano de BorbujasAinda não há avaliações
- AYERBE - Análise de Conjuntura em Relações Internacionais PDFDocumento293 páginasAYERBE - Análise de Conjuntura em Relações Internacionais PDFJoelson SoaresAinda não há avaliações
- CLT e A Carta Del LavoroDocumento18 páginasCLT e A Carta Del LavorosergioqueirozAinda não há avaliações
- Ellen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e DemocraciaDocumento21 páginasEllen Wood Capitalismo Contra Democracia Trabalho e Democraciathaynacostae100% (1)
- Economia Do Setor Público - 2 PDFDocumento51 páginasEconomia Do Setor Público - 2 PDFH Renne TchuraAinda não há avaliações
- A Teoria Do Valor-Trabalho.1Documento16 páginasA Teoria Do Valor-Trabalho.1Sabrina LameirasAinda não há avaliações
- Sociologia Da BurocraciaDocumento30 páginasSociologia Da BurocraciaÂngela DambrosAinda não há avaliações
- Metodologia de Análise de Políticas PúblicasDocumento51 páginasMetodologia de Análise de Políticas PúblicasLeidimária LeideAinda não há avaliações
- Karl Polanyi A Nossa Obsoleta Mentalidade MercantilDocumento17 páginasKarl Polanyi A Nossa Obsoleta Mentalidade MercantilJosé Knust100% (3)
- Positivismo VS MarxismoDocumento17 páginasPositivismo VS Marxismoribeiro2412Ainda não há avaliações
- Nelson Saldanha - Ordem e HermenêuticaDocumento163 páginasNelson Saldanha - Ordem e HermenêuticaFabio Galucio LisboaAinda não há avaliações
- Hegel - o Estado Como Realização Histórica Da Liberdade PDFDocumento4 páginasHegel - o Estado Como Realização Histórica Da Liberdade PDFRafael Cesar Ilha PintoAinda não há avaliações
- Doutrinas Filosóficas e Sistemas PolíticosDocumento57 páginasDoutrinas Filosóficas e Sistemas PolíticosRone SantosAinda não há avaliações
- O Estudo Dos Sistemas Juridicos AfricanoDocumento247 páginasO Estudo Dos Sistemas Juridicos AfricanoEuclides DapaixaoAinda não há avaliações
- Sumário - "A LEI E A ORDEM" - Ralf Dahrendorf (Banco de Idéias Nº 50)Documento20 páginasSumário - "A LEI E A ORDEM" - Ralf Dahrendorf (Banco de Idéias Nº 50)Instituto LiberalAinda não há avaliações
- Resolucões Do III Congresso Nacional Do Partido Dos TrabalhadoresDocumento96 páginasResolucões Do III Congresso Nacional Do Partido Dos TrabalhadoresLeo FariasAinda não há avaliações
- Tributos Mundiais O Poder Supranacional de Tributação (Wilson Coimbra Lemke) PDFDocumento212 páginasTributos Mundiais O Poder Supranacional de Tributação (Wilson Coimbra Lemke) PDFBruno TomczykAinda não há avaliações
- Justiça: uma análise do livro V da Ethica Nicomachea de AristótelesNo EverandJustiça: uma análise do livro V da Ethica Nicomachea de AristótelesAinda não há avaliações
- Aristóteles - (Coleção Os Pensadores) (Vol.2) - Inclui Ética A NicomacoDocumento303 páginasAristóteles - (Coleção Os Pensadores) (Vol.2) - Inclui Ética A NicomacofraterrcAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - Nietzsche PDFDocumento8 páginasColeção Os Pensadores - Nietzsche PDFRogerio LucioAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - Rousseau PDFDocumento12 páginasColeção Os Pensadores - Rousseau PDFFelipeVieiraGimenezAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - Maquiavel PDFDocumento15 páginasColeção Os Pensadores - Maquiavel PDFRogerio Lucio50% (2)
- Coleção Os Pensadores - Montaigne - Ensaios PDFDocumento11 páginasColeção Os Pensadores - Montaigne - Ensaios PDFRogerio Lucio100% (2)
- Coleção Os Pensadores - Hegel PDFDocumento10 páginasColeção Os Pensadores - Hegel PDFRogerio LucioAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - BaconDocumento10 páginasColeção Os Pensadores - BaconMarco CastroAinda não há avaliações
- Coleção Os Pensadores - Husserl PDFDocumento6 páginasColeção Os Pensadores - Husserl PDFRogerio Lucio0% (1)
- Freeman 1984 Traduzido PDFDocumento16 páginasFreeman 1984 Traduzido PDFRogerio Lucio100% (1)
- Rosa Luxemburgo - Reforma e Revolução PDFDocumento14 páginasRosa Luxemburgo - Reforma e Revolução PDFRogerio LucioAinda não há avaliações