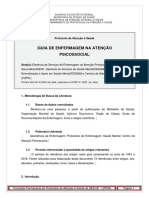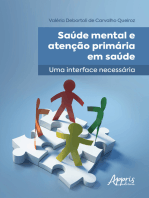Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cartilha Psicologo SUS
Cartilha Psicologo SUS
Enviado por
Felipe Mascarenhas0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações140 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações140 páginasCartilha Psicologo SUS
Cartilha Psicologo SUS
Enviado por
Felipe MascarenhasDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 140
CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA
A REGULAO DOS SERVIOS DE SADE MENTAL NO BRASIL:
INSERO DA PSICOLOGIA NO SISTEMA NICO DE SADE E NA
SADE SUPLEMENTAR
Pesquisa e Redao
Fernando Mussa Abujamra Aith (coordenador)
Marco Aurlio Antas Torronteguy
Gabriela Barros de Luca
Braslia, Julho/2013
1 Edio
permitida a reproduo desta publicao, desde que sem alteraes e
citada a fonte. Disponvel tambm em: www.cfp.org.br e em crepop.pol.
org.br
1 edio 2013
Projeto Grfco IDEORAMA
Diagramao IDEORAMA
Reviso Conselho Federal de Psicologia (CFP)
Coordenao Geral/ CFP
Yvone Magalhes Duarte
Coordenao de Comunicao do CFP
Denise de Quadros
Andr Almeida/Editorao
Referncias bibliogrfcas conforme ABNT NBR 6022, de 2003, 6023, de
2002, 6029, de 2006 e10520, de 2002.
Direitos para esta edio Conselho Federal de Psicologia: SAF/SUL Quadra
2, Bloco B, Edifcio Via Offce, trreo, sala 104, 70070-600, Braslia-DF
(61) 2109-0107 /E-mail: ascom@cfp.org.br /www.cfp.org.br
Impresso no Brasil Julho de 2013
Catalogao na publicao
Biblioteca Miguel Cervantes
Fundao Biblioteca Nacional
Conselho Federal de Psicologia
REGULAO DOS SERVIOS DE SADE MENTAL NO BRASIL. -
Braslia: CFP, 2013.
160p.
ISBN: 978-85-89208-62-8
1. Psicologia 2.Sade Mental 3.SUS 4.Sade Suplementar
I. Ttulo. BF76
Plenrio responsvel pela publicao
Conselho Federal de Psicologia
XV Plenrio
Gesto 2011-2013
Diretoria
Humberto Cota Verona Presidente
Clara Goldman Ribemboim Vice-presidente
Aluzio Lopes de Brito Tesoureiro
Deise Maria do Nascimento Secretria
Conselheiros efetivos
Ana Luiza de Souza Castro
Secretria Regio Sul
Flvia Cristina Silveira Lemos
Secretria Regio Norte
Heloiza Helena Mendona A. Massanaro
Secretria Regio Centro-Oeste
Marilene Proena Rebello de Souza
Secretria Regio Sudeste
Monalisa Nascimento dos Santos Barros
Secretria Regio Nordeste
Conselheiros suplentes
Adriana Eiko Matsumoto
Celso Francisco Tondin
Cynthia Rejane Corra Arajo Ciarallo
Henrique Jos Leal Ferreira Rodrigues
Mrcia Mansur Saadallah
Maria Ermnia Ciliberti
Mariana Cunha Mendes Torres
Marilda Castelar
Roseli Goffman
Sandra Maria Francisco de Amorim
Tnia Suely Azevedo Brasileiro
Psiclogas convidadas
Angela Maria Pires Caniato
Ana Paula Porto Noronha
APRESENTAO
10
Apresentao
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) apresenta categoria
e sociedade o relatrio da Regulao dos servios de sade
mental no Brasil: insero da psicologia no sistema nico de
sade e na sade suplementar.
Realizada em 2009, com atualizaes em 2013, a pesquisa
mais do que identifcar as principais normas jurdicas que regulam
a ateno sade mental no mbito do sistema de sade brasileiro
aponta para necessidade de se ampliar e aprofundar os debates
e refexes sobre a regulao da sade mental no Brasil. Dentre
vrios importantes achados, a pesquisa identifca que as aes
preventivas na rea da sade mental no pas ainda se concentram
em poucos programas especfcos, como, por exemplo, queles
voltados para atendimento de usurios de lcool e outras drogas.
Os dados da pesquisa, sintetizados neste documento,
apresentam inmeros desafos a serem superados. No campo da
cobertura do atendimento mental no mbito do Sistema nico de
Sade SUS, verifca-se ainda o grande desafo de implementar
as diretrizes legais previstas na Lei 10.216, de 6 de abril de 2001.
Os resultados apontam, ainda, uma assimetria entre o tratamento
de sade mental preconizado pelo SUS e os tratamentos
oferecidos no campo da Sade Suplementar no Brasil, que
atende mais de 40 milhes de pessoas. A atual regulao da
sade mental no campo da sade suplementar no garante aos
consumidores de planos privados de assistncia sade um
atendimento adequado e efcaz no que concerne sade mental,
seja no mbito do atendimento ambulatorial, hospitalar, domiciliar
ou, ainda, nos atendimentos por sesses.
Esta publicao refete o compromisso do Conselho Federal
e dos Conselhos Regionais de Psicologia em dar s (aos)
psiclogas (os) os subsdios necessrios para o aperfeioamento
dos servios de sade mental oferecidos no Brasil, que devem
observar a integralidade - preveno, promoo e recuperao
e devem ser adequadamente oferecidos tanto no sistema pblico
de sade (SUS), quanto no sistema de sade suplementar.
11
Nesse sentido, com satisfao que apresentamos o resultado
da parceria frmada entre o Conselho Federal de Psicologia
(CFP), o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitrio
da Universidade de So Paulo (CEPEDISA/USP) e o Ncleo
de Pesquisa em Direito Sanitrio da Universidade de So Paulo
(NAP-DISA/USP), na esperana de contribuir construtivamente
para a compreenso do papel dos psiclogos no campo da sade
mental no Brasil, bem como o aperfeioamento dos cuidados
oferecidos no sistema de sade brasileiro.
SUELI GANDOLFI DALLARI
Coordenadora Cientfca do Ncleo
de Pesquisa em Direito Sanitrio da
Universidade de So Paulo
HUMBERTO VERONA
Presidente do Conselho Federal de
Psicologia
12
1. Introduo
2. Sade: direito de todos e dever do estado
2.1. Estado Democrtico de Direito, Constitucionalismo e
proteo dos Direitos Humanos
2.2. A sade como um Direito humano fundamental no
Brasil
2.3. Sade como Dever do Estado: O Sistema nico de
Sade
3. Participao da iniciativa privada na sade: sade
complementar e sade suplementar
3.1. Sade Complementar
3.2. Sade Suplementar
3.2.1. A Agncia Nacional de Sade Suplementar - ANS e
a regulao do setor no pas
3.2.2. Marcos regulatrios da sade suplementar: Leis
Federais 9.656/1998 e 9.961/2000
3.2.3. Lei 9.656/1998
I) Classifcao das Operadoras
II) Plano de Referncia
3.2.4. A Lei 9.961/2000
4. A fscalizao dos servios dos psiclogos prestados no
mbito da sade suplementar
19
22
24
29
31
35
35
37
38
39
40
40
42
44
48
Sumrio
51
52
52
53
54
56
57
58
59
59
60
62
5. Preveno em sade mental no brasil: anlise da regu-
lao dos servios de preveno em sade mental prestados
no sistema nico de sade e na sade suplementar
5.1. Preveno em sade mental no Sistema nico de
Sade - SUS
5.1.1. Preveno na Norma Operacional Bsica do Sis-
tema nico de Sade NOB/SUS
5.1.2. Preveno no Pacto pela Sade 2006 Consoli-
dao do SUS e Diretrizes Operacionais Preveno em
sade mental no Sistema nico de Sade - SUS
5.1.3. Medidas Preventivas no Atendimento a Usurios
de lcool e Outras Drogas
5.1.4. Diretrizes Nacionais para Preveno do Suicdio
5.1.5. Preveno nos Centros de Ateno Psicossocial -
CAPS
5.2. Preveno em sade mental na sade suplementar
5.2.1. Programas de Promoo Sade e Preveno de
Riscos Doenas na Sade Suplementar
5.2.2. Preveno no Rol de Procedimentos e Eventos em
Sade para cobertura assistencial nos planos privados
de assistncia sade
5.2.3. Medidas Preventivas nas Diretrizes Assistenciais
em Sade Mental na Sade Suplementar
5.3. Consideraes sobre a legislao de preveno no
campo da sade mental
64
64
66
82
96
99
100
101
108
111
114
114
6. Atendimento de sade mental nos servios de emergn-
cia, ambulatoriais e hospitalares: anlise da regulao dos
referidos servios no sistema nico de sude sus e no
sistema de sade suplementar
6.1. Regulao no mbito do SUS
6.1.1. Atendimento ambulatorial em sade mental no
Sistema nico de Sade SUS: Os Centros de Ateno
Psicossocial (CAPS)
6.1.2. Atendimento hospitalar em sade mental no SUS
6.1.3. Atendimento de emergncia em sade mental no
SUS
6.2. Regulao do atendimento ambulatorial, hospitalar e
de urgncia e emergncia em sade mental no setor de
sade suplementar
6.2.1. Ateno ambulatorial em sade mental no setor de
sade suplementar: o Plano Ambulatorial
6.2.2. Atendimento Hospitalar em Sade Mental no Setor
de Sade Suplementar
6.2.3. Atendimento de emergncia em sade mental no
setor da sade suplementar
6.3. Consideraes fnais sobre emergncias e
atendimento ambulatorial e hospitalar
7. Atendimento domiciliar em sade mental
7.1. Atendimento domiciliar em sade mental no SUS
7.1.1. Subsistema de Atendimento e Internao Domi-
ciliar
7.1.2. Atendimento Domiciliar nos servios de Sade
Mental do SUS
7.1.3. Atendimento Domiciliar no Sistema de Informaes
Ambulatoriais do Sistema nico de Sade (SIA-SUS)
7.1.4. Atendimento Domiciliar nos Centros de Ateno
Psicossocial CAPS
7.1.5. Atendimento Domiciliar de Pacientes com Transtor-
nos causados pelo Uso Prejudicial ou Dependncia de
lcool e Outras Drogas
7.2. Atendimento Domiciliar em sade mental na sade
suplementar
7.2.1. Atendimento Domiciliar no Rol de Procedimentos e
Eventos em Sade de cobertura mnima
7.2.2. Ateno Domiciliar nas Diretrizes Assistenciais em
Sade Mental na Sade Suplementar
7.2.3. Consideraes Finais sobre Atendimento Domi-
ciliar
8. Atendimento teraputico e/ou por sesses em sade men-
tal no sus e na sade suplementar
8.1. Atendimento teraputico e/ou por sesses em sade
mental no SUS
8.1.1. Atendimento Teraputico/ por sesses nos
Hospitais
114
114
115
115
116
116
116
117
117
120
120
120
8.1.2. Terapia Psicossocial no Sistema de Informaes
Ambulatoriais do Sistema nico de Sade (SIA-SUS)
8.1.3. Terapia Psicossocial nos Centros de Ateno
Psicossocial - CAPS
8.1.4. Terapia Psicossocial no Atendimento de Pacientes
com Transtornos causados pelo Uso Prejudicial ou
Dependncia de lcool e Outras Drogas
8.2. Atendimento teraputico e/ou por sesses em sade
mental na sade suplementar
8.2.1. Porta de Entrada para o atendimento teraputico
em sade mental no setor da sade suplementar
8.2.2. Terapia Psicossocial no Rol de Procedimentos e
Eventos em Sade
8.2.3. Limite ao nmero de sesses
8.3. Consideraes fnais sobre atendimento por sesses
de psicoterapia na sade suplementar
9. Consideraes fnais
9.1. Consideraes fnais sobre a legislao de
preveno no campo da sade mental
9.2. Consideraes fnais sobre emergncias e
atendimento ambulatorial e hospitalar
9.3. Consideraes fnais sobre atendimento por sesses
9.4. Necessidade de aperfeioamento da regulao da
ANS para a proteo da sade mental integral
121
122
123
124
124
125
126
126
129
129
130
132
133
18 18
1. INTRODUO
19
INTRODUO
Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma parceria
frmada entre o Ncleo de Pequisa em Direito Sanitrio da
Universidade de So Paulo NAP-DISA/USP, o Centro de
Estudos e Pesquisas de Direito Sanitrio CEPEDISA e o
Conselho Federal de Psicologia CFP, para a identifcao dos
principais aspectos da regulao sobre sade mental no Brasil,
com enfoque em alguns pontos de interesse direto do Conselho
Federal de Psicologia CFP.
O presente texto organiza-se de forma a identifcar as principais
normas jurdicas que regulam a ateno sade mental no Brasil
e analisar a atual regulao estatal tanto no que se refere aos
servios prestados no mbito do Sistema nico de Sade SUS
quanto no que se refere aos servios prestados no campo da
sade suplementar. Nesse sentido, foram analisadas de forma
comparativa as normas jurdicas que regulam a sade mental no
Brasil no SUS e na sade suplementar, a partir das seguintes
perspectivas de ateno sade mental: i) servios preventivos; ii)
servios de emergncia, hospitalares e ambulatoriais; iii) servios
domiciliares e; iv) servios teraputicos e/ou por sesses.
A metodologia de anlise seguida obedece a este roteiro bsico,
visto que tal abordagem facilita a comparao entre a regulao
incidente sobre os servios do sistema pblico de sade (SUS)
e a regulao incidente sobre os servios do sistema de sade
suplementar. Este, por ser um sistema suplementar ao pblico
regulado pela Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS,
deve observar em sua normativa geral os mesmos princpios e
diretrizes que orientam o sistema pblico, guardadas algumas
peculiaridades que cercam cada um destes sistemas. Conforme
o desenho constitucional vigente, dever do sistema de sade
suplementar oferecer servios integrais e resolutivos, que dem
conta das demandas de sade a ele encaminhadas, aliviando
assim o sistema pblico e funcionando de forma verdadeiramente
suplementar ao SUS.
A compreenso da atual regulao jurdica incidente sobre os
servios pblicos de sade mental, em contraposio regulao
20
jurdica que trata dos servios prestados pelo sistema privado
de sade suplementar, fundamental para se compreender as
obrigaes atualmente assumidas por cada um dos referidos
sistemas no que diz respeito ao atendimento integral da sade
mental no Brasil. Esta compreenso possibilitar um melhor
diagnstico sobre o atual estgio regulatrio sobre sade mental
no Brasil e contribuir para a melhoria das discusses sobre os
caminhos que devem ser trilhados para o aperfeioamento da
atual regulao sobre sade mental no pas tanto no sistema
pblico como no sistema privado.
Para o desenvolvimento deste estudo foi realizada uma
pesquisa exploratria, realizada mediante levantamento
bibliogrfco, documental legal e institucional de sites. Nesse
sentido, inicialmente foi realizada uma pesquisa normativa para
a identifcao das normas jurdicas de direito sanitrio que
regulam a sade mental no Brasil e de suas implicaes para
os servios de psicologia e psicoterapia no mbito da sade
suplementar (normas constitucionais, legais e infralegais).
Em seguida foi realizada a anlise e interpretao das normas
jurdicas identifcadas, para aferir a adequao da atual regulao
infralegal exarada pela Agncia Nacional de Sade Suplementar
ANS aos princpios do Direito Sanitrio Brasileiro, derivados
do sistema constitucional de proteo do direito fundamental
sade estipulado especialmente pelos Arts. 6 e 196 a 200 da
Constituio de 1988.
As anlises jurdicas realizadas e as concluses aqui exaradas
refetem os resultados da pesquisa realizada e da ampla discusso
coletiva realizada pela equipe de pesquisa com representantes
do Conselho Federal de Psicologia - CFP.
2. SADE: DIREITO DE TODOS
E DEVER DO ESTADO
22
2. SADE: DIREITO DE TODOS E DEVER DO
ESTADO
A sade foi reconhecida pela Constituio da Repblica
Federativa do Brasil de 1988 como direito de todos e dever do
Estado (CF, Art. 196). A partir desse reconhecimento expresso da
sade como um direito, o Estado brasileiro organizou o Sistema
nico de Sade SUS, voltado a organizar as aes e servios
pblicos de sade no pas (CF, Arts. 196 a 200). Ao mesmo tempo,
a iniciativa privada tambm pode participar do setor da sade,
desde que em observncia s normas jurdicas vigentes no pas
(CF, Art. 199, Par 1
o
).
Um dos grandes campos de atuao da iniciativa privada na
rea da sade o campo da sade suplementar. justamente
neste campo que os servios psicolgicos ainda so incipientes
e merecem um estudo mais aprofundado. Regulado pelas Leis
9.656, de 3 de junho de 1998, e 9.961, de 28 de janeiro de 2000,
o setor da sade suplementar atende hoje mais de 40 milhes de
benefcirios no Brasil, sendo o segundo maior mercado aps os
Estados Unidos da Amrica.
A regulao do setor de sade suplementar no Brasil ainda
no atingiu um grau de aperfeioamento que nos permita
afrmar que os benefcirios de planos de sade esto com seu
direito sade garantido. Um dos grandes desafos atuais, que
esta pesquisa procura auxiliar na busca de solues, o de
inserir no mbito da sade suplementar a obrigatoriedade do
oferecimento de servios psicolgicos voltados ateno de
aspectos essenciais da sade humana, como a sade mental, o
enfrentamento de situaes limites (como os cnceres) ou ainda
os aconselhamentos psicolgicos que possibilitem ao indivduo
uma correta compreenso de sua sade e dos fatores de risco a
que est submetido.
A regulao da sade suplementar no Brasil, feita pela
Agncia Nacional de Sade Suplementar, merecer ser melhor
compreendida e analisada, para que se possa propor alteraes no
sentido de melhorar os mecanismos de proteo dos benefcirios
dos planos de sade e para que se possa contribuir, efetivamente,
23
para a melhoria da ateno sade no pas. As contribuies que
podem ser dadas pelos psiclogos so relevantes, sendo este
um documento base para que as discusses e refexes sobre
o tema possam fazer com que a sade suplementar no Brasil se
humanize cada vez mais e atenda de forma efciente e adequada
aos cidados que a procuram.
A sade direito de todos e dever do Estado. assim que a
Constituio de 1988 protege a sade, reconhecendo-a como um
direito fundamental do ser humano. A partir desse reconhecimento,
importantssimo para a proteo da sade no Brasil, a Constituio
oferece os fundamentos jurdicos que devem ser observados pelo
Estado e pela sociedade no desenvolvimento de aes que visem
promoo, proteo e recuperao da sade no pas.
A Constituio de 1988 dedicou alguns artigos1 para
expressamente dispor sobre os grandes princpios e diretrizes
que devem pautar as aes do Estado e da sociedade na busca
da proteo do direito sade no Brasil. A partir desse avano
Constitucional, os legisladores brasileiros passaram a produzir um
conjunto de normas jurdicas2 voltadas justamente proteo do
direito sade no pas, ampliando de forma bastante signifcativa
a abrangncia do direito sanitrio brasileiro.
Dentre as normas jurdicas que protegem o Direito Sade
destacam-se, preliminarmente, aquelas que disciplinam o Sistema
nico de Sade SUS nacionalmente: a Lei Federal 8.080, de 19
de setembro de 1990, e a Lei Federal 8.142, de 28 de dezembro
de 1990. Por ser a sade um dever do Estado, este deve organizar
uma rede de aes e servios pblicos de sade realizados pela
Unio, pelos Estados e pelos Municpios. O Estado deve ser
capaz, portanto, de desenvolver polticas econmicas e sociais
voltadas reduo dos riscos de doenas e outros agravos
sade e promoo do acesso universal e igualitrio s aes e
servios pblicos de sade.
Uma das principais diretrizes do SUS promover o atendimento
integral da populao, ou seja, aes e servios pblicos que
1
Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988, Arts. 6 e 196 a 200.
2
Leis, Decretos, Portarias, Resolues, etc.
24
dem conta da promoo, preveno e recuperao da sade,
abrangendo desde educao em sade e fornecimento de
medicamentos, passando pelo fornecimento de rteses, prteses,
exames diagnsticos e tratamentos teraputicos, at os cuidados
que demandam a realizao de cirurgias de alta complexidade.
Para a proteo da sade no Brasil, os legisladores produziram
leis importantes que instituem as Agncias Reguladoras da
rea da sade. A Lei 9.782, de 26 de janeiro de 1999, institui
a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA, e a Lei
9.961, de 28 de janeiro de 2000, instituiu a Agncia Nacional de
Sade Suplementar ANS. Ambas as Agncias Reguladoras
foram criadas para normatizar e fscalizar, em benefcio da sade
pblica, atividades de interesse sade no Brasil. Neste contexto,
a ANS foi defnida como o rgo de regulao, normatizao,
controle e fscalizao das atividades que garantam assistncia
suplementar sade no Brasil.
Para compreender a regulao incidente sobre a sade
mental no Brasil, portanto, convm introdutoriamente mencionar
alguns aspectos importantes sobre a evoluo poltica, jurdica e
institucional do Brasil, evoluo esta que ampliou os mecanismos
de proteo do direito sade no pas, inclusive no que diz
respeito aos servios prestados pela iniciativa privada. Com efeito,
foi com a Constituio de 1988 que o Brasil voltou a funcionar na
forma de um Estado Democrtico de Direito, fundado em uma
Constituio promulgada democraticamente e que protege os
direitos humanos.
2.1. Estado Democrtico de Direito, Constitucionalismo e
proteo dos Direitos Humanos (AITH, 2007)
A partir do momento em que as organizaes sociais foram
adotando o laicismo e abandonando modelos de organizao
social embasados na religio, deu-se o desenvolvimento de uma
nova forma de pensar na organizao das sociedades, com o
conseqente apelo para a razo como fundamento do Estado e
do Direito. Iniciou-se, assim, uma difuso em larga escala, nos
sculos XVII e XVIII, da tese do contrato social como explicao
25
e origem do Estado, da Sociedade e do Direito. Afrma-se, desta
maneira, que o Estado e o Direito no so prolongamento de
uma sociedade natural originria e orgnica, como a famlia, mas
sim uma construo convencional de indivduos, ao sarem do
estado de natureza. Por outro lado, o contratualismo oferece uma
justifcao do Estado e do Direito porque no encontra o seu
fundamento no poder irresistvel do soberano ou no poder ainda
mais incontrastvel de Deus, mas sim na base da sociedade,
atravs da vontade dos indivduos (LAFER, 1998).
O Estado de Direito representa hoje, aps um amplo processo
de afrmao dos direitos humanos (COMPARATO, 1999), um
dos fundamentos essenciais de organizao das sociedades
polticas do mundo moderno. A atual concepo de Estado
modela-se no sentido de direcionar a estrutura estatal para a
promoo e proteo dos direitos humanos (civis, polticos,
sociais, econmicos, culturais, difusos e coletivos). Estes direitos,
por sua vez, exigem, para sua promoo e proteo, um ambiente
social dotado de regras de convivncia que garantam a todos,
sem exceo, o respeito vida e dignidade do ser humano.
Essas regras devem atingir no s a fgura dos governados como
tambm, e principalmente, a fgura dos governantes. O exerccio
do poder deve sujeitar-se a regras pr-estabelecidas, voltadas
promoo, proteo e garantia dos direitos humanos. A esse
conjunto de regras, que defne o mbito do poder e o subordina
aos direitos e atributos inerentes dignidade humana, damos o
nome de Estado de Direito (COMPARATO, 1999).
Como comunidade social, o Estado de acordo com a
teoria tradicional do Estado compe-se de trs elementos: a
populao, o territrio e o poder, que exercido por um governo
do Estado independente. Todos esses trs elementos s podem
ser defnidos juridicamente, isto , eles apenas podem ser
apreendidos como vigncia e domnio de vigncia (validade) de
uma ordem jurdica (...) O poder do Estado no uma fora ou
instncia mstica que esteja escondida atrs do Estado ou do
seu Direito. Ele no seno a efccia da ordem jurdica. Essa
concepo de Estado orienta at os dias de hoje o conceito de
Estado de Direito, onde a efccia da ordem jurdica - do Direito -
26
fundamental para a existncia de um Estado de Direito.
Nos Estados Modernos, a ordem jurdica costuma organizar-se
com base em um texto normativo de hierarquia superior denominado
Constituio do Estado. As regras fundamentais de estruturao,
funcionamento e organizao do poder, bem como de defnio
de direitos bsicos, no importa o regime poltico nem a forma
de distribuio de competncia aos poderes estabelecidos so,
por conseguinte, matria de direito constitucional (BONAVIDES,
2000). Para J.J. Canotilho, o constitucionalismo a teoria que
ergue o princpio do governo limitado indispensvel garantia
dos direitos em dimenso estruturante da organizao poltico-
social de uma comunidade. Neste sentido, o constitucionalismo
moderno representar uma tcnica especfca de limitao do
poder com fns garantsticos. (...) Numa outra acepo histrico
descritiva fala-se em constitucionalismo moderno para designar
o movimento poltico, social e cultural que, sobretudo a partir de
meados do sculo XVIII, questiona nos planos poltico, flosfco e
jurdico os esquemas tradicionais de domnio poltico, sugerindo,
ao mesmo tempo, a inveno de uma nova forma de ordenao e
fundamentao do poder poltico (CANOTILHO, 1998).
Dentre as principais caractersticas do constitucionalismo
surgido com o advento do Estado moderno, sobretudo aps a
Revoluo Francesa de 1789, destacam-se a positivao do
princpio da legalidade; o surgimento de constituies escritas
e rgidas, que exigem procedimentos mais complexos para sua
alterao; a positivao do princpio de diviso de poderes; a
positivao de direitos individuais inalienveis e imprescritveis
propriedade, liberdade e igualdade; a legitimao do poder poltico
nas mos da soberania popular, que pode exerc-lo diretamente
ou por meio de representatividade no poder legislativo elevao
da noo de cidadania e o surgimento de um Estado liberal,
destinado prioritariamente a garantir a liberdade individual,
sem quase nenhuma preocupao com o bem estar coletivo e
caracterizado pelo absentesmo laissez faire, laissez passer.
So exemplos de Constituies Liberais as Constituies:
Francesa, de 1791; dos Estados Unidos da Amrica de 1787;
Espanhola e Portuguesa, de 1812; Belga de 1822 e a Brasileira
27
de 1824. Estas Constituies refetiram o liberalismo burgus,
pensamento dominante da poca, orientando uma atitude passiva
do Estado, como simples conservador dos direitos dos que j os
possuam, sem nada fazer pelos que no tinham qualquer direito a
conservar. A ordem poltica instalada pela nova classe dominante,
detentora do poder econmico - a burguesia do laissez faire,
laissez passer - pregava a no interveno do Estado na liberdade
de iniciativa e de contrato (inclusive de trabalho). Tal orientao
poltica, absorvida pelo Direito, acabou gerando um enorme
desequilbrio social, onde patres exploravam empregados com a
aplicao da mais valia, regimes trabalhistas de semi escravido,
com jornadas de trabalho de at 16 horas por dia, trabalho infantil
generalizado e direitos trabalhistas quase inexistentes.
Estas desigualdades estimularam o surgimento, ainda no
Sculo XIX, de movimentos em prol da positivao dos direitos
sociais. O Estado, tal como estava sendo utilizado, tornou-se um
instrumento de opresso dos trabalhadores e das classes menos
favorecidas. Os movimentos do sculo XIX questionavam a
questo da liberdade como sendo um direito apenas destinado ao
burgus, j que somente quem tinha tempo poderia fazer reunio
e somente quem tinha meios poderia expressar suas opinies.
Os direitos individuais conquistados estavam se mostrando
como direitos meramente formais, existente para uma pequena
parcela da populao e causador de excluses sociais gritantes.
Denunciavam a suplantao do direito de igualdade pelo direito
de liberdade. O que estava sendo colocado em xeque era o fato
de que a proteo exclusiva dos direitos individuais no estava
contemplando os princpios da Revoluo de 1789, uma vez que
haviam sido deixadas de lado a igualdade e a fraternidade. Caberia
ao Estado, desta forma, interferir na atividade dos particulares
para que estes usufrussem a liberdade individual sem que com
isso prejudicassem os direitos sociais e a busca pela igualdade.
Neste mesmo sentido j acenava a Igreja Catlica, atravs do Papa
Leo XIII, que em 1891 redigiu a encclica Rerum Novarum, na
qual advogava a interveno ativa do estado em questes sociais,
visando melhorar as condies de vida dos miserveis e excludos.
Entretanto, somente no sculo XX os direitos sociais comearam
28
a se incorporar nas constituies dos Estados. A primeira a
inclu-los foi a Constituio Mexicana, em 1917, sendo seguida
por diversas outras naes, incluindo o Brasil. Esta evoluo
histrica de constitucionalizao (fundamentalizao) resultou
num modelo estatal adotado pela grande maioria dos pases do
mundo, onde fguram, desde o incio do sculo, de um lado, os
direitos individuais, derivados da Bill of Rights e da Declarao
dos Direitos do Homem e do Cidado. Os direitos individuais
so direitos que protegem o indivduo contra o Estado - vida,
segurana, igualdade de tratamento perante a lei, propriedade,
liberdade (de ir e vir, de expresso, de reunio, de associao,
dentre outras liberdades).
De outro lado, podemos encontrar em diversas constituies
menes expressas aos direitos sociais, econmicos e culturais,
que refetem pretenses do indivduo perante o Estado -
trabalho (greve, salrio mnimo, jornada mxima de trabalho,
aposentadoria), acesso aos bens histricos e culturais e s
cincias, educao, sade, moradia, lazer, segurana, previdncia
social, dentre outros.
Nas ltimas dcadas pudemos acompanhar o surgimento
dos direitos que tm como titular no os indivduos na sua
singularidade, mas grupos humanos, como a famlia, o povo, a
nao ou a prpria humanidade (LAFER, 1998). Pode-se dizer
que compem ainda esse conjunto de direitos humanos os direitos
ao desenvolvimento, paz, de propriedade sobre o patrimnio
comum da humanidade, ao meio ambiente e de comunicao
(VASAK, 2000).
Importante destacar que o Estado de Direito brasileiro, que
tem como fundamento jurdico-normativo a Constituio de 1988,
pressupe que todos so iguais perante a lei, sem distino
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no pas a inviolabilidade do direito vida,
liberdade, igualdade, segurana e propriedade (BRASIL,
1988). Ao mesmo tempo em que reconhece e protege os direitos
individuais, civis e polticos, o Estado de Direito brasileiro protege
os direitos sociais, ao reconhecer, na Constituio de 1988, que
so direitos sociais a educao, a sade, o trabalho, a moradia, o
29
lazer, a segurana, a previdncia social, a proteo maternidade
e infncia, a assistncia aos desamparados, na forma desta
Constituio (BRASIL, 1988). E, complementando o arcabouo
constitucional de proteo dos direitos humanos, o 2
o
do Art.
5
o
da Constituio dispe que os direitos e garantias expressos
nesta Constituio no excluem outros decorrentes do regime e
dos princpios por ela adotados, ou dos tratados internacionais
em que a Repblica Federativa seja parte (BRASIL, 1988).
2.2. A sade como um Direito humano fundamental no Brasil
(AITH, 2007)
Existem, portanto, no Estado de Direito brasileiro, direitos
fundamentais que devem ser promovidos e protegidos pela
sociedade como um todo e, principalmente, pelos rgos de
Administrao do Estado criados pela prpria Constituio. A
sade foi reconhecida, nesse contexto, como um Direito humano
social expressamente previsto pela Constituio brasileira e por
diversos instrumentos normativos internacionais.
Desde a Constituio Federal, passando por normas defnidas
em Tratados Internacionai,s em Leis internas brasileiras e em
normas infra-legais, encontraremos diversos instrumentos
jurdico-normativos que tratam de variados aspectos relacionados
com o Direito sade, sempre voltados garantir o Direito
sade de cada indivduo e da sociedade. Esse aparato normativo
d origem necessidade de uma interpretao sistmica e lgica,
bem como exige das autoridades pblicas um dever de agir que
se concretiza atravs de decises (a execuo de uma poltica
pblica, a normatizao de um setor da sade, uma deciso
judicial visando garantir um tratamento etc.).
O direito sade foi reconhecido como um Direito Humano
fundamental no Brasil e encontra-se categorizado normativamente
no que se convencionou chamar de Direitos Sociais. A prpria
Constituio de 1988 expressamente declara a sade como
um Direito social (CF, art. 6). Entretanto, cumpre destacar que
o direito sade, como Direito social que , realmente possui
a caracterstica de exigir do Estado brasileiro aes concretas
30
e efetivas para a promoo, proteo e recuperao da sade.
Deve assim o Estado intervir na dinmica social para a proteo
do Direito sade. De outro lado, a sade tambm possui diversas
caratersticas que lhe oferecem contornos de direito subjetivo
pblico. O Direito sade pode ser tambm considerado como
um Direito subjetivo pblico
3
na medida em que permite que o
cidado ingresse com uma ao junto ao Poder Judicirio para
exigir do Estado ou de terceiros responsveis legalmente a
adoo ou a absteno de medidas concretas em favor da sade.
Assim, podemos perceber que, como Direito Social, o direito
sade exige do Estado a adoo de aes concretas para
sua promoo, proteo e recuperao, como a construo de
hospitais, a adoo de programas de vacinao, a contratao
de mdicos, etc. De outro lado, deve-se ter em vista que o Direito
sade tambm se confgura em um direito subjetivo pblico, ou
seja, um direito oponvel ao Estado por meio de ao judicial, pois
permite que um cidado ou uma coletividade exijam do Estado o
fornecimento de um medicamento especfco ou de um tratamento
cirrgico. Assim, o Direito sade ao mesmo tempo um direito
social e um direito subjetivo pois permite que um cidado ou uma
coletividade exijam que o Estado adote medidas especfcas em
benefcio da sua sade ou que o Estado se abstenha de adotar
aes que possam causar prejuzos sade individual ou coletiva
(ou seja, tambm exige absteno do Estado, como por exemplo
no poluir o ambiente).
O Direito sade , portanto, um direito humano fundamental da
sociedade brasileira, necessrio para o desenvolvimento do pas.
Por essa razo as aes e servios de sade so considerados
como de relevncia pblica (CF, art. 197) e devem estar sujeitos
aos mecanismos de controle social de uma democracia, para
evitar eventuais abusos a esse Direito. Por essa razo, tambm,
que a sade foi considerada, pela Constituio, um Direito de
todos e um dever do Estado.
3
Faculdade de agir por parte de um cidado ou de uma coletividade para ver um
direito seu ser observado.
31
2.3. Sade como Dever do Estado: O Sistema nico de
Sade (AITH, 2007)
O Sistema nico de Sade SUS a instituio jurdica criada
pela Constituio Federal para organizar as aes e servios
pblicos de sade no Brasil. A CF defne o SUS (art. 198),
estabelece as suas principais diretrizes (Art. 198, incisos I a III),
expe algumas de suas competncias (art. 200), fxa parmetros
de fnanciamento das aes e servios pblicos de sade (art.
198, pargrafos 1 a 3) e orienta, de modo geral, a atuao dos
agentes pblicos estatais para a proteo do Direito sade (arts.
196, 197 e 198, caput). Como um sistema que , o SUS rene
em si todas as instituies jurdicas que desenvolvem aes e
servios pblicos de sade no Brasil.
Como previsto no Art. 196 da CF, a sade direito de
todos e dever do estado, garantido mediante polticas sociais e
econmicas que visem reduo do risco de doena e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitrio s aes e servios
para a sua promoo, proteo e recuperao. Para melhor
explicar os contornos do dever estatal de proteger o Direito
sade, a Constituio Federal prev que as aes e servios de
sade so de relevncia pblica cabendo ao Poder Pblico dispor
sobre sua regulamentao, fscalizao e controle. No que se
refere execuo das aes e servios de sade, deve ser feita
diretamente ou atravs de terceiros e, tambm, por pessoa fsica
ou jurdica de direito privado (CF, art. 197). A execuo direta de
aes e servios de sade pelo Estado feita atravs de diferentes
instituies jurdicas: Ministrio da Sade, Secretarias Estaduais
e Municipais de Sade, Autarquias hospitalares, Autarquias
Especiais (Agncias Reguladoras), Fundaes etc.
Assim, a execuo direta de aes e servios pblicos de sade
pelo Estado pressupe a existncia de um conjunto de instituies
jurdicas de direito pblico com poderes e responsabilidades
especfcos para a promoo, proteo e recuperao da sade.
Todas as aes e servios de sade executados pelas instituies
e organismos de Direito pblico sero consideradas aes e
servios pblicos de sade e estaro, portanto, dentro da esfera
32
de atuao da sade pblica, do Sistema nico de Sade.
Tambm sero consideradas aes e servios pblicos de
sade aquelas executadas por instituies privadas nos termos
do pargrafo 1 do Art. 199 da Constituio, ou seja, aquelas
que frmem convnios ou contratos com as instituies de direito
pblico do SUS e que observem as suas diretrizes e princpios.
Assim, as instituies privadas que frmarem convnios ou
contratos com as instituies de Direito pblico tambm estaro
executando aes e servios pblicos de sade e faro parte do
SUS.
Tal conceito foi delineado legalmente pela Lei 8.080/90, que
defne o Sistema nico de Sade em seu artigo 4, dispondo
que o conjunto de aes e servios de sade, prestados por
rgos e instituies pblicas federais, estaduais e municipais,
da Administrao direta e indireta e das fundaes mantidas pelo
Poder Pblico, constitui o Sistema nico de Sade (SUS). O 1
do mesmo artigo prev que esto includas no disposto neste
artigo as instituies pblicas federais, estaduais e municipais
de controle de qualidade, pesquisa e produo de insumos,
medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de
equipamentos para sade. No que diz respeito participao
da iniciativa privada no SUS, o 2 dispe: A iniciativa privada
poder participar do Sistema nico de Sade (SUS), em carter
complementar.
Importante notar que, embora seja uma instituio jurdica de
extrema importncia para o Direito Sanitrio, o SUS no possui
personalidade jurdica prpria. A defnio do Sistema nico de
Sade passa pela compreenso do conjunto de normas jurdicas
que defne os seus elementos, estabelece o seu campo de
atuao, cria os seus mecanismos de ao e prev formas de
sano para quaisquer descumprimentos.
O Sistema nico de Sade o ambiente onde se desenvolvem
as aes e servios pblicos de sade. Nada impede a participao
da iniciativa privada na assistncia sade. Essa participao
pode dar-se em parceria com instituies que passam a integrar
o SUS (sade complementar) ou de forma exclusivamente
privada, organizadas em planos de sade (sade suplementar)
33
ou prestadas de forma liberal, particular. Seja em um caso ou em
outro, a participao da iniciativa privada na sade sempre estar
sujeita regulao determinada pelo Estado.
34
3. PARTICIPAO DA INICIATIVA
PRIVADA NA SADE: SADE
COMPLEMENTAR E SADE
SUPLEMENTAR
35
3. PARTICIPAO DA INICIATIVA PRIVADA NA
SADE: SADE COMPLEMENTAR E SADE
SUPLEMENTAR
Ao mesmo tempo em que o Estado possui o dever de garantir
a sade da populao, o que faz por meio do Sistema nico de
Sade, a Constituio Federal reconhece iniciativa privada a
liberdade de desenvolver aes e servios privados de sade.
A atuao da iniciativa privada na rea da sade pode ser
suplementar ou complementar.
3.1. Sade Complementar
A atuao da iniciativa privada na rea da sade ser
considerada complementar quando for desenvolvida nos termos
do art. 199 da CF, que prev que as instituies privadas podero
participar de forma complementar ao Sistema nico de Sade,
segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito pblico ou
convnio, tendo preferncia as entidades flantrpicas e as sem
fns lucrativos.
No que concerne participao complementar da iniciativa
privada na sade, vale dizer que o Estado brasileiro ainda no
possui as condies necessrias para cumprir integralmente o
seu dever de garantir a sade da populao. Faltam hospitais,
laboratrios, clnicas mdicas, enfm, h carncia estrutura
bsica para o atendimento universal da populao. Resta assim,
ao Estado Brasileiro, atravs da Unio, dos Estados e dos
Municpios, utilizar-se de parceiros privados para a consecuo
dos seus objetivos constitucionais.
A sade complementar deve ser compreendida, assim, por
meio das aes e servios de sade que, embora sejam prestadas
por pessoas jurdicas de direito privado, so consideradas
aes e servios pblicos de sade em razo da existncia de
uma relao jurdica especfca, concretizada por contratos ou
convnios frmados entre essas pessoas jurdicas e a Unio, os
Estados ou os Municpios. Tal relao jurdica possui suas balizas
36
legais traadas pelo art. 199
4
da Constituio Federal e pelos
artigos 24 a 26 da Lei 8.080/90.5
O Estado utiliza-se da iniciativa privada para aumentar e
complementar a sua atuao em benefcio da sade da populao.
Ao frmar convnios e contratos com diversas pessoas jurdicas de
direito privado que realizam aes e servios de sade o Estado
Brasileiro as insere no mbito das aes e servios pblicos de
sade, igualando-as quelas prestadas diretamente por seus
rgos e entidades. Por frmarem contratos ou convnios com o
Sistema nico de Sade, integram esse Sistema e submetem-se
a todas as suas diretrizes, princpios e objetivos, notadamente a
gratuidade, integralidade e universalidade. Trata-se das instituies
jurdicas voltadas s aes e servios de sade complementares
4
Dispe o artigo 199 da CF: A assistncia sade livre iniciativa privada.
1. As instituies privadas podero participar de forma complementar do sistema
nico de sade, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito pblico ou
convnio, tendo preferncia as entidades flantrpicas e as sem fns lucrativos.
2. vedada a destinao de recursos pblicos para auxlios ou subvenes
s instituies privadas com fns lucrativos. 3. vedada a participao direta
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistncia sade no pas,
slavo nos casos previstos em lei.
5
Dispem os arts. 24 a 26 da Lei 8.080/90: Da Participao Complementar. Art.
24. Quando as suas disponibilidades forem insufcientes para garantir a cobertura
assistencial populao de uma determinada rea, o Sistema nico de Sade
(SUS) poder recorrer aos servios ofertados pela iniciativa privada. Pargrafo
nico. A participao complementar dos servios privados ser formalizada
mediante contrato ou convnio, observadas, a respeito, as normas de direito
pblico. Art. 25. Na hiptese do artigo anterior, as entidades flantrpicas e as sem
fns lucrativos tero preferncia para participar do Sistema nico de Sade (SUS).
Art. 26. Os critrios e valores para a remunerao de servios e os parmetros
de cobertura assistencial sero estabelecidos pela direo nacional do Sistema
nico de Sade (SUS), aprovados no Conselho Nacional de Sade. 1 Na
fxao dos critrios, valores, formas de reajuste e de pagamento da remunerao
aludida neste artigo, a direo nacional do Sistema nico de Sade (SUS) dever
fundamentar seu ato em demonstrativo econmico-fnanceiro que garanta a efetiva
qualidade de execuo dos servios contratados. 2 Os servios contratados
submeter-se-o s normas tcnicas e administrativas e aos princpios e diretrizes
do Sistema nico de Sade (SUS), mantido o equilbrio econmico e fnanceiro
do contrato. 3 (Vetado). 4 Aos proprietrios, administradores e dirigentes de
entidades ou servios contratados vedado exercer cargo de chefa ou funo de
confana no Sistema nico de Sade (SUS).
37
ao SUS. Assim, os hospitais, as clnicas, os laboratrios, as
organizaes no governamentais, as organizaes sociais de
interesse pblico, enfm, todo o conjunto de pessoas jurdicas
de direito privado que tiver frmado contrato ou convnio com os
rgos e entidades que compem o SUS sero consideradas,
para todos os fns, instituies-organismos do SUS.
3.2. Sade Suplementar
De outro lado, as aes e servios privados de sade tambm
podem ser prestados por meio de planos de sade, oferecidos por
operadoras de planos de sade, no campo que se convencionou
nomear de sade suplementar.
A sade suplementar o setor que abriga os servios
privados de sade prestados exclusivamente na esfera privada.
Representa uma relao jurdica entre prestador de servio
privado de sade e consumidor, organizada por meio de planos
de sade, conforme previsto nas Leis Federais 9.961, de 28 de
janeiro de 2000, e 9.656/1998.
Na sade suplementar, as aes e servios desenvolvidos no
possuem vnculo com o SUS, exceto, obviamente, os vnculos
advindos das normas jurdicas emanadas dos rgos de regulao
do Sistema (Ministrio da Sade, Secretarias de Sade, Agncia
Nacional de Vigilncia Sanitria, Agncia Nacional de Sade
Suplementar, entre outros).
Com relao ao campo da sade suplementar, este texto ir
desenvolver especialmente os tpicos referentes atuao das
operadoras de planos e seguros de sade no Brasil bem como
regulao incidente sobre o setor. Embora os princpios e diretrizes
que regem o sistema pblico de sade (SUS) devam orientar a
regulao incidente sobre o setor privado, a lgica intrnseca a
este setor fazem com que princpios como a universalidade e a
integralidade no sejam assimilados plenamente quando tratamos
do campo da sade suplementar. A Agncia Nacional de Sade
Suplementar ANS, rgo regulador da sade suplementar no
Brasil, vem normatizando o setor para que este passe a cumprir
a sua funo social da forma mais harmnica possvel com os
princpios e diretrizes do SUS, mas ainda h muito a caminhar.
38
3.2.1. A Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS e a
regulao do setor no pas
Para o controle das aes e servios de sade desenvolvidos
no mbito da sade suplementar foi criada a Agncia Nacional
de Sade Suplementar ANS. A Agncia teve a sua existncia
formalizada pela Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000, que a defne
como um rgo de regulao, normatizao, controle e fscalizao
das atividades que garantam a assistncia suplementar sade.
Como visto anteriormente, a assistncia suplementar sade
aquela prestada pela iniciativa privada, sendo que suas aes e
servios no caracterizam aes e servios pblicos de sade,
mas nem por isso deixam de estar sob a regulao pblica (normas
jurdicas) exarada principalmente pelo rgo deliberativo da ANS.
A Lei que instituiu a ANS dispe que a mesma tem por fnalidade
institucional promover a defesa do interesse pblico na assistncia
suplementar sade, regulando as operadoras setorais, inclusive
quanto s suas relaes com prestadores e consumidores,
contribuindo para o desenvolvimento de aes de sade no pas.
Trata-se de importante instituio jurdica do Direito Sanitrio na
medida em que regula um setor responsvel pelo atendimento de
aproximadamente 42 (quarenta e dois) milhes de pessoas.
A ANS responsvel pela normatizao, fscalizao e
controle da atividade de todas as instituies jurdicas de direito
privado que, de alguma forma, operam seguros ou planos de
sade ou prestam aes e servios privados de sade e no
possuem relao jurdica de natureza obrigacional com o Sistema
nico de Sade (as instituies-organismos de direito privado
sempre tero relao jurdica de natureza regulatria com o SUS,
pois submetem-se s normas jurdicas impostas pelas fontes
normativas do SUS, notadamente as do Ministrio da Sade, da
ANS e da ANVISA). Assim, Lei 8.080/90 fxa em seus arts. 20 a
23 as condies gerais para a participao da iniciativa privada na
realizao de aes e servios de assistncia sade
6
. Quando as
6
Dispem os referidos artigos da Lei 8.080/90: Dos servios privados de
assistncia sade. Captulo I. Do Funcionamento. Art. 20. Os servios privados
de assistncia sade caracterizam-se pela atuao, por iniciativa prpria, de
profssionais liberais, legalmente habilitados, e de pessoas jurdicas de direito
39
instituies privadas organizam a prestao de servios de sade
atravs de operadoras (planos e seguros de sade) elas sujeitam-
se tambm s determinaes da Lei 9.961/00 e s normas fxadas
pela ANS.
3.2.2. Marcos regulatrios da sade suplementar: Leis
federais 9.656/1998 E 9.961/2000
A participao da iniciativa privada na sade submete-se
regulao estatal. No campo da sade suplementar, a partir de
1998 o Brasil passou a ter uma nova regulao federal sobre o
assunto, notadamente a Lei n. 9.656, de 03 de junho de 1998.
Essa lei veio regular as relaes privadas na rea da sade,
em especial as operadoras de planos e seguros privados de
assistncia sade.
Outro marco regulatrio importante foi a Lei 9.961, de 28 de
janeiro de 2000. Essa lei criou a Agncia Nacional de Sade
Suplementar ANS e imps forte regulao e fscalizao sobre
os servios de sade prestados no mbito da sade suplementar.
A Lei 9.961/00 foi regulamentada pelo Decreto n3.327, de05
de janeiro de 2000, e pela Resoluo da ANS que aprovou o
Regimento Interno da Agncia Nacional de Sade Suplementar.
Tambm possuem relao com os servios prestados no
mbito da sade suplementar o Cdigo de Defesa do Consumidor
privado na promoo, proteo e recuperao da sade. Art. 21. A assistncia
sade livre iniciativa privada. Art. 22. Na prestao de servios privados
de assistncia sade, sero observados os princpios ticos e as normas
expedidas pelo rgo de direo do Sistema nico de Sade (SUS) quanto s
condies para seu funcionamento. Art. 23. vedada a participao direta ou
indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistncia sade, salvo
atravs de doaes de organismos internacionais vinculados Organizao
das Naes Unidas, de entidades de cooperao tcnica e de fnanciamento
e emprstimos. 1 Em qualquer caso obrigatria a autorizao do rgo
de direo nacional do Sistema nico de Sade (SUS), submetendo-se a seu
controle as atividades que forem desenvolvidas e os instrumentos que forem
frmados. 2 Excetuam-se do disposto neste artigo os servios de sade
mantidos, em fnalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus
empregados e dependentes, sem qualquer nus para a seguridade social.
40
(Lei n. 8.078/90) e, no caso dos psiclogos, a Lei 5.766, de
20 de dezembro de 1971, que instituiu o Conselho Federal de
Psicologia e os Conselhos Regionais, bem como Cdigo de
tica do Psiclogo, que foi recentemente revisado pelo CFP com
aprovao da Resoluo 010, de agosto de 2005.
A anlise que ser realizada no presente texto enfocar
os contornos normativos que regulam a participao (ou a
possibilidade de participao) do psiclogo nos servios prestados
no mbito da sade suplementar no Brasil, e os impactos que esta
regulao pode ter sobre a ateno sade mental neste setor.
3.2.3. Lei 9.656/1998
A Lei 9.656/98 veio regular a oferta de servios de assistncia
sade realizada pelo que conceituou como operadoras de planos
privados de assistncia sade. Entende-se como Plano Privado
de Assistncia Sade a prestao continuada de servios ou
cobertura de custos assistenciais a preo pr ou ps estabelecido,
por prazo indeterminado, com a fnalidade de garantir, sem limite
fnanceiro, a assistncia sade, pela faculdade de acesso e
atendimento por profssionais ou servios de sade, livremente
escolhidos, integrantes ou no de rede credenciada, contratada
ou referenciada, visando a assistncia mdica, hospitalar e
odontolgica, a ser paga integral ou parcialmente s expensas da
operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto
ao prestador, por conta e ordem do consumidor.
Dessa forma, as operadoras de Planos de Assistncia
Sade so as pessoas jurdicas constitudas sob a modalidade
de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de
autogesto, que operem produto, servio ou contrato de planos
privados de assistncia sade.
I) Classifcao das Operadoras
Pessoas fsicas no podem operar planos ou seguros privados
de sade. Pela Lei 9.656/98 e de acordo com as regulamentaes
exaradas pela ANS, as operadoras podem ser classifcadas da
41
seguinte forma
7
:
1. Administradoras: empresas que administram
exclusivamente Planos Privados de Assistncia
Sade. So meramente prestadoras de servios
administrativos ligados ao oferecimento de servios de
assistncia sade, no possuem rede referenciada
nem assumem os riscos decorrentes das operaes
realizadas, que fcam por conta de sua contratante.
2. Cooperativa mdica ou odontolgica: Sociedades
de pessoas sem fns lucrativos, constitudas conforme
o disposto na Lei 5.764, de 16 de dezembro de
1971, que operam exclusivamente planos privados
de assistncia sade ou planos odontolgicos,
conforme o caso. Nessa modalidade os mdicos
(cooperados) so simultaneamente scios e
prestadores de servios, recebendo pagamento tanto
pela sua produo individual, como mediante rateio
do lucro obtido pela cooperativa.
3. Autogesto: So entidades de autogesto que operam
servios de assistncia sade ou empresas que,
por intermdio de seus departamentos (geralmente
de Recursos Humanos), responsabilizam-se pelo
Plano Privado de Assistncia Sade destinado,
exclusivamente, a oferecer servios a grupos defnidos
(empregados da empresa, fliados da entidade etc.).
4. Seguradora Especializada em Sade: A Lei 10.185,
de 12 de fevereiro de 2001, determinou que as
sociedades seguradoras que mantinham carteira de
sade constitussem seguradoras especializadas para
a sade. So seguradoras, subordinadas s normas
da ANS. Atualmente, os seguros-sade tambm
contam com redes referenciadas de servios.
5. Medicina de Grupo: Sistema de administrao
de servios mdico-hospitalares para atendimento
em larga escala com padro profssional e custos
controlados. O Ministrio do Trabalho, pela Portaria n.
3.286 defniu medicina de grupo como a pessoa jurdica
7
Jos Luiz Toro da Silva. Manual de Direito da Sade Suplementar. Editora
Mapontes.
42
de direito privado, organizada de acordo com as leis
do pas, que se dedique a assegurar a assistncia
mdica ou hospitalar e ambulatorial, mediante uma
contraprestao pecuniria preestabelecida, vedada
a essas empresas a garantia de um s evento.
6. Odontologia de Grupo: Aplica-se o mesmo conceito
que o utilizado para o de medicina de grupo, com
objeto focado nos servios odontolgicos.
II) Plano de Referncia
O grande avano trazido pela Lei 9.656/98 foi a adoo do
conceito de plano de referncia de assistncia sade.
Dispe o art. 10:
Art. 10. institudo o plano-referncia de assistncia
sade, com cobertura assistencial mdico-
ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e
tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil,
com padro de enfermaria, centro de terapia intensiva,
ou similar, quando necessria a internao hospitalar,
das doenas listadas na Classifcao Estatstica
Internacional de Doenas e Problemas Relacionados
com a Sade, da Organizao Mundial de Sade,
respeitadas as exigncias mnimas estabelecidas no
art. 12 desta Lei, exceto:
I - tratamento clnico ou cirrgico experimental;
II - procedimentos clnicos ou cirrgicos para fns estticos,
bem como rteses e prteses para o mesmo fm;
III - inseminao artifcial;
IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento
com fnalidade esttica;
V - fornecimento de medicamentos importados no
nacionalizados;
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento
domiciliar;
VII - fornecimento de prteses, rteses e seus acessrios
no ligados ao ato cirrgico;
VIII Revogado
IX - tratamentos ilcitos ou antiticos, assim defnidos sob
43
o aspecto mdico, ou no reconhecidos pelas autoridades
competentes;
X - casos de cataclismos, guerras e comoes internas,
quando declarados pela autoridade competente.
1
o
As excees constantes dos incisos deste artigo
sero objeto de regulamentao pela ANS.
2
o
As pessoas jurdicas que comercializam produtos de
que tratam o inciso I e o 1
o
do art. 1
o
desta Lei oferecero,
obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o
plano-referncia de que trata este artigo a todos os seus
atuais e futuros consumidores.
3
o
Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o 2
o
deste artigo as pessoas jurdicas que mantm sistemas
de assistncia sade pela modalidade de autogesto e
as pessoas jurdicas que operem exclusivamente planos
odontolgicos.
4
o
A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes
e de procedimentos de alta complexidade, ser defnida
por normas editadas pela ANS.
Depreende-se do referido artigo que quaisquer operadoras de
planos e seguros de sade devem oferecer, no mnimo, o plano
de referncia. A lgica intrnseca aos planos de referncia a de
que, com eles, oferece-se um tratamento integral da sade.
No que se refere participao do psiclogo nesse espectro
de servios de sade, faz-se necessrio uma anlise criteriosa
sobre quais seriam as doenas listadas na CID que demandariam,
necessria ou facultativamente, os servios psicolgicos. Trata-se
de uma questo estratgica para o desenvolvimento das aes
do CRP no mbito da sade suplementar.
A identifcao das possveis atuaes do psiclogo na sade
suplementar tambm pode ser analisada a partir da identifcao
de um rol de procedimentos que podem ser realizados pelos
psiclogos para o tratamento das doenas previstas na CID. O
setor odontolgico teve a sua regulamentao realizada nesse
sentido.
Um importante rgo interlocutor para esse dilogo o
Conselho de Sade Suplementar, criado pela Lei 9.656/98, art.
35-A, a quem compete, entre outras atribuies, estabelecer e
44
supervisionar a execuo de polticas e diretrizes gerais do setor
de sade suplementar. O CONSU formado pelos Ministros da
Justia (que o preside), da Sade, da Fazenda e do Planejamento,
Oramento e Gesto.
Dentre as Resolues exaradas pelo CONSU, destaca-se,
para o presente trabalho, a Resoluo CONSU n. 10, publicada
no Dirio Ofcial da Unio n. 211, de 04 de novembro de 1998, que
dispe sobre a elaborao do rol de procedimentos e eventos em
sade que constituiro referncia bsica e fxa as diretrizes para
a cobertura assistencial. Desde o advento da Lei da ANS, porm,
o CONSU no tem mais o mesmo papel. Embora legalmente
o CONSU ainda mantenha sua existncia e competncia, na
prtica o rgo no tem funcionado como regulador do setor,
estando esta tarefa quase que exclusivamente sendo exercida
no mbito da Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS.
Convm analisar, portanto, o papel da Agncia Nacional de
Sade Suplementar no Brasil e as principais Resolues
Normativas por ela exaradas, em especial no que se refere
defnio do plano de referncia e insero do psiclogo no
setor da sade suplementar.
3.2.4. A Lei 9.961/2000
Como visto, o Congresso Nacional criou por meio da Lei
9.961, de 28 de janeiro de 2000, a Agncia Nacional de Sade
Suplementar ANS. Logo no seu artigo 1 a Lei deixa claro que a
ANS uma autarquia sob regime especial criada como rgo de
regulao, normatizao, controle e fscalizao das atividades
que garantam a assistncia suplementar sade.
A ANS tem por fnalidade institucional promover a defesa
do interesse pblico na assistncia suplementar sade,
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto s suas
relaes com prestadores e consumidores, contribuindo para o
desenvolvimento das aes de sade no pas. Segundo dados
da prpria ANS, calcula-se que no Brasil aproximadamente
42 milhes de pessoas utilizam os servios oferecidos pelas
instituies privadas responsveis pela assistncia suplementar
45
sade. Trata-se de um enorme contingente humano que depende
das normas jurdicas exaradas pela ANS.
De fato, compete ANS normatizar sobre diversos aspectos
relacionados com a sade suplementar no Brasil, de acordo com
os preceitos da Lei 9961/2000. O Art. 4 estabelece uma ampla
competncia normativa da ANS ao longo de seus 42 (quarenta
e dois incisos). Assim, compete ANS criar normas jurdicas
que regulamentem as condies de registro das operadoras de
planos privados de sade, os contedos bsicos dos contratos a
serem frmados entre as operadoras e os usurios, as condies
de reajustes dos preos dos planos de sade, etc.
Alguns exemplos de competncias normativas infralegais da
ANS: normatizar sobre as caractersticas gerais dos instrumentos
contratuais utilizados nas atividades das operadoras (Art. 4, II);
defnir o rol de procedimentos e eventos em sade que constituiro
referncia bsica para os fns do disposto na Lei 9.656, de 3 de
junho de 1998, e suas excepcionalidades (Art. 4, III); normatizar
sobre os critrios para os procedimentos de credenciamento e
descredenciamento de prestadores de servio s operadoras (art.
4, IV); defnir os conceitos de doena e leso preexistentes (Art.
4, IX); estabelecer critrios de aferio e controle da qualidade dos
servios oferecidos pelas operadoras de planos privados de sade,
sejam eles prprios, referenciados, contratados ou conveniados
(Art. 4, XV); adotar as medidas necessrias (inclusive normativas)
para estimular a competio no setor de planos privados de
assistncia sade (Art. 4, XXXII), entre outras competncias
normativas expressamente previstas pela Lei.
A edio de normas jurdicas pela ANS de competncia de
sua Diretoria Colegiada, a exemplo da ANVISA (Art. 10, II). A
produo normativa da ANS realizada atravs de Resolues
de Diretoria Colegiada, atualmente denominadas Resolues
Normativas (conforme nova denominao dada pelo Regimento
Interno, art. 64, II, a).
Vale destacar para a presente pesquisa dois rgos
especfcos da ANS que possuem direta relao com os servios
de sade mental a serem atendidos pela sade suplementar. O
primeiro e mais relevante a Diretoria de Normas e Habilitao
46
de Produtos, a quem compete planejar, coordenar, organizar
e controlar as atividades de regulamentao, habilitao,
qualifcao e acompanhamento dos produtos ou planos privados
de assistncia sade (art. 29 do RI). O outro rgo, subordinado
referida Diretoria, a Gerncia Geral de Estrutura e Operao
dos Produtos, a quem compete propor normas Diretoria sobre
as seguintes matrias: a) caractersticas gerais dos instrumentos
contratuais utilizados na atividade das operadoras; b) critrios e
procedimentos para o credenciamento e descredenciamento de
prestadores de servios s operadoras; c) condies dos produtos
visando a garantia dos direitos assegurados nos arts. 30 e 31
da Lei n. 9.656/98; d) registro dos produtos defnidos no inciso
I e no 1 do art. 1 da Lei 9.656/98; e) concesso, manuteno
e cancelamento do registro dos produtos das operadoras de
planos de assistncia sade; f) adaptao dos contratos; g)
redimensionamento de rede das operadoras; h) responsabilidade
dos contratantes, quer seja pessoa fsica ou jurdica; i) relao
entre as operadoras e seus prestadores.
Finalmente, vale ressaltar que a ANS possui uma Cmara
de Sade Suplementar, criada pela Lei 9.961/00 e que teve sua
composio defnida pelo art. 13 da Lei (repetida pelo art. 60
do Regimento Interno da ANS). Trata-se de rgo consultivo e
permanente da ANS.
4. A FISCALIZAO DOS
SERVIOS DOS PSICLOGOS
PRESTADOS NO MBITO DA
SADE SUPLEMENTAR
48
4. A FISCALIZAO DOS SERVIOS DOS
PSICLOGOS PRESTADOS NO MBITO DA
SADE SUPLEMENTAR
No Brasil, os servios de normatizao e fscalizao de
profsses regulamentadas so realizados pelos Conselhos
de Classe mediante autorizao legislativa. Dessa forma, as
profsses regulamentadas no Brasil (mdicos, advogados,
enfermeiros, farmacuticos, economistas, engenheiros, arquitetos,
etc.) possuem um sistema de auto-regulao organizado pelos
prprios profssionais que as exercem. Esse exerccio de auto-
regulao reconhecido no Brasil, sendo uma realidade jurdica
a existncia de normas especfcas que regulam as profsses
relacionadas com o exerccio de aes e servios de sade, como
as profsses de mdico, enfermeiro e farmacutico e psiclogo.
Os prprios profssionais organizam, estruturam e desenvolvem
a gesto dos seus respectivos Conselhos, observados os limites
da delegao dada pela lei. A Lei 9.649/98, em seu artigo 58,
tentou caracterizar os conselhos de fscalizao de profsses
regulamentadas como dotados de personalidade jurdica de direito
privado (tradicionalmente sempre foram considerados como
sendo autarquias dotadas de personalidade jurdica de direito
pblico). A lei foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, a partir de Ao Direta de Inconstitucionalidade impetrada
pelo Partido Comunista do Brasil contra a caracterizao dos
Conselhos de Classe como pessoas jurdicas de Direito privado.
A deciso teve como fundamento principal o fato de que tais
conselhos exercem funes normativas e fscalizadoras em suas
respectivas reas de atuao e, de acordo com o entendimento do
STF, o exerccio de funo normativa e fscalizadora exige que tais
Conselhos sejam caracterizados como sendo de personalidade
jurdica de Direito pblico.
Para garantir o seu funcionamento os conselhos de fscalizao
de profsses so autorizados a fxar, cobrar e executar as
contribuies anuais devidas por pessoas fsicas ou jurdicas,
bem como preos de servios por eles desenvolvidos, que
constituiro receitas prprias. Em geral os profssionais sujeitos
49
ao fscalizatria desses conselhos so obrigados a pagar
anuidades, voltadas manuteno do prprio Conselho.
Como instituies destinadas fscalizao do exerccio
profssional, os Conselhos de classe dos profssionais que atuam
na rea da sade representam uma importante fonte de produo
de normas jurdicas infra-legais especfcas de direito sanitrio,
em especial no que se refere regulamentao dos respectivos
Cdigos de Deontologia, que defnem os padres ticos de
comportamento a serem seguidos pelos profssionais da rea da
sade.
Nessa linha foram criados os Conselhos Federais e Regionais
de Psicologia, Lei n. 5.766, de 20 de dezembro de 1971. O
Conselho Federal de Psicologia recentemente reviu o seu Cdigo
de tica com a aprovao da Resoluo 010, de agosto de 2005.
Vale dizer, ainda, que os servios de sade prestados no mbito
da sade suplementar fcam sujeitos fscalizao exercida pelos
rgos de defesa do consumidor, nos termos do Cdigo de Defesa
do Consumidor.
50
5. PREVENO EM SADE
MENTAL NO BRASIL: ANLISE DA
REGULAO DOS SERVIOS DE
PREVENO EM SADE MENTAL
PRESTADOS NO SISTEMA NICO DE
SADE E NA SADE SUPLEMENTAR
51
5. PREVENO EM SADE MENTAL NO BRASIL:
ANLISE DA REGULAO DOS SERVIOS DE
PREVENO EM SADE MENTAL PRESTADOS
NO SISTEMA NICO DE SADE E NA SADE
SUPLEMENTAR
O direito sade no Brasil s recebeu tratamento constitucional
no Brasil com a promulgao da Carta Constitucional de 1988:
Tratando especifcamente da sade, como parte da
seguridade social (art. 194), a Constituio abraou a
concepo atual de sade, que no se limita ausncia
de doenas e outros agravos, exigindo a realizao
de polticas pblicas que tenham como fnalidade a
reduo do risco de doena e de outros agravos e o
acesso universal igualitrio s aes para sua promoo,
proteo e recuperao (art. 196) (DALLARI, Sueli
Gandolf, Construo do Direito Sade no Brasil, Revista
de Direito Sanitrio, So Paulo, CEPEDISA, vol. 9, n 3,
pgs. 9-34).
A Constituio Federal Brasileira estabelece que a sade
direito de todos e dever do Estado, ressaltando, em seu artigo
198, que as aes e servios pblicos de sade integram uma
rede que deve seguir o princpio do atendimento integral, com
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuzo dos
servios assistenciais (inciso II).
Porm, nota-se que as aes preventivas em sade no Brasil
ainda so bastante limitadas e restritas a reas especfcas da
sade. Na Sade Mental, as aes voltadas para a preveno
so bastante pontuais, tanto no Sistema nico de Sade SUS
como no Sistema de Sade Suplementar.
Para compreender as aes de preveno sobre sade mental
atualmente vigentes no Brasil o presente Parecer analisar,
inicialmente, a regulao dos servios pblicos de sade no mbito
do SUS; em seguida, ser analisada a regulao do sistema de
sade suplementar, com enfoque nas normas infralegais exaradas
pela Agncia Nacional de Sade Suplementar ANS.
52
5.1. Preveno EM SADE MENTAL no Sistema nico de
Sade SUS
A Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, dispe sobre as
condies para a promoo, proteo e recuperao da sade,
bem como sobre a organizao e o funcionamento dos servios
correspondentes.
Esse dispositivo legal fala sobre a lgica da reduo de riscos
de doenas como modelo que deve ser seguido pelo Estado: O
dever do Estado de garantir a sade consiste na formulao e
execuo de polticas econmicas e sociais que visem reduo
de riscos de doenas e de outros agravos e no estabelecimento de
condies que assegurem acesso universal e igualitrio s aes
e aos servios para a sua promoo, proteo e recuperao
(artigo 2, 1).
Ainda, a Lei 8.080 acentua a importncia de aes preventivas
ao elencar os objetivos do Sistema nico de Sade SUS em seu
artigo 5, ressaltando a prioridade da assistncia s pessoas por
intermdio de aes de promoo, proteo e recuperao da
sade, com a realizao integrada das aes assistenciais e das
atividades preventivas (inciso III).
5.1.1. Preveno na Norma Operacional Bsica do Sistema
nico de Sade NOB/SUS
A Norma Operacional Bsica do Sistema nico de Sade
NOB/SUS, portaria do Ministrio da Sade de 6 de novembro
de 1996, defne trs grandes campos de ateno sade, a
saber: a) o da assistncia, em que as atividades so dirigidas s
pessoas, individual ou coletivamente, e que prestada no mbito
ambulatorial e hospitalar; b) o das intervenes ambientais, no
seu sentido mais amplo, incluindo as relaes e as condies
sanitrias nos ambientes de vida e de trabalho, o controle de
vetores e hospedeiros e a operao de sistemas de saneamento
ambiental (mediante o pacto de interesses, as normalizaes,
as fscalizaes e outros); e c) o das polticas externas ao setor
sade, que interferem nos determinantes sociais do processo
53
sade-doena das coletividades, de que so partes importantes
questes relativas s polticas macroeconmicas, ao emprego,
habitao, educao, ao lazer e disponibilidade e qualidade
dos alimentos.
O texto da NOB/SUS destaca que todo o espectro de aes
compreendidas nos nveis de ateno sade est representado
nos trs campos referidos, com nfase para o fato de que todo
atendimento deve ser caracterizado pela promoo, pela proteo
e pela recuperao, nos quais deve ser sempre priorizado o
carter preventivo.
5.1.2. Preveno no Pacto pela Sade 2006 Consolidao
do SUS e Diretrizes Operacionais
O Pacto pela Sade 2006, ou Consolidao do SUS e
Diretrizes Operacionais, institudo pela Portaria MS 399, de 22
de fevereiro de 2006, dispe sobre a lgica de regionalizao
dos servios de sade no SUS, que estratgia para garantir
a integralidade na ateno a sade, ampliando o conceito de
cuidado sade no processo de reordenamento das aes de
promoo, preveno, tratamento e reabilitao com garantia de
acesso a todos os nveis de complexidade do sistema (item 2.1,
Anexo I da Portaria).
Quanto s aes de preveno, o documento legal atribui
responsabilidades aos entes federados dentro da gesto
do SUS, destacando inicialmente que todo municpio deve
garantir a integralidade das aes de sade prestadas de forma
interdisciplinar, por meio da abordagem integral e contnua do
indivduo no seu contexto familiar, social e do trabalho; englobando
atividades de promoo da sade, preveno de riscos, danos
e agravos; aes de assistncia, assegurando o acesso ao
atendimento s urgncias.
Aos Estados, compete supervisionar as aes de preveno
e controle da vigilncia em sade, coordenando aquelas que
exigem ao articulada e simultnea entre os municpios e,
Unio, cabe coordenar, nacionalmente, as aes de preveno
e controle da vigilncia em sade que exijam ao articulada e
54
simultnea entre os estados, Distrito Federal e municpios (parte
B do Anexo I da Portaria).
Porm, apesar das disposies do Pacto Pela Sade 2006,
O SUS prev poucas medidas voltadas para a preveno na
rea de Sade e, por conseqncia, poucas medidas voltadas
para a preveno da Sade Mental, sendo que grande parte
dos instrumentos que regulam o tema tratam de programas
especfcos, voltadas a grupos que exigem ateno diferenciada
(como o caso dos usurios de lcool e outras drogas).
5.1.3. Medidas Preventivas no Atendimento a Usurios de
lcool e Outras Drogas
A Portaria MS/GM 816, de 30 de abril de 2002, institui o
Programa Nacional de Ateno Comunitria Integrada a Usurios
de lcool e Outras Drogas. A Portaria foi elaborada com base
nas deliberaes da III Conferncia Nacional de Sade Mental
de 2001, e parte do pressuposto de que a ateno psicossocial a
pacientes com dependncia e/ou uso prejudicial de lcool e outras
drogas deve se basear em uma rede de dispositivos comunitrios,
integrados ao meio cultural, e articulados rede assistencial em
Sade Mental.
Dentre os objetivos da Portaria MS/GM 816 de 2002, h a
preocupao de aperfeioar as intervenes preventivas como
forma de reduzir os danos sociais e sade, representados pelo
uso prejudicial de lcool e outras drogas (artigo 1, III).
Assim, o Programa institudo pela Portaria estabelece a
implantao de Centros de Ateno Psicossocial especfcos para
Atendimento de Pacientes com dependncia e/ou uso prejudicial
de lcool e outras Drogas, determinando inclusive o pagamento
de um incentivo fnanceiro aos municpios que implantassem os
novos servios em 2002.
Dentre as aes defnidas como necessrias para implementar
o Programa, o Anexo I da Portaria estabelece que cabe ao Ministrio
da Sade defnir e implementar planos e programas de treinamento
e capacitao de recursos humanos nas reas de preveno,
vigilncia e assistncia aos pacientes com dependncia e/ou uso
55
prejudicial de lcool e outras drogas, estabelecendo convnios de
cooperao tcnica com as instituies formadoras ou servios
alm de apoiar a realizao de estudos de prevalncia de base
populacional para o conhecimento da distribuio dos pacientes
portadores de transtornos causados pelo uso prejudicial e/
ou dependncia de lcool e outras drogas e outras pesquisas
relevantes.
A Portaria MS/GM 2.197, de 14 de outubro de 2004, instituiu
mais um programa voltado para o atendimento de usurios
de lcool e outras drogas, o Programa de Ateno Integral a
Usurios de lcool e outras Drogas.
Partindo da Portaria MS/GM 816 de 2002 como alicerce, o
Programa institudo pela Portaria MS/GM 2.197 em 2004 possui
como principais componentes (artigo 2): I - componente da
ateno bsica; II - componente da ateno nos CAPS-AD,
ambulatrios e outras unidades extra-hospitalares especializadas;
III - componente da ateno hospitalar de referncia; e IV -
componente da rede de suporte social (associaes de ajuda
mtua e entidades da sociedade civil), complementar rede de
servios disponibilizados pelo SUS.
O componente da ateno bsica refere-se ateno integral
aos usurios de lcool e outras drogas em unidades de ateno
bsica e ambulatrios no-especializados. A preocupao com
aes preventivas se manifesta na medida em que a ateno
bsica prev atuao e insero comunitrias para aes como
deteco precoce de casos de uso nocivo ou dependncia de
lcool e outras drogas, de forma articulada a prticas teraputicas,
preventivas e educativas.
O componente da ateno nos CAPSad, ambulatrios
e outras unidades especializadas, a que se refere o inciso II
do artigo 2 da Portaria, obedece a uma lgica de oferta de
cuidados baseados na ateno integral, compreendendo a
oferta aos usurios de lcool e outras drogas e seus familiares,
de acolhimento e estmulo sua integrao social e familiar,
alm de insero comunitria de prticas e servios.
Por fm, o componente de ateno hospitalar de referncia,
objeto do inciso III, do artigo 2, defne que os Servios Hospitalares
56
de Referncia para a Ateno Integral aos Usurios de lcool e
outras Drogas - SHR-ad sero instalados em Hospitais Gerais
e o componente da rede de suporte social (inciso IV do artigo
2) inclui dispositivos comunitrios de acolhida e cuidados,
que devem estar articulados rede de cuidados do SUS como
estrutura complementar.
A preveno voltada para o uso abusivo e/ou dependncia de
lcool e outras drogas um processo de planejamento, implantao
e implementao de mltiplas estratgias voltadas para a reduo
dos fatores de risco especfcos e fortalecimento dos fatores
de proteo. No SUS, a lgica que sustenta o planejamento
preventivo a da Reduo de Danos, voltada para minimizar as
conseqncias de uso de lcool e drogas. O planejamento de
programas assistenciais contempla propostas mais fexveis, que
no tm como meta exclusiva a abstinncia total dos usurios, mas
sim a sua reinsero social e educao quanto aos danos e riscos
associados ao uso de lcool e outras drogas.
5.1.4. Diretrizes Nacionais para Preveno do Suicdio
O Ministrio da Sade manifestou preocupao, embora ainda
incipiente, em estabelecer medidas preventivas no que se refere
especifcamente preveno do suicdio.
A Portaria MS/GM 1876, de 14 de agosto de 2006, destaca a
necessidade da defnio de Diretrizes Nacionais para Preveno
do Suicdio, porm, apesar de determinar que se constitua
Grupo de Trabalho para regulamentar a Portaria (e de fato criar
as diretrizes), no h registro de qualquer regulamentao at o
momento ou de Grupo de Trabalho sobre o tema.
No entanto, de acordo com o artigo 2 da Portaria, as diretrizes,
quando forem regulamentadas, devem ser organizadas com
vistas a: I - desenvolver estratgias de promoo de qualidade
de vida, de educao, de proteo e de recuperao da sade
e de preveno de danos; II - desenvolver estratgias de
informao, de comunicao e de sensibilizao da sociedade
de que o suicdio um problema de sade pblica que pode ser
prevenido; III - organizar linha de cuidados integrais (promoo,
57
preveno, tratamento e recuperao) em todos os nveis
de ateno, garantindo o acesso s diferentes modalidades
teraputicas; IV - identifcar a prevalncia dos determinantes e
condicionantes do suicdio e tentativas, assim como os fatores
protetores e o desenvolvimento de aes intersetoriais de
responsabilidade pblica, sem excluir a responsabilidade de
toda a sociedade; V - fomentar e executar projetos estratgicos
fundamentados em estudos de custo-efetividade, efccia e
qualidade, bem como em processos de organizao da rede de
ateno e intervenes nos casos de tentativas de suicdio; VI -
contribuir para o desenvolvimento de mtodos de coleta e anlise
de dados, permitindo a qualifcao da gesto, a disseminao
das informaes e dos conhecimentos; VII - promover intercmbio
entre o Sistema de Informaes do SUS e outros sistemas de
informaes setoriais afns, implementando e aperfeioando
permanentemente a produo de dados e garantindo a
democratizao das informaes; e VIII - promover a educao
permanente dos profssionais de sade das unidades de ateno
bsica, inclusive do Programa Sade da Famlia, dos servios de
sade mental, das unidades de urgncia e emergncia, de acordo
com os princpios da integralidade e da humanizao.
5.1.5. Preveno nos Centros de Ateno Psicossocial -
CAPS
Em anlise mais ampla dos instrumentos normativos que
regem o funcionamento do SUS, tambm encontramos medidas
preventivas na regulao dos Centros de Ateno Psicossocial
- CAPS.
A base normativa para implantao e funcionamento dos
CAPS foi estabelecida pelas Portarias Ministeriais MS/GM
(Gabinete do Ministro) 336 e SAS (Secretaria de Ateno
Sade) 189, ambas de 2002.
A Portaria MS/GM 336, de 19 de fevereiro de 2002, acrescentou
novos parmetros aos defnidos pela Portaria SNAS 224 de
1992 para a rea ambulatorial, ampliando a abrangncia dos
servios substitutivos de ateno diria, estabelecendo portes
58
diferenciados a partir de critrios populacionais, e direcionando
novos servios especfcos para rea de lcool e outras drogas,
bem como para a infncia e adolescncia. A Portaria MS/GM 336
tambm criou mecanismo de fnanciamento prprio para a rede
CAPS e, em maro de 2002, a Portaria SAS 189 fortaleceu o
sistema de fnanciamento da rede, inserindo novos procedimentos
ambulatoriais na tabela do SUS.
Os CAPS visam prestar atendimento em regime de ateno
diria; gerenciar os projetos teraputicos oferecendo cuidado
clnico efciente e personalizado; promover a insero social dos
usurios atravs de aes intersetoriais que envolvam educao,
trabalho, esporte, cultura e lazer, montando estratgias conjuntas
de enfrentamento dos problemas. Os CAPS tambm tm a
responsabilidade de organizar a rede de servios de Sade Mental
de seu territrio; dar suporte e supervisionar a ateno Sade
Mental na rede bsica, PSF (Programa de Sade da Famlia),
PACS (Programa de Agentes Comunitrios de Sade); regular
a porta de entrada da rede de assistncia em Sade Mental de
sua rea; coordenar junto com o gestor local as atividades de
superviso de unidades hospitalares psiquitricas que atuem no
seu territrio; e manter atualizada a listagem dos pacientes de
sua regio que utilizam medicamentos para a Sade Mental.
Estes Centros devem oferecer atendimento populao de seu
municpio de abrangncia, realizando acompanhamento clnico e
estimulando a reinsero social dos usurios, atravs do acesso
ao trabalho, educao, lazer, convvio familiar e comunitrio,
dentre outras aes. Por meio do atendimento em regime de
ateno diria, alm dos gerenciamento de projetos teraputicos
individualizados, os CAPS implementam aes de preveno em
Sade Mental.
5.2. PREVENO no Sistema de Sade Suplementar
Analisada a regulao estatal sobre os servios de
preveno relacionados com sade mental no sistema pblico
de sade, que tm nos CAPS seu eixo condutor, apresenta-se
neste item a atual regulao dos servios de preveno da sade
mental no campo da sade suplementar.
59
5.2.1. Programas de Promoo Sade e Preveno de
Riscos Doenas na Sade Suplementar
No Sistema de Sade Suplementar, a Sade Mental pouco
referenciada. A primeira norma geral sobre preveno no campo
da sade foi a Resoluo Normativa ANS n 94 de 23, de maro
2005, que estipulou critrios de diferimento da cobertura com
ativos garantidores da proviso de risco, a serem observados
pelas operadoras de planos privados de assistncia sade que
aderirem a programas de promoo sade e preveno de riscos
e doenas. Por meio da RN 94/2005, a ANS estabeleceu, assim,
critrios para a prorrogao dos prazos para a integralizao
da cobertura com ativos garantidores das provises de risco
(defnidas na Resoluo RDC n 77, de 17 de julho de 2001) pelas
operadoras de planos de sade que aderirem a programas de
promoo da sade e preveno de riscos e doenas.
Assim, a Resoluo ofereceu benefcios s operadoras que
aderirem a programas de promoo sade e preveno de
doenas de seus benefcirios. O mecanismo usado pela ANS
o de oferecer uma fexibilizao na cobertura da totalidade da
proviso de risco que as operadoras de planos de sade devem
ter, liberando recursos das operadoras.
5.2.2. Preveno no Rol de Procedimentos e Eventos em
Sade para cobertura assistencial nos planos privados de
assistncia sade
O Rol de Procedimentos e Eventos em Sade a lista dos
procedimentos, exames e tratamentos com cobertura obrigatria
pelos planos de sade. Essa cobertura mnima obrigatria vlida
para planos de sade contratados a partir de 1 de janeiro de 1999,
ou adaptado Lei n 9.656/98, e revista a cada dois anos.
O primeiro rol de procedimentos estabelecido pela ANS foi o
defnido pela Resoluo de Conselho de Sade Suplementar -
Consu 10/98, atualizado em 2001 pela Resoluo de Diretoria
Colegiada RDC 67/2001, e novamente revisto nos anos de
2004, 2008, 2010 e 2011, pelas Resolues Normativas 82, 167,
60
211 e 262, respectivamente.
Atualmente, a Resoluo Normativa 211/2010, em seu artigo
3, inciso III, indica que a ateno sade na Sade Suplementar
dever observar a: incorporao de aes de Promoo da
Sade e Preveno de Riscos e Doenas.
5.2.3. Medidas Preventivas nas Diretrizes Assistenciais em
Sade Mental na Sade Suplementar
Um importante documento lanado pela ANS com relao
Sade Mental no ano de 2008, denominado Diretrizes
Assistenciais em Sade Mental na Sade Suplementar, defne
linhas de cuidado especfcas para as quais sugere aes
preventivas, quais sejam: a) Transtornos Mentais Graves e
Persistentes; b) Transtornos Decorrentes do Uso de lcool
e Outras Drogas; c) Transtornos Depressivos, Ansiosos e
Alimentares; d) Sade Mental de Crianas e Adolescentes; e e)
Sade Mental de Idosos. As aes sugeridas no so vinculantes
e expressam ideais bastante amplos.
Para o acompanhamento de portadores de Transtornos
Mentais Graves e Persistentes, o documento sugere as seguintes
aes preventivas:
Mapeamento dos pacientes graves na carteira da
operadora, que necessitem de programas especfcos
de promoo da sade e preveno de riscos e doenas
para manuteno do tratamento; Contar com equipe
multidisciplinar; Grupos educativos e de apoio aos
familiares; e Acompanhamento Teraputico.
As aes de preveno sugeridas para o acompanhamento de
usurios de lcool e outras drogas so:
Implementar programas de educao em sade sobre
lcool e drogas para toda a populao benefciria;
Implementar programa de apoio e educao em sade
para familiares e usurios; Implementar programa de
apoio e educao em sade sobre lcool e drogas para
61
adolescentes e seus familiares; Trabalhar com equipes
multidisciplinares; e Implementar programas preventivos
junto s empresas direcionados para os benefcirios de
planos empresariais.
Para o acompanhamento de pacientes com Transtornos
Depressivos, Ansiosos e Alimentares, simplesmente no h
qualquer meno a programas tanto de promoo como de
preveno.
J para o acompanhamento de crianas e adolescentes, as
diretrizes da ANS sugerem as seguintes medidas preventivas:
Prtica de acolhimento/escuta a toda criana que procura o
servio, com intercorrncias, demandas agudas ou de outra
natureza, disponibilizando a resposta mais qualifcada;
Manter a continuidade da assistncia, agendando retorno
de acordo com a necessidade da criana, de modo a
aumentar a resolubilidade da assistncia, evitando-se
a internao desnecessria; Orientao aos familiares
individual e em grupo; Conhecer o nmero de crianas da
carteira que apresentam transtornos mentais; e Captar as
crianas com sinais de transtornos mentais, maus-tratos,
etc em toda oportunidade: consultas, visitas a servios de
U/E, etc.
Por fm, para a preveno na rea de Sade Mental dos idosos,
as diretrizes da ANS sugerem:
Dar ateno especial ao aumento de depresso e tendncia
suicida devido perda e ao isolamento social; Dar ateno
especial aos idosos com defcincia intelectual de longo
prazo; Apoio integrado ao indivduo e famlia; Prevenir
a iatrognese (doenas e defcincias causadas pelo
processo de diagnstico ou tratamento); Estabelecer um
sistema adequado para prevenir reaes medicamentosas
adversas devido frequente presena de comorbidades;
Orientar os familiares e/ou cuidadores em relao a opes
de habitao para os idosos, que eliminem as barreiras
fsicas para sua independncia e interdependncia dos
62
familiares; Incentivar a participao integral do idoso na
comunidade e na vida familiar; e Estimular uma imagem
positiva do envelhecimento atravs de informaes
educativas sobre o envelhecimento ativo e confrontar
esteretipos negativos sobre o envelhecimento.
5.3. Consideraes sobre a legislao de preveno no
campo da sade mental
Nota-se que a legislao sobre Sade no Sistema nico de
Sade expressa clara preocupao em delinear a importncia de
aes preventivas dentro do sistema, o que parece, no entanto,
ainda no estar claramente refetido nas polticas pblicas. As
aes preventivas ainda concentram-se em poucos programas
especfcos, como, por exemplo, nos programas para atendimento
de usurios de lcool e outras drogas.
Entretanto, a cobertura do atendimento mental na Sade
Suplementar, regulada por instrumentos normativos mais
recentes, prev ainda menos aes preventivas, e de forma
meramente sugestiva.
Esse quadro aponta para a carncia de medidas preventivas
na Sade Mental, e a conseqente necessidade e importncia de
desenvolver mais estudos e propostas para a rea, como forma
de atender tanto os interesses da populao como os interesses
da gesto do SUS e da Sade Suplementar.
A preveno voltada para os transtornos mentais implica
necessariamente na insero comunitria das prticas propostas,
com a colaborao de todos os segmentos sociais disponveis. As
estratgias de preveno devem ser orientadas pela Lgica da
Reduo de Danos, devendo contemplar a utilizao combinada
do fornecimento de informaes sobre os transtornos mentais,
como tambm facilitar a identifcao de problemas pessoais e o
acesso ao suporte para tais problemas.
6. ATENDIMENTO DE SADE MENTAL
NOS SERVIOS DE EMERGNCIA,
AMBULATORIAIS E HOSPITALARES:
ANLISE DA REGULAO DOS
REFERIDOS SERVIOS NO SISTEMA
NICO DE SUDE SUS E NO
SISTEMA DE SADE SUPLEMENTAR
64
6. ATENDIMENTO DE SADE MENTAL NOS
SERVIOS DE EMERGNCIA, AMBULATORIAIS
E HOSPITALARES: ANLISE DA REGULAO
DOS REFERIDOS SERVIOS NO SISTEMA NICO
DE SUDE SUS E NO SISTEMA DE SADE
SUPLEMENTAR
Seguindo-se a mesma metodologia adotada para a anlise
das aes de preveno relacionadas sade mental no Brasil,
o presente item ir abordar os atendimentos de emergncia,
ambulatorial e hospitalar no mbito do SUS e da sade
suplementar, sucessivamente. Em seguida, sero tecidas
algumas consideraes gerais sobre o tema.
6.1. REGULAO NO MBITO DO SUS
Nos termos do art. 196 da Constituio Federal, sade direito
de todos e dever do Estado. Sendo direito de todos, no exclui
pessoa alguma que esteja em territrio nacional. Trata-se de um
direito abrangente, constitucionalmente positivado de modo a
cumprir com diretriz de generalizao dos direitos humanos.
Ocorre que, atualmente, o desenvolvimento dos direitos
humanos encontra-se na etapa de especifcao, a qual cuida do
ser humano em situao (LAFER, 2005, p. 60). A especifcao
est voltada para determinar de maneira mais concreta os
destinatrios da tutela jurdica dos direitos e garantias individuais
(LAFER, 2005, p. 38).
O direito brasileiro, atualizado na gramtica dos direitos
humanos, tem dado mostras de especifcao de direitos humanos
em diversas reas e, por se tratar de grupo vulnervel e muitas
vezes marginalizado, no poderia excluir os doentes mentais.
Com efeito, as pessoas portadoras de transtornos mentais so
especialmente protegidas pela Lei 10.216/01, possuindo os
seguintes direitos (art. 2, nico):
65
I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de sade,
consentneo s suas necessidades;
II - ser tratada com humanidade e respeito e no interesse
exclusivo de benefciar sua sade, visando alcanar sua
recuperao pela insero na famlia, no trabalho e na
comunidade;
III - ser protegida contra qualquer forma de abuso e
explorao;
IV - ter garantia de sigilo nas informaes prestadas;
V - ter direito presena mdica, em qualquer tempo, para
esclarecer a necessidade ou no de sua hospitalizao
involuntria;
VI - ter livre acesso aos meios de comunicao disponveis;
VII - receber o maior nmero de informaes a respeito de
sua doena e de seu tratamento;
VIII - ser tratada em ambiente teraputico pelos meios
menos invasivos possveis;
IX - ser tratada, preferencialmente, em servios
comunitrios de sade mental.
A esses direitos soma-se o direito ao livre consentimento para
pesquisas cientfcas, garantido pelo art. 11 da mesma Lei, que
estabelece que pesquisas cientfcas para fns diagnsticos ou
teraputicos no podero ser realizadas sem o consentimento
expresso do paciente, ou de seu representante legal, e sem a
devida comunicao aos conselhos profssionais competentes e
ao Conselho Nacional de Sade.
Por outro lado, cumprindo a norma constitucional que determina
que sade dever do Estado, a citada legislao determina ao
Estado que desenvolva poltica pblica de sade mental, que
preste assistncia e promoo de sade, nos termos do art. 3:
responsabilidade do Estado o desenvolvimento da
poltica de sade mental, a assistncia e a promoo de
aes de sade aos portadores de transtornos mentais,
com a devida participao da sociedade e da famlia,
a qual ser prestada em estabelecimento de sade
mental, assim entendidas as instituies ou unidades
que ofeream assistncia em sade aos portadores de
transtornos mentais.
66
A princpio, o atendimento ao paciente mental ocorre
em ambiente ambulatorial, sendo excepcional a internao
psiquitrica. Existe, tambm, o atendimento de emergncia, que
tanto pode ser ambulatorial, como hospitalar. importante, pois,
analisar a regulao de cada uma dessas situaes.
6.1.1. Atendimento ambulatorial em sade mental no Sis-
tema nico de Sade SUS: Os Centros de Ateno Psicos-
social (CAPS)
Os Centros de Ateno Psicossocial (CAPS) so unidades
de tratamento para pessoas que sofrem de transtornos mentais
cuja severidade e/ou persistncia demandem incluso num
dispositivo de cuidado intensivo. Prestam servios de sade
municipais, abertos, comunitrios, que oferecem atendimento
dirio s pessoas com transtornos mentais severos e persistentes,
procurando preservar e fortalecer os laos sociais do usurio em
seu territrio.
Os CAPS oferecem atendimento populao de seu
municpio de abrangncia, realizando acompanhamento clnico e
estimulando a reinsero social dos usurios, atravs do acesso
ao trabalho, educao, lazer, convvio familiar e comunitrio,
dentre outras aes.
O principal objetivo dos CAPS foi substituir o confnamento
de pessoas com transtornos mentais em Hospitais Psiquitricos.
A inteno evitar internaes prolongadas, que distanciam o
doente da famlia. Assim, devem ser instalados em bairros de fcil
acesso e em espao fsico prprio e adequadamente preparado
para atender sua demanda especfca, com o intuito de que o
usurio se sinta o mias confortvel possvel.
Cada CAPS deve contar, no mnimo, com os seguintes recursos
fsicos: consultrios para atividades individuais (consultas,
entrevistas, etc.); salas para atividades grupais; espao de
convivncia; salas para ofcinas; refeitrio (o CAPS deve ter
capacidade para oferecer refeies de acordo com o tempo de
permanncia de cada paciente na unidade); sanitrios; rea
externa para ofcinas, esportes e demais atividades. Ainda, todos
67
os CAPS devem contar com equipe formada por profssionais de
nvel mdio e nvel superior.
Essencialmente, o CAPS possui como funes institucionais
bsicas: prestar atendimento em regime de ateno diria;
construir e gerenciar projetos teraputicos individualizados;
promover a insero social dos usurios atravs de aes
intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de assistncia
em sade mental de sua rea; dar suporte e supervisionar
a ateno sade mental na rede bsica, PSF (Programa de
Sade da Famlia), PACS (Programa de Agentes Comunitrios
de Sade); e coordenar, junto com o gestor local, as atividades
de superviso de unidades hospitalares psiquitricas que atuem
no seu territrio.
Os CAPS foram peas-chave na Reforma Psiquitrica
Brasileira consolidada pela Lei 10.216/2001, contribuindo para
organizar uma rede substitutiva dos Hospitais Psiquitricos no
pas. Comearam a surgir no fnal da dcada de 80, mas s
passaram a receber uma linha especfca de fnanciamento do
Ministrio da Sade em 2002, momento em que tiveram grande
expanso.
A Portaria SNAS (Secretaria Nacional de Assistncia Sade)
224, de 29 de janeiro de 1992, foi a primeira a trazer linhas gerais
do que seriam os CAPS. Disps sobre o funcionamento dos
hospitais psiquitricos e regulamentou os chamados Ncleos/
Centros de ateno psicossocial (NAPS/CAPS), que seriam
unidades de sade locais para oferecer atendimento de cuidados
intermedirios entre o regime ambulatorial e a internao
hospitalar. A assistncia nos NAPS/CAPS previa atendimento
individual (medicamentoso, psicoterpico, de orientao, entre
outros), atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo,
atendimento em ofcina teraputica, atividades socioterpicas,
dentre outras), visitas domiciliares, atendimento famlia; alm
de atividades comunitrias enfocando a integrao do doente
mental na comunidade e sua insero social. A Portaria SNAS 224
tambm instituiu o chamado Hospital-Dia e defniu procedimentos
para servios de urgncia psiquitrica em hospitais gerais
tudo com o objetivo de evitar a internao hospitalar integral,
68
incentivando o paciente a retornar ao convvio social.
A base normativa para implantao e funcionamento dos CAPS
s foi estabelecida pelas Portarias Ministeriais GM (Gabinete do
Ministro) 336 e SAS (Secretaria de Ateno Sade) 189, ambas
de 2002, durante o mandato do ento Ministro da Sade Jos
Serra.
A Portaria GM 336, de 19 de fevereiro de 2002, acrescentou
novos parmetros aos defnidos pela Portaria SNAS 224 de
1992 para a rea ambulatorial, ampliando a abrangncia dos
servios substitutivos de ateno diria, estabelecendo portes
diferenciados a partir de critrios populacionais, e direcionando
novos servios especfcos para rea de lcool e outras drogas,
bem como para a infncia e adolescncia. A Portaria GM 336
tambm criou mecanismo de fnanciamento prprio para a rede
CAPS e, em maro de 2002, a Portaria SAS 189 fortaleceu o
sistema de fnanciamento da rede, inserindo novos procedimentos
ambulatoriais na tabela do SUS.
A Portaria GM 336 tambm estabeleceu a importante diviso
dos CAPS de acordo com as seguintes modalidades de servios:
CAPS I, CAPS II e CAPS III, defnidos por ordem crescente de
porte/complexidade e abrangncia populacional.
Os CAPS I so os Centros de Ateno Psicossocial de menor
porte, para municpios com populao entre 20.000 e 50.000
habitantes. Estes servios tm equipe mnima de 9 profssionais e
atendem adultos com transtornos mentais severos e persistentes,
alm de transtornos decorrentes do uso de lcool e outras
drogas. Funcionam durante os cinco dias teis da semana, e tm
capacidade para o acompanhamento de cerca de 240 pessoas
por ms.
Os CAPS II so servios de mdio porte, e do cobertura a
municpios com mais de 50.000 habitantes. Atendem adultos
com transtornos mentais severos e persistentes. Os CAPS
II tm equipe mnima de 12 profssionais e capacidade para o
acompanhamento de cerca de 360 pessoas por ms. Funcionam
durante os cinco dias teis da semana.
Os CAPS III so os servios de maior porte da rede CAPS e
foram previstos para dar cobertura aos municpios com mais de
69
200.000 habitantes. Prestam servios de grande complexidade
e funcionam durante 24 horas em todos os dias da semana e
em feriados. Quando necessrio, podem at realizar internaes
curtas, de algumas horas a no mximo 7 dias. A equipe mnima
para os CAPS III deve contar com 16 profssionais, alm de equipe
noturna e de fnal de semana. Estes servios tm capacidade para
realizar o acompanhamento de cerca de 450 pessoas por ms.
Alm dos CAPS I, II, e III, h previso de dois outros tipos
de CAPS para atender demanda de servios em sade mental
nos municpios com mais de 200.000 habitantes os CAPSi e
CAPSad.
Os CAPSi so especializados no atendimento de crianas e
adolescentes com transtornos mentais. Funcionam durante os
cinco dias teis da semana, e tm capacidade para realizar o
acompanhamento de cerca de 180 crianas e adolescentes por
ms. A equipe mnima para estes servios de 11 profssionais.
Os CAPSad, especializados no atendimento de pessoas
que fazem uso prejudicial de lcool e outras drogas, ou cidades
que, por sua localizao geogrfca (municpios de fronteira, ou
parte de rota de trfco de drogas) ou cenrios epidemiolgicos,
necessitem deste servio para dar resposta efetiva s demandas
de sade mental. Funcionam durante os cinco dias teis da
semana, e tm capacidade para realizar o acompanhamento de
cerca de 240 pessoas por ms. A equipe mnima prevista para
os CAPSad composta por 13 profssionais. Destaque-se, no
entanto, que a Portaria SAS 384, de 05 de julho de 2005, tambm
autorizou os CAPS I a realizarem procedimentos de ateno a
usurios de lcool e outras drogas.
De acordo com o ltimo levantamento divulgado pelo Ministrio
da Sade em 31 de outubro de 2008, existe hoje no pas o total
de 1291 unidades de CAPS - sendo 47% CAPS I (603 unidades),
29% CAPS II (372 unidades), 3% CAPS III (39 unidades), 7%
CAPSi (94 unidades) e 14% CAPSad (183 unidades). No mbito
do SUS, os Centros de Ateno Psicossossial (CAPS) constituem-
se servio ambulatorial de ateno diria e funcionam segundo
lgica territorial ( 2 do art. 2 da Portaria GM/MS n 336/2002).
Os CAPS funcionam de modo independente de qualquer
70
estrutura hospitalar (art. 3), sendo que essa independncia
implica estrutura fsica, acesso privativo e equipe profssional
prpria (art. 3, nico). Existem diferentes nveis funcionais dos
CAPS, conforme especifca o art. 4 da citada Portaria:
Art. 4. Defnir que as modalidades de servios
estabelecidas pelo artigo 1 desta Portaria correspondem
s caractersticas abaixo discriminadas:
4.1. CAPS I Servio de ateno psicossocial com
capacidade operacional para atendimento em municpios
com populao entre 20.000 e 70.000 habitantes, com as
seguintes caractersticas:
a) responsabilizar-se, sob coordenao do gestor local,
pela organizao da demanda e da rede de cuidados em
sade mental no mbito do seu territrio;
b) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel
de regulador da porta de entrada da rede assistencial
no mbito do seu territrio e/ou do mdulo assistencial,
defnido na Norma Operacional de Assistncia Sade
(NOAS), de acordo com a determinao do gestor local;
c) coordenar, por delegao do gestor local, as atividades
de superviso de unidades hospitalares psiquitricas no
mbito do seu territrio;
d) supervisionar e capacitar as equipes de ateno bsica,
servios e programas de sade mental no mbito do seu
territrio e/ou do mdulo assistencial;
e) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos
pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a
rea de Sade Mental regulamentados pela Portaria/GM/
MS no 1.077,
de 24 de agosto de 1999, e medicamentos excepcionais,
regulamentados pela Portaria/SAS/MS no 341, de 22 de
agosto de 2001, dentro de sua rea assistencial;
f) funcionar no perodo de 8 s 18 horas, em 2 (dois)
turnos, durante os cinco dias teis da semana.
4.1.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPS I
inclui as seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, entre outros);
71
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo
operativo, atividades de suporte social, entre outras);
c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por
profssional de nvel superior ou nvel mdio;
d) visitas domiciliares;
e) atendimento famlia;
f) atividades comunitrias enfocando a integrao do
paciente na comunidade e sua insero familiar e social;
g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria, os assistidos em dois turnos (8 horas)
recebero duas refeies dirias.
4.1.2. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para atuao no CAPS I, para
o atendimento de 20 (vinte) pacientes por turno, tendo
como limite mximo 30 (trinta) pacientes/dia, em regime
de atendimento intensivo, ser composta por:
a) 1 (um) mdico com formao em sade mental;
b) 1 (um) enfermeiro;
c) 3 (trs) profssionais de nvel superior entre as
seguintes categorias profssionais: psiclogo, assistente
social, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro
profssional necessrio ao projeto teraputico;
d) 4 (quatro) profssionais de nvel mdio: tcnico e/ou
auxiliar de enfermagem, tcnico administrativo, tcnico
educacional e arteso.
4.2. CAPS II Servio de ateno psicossocial com
capacidade operacional para atendimento em municpios
com populao entre 70.000 e 200.000 habitantes, com
as seguintes caractersticas:
a) responsabilizar-se, sob coordenao do gestor local,
pela organizao da demanda e da rede de cuidados em
sade mental no mbito do seu territrio;
b) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel
de regulador da porta de entrada da rede assistencial
no mbito do seu territrio e/ou do mdulo assistencial,
defnido na Norma Operacional de Assistncia Sade
(NOAS), por determinao do gestor local;
c) coordenar, por delegao do gestor local, as atividades
de superviso de unidades hospitalares psiquitricas no
mbito do seu territrio;
72
d) supervisionar e capacitar as equipes de ateno bsica,
servios e programas de sade mental no mbito do seu
territrio e/ou do mdulo assistencial;
e) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos
pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a
rea de Sade Mental regulamentados pela Portaria/GM/
MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos
excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS
no 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua rea
assistencial;
f) funcionar de 8 s 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante
os cinco dias teis da semana, podendo comportar um
terceiro turno funcionando at s 21 horas.
4.2.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPS II
inclui as seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, entre outros);
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo
operativo, atividades de suporte social, entre outras);
c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por
profssional de nvel superior ou nvel mdio;
d) visitas domiciliares;
e) atendimento famlia;
f) atividades comunitrias enfocando a integrao do
doente mental na comunidade e sua insero familiar e
social;
g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria: os assistidos em dois turnos (8 horas)
recebero duas refeies dirias.
4.2.2. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para atuao no CAPS II, para
o atendimento de 30 (trinta) pacientes por turno, tendo
como limite mximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/dia,
em regime intensivo, ser composta por:
a) 1 (um) mdico psiquiatra;
b) 1 (um) enfermeiro com formao em sade mental;
c) 4 (quatro) profssionais de nvel superior entre as
seguintes categorias profssionais: psiclogo, assistente
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou
outro profssional necessrio ao projeto teraputico;
d) 6 (seis) profssionais de nvel mdio: tcnico e/ou
73
auxiliar de enfermagem, tcnico administrativo, tcnico
educacional e arteso.
4.3. CAPS III Servio de ateno psicossocial com
capacidade operacional para atendimento em municpios
com populao acima de 200.000 habitantes, com as
seguintes caractersticas:
a) constituir-se em servio ambulatorial de ateno
contnua, durante 24 horas diariamente, incluindo feriados
e fnais de semana;
b) responsabilizar-se, sob coordenao do gestor local,
pela organizao da demanda e da rede de cuidados em
sade mental no mbito do seu territrio;
c) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel
de regulador da porta de entrada da rede assistencial
no mbito do seu territrio e/ou do mdulo assistencial,
defnido na Norma Operacional de Assistncia Sade
(NOAS), por determinao do gestor local;
d) coordenar, por delegao do gestor local, as atividades
de superviso de unidades hospitalares psiquitricas no
mbito do seu territrio;
e) supervisionar e capacitar as equipes de ateno bsica,
servios e programas de sade mental no mbito do seu
territrio e/ou do mdulo assistencial;
f ) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos
pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a
rea de Sade Mental regulamentados pela Portaria/GM/
MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos
excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS
no 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua rea
assistencial;
g) estar referenciado a um servio de atendimento de
urgncia/emergncia geral de sua regio, que far o
suporte de ateno mdica.
4.3.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPS III
inclui as seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, orientao, entre outros);
b) atendimento grupos (psicoterapia, grupo operativo,
atividades de suporte social, entre outras);
c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por
74
profssional de nvel superior ou nvel mdio;
d) visitas e atendimentos domiciliares;
e) atendimento famlia;
f) atividades comunitrias enfocando a integrao do
doente mental na comunidade e sua insero familiar e
social;
g) acolhimento noturno, nos feriados e fnais de semana,
com no mximo 5 (cinco) leitos, para eventual repouso e/
ou observao;
h) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria, os assistidos em dois turnos (8 horas)
recebero duas refeies dirias e os que permanecerem
no servio durante 24 horas contnuas recebero quatro
refeies dirias;
i) a permanncia de um mesmo paciente no acolhimento
noturno fca limitada a 7 (sete) dias corridos ou 10 (dez)
dias intercalados em um perodo de 30 (trinta) dias.
4.3.2. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para atuao no CAPS III, para o
atendimento de 40 (quarenta) pacientes por turno, tendo
como limite mximo 60 (sessenta) pacientes/dia, em
regime intensivo, ser composta por:
a) 2 (dois) mdicos psiquiatras;
b) 1 (um) enfermeiro com formao em sade mental;
c) 5 (cinco) profssionais de nvel superior entre as
seguintes categorias: psiclogo, assistente social,
enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro
profssional necessrio ao projeto teraputico;
d) 8 (oito) profssionais de nvel mdio: tcnico e/ou
auxiliar de enfermagem, tcnico administrativo, tcnico
educacional e arteso.
4.3.2.1. Para o perodo de acolhimento noturno, em
plantes corridos de 12 horas, a equipe deve ser composta
por:
a) 3 (trs) tcnicos/auxiliares de enfermagem, sob
superviso do enfermeiro do servio;
b) 1 (um) profssional de nvel mdio da rea de apoio.
4.3.2.2. Para as 12 horas diurnas, nos sbados,
domingos e feriados, a equipe deve ser composta por:
a) 1 (um) profssional de nvel superior dentre as
seguintes categorias: mdico, enfermeiro, psiclogo,
75
assistente social, terapeuta ocupacional ou outro
profssional de nvel superior justifcado pelo projeto
teraputico;
b) 3 (trs) tcnicos/auxiliares tcnicos de enfermagem,
sob superviso do enfermeiro do servio;
c) 1 (um) profssional de nvel mdio da rea de apoio.
4.4. CAPSi II Servio de ateno psicossocial para
atendimentos a crianas e adolescentes, constituindo-se
na referncia para uma populao de cerca de 200.000
habitantes, ou outro parmetro populacional a ser defnido
pelo gestor local, atendendo a critrios epidemiolgicos,
com as seguintes caractersticas:
a) constituir-se em servio ambulatorial de ateno diria
destinado a crianas e adolescentes com transtornos
mentais;
b) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel
de regulador da porta de entrada da rede assistencial
no mbito do seu territrio e/ou do mdulo assistencial,
defnido na Norma Operacional de Assistncia Sade
(NOAS), de acordo com a determinao do gestor local;
c) responsabilizar-se, sob coordenao do gestor local,
pela organizao da demanda e da rede de cuidados em
sade mental de crianas e adolescentes no mbito do
seu territrio;
d) coordenar, por delegao do gestor local, as atividades
de superviso de unidades de atendimento psiquitrico a
crianas e adolescentes no mbito do seu territrio;
e) supervisionar e capacitar as equipes de ateno
bsica, servios e programas de sade mental no mbito
do seu territrio e/ou do mdulo assistencial, na ateno
infncia e adolescncia;
f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos
pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a
rea de Sade Mental regulamentados pela Portaria/GM/
MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos
excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS
no 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua rea
assistencial;
g) funcionar de 8 s 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante
os cinco dias teis da semana, podendo comportar um
76
terceiro turno que funcione at s 21 horas.
4.4.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPSi II
inclui as seguintes
atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, entre outros);
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo
operativo, atividades de suporte social, entre outros);
c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por
profssional de nvel superior ou nvel mdio;
d) visitas e atendimentos domiciliares;
e) atendimento famlia;
f) atividades comunitrias enfocando a integrao da
criana e do adolescente na famlia, na escola, na
comunidade ou quaisquer outras formas de insero
social;
g) desenvolvimento de aes intersetoriais, principalmente
com as reas de assistncia social, educao e justia;
h) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria, os assistidos em dois turnos (8 horas)
recebero duas refeies dirias.
4.4.2. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para atuao no CAPSi II, para
o atendimento de 15 (quinze) crianas e/ou adolescentes
por turno, tendo como limite mximo 25 (vinte e cinco)
pacientes/dia, ser composta por:
a) 1 (um) mdico psiquiatra, ou neurologista ou pediatra
com formao em sade mental;
b) 1 (um) enfermeiro;
c) 4 (quatro) profssionais de nvel superior entre as
seguintes categorias profssionais: psiclogo, assistente
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, fonoaudilogo,
pedagogo ou outro profssional necessrio ao projeto
teraputico;
d) 5 (cinco) profssionais de nvel mdio: tcnico e/ou
auxiliar de enfermagem, tcnico administrativo, tcnico
educacional e arteso.
4.5. CAPSad II Servio de ateno psicossocial para
atendimento de pacientes com transtornos decorrentes
do uso e dependncia de substncias psicoativas, com
77
capacidade operacional para atendimento em municpios
com populao superior a 70.000, com as seguintes
caractersticas:
a) constituir-se em servio ambulatorial de ateno diria,
de referncia para rea de abrangncia populacional
defnida pelo gestor local;
b) sob coordenao do gestor local, responsabilizar-se
pela organizao da demanda e da rede de instituies
de ateno a usurios de lcool e drogas, no mbito de
seu territrio;
c) possuir capacidade tcnica para desempenhar o papel
de regulador da porta de entrada da rede assistencial local
no mbito de seu territrio e/ou do mdulo assistencial,
defnido na Norma Operacional de Assistncia Sade
(NOAS), de acordo com a determinao do gestor local;
d) coordenar, no mbito de sua rea de abrangncia e por
delegao do gestor local, as atividades de superviso de
servios de ateno a usurios de drogas, em articulao
com o Conselho Municipal de Entorpecentes;
e) supervisionar e capacitar as equipes de ateno bsica,
servios e programas de sade mental local no mbito do
seu territrio e/ou do mdulo assistencial;
f) realizar, e manter atualizado, o cadastramento dos
pacientes que utilizam medicamentos essenciais para a
rea de Sade Mental regulamentados pela Portaria/GM/
MS no 1.077, de 24 de agosto de 1999, e medicamentos
excepcionais, regulamentados pela Portaria/SAS/MS
no 341, de 22 de agosto de 2001, dentro de sua rea
assistencial;
g) funcionar de 8 s 18 horas, em 2 (dois) turnos, durante
os cinco dias teis da semana, podendo comportar um
terceiro turno funcionando at s 21 horas;
h) manter de 2 (dois) a 4 (quatro) leitos para desintoxicao
e repouso.
4.5.1. A assistncia prestada ao paciente no CAPSad
II para pacientes com transtornos decorrentes do uso
e dependncia de substncias psicoativas inclui as
seguintes atividades:
a) atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, entre outros);
b) atendimento em grupos (psicoterapia, grupo
78
operativo, atividades de suporte social, entre outras);
c) atendimento em ofcinas teraputicas executadas por
profssional de nvel superior ou nvel mdio;
d) visitas e atendimentos domiciliares;
e) atendimento famlia;
f) atividades comunitrias enfocando a integrao do
dependente qumico na comunidade e sua insero
familiar e social;
g) os pacientes assistidos em um turno (4 horas) recebero
uma refeio diria; os assistidos em dois turnos (8 horas)
recebero duas refeies dirias;
h) atendimento de desintoxicao.
4.5.2. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para atuao no CAPSad II para
atendimento de 25 (vinte e cinco) pacientes por turno,
tendo como limite mximo 45 (quarenta e cinco) pacientes/
dia, ser composta por:
a) 1 (um) mdico psiquiatra;
b) 1 (um) enfermeiro com formao em sade mental;
c) 1 (um) mdico clnico, responsvel pela triagem,
avaliao e acompanhamento das intercorrncias clnicas;
d) 4 (quatro) profssionais de nvel superior entre as
seguintes categorias profssionais: psiclogo, assistente
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou
outro profssional necessrio ao projeto teraputico;
e) 6 (seis) profssionais de nvel mdio: tcnico e/ou
auxiliar de enfermagem, tcnico administrativo, tcnico
educacional e arteso.
Fica claro, portanto, que nos CAPS I deve ser oferecido o
servio de psicoterapia individual e em grupo, sendo que a equipe
mnima deve incluir trs profssionais de nvel superior, entre os
seguintes: psiclogo, assistente social, terapeuta ocupacional,
pedagogo ou outro profssional necessrio ao projeto teraputico
(art. 4, 4.1.1 e 4.1.2, da Portaria GM/MS n 336/2002). Da mesma
forma, no CAPS II devem ser oferecidos os mesmos servios,
sendo que a equipe mnima deve incluir quatro profssionais
de nvel superior, entre os seguintes: psiclogo, assistente
social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro
profssional necessrio ao projeto teraputico (art. 4, 4.2.1 e
79
4.2.2, da Portaria GM/MS n 336/2002). Igualmente, no CAPS III
so ofertados esses servios, com equipe que contemple cinco
profssionais de nvel superior, entre os seguintes: psiclogo,
assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo
ou outro profssional necessrio ao projeto teraputico (art. 4,
4.3.1 e 4.3.2, da Portaria GM/MS n 336/2002).
Os CAPS III tambm oferecem acolhimento noturno, nos
feriados e fnais de semana, com no mximo 5 (cinco) leitos, para
eventual repouso e/ou observao, sendo que a permanncia
de um mesmo paciente no acolhimento noturno fca limitada a 7
(sete) dias corridos ou 10 (dez) dias intercalados em um perodo
de 30 (trinta) dias (art. 4, 4.3.1, g e i, respectivamente, da Portaria
GM/MS n 336/2002).
Os CAPS I, II e III prestam ateno ambulatorial para a sade
mental em geral, havendo Centros de Ateno Psicossocial
especfcos para o cuidado de crianas/adolescentes e de
pacientes com transtornos decorrentes do uso e dependncia de
substncias psicoativas.
Deste modo, nos CAPSi II, os quais prestam servio de ateno
psicossocial para atendimentos a crianas e adolescentes,
novamente esto previstos os servios de psicoterapia
individual e em grupo, sendo que a equipe mnima deve incluir
quatro profssionais de nvel superior, entre os seguintes:
psiclogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta ocupacional,
fonoaudilogo, pedagogo ou outro profssional necessrio ao
projeto teraputico (art. 4, 4.4.1 e 4.4.2, da Portaria GM/MS n
336/2002). Dada a sua importncia, os CAPSi foram objeto de
um plano estratgico de expanso no ano de 2004, defnido pela
Portaria GM/MS 1.947/2003.
Finalmente, nos CAPSad, os quais prestam servio de ateno
psicossocial para atendimento de pacientes com transtornos
decorrentes do uso e dependncia de substncias psicoativas,
esses servios esto mais uma vez previstos, exigindo-se que da
equipe mnima faam parte quatro profssionais de nvel superior,
entre os seguintes: psiclogo, assistente social, enfermeiro,
terapeuta ocupacional, pedagogo ou outro profssional necessrio
ao projeto teraputico (art. 4, 4.5.1 e 4.5.2, da Portaria GM/MS
80
n 336/2002). Isso foi confrmado pela Portaria SAS n 305/2002.
De modo mais abrangente, os CAPSad e demais ambulatrios
so componentes do Programa de Ateno Integral a Usurios de
lcool e outras Drogas (Portaria GM/MS n 2.197/2004).
Cumpre ainda referir que os CAPS prestam atendimento
ambulatorial de trs ordens: intensivo (atendimento dirio), semi-
intensivo (acompanhamento freqente) e no-intensivo, conforme
o art. 5 da Portaria GM/MS n 336/2002.
Note-se que, antes da atual confgurao dos CAPS I, II, III,
i e ad, a Portaria SNAS n 224/92 havia estabelecido Ncleos e
Centros de Ateno Psicossocial (NAPS e CAPS), j prevendo
atendimento psicossocial individual e em grupo, bem como a
atuao de psiclogos em seus quadros.
Alm do atendimento em CAPS, a Portaria SNAS n 224/92
defniu normas para os servios de sade mental a serem
oferecidos em unidades bsicas, centros de sade e ambulatrios
(grifado):
1. Unidade bsica, centro de sade e ambulatrio.
1.1. O atendimento em sade mental prestado em nvel
ambulatorial compreende um conjunto diversifcado de
atividades desenvolvidas nas unidades bsicas/centro de
sade e/ou ambulatrios especializados, ligados ou no a
policlnicas, unidades mistas ou hospitais.
1.2. Os critrios de hierarquizao e regionalizao da
rede, bem como a defnio da populao-referncia de
cada unidade assistencial sero estabelecidas pelo rgo
gestor local.
1.3. A ateno aos pacientes nestas unidades de sade
dever incluir as seguintes atividades desenvolvidas por
equipes multiprofssionais:
atendimento individual (consulta, psicoterapia, dentre
outros);
atendimento grupal (grupo operativo, teraputico,
atividades socioterpicas, grupos de orientao, atividades
de sala de espera, atividades educativas em sade);
visitas domiciliares por profssional de nvel mdio ou
superior;
atividades comunitrias, especialmente na rea de
81
referncia do servio de sade.
1.4. Recursos Humanos
Das atividades acima mencionadas, as seguintes podero
ser executadas por profssionais de nvel mdio:
atendimento em grupo (orientao, sala de espera);
visita domiciliar;
atividades comunitrias.
A equipe tcnica de sade mental para atuao nas
unidades bsicas/ centros de sade dever ser defnida
segundo critrios do rgo gestor local, podendo
contar com equipe composta por profssionais
especializados (mdico psiquiatra, psiclogo e
assistente social) ou com equipe integrada por outros
profssionais (mdico generalista, enfermeiro, auxiliares,
agentes de sade).
No ambulatrio especializado, a equipe
multiprofssional dever ser composta por diferentes
categorias de profssionais especializados (mdico
psiquiatra, mdico clnico, psiclogo, enfermeiro,
assistente social, terapeuta ocupacional, fonoaudilogo,
neurologista e pessoal auxiliar), cuja composio e
atribuies sero defnidas pelo rgo gestor local.
Percebe-se que as determinaes da Portaria SNAS n 224/92
confrmam a multiprofssionalidade e a participao de servios
psicolgicos no atendimento ambulatorial em sade mental.
Ademais, importante citar a Portaria GM/MS n 1.635/2002,
que inclui no Sistema de Informaes Ambulatoriais do
Sistema nico de Sade (SIA-SUS), procedimento especfco
que garante s pessoas portadoras de defcincia mental e de
autismo assistncia por intermdio de equipe multiprofssional e
multidisciplinar, utilizando-se de mtodos e tcnicas teraputicas
especfcas.
Portanto, a regulao do atendimento ambulatorial em sade
mental no mbito do SUS obedece proposta de ateno integral
e prestigia a multiprofssionalidade, exigindo a presena do
psiclogo nos quadros de recursos humanos.
82
6.1.2. Atendimento hospitalar em sade mental no SUS
No que concerne ao atendimento hospitalar de doentes mentais,
a legislao brasileira, no contexto da reforma psiquitrica,
considera excepcional a hiptese de internao, de acordo com o
art. 4 da Lei 12.216/01:
A internao, em qualquer de suas modalidades, s
ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insufcientes.
1
o
O tratamento visar, como fnalidade permanente, a
reinsero social do paciente em seu meio.
2
o
O tratamento em regime de internao ser estruturado
de forma a oferecer assistncia integral pessoa portadora
de transtornos mentais, incluindo servios mdicos, de
assistncia social, psicolgicos, ocupacionais, de lazer, e
outros.
3
o
vedada a internao de pacientes portadores de
transtornos mentais em instituies com caractersticas
asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos
mencionados no 2
o
e que no assegurem aos pacientes
os direitos enumerados no pargrafo nico do art. 2
o
.
E de modo ainda mais protetivo, a legislao estabelece que
haja poltica especfca para o paciente que esteja hospitalizado
h muito tempo (art. 5):
O paciente h longo tempo hospitalizado ou para o qual se
caracterize situao de grave dependncia institucional,
decorrente de seu quadro clnico ou de ausncia de suporte
social, ser objeto de poltica especfca de alta planejada
e reabilitao psicossocial assistida, sob responsabilidade
da autoridade sanitria competente e superviso de
instncia a ser defnida pelo Poder Executivo, assegurada
a continuidade do tratamento, quando necessrio.
Entre os elementos de cumprimento do art. 5 da Lei 10.216/01,
encontra-se o programa De Volta pra Casa, coordenado pelo
Ministrio da Sade. Para contribuir para a reabilitao psicossocial
83
de pacientes mentais egressos de internaes, foi estabelecido,
pela Lei 10.708/03, o auxlio-reabilitao psicossocial, cuja
regulamentao dada pela Portaria GM/MS n 2.077/03. Com
a fnalidade de facilitar a assistncia, o acompanhamento e a
integrao do paciente sociedade, este benefcio mais um
instrumento de efetivao da luta antimanicomial.
Outro instrumento para a diminuio das internaes ao
mnimo necessrio a regulao de Servios Residenciais
Teraputicos em Sade Mental Portaria do Gabinete do Ministro
da Sade n 106/00. Estes servios so moradias ou casas
inseridas, preferencialmente, na comunidade, destinadas a cuidar
dos portadores de transtornos mentais, egressos de internaes
psiquitricas de longa permanncia, que no possuam suporte
social e laos familiares e que viabilizem sua insero social
(art. 1, nico). Tais servios constituem uma modalidade
assistencial substitutiva da internao psiquitrica prolongada
(art. 2) e devem estar vinculados, tecnicamente, ao servio
ambulatorial especializado em sade mental mais prximo (art.
5, d). Trata-se, portanto, de atendimento ambulatorial
8
. A esses
servios cabe (art. 3):
a) garantir assistncia aos portadores de transtornos
mentais com grave dependncia institucional que no
tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia
social e no possuam vnculos familiares e de moradia;
b) atuar como unidade de suporte destinada,
prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais
submetidos a tratamento psiquitrico em regime hospitalar
prolongado;
c) promover a reinsero desta clientela vida comunitria.
A tudo isso se soma a poltica de reduo progressiva de
leitos psiquitricos. Neste sentido, a Portaria GM/MS n 52/04 cria
8
Os servios ambulatoriais especializados em sade mental, aos quais os
Servios Residenciais Teraputicos estejam vinculados, devem possuir equipe
tcnica composta por pelo menos um mdico e dois profssionais de nvel mdio
(art. 7 da Portaria GM/MS n 106/2000, com redao dada pela Portaria GM/
MS n 175/2001).
84
o Programa Anual de Reestruturao da Assistncia Psiquitrica
Hospitalar no SUS 2004. O Programa determina o seguinte:
O processo de mudana do modelo assistencial deve ser
conduzido de modo a garantir uma transio segura, onde
a reduo dos leitos hospitalares possa ser planifcada e
acompanhada da construo concomitante de alternativas
de ateno no modelo comunitrio. Aprofundando
estratgia j estabelecida em medidas anteriores da
poltica de sade mental do SUS, a reduo dos leitos
deve conduzir diminuio progressiva dos hospitais
de maior porte, levando em conta sua localizao em
regies de maior densidade de leitos hospitalares, e deve
estar ancorada num processo permanente de avaliao
da qualidade do atendimento hospitalar prestado, o que
vem sendo realizado anualmente atravs do PNASH-
Psiquiatria. Na mesma direo estratgica, a recomposio
das dirias hospitalares deve ser instrumento da
poltica de reduo racional dos leitos e qualifcao do
atendimento. A estratgia deve garantir tambm que os
recursos fnanceiros que deixarem progressivamente
de ser utilizados no componente hospitalar possam
ser direcionados s aes territoriais e comunitrias de
sade mental, como os centros de ateno psicossocial,
servios residenciais teraputicos, ambulatrios, ateno
bsica e outros. Finalmente, necessrio assegurar
que o processo seja conduzido, na melhor tradio do
SUS, atravs de pactuaes sucessivas entre gestores
(municipais, estaduais e federal), prestadores de servios
e instncias de controle social.
Ademais, o Conselho Nacional de Poltica Criminal e
Penitenciria, por meio de sua Resoluo n 5/2004, estabeleceu
que a converso do tratamento ambulatorial em internao s
ser feita com base em critrios clnicos, no sendo bastante para
justifc-la a ausncia de suporte scio-familiar ou comportamento
visto como inadequado (item 10 do Anexo).
Portanto, o atendimento hospitalar a ultima ratio da ateno
sade mental no mbito do SUS. Esse entendimento confrmado
pela Portaria GM/MS n 2.391/2002, que determina, no art. 2,
85
que a internao psiquitrica somente dever ocorrer aps todas
as tentativas de utilizao das demais possibilidades teraputicas
e esgotados todos os recursos extra-hospitalares disponveis na
rede assistencial, com a menor durao temporal possvel. Isso
se coaduna com a tendncia internacional de reforma psiquitrica,
que tem como marco, no continente americano, a Declarao
de Caracas de 1990 e, em mbito mundial, os Princpios para a
proteo de pessoas acometidas de transtorno mental e a melhoria
da assistncia sade mental, adotados pela Assemblia Geral
das Naes Unidas em 1992.
Embora hiptese excepcional, a internao, quando
necessria, dever oferecer assistncia integral. A legislao
especfca, portanto, est atenta ao princpio da integralidade da
ateno sade, que se constitui em um dos pilares do Sistema
nico de Sade (SUS), conforme o art. 7, inc. II, da Lei 8080/90.
A legislao, no dispositivo supra citado, exemplifca alguns
elementos necessrios integralidade do atendimento da sade
mental (art. 4, 2, da Lei 10.216/01):
- servios mdicos;
- servios de assistncia social;
- servios psicolgicos;
- servios de assistncia social;
- servios ocupacionais;
- servios de lazer.
Essa complementaridade entre as profsses da rea da sade
confrmada em normas infra-legais. A Portaria Interministerial
n 628/02, estabelecida pelos Ministrios da Sade e da Justia,
determina que nas unidades do sistema prisional, inclusive nas
unidades psiquitricas, obrigatrio haver, para cada quinhentos
presos, uma equipe mnima de ateno bsica de sade, composta
por mdico, enfermeiro, odontlogo, assistente social, psiclogo,
auxiliar de enfermagem e auxiliar de consultrio dentrio, em
carga horria de pelo menos 20 horas semanais, com suprimento
regular de medicamentos bsicos (art. 9).
Portanto, na legislao brasileira, os servios psicolgicos
esto expressamente includos no conjunto de servios essenciais
86
realizao do direito humano fundamental sade.
Dito de outro modo, quando houver internao psiquitrica,
dever haver o oferecimento de servios psicolgicos. Logo,
o psiclogo um profssional necessrio na organizao da
assistncia sade mental.
No obstante isso, no cabe ao psiclogo determinar pela
internao do paciente mental, pois apenas mdico, devidamente
registrado no Conselho Regional de Medicina do Estado onde se
situe o estabelecimento de internao, tem essa prerrogativa (art.
8, Lei 10.216/01), alm da hiptese de internao compulsria
determinada judicialmente (art. 9). A tipologia legal da internao
psiquitrica, de acordo com a Portaria GM/MS n 2.391/2002,
engloba quatro possibilidades (art. 3):
Internao psiquitrica voluntria (IPV): expressamente
consentida pelo paciente;
Internao psiquitrica involuntria (IPI): sem
consentimento expresso do paciente;
Internao psiquitrica voluntria que se torna involuntria
(IPVI): paciente discorda com a manuteno da internao;
Internao psiquitrica compulsria (IPC): determinada
por medida judicial.
Portanto, todas as pessoas que sejam internadas
(voluntariamente, sob determinao mdica ou compulsoriamente),
uma vez que estejam e ambiente hospitalar psiquitrico, tem
direito a atendimento integral que englobe, necessariamente, os
servios psicolgicos.
De acordo com a Portaria GM/MS n 251/2002, atribuio
intransfervel do gestor local do Sistema nico de Sade
estabelecer o limite das internaes em psiquiatria e o controle
da porta de entrada das internaes hospitalares, estabelecendo
instrumentos e mecanismos especfcos e resolutivos
de atendimento nas situaes de urgncia/emergncia,
preferencialmente em servios extra-hospitalares ou na rede
hospitalar no especializada (art. 8).
Outro tema relevante na anlise da regulao da sade mental
diz respeito qualidade dos servios de sade. Neste sentido,
87
a Portaria GM/MS n 799/00 criou o Programa Permanente
de Organizao e Acompanhamento das Aes Assistenciais
em Sade Mental, o qual contempla, entre suas atividades,
superviso e avaliao, in loco, dos hospitais psiquitricos que
compem a rede assistencial do Sistema nico de Sade, tendo
em vista a adoo de medidas que reforcem a continuidade do
processo de reverso do modelo de ateno sade mental
institudo no Pas (art. 1, nico, b).
De modo mais especfco, o processo sistemtico e anual
de avaliao e superviso da rede hospitalar especializada de
psiquiatria, assim como de hospitais gerais com enfermarias
ou leitos psiquitricos, foi estabelecido pela Portaria GM/MS n
251/02. Esta Portaria tambm estabelece as diretrizes e normas
para o atendimento hospitalar na sade mental no mbito do
SUS. Primeiramente, so elencadas as seguintes diretrizes:
Consolidar a implantao do modelo de ateno
comunitrio, de base extra-hospitalar, articulado em
rede diversifcada de servios territoriais, capazes
de permanentemente promover a integrao social e
assegurar os direitos dos pacientes;
Organizar servios com base nos princpios da
universalidade, hierarquizao, regionalizao e
integralidade das aes;
Garantir a diversidade dos mtodos e tcnicas
teraputicas nos vrios nveis de complexidade
assistencial;
Assegurar a continuidade da ateno nos vrios
nveis;
Assegurar a multiprofssionalidade na prestao de
servios
Garantir a participao social, desde a formulao
das polticas de sade mental at o controle de sua
execuo.
Articular-se com os planos diretores de regionalizao
estabelecidos pela NOAS-SUS 01/2001;
Defnir que os rgos gestores locais sejam
responsveis pela regulamentao local que couber,
das presentes normas, e pelo controle e avaliao dos
servios prestados.
88
Note-se que essas diretrizes corroboram a luta antimanicomial
e a reforma psiquitrica, reafrmam a integralidade de assistncia
e confrmam a multiprofssionalidade nos servios de sade
mental no SUS.
A Portaria GM/MS n 251/02 estabelece, ainda, as normas
para o atendimento hospitalar psiquitrico. Quando a maioria dos
leitos de um hospital for destinada ao tratamento especializado
de pacientes psiquitricos em regime de internao, este ser
considerado um hospital psiquitrico. proibida a existncia
de celas e garantida a inviolabilidade de correspondncia dos
internados. De acordo com a necessidade de cada paciente,
obrigatrio haver:
a) avaliao mdico-psicolgica e social;
b) garantia do atendimento dirio ao paciente por, no
mnimo, um membro da equipe multiprofssional, de
acordo com o projeto teraputico individual;
c) atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia
breve, terapia ocupacional, dentre outros);
d) atendimento grupal (grupo operativo, psicoterapia em
grupo, atividades socioterpicas);
e) preparao do paciente para a alta hospitalar, garantindo
sua referncia para a continuidade do tratamento em
servio territorial com programa de ateno compatvel
com sua necessidade (ambulatrio, hospital-dia, ncleo/
centro de ateno psicossocial), e para residncia
teraputica quando indicado, sempre com o objetivo de
promover a reintegrao social e familiar do paciente e
visando prevenir a ocorrncia de outras internaes;
f) essas atividades devero constituir o projeto teraputico
da instituio, defnido como o conjunto de objetivos
e aes, estabelecidos e executados pela equipe
multiprofssional, voltados para a recuperao do paciente,
desde a admisso at a alta. Inclui o desenvolvimento de
programas especfcos e interdisciplinares, adequados
caracterstica da clientela, e compatibiliza a proposta
de tratamento com a necessidade de cada usurio
e de sua famlia. Envolve, ainda, a existncia de um
sistema de referncia e contra-referncia que permite
o encaminhamento do paciente aps a alta, para a
89
continuidade do tratamento. Representa, enfm, a
existncia de uma flosofa que norteia e permeia todo o
trabalho institucional, imprimindo qualidade assistncia
prestada. O referido projeto dever ser apresentado por
escrito;
g) desenvolvimento de projeto teraputico especfco para
pacientes de longa permanncia aqueles com mais de
01 (um) ano ininterrupto de internao. O projeto deve
conter a preparao para o retorno prpria moradia ou
a servios residenciais teraputicos, ou a outra forma de
insero domiciliar;
h) desenvolvimento de projetos teraputicos especfcos
para pacientes com defcincia fsica e mental grave e
grande dependncia;
i) abordagem famlia: orientao sobre o diagnstico, o
programa de tratamento, a alta hospitalar e a continuidade
do tratamento.
As normas de atendimento da Portaria GM/MS n 251/02
reafrmam a e necessria multiprofssionalidade da ateno
hospitalar em sade mental. Neste sentido, especialmente
no que tange ao tratamento psicolgico, a Portaria em tela
determina que, para cada 60 pacientes internados, deve haver
um psiclogo atuando pelo menos 20 horas semanais. Enfm, h
a determinao expressa no sentido de que a composio dos
recursos humanos deve garantir a continuidade do quantitativo
necessrio em situaes de frias, licenas e outros eventos.
Tambm obrigatria a prestao de servio psicolgico no
atendimento hospitalar especializado para usurios de lcool e
outras drogas. Neste sentido, importante referir a Portaria GM/
MS n 1.612/05, a qual defniu as Normas para funcionamento
e credenciamento/habilitao dos Servios Hospitalares de
Referncia para a ateno integral aos usurios de lcool e
outras drogas SHR-ad. Entre as normas estabelecidas para
SHR-ad, encontra-se a obrigatoriedade de haver, na instituio
hospitalar, projeto tcnico que contemple atividade psicolgica,
atendimento individual psicoterpico e psicoterapia em grupo
(Portaria GM/MS n 1.612/05, Anexo I, item 1.3.2, alneas a, b
e c), bem como projeto teraputico institucional executado por
90
equipe multiprofssional (Portaria GM/MS n 1.612/05, Anexo I,
item 1.3.3.a). Finalmente, a equipe mnima de um Hospital de
Referncia para Ateno Integral aos Usurios de lcool e outras
drogas (SHR-ad) deve incluir um psiclogo (Portaria GM/MS n
1.612/05, Anexo I, item 1.3.5.1.c, e Anexo II). A regulao anterior
previa as mesmas regras (Portaria GM/MS n 1.027/05, Anexo I,
1.3.2.a, 1.3.3.a e 1.3.5.1.c; Anexo II).
Ainda com relao ao SHR-ad, importante referir que esses
servios tem como um de seus objetivos evitar a internao de
usurios de lcool e outras drogas em hospitais psiquitricos,
conforme estabelecem tanto a Portaria GM n 2.197/2004, no seu
art. 5, inciso VII, como a Portaria GM/MS n 1.612/2005, Anexo
I, item 1.3.1, alnea f.
As citadas portarias do Gabinete do Ministro da Sade
confrmam a necessria multiprofssionalidade do atendimento
em sade mental, determinado pelo art. 4, 2, da Lei 10.216/01.
Note-se, porm, que o tema objeto de normatizao desde
o incio dos anos 1990. Com efeito, a Portaria do Secretrio
Nacional de Assistncia Sade (SNAS), do Ministrio da Sade,
n 224/92 inclua, entre as diretrizes de funcionamento dos
servios de sade mental, a multiprofssionalidade na prestao
dos servios.
A Portaria SNAS n 224/92, no que concerne ao atendimento
hospitalar de sade mental, j distinguia entre hospital-dia,
servios de urgncia psiquitrica em hospital geral, leito ou
unidade psiquitrica em hospital geral e hospital especializado
em psiquiatria (grifado):
3. Normas para o atendimento hospitalar (Sistema de
Informaes Hospitalares do SUS)
1. Hospital-dia
1.1. A instituio do hospital-dia na assistncia em
sade mental representa um recurso intermedirio
entre a internao e o ambulatrio, que desenvolve
programas de ateno e cuidados intensivos por equipe
multiprofssional, visando a substituir a internao
integral. A proposta tcnica deve abranger um conjunto
diversifcado de atividades desenvolvidas em at 5 dias da
91
semana (de segunda-feira a sexta-feira), com uma carga
horria de 8 horas dirias para cada paciente.
1.2. O hospital-dia deve situar-se em rea especfca,
independente da estrutura hospitalar, contando com
salas para trabalho em grupo, salas de refeies, rea
externa para atividades ao ar livre e leitos para repouso
eventual. Recomenda-se que o servio do hospital-dia
seja regionalizado, atendendo a uma populao de uma
rea geogrfca defnida, facilitando o acesso do paciente
unidade assistencial. Dever estar integrada a uma rede
descentralizada e hierarquizada de cuidados de sade
mental.
1.3. A assistncia ao paciente em regime de hospital-dia
incluir as seguintes atividades:
atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, dentre outros);
atendimento grupal (psicoterapia, grupo operativo,
atendimento em ofcina teraputica, atividades
socioterpicas, dentre outras);
visitas domiciliares;
atendimento famlia;
atividades comunitrias visando a trabalhar a integrao
do paciente mental na comunidade e sua insero social;
os pacientes em regime de hospital-dia tero direito a
trs refeies: caf da manh, almoo e lanche ou jantar.
1.4. Recursos Humanos
A equipe mnima, por turno de 4 horas, para 30 pacientes-
dia, deve ser composta por:
1 mdico psiquiatra;
1 enfermeiro;
4 outros profssionais de nvel superior (psiclogo,
enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional e/ou
outro profssional necessrio realizao dos trabalhos);
profssionais de nveis mdio e elementar necessrios
ao desenvolvimento das atividades.
(...)
2. Servio de urgncia psiquitrica em hospital geral
2.1. Os servios de urgncia psiquitrica em prontos-
socorros gerais funcionam diariamente durante 24 horas
e contam com o apoio de leitos de internao para at
72 horas, com equipe multiprofssional. O atendimento
92
resolutivo e com qualidade dos casos de urgncia tem por
objetivo evitar a internao hospitalar, permitindo que o
paciente retorne ao convvio social, em curto perodo de
tempo.
2.2. Os servios de urgncia psiquitrica devem ser
regionalizados, atendendo a uma populao residente em
determinada rea geogrfca.
2.3. Estes servios devem oferecer, de acordo com a
necessidade de cada paciente, as seguintes atividades:
a) avaliao mdico-psicolgica e social;
b) atendimento individual (medicamentoso, de
orientao, dentre outros);
c) atendimento grupal (grupo operativo, de orientao);
d) atendimento famlia (orientao, esclarecimento
sobre o diagnstico, dentre outros).
Aps a alta, tanto no pronto atendimento quanto na
internao de urgncia, o paciente dever, quando
indicado, ser referenciado a um servio extra-hospitalar
regionalizado, favorecendo assim a continuidade do
tratamento prximo sua residncia. Em caso de
necessidade de continuidade da internao, deve-se
considerar os seguintes recursos assistenciais: hospital-
dia, hospital geral e hospital especializado.
2.4. Recursos Humanos
No que se refere aos recursos humanos, o servio de
urgncia psiquitrica deve ter a seguinte equipe tcnica
mnima; perodo diurno (servio at 10 leitos para
internaes breves):
1 mdico psiquiatra ou 1 mdico clnico e 1 psiclogo;
1 assistente social;
1 enfermeiro;
profssionais de nveis mdio e elementar necessrios
ao desenvolvimento das atividades.
(...)
3. Leito ou unidade psiquitrica em hospital geral
3.1. O estabelecimento de leitos/unidades psiquitricas em
hospital geral objetiva oferecer uma retaguarda hospitalar
para os casos em que a internao se faa necessria,
aps esgotadas todas as possibilidades de atendimento
em unidades extra-hospitalares e de urgncia. Durante
o perodo de internao, a assistncia ao cliente ser
93
desenvolvida por equipes multiprofssionais.
3.2. O nmero de leitos psiquitricos em hospital geral
no dever ultrapassar 10% da capacidade instalada do
hospital, at um mximo de 30 leitos. Devero, alm dos
espaos prprios de um hospital geral, ser destinadas
salas para trabalho em grupo (terapias, grupo operativo,
dentre outros). Os pacientes devero utilizar rea externa
do hospital para lazer, educao fsica e atividades
socioterpicas.
3.3. Estes servios devem oferecer, de acordo com a
necessidade de cada paciente, as seguintes atividades:
a) avaliao mdico-psicolgica e social;
b) atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia
breve, terapia ocupacional, dentre outros);
c) atendimento grupal (grupo operativo, psicoterapia
em grupo, atividades socioterpicas);
d) abordagem famlia: orientao sobre o diagnstico, o
programa de tratamento, a alta hospitalar e a continuidade
do tratamento;
e) preparao do paciente para a alta hospitalar garantindo
sua referncia para a continuidade do tratamento em
unidade de sade com programa de ateno compatvel
com sua necessidade (ambulatrio, hospital-dia, ncleo/
centro de ateno psicossocial), visando a prevenir a
ocorrncia de outras internaes.
3.4. Recursos Humanos
A equipe tcnica mnima para um conjunto de 30 leitos,
no perodo diurno, deve ser composta por:
1 mdico psiquiatra ou 1 mdico clnico e 1 psiclogo;
1 enfermeiro;
2 profssionais de nvel superior (psiclogo,
assistente social e/ou terapeuta ocupacional);
profssionais de nveis mdio e elementar necessrios
ao desenvolvimento das atividades.
(...)
4. Hospital especializado em psiquiatria
4.1. Entende-se como hospital psiquitrico aquele cuja
maioria de leitos se destine ao tratamento especializado
de clientela psiquitrica em regime de internao.
4.2. Estes servios devem oferecer, de acordo com a
94
necessidade de cada paciente, as seguintes atividades:
a) avaliao mdico-psicolgica e social;
b) atendimento individual (medicamentoso, psicoterapia
breve, terapia ocupacional, dentre outros);
c) atendimento grupal (grupo operativo, psicoterapia
em grupo, atividades socioterpicas);
d) abordagem famlia: orientao sobre o diagnstico, o
programa de tratamento, a alta hospitalar e a continuidade
do tratamento;
e) preparao do paciente para a alta hospitalar garantindo
sua referncia para a continuidade do tratamento em
unidade de sade com programa de ateno compatvel
com sua necessidade (ambulatrio, hospital-dia, ncleo/
centro de ateno psicossocial), visando a prevenir a
ocorrncia de outras internaes.
4.3. Com vistas a garantir condies fsicas adequadas ao
atendimento de clientela psiquitrica internada, devero
ser observados os parmetros das normas especfcas
referentes rea de engenharia e arquitetura em vigor,
expedidas pelo Ministrio da Sade.
4.4. O hospital psiquitrico especializado dever destinar
uma enfermaria para intercorrncias clnicas, com um
mnimo de 6m2/leito e nmero de leitos igual a 1/50 do
total do hospital, com camas Fowler, oxignio, aspirador
de secreo, vaporizador, nebulizador e bandeja ou carro
de parada, e ainda:
sala de curativo ou, na inexistncia desta, 01 carro de
curativos para cada 3 postos de enfermagem ou frao;
rea externa para deambulao e/ou esportes, igual ou
superior rea construda.
4.5. O hospital psiquitrico especializado dever ter sala(s)
de estar, jogos, etc., com um mnimo de 40m2, mais 20m2
para cada 100 leitos a mais ou frao, com televiso e
msica ambiente nas salas de estar.
4.6. Recursos Humanos
Os hospitais psiquitricos especializados devero contar
com no mnimo:
1 mdico plantonista nas 24 horas;
1 enfermeiro das 7 s 19 horas, para cada 240 leitos;
E ainda:
Para cada 40 pacientes, com 20 horas de assistncia
95
semanal distribudas no mnimo em 4 dias, um mdico
psiquiatra e um enfermeiro;
Para cada 60 pacientes, com 20 horas de assistncia
semanal, distribudas no mnimo em 4 dias, os seguintes
profssionais:
1 assistente social;
1 terapeuta ocupacional;
2 auxiliares de enfermagem;
1 psiclogo;
E ainda:
1 clnico geral para cada 120 pacientes;
1 nutricionista e 1 farmacutico.
O psiquiatra plantonista poder tambm compor uma
das equipes bsicas, como psiquiatra-assistente, desde
que, alm de seu horrio de plantonista, cumpra 15 horas
semanais em pelo menos trs outros dias da semana.
Percebe-se que as determinaes da Portaria SNAS n 224/92
confrmam a participao de servios psicolgicos em todas
as modalidades de atendimento psiquitrico hospitalar. Como
visto supra, a Portaria GM/MS n 251/02 atualizou as regras
sobre atendimento hospitalar, mantendo a obrigatoriedade de
prestao de servios psicolgicos, o que atende ao princpio da
integralidade de assistncia.
Note-se, por oportuno, que, luz da Portaria SNAS n 224/92,
a prestao de servios em hospital-dia integra a assistncia
hospitalar, ao lado da urgncia hospitalar, da internao em
hospital geral e da internao em hospital psiquitrico.
Antes de concluir a anlise da normativa do SUS referente ao
atendimento hospitalar psiquitrico, importante esclarecer que
no se confunde com o atendimento hospitalar o atendimento
prestado em CAPS III (Centro de Ateno Psicossocial,
modalidade III). Nesta hiptese, a linguagem da regulamentao
no refere internao, mas trata de acolhimento noturno. Os
CAPS III incluem acolhimento noturno, nos feriados e fnais de
semana, com no mximo 5 (cinco) leitos, para eventual repouso
e/ou observao (art. 4, 4.3.1.g, da Portaria GM/MS n 336/02),
sendo que a permanncia de um mesmo paciente no acolhimento
noturno fca limitada a 7 (sete) dias corridos ou 10 (dez) dias
96
intercalados em um perodo de 30 (trinta) dias (art. 4, 4.3.1.i,
da Portaria GM/MS n 336/02). Nos CAPS tambm garantida
a multiprofssionalidade dos servios (Portaria GM/MS n 336/02
c/c Portaria SAS n 305/02, Anexo I, item 1.4.2).
Enfm, a anlise da normativa legal e infra-legal referente
sade mental no mbito do SUS, no que concerne ao atendimento
ambulatorial e ao atendimento hospitalar, indica que essencial a
participao do profssional da psicologia, a fm de fazer cumprir o
princpio da integralidade.
6.1.3. Atendimento de emergncia em sade mental no SUS
O atendimento de urgncia/emergncia em sade mental
pode excepcionar a necessidade de consentimento do paciente.
A peculiaridade ftica da emergncia faz dela uma obrigao do
Estado, independentemente do que manifestar o paciente mental.
Isso fca ilustrado pelo o que dispe a Resoluo n 1.408/1994,
do Conselho Federal de Medicina, no seu art; 4: nenhum
tratamento ser administrado a uma pessoa com transtorno
mental sem o seu consentimento esclarecido, salvo quando as
condies clnicas no permitirem a obteno do consentimento,
e em situaes de emergncia, caracterizadas e justifcadas em
pronturio, para evitar danos imediatos ou iminentes ao paciente
ou a outras pessoas.
No mbito do SUS, atendimentos de emergncia em sade
mental podem ser atendidos em hospitais gerais ou em hospitais
psiquitricos. Em setembro de 2008, por meio de Portaria GM/MS
n 1.899/2008, o Ministrio da Sade instituiu o Grupo de Trabalho
sobre sade mental em hospitais gerais. As competncias deste
Grupo so direcionadas emergncia em sade mental (art. 3):
I - promover a discusso sobre as estratgias para
expanso dos leitos para internao psiquitrica em
hospitais gerais, incluindo seus servios de emergncia;
II - discutir os critrios de implantao e implementao
dos servios de emergncia, com vistas a buscar uma
maior adeso dos gestores implantao dos leitos;
III - estabelecer mecanismos de discusso e de defnies
97
tcnicas sobre o tema dos leitos para internao psiquitrica
em hospitais gerais e nos servios de emergncia dos
hospitais gerais, de forma coletiva e construtora de
consenso, observando as necessidades e especifcidades
das diferentes regies geogrfcas do Pas; e
IV - promover a discusso sobre as diretrizes gerais para
a regulao das internaes psiquitricas, incluindo o
SAMU e as diretrizes da Poltica Nacional de Regulao
do Ministrio da Sade.
Trata-se, pois, de assunto de grande atualidade no mbito
do Ministrio. No obstante essa discusso, a aplicao dos
princpios da universalidade de acesso e de integralidade de
cobertura implica o direito de todos aos servios de urgncia/
emergncia, inclusive no que se refere sade mental.
De modo geral, a regulao da ateno pr-hospitalar de
urgncias mdicas est dada pela Portaria GM/MS n 814/2001.
Conforme estabelece o Anexo II dessa Portaria, a emergncia
psiquitrica est includa na ateno pr-hospitalar, inclusive para
o atendimento de urgncia mvel. In verbis:
O Ministrio da Sade considera como nvel pr-hospitalar
mvel na rea de urgncia o atendimento que procura
chegar precocemente vtima, aps ter ocorrido um agravo
sua sade (de natureza traumtica ou no-traumtica
ou, ainda, psiquitrica), que possa levar sofrimento,
seqelas ou mesmo morte, sendo necessrio, portanto,
prestar-lhe atendimento e/ou transporte adequado a um
servio de sade devidamente hierarquizado e integrado
ao Sistema nico de Sade.
Especifcamente para a sade mental, existem os servios de
urgncia psiquitrica em hospital-geral, conforme o que dispe a
Portaria SNAS n 224/92:
2. Servio de urgncia psiquitrica em hospital geral
2.1. Os servios de urgncia psiquitrica em prontos-
socorros gerais funcionam diariamente durante 24 horas
e contam com o apoio de leitos de internao para at
98
72 horas, com equipe multiprofssional. O atendimento
resolutivo e com qualidade dos casos de urgncia tem por
objetivo evitar a internao hospitalar, permitindo que o
paciente retorne ao convvio social, em curto perodo de
tempo.
2.2. Os servios de urgncia psiquitrica devem ser
regionalizados, atendendo a uma populao residente em
determinada rea geogrfca.
2.3. Estes servios devem oferecer, de acordo com a
necessidade de cada paciente, as seguintes atividades:
a) avaliao mdico-psicolgica e social;
b) atendimento individual (medicamentoso, de
orientao, dentre outros);
c) atendimento grupal (grupo operativo, de orientao);
d) atendimento famlia (orientao, esclarecimento
sobre o diagnstico, dentre outros).
Aps a alta, tanto no pronto atendimento quanto na
internao de urgncia, o paciente dever, quando
indicado, ser referenciado a um servio extra-hospitalar
regionalizado, favorecendo assim a continuidade do
tratamento prximo sua residncia. Em caso de
necessidade de continuidade da internao, deve-se
considerar os seguintes recursos assistenciais: hospital-
dia, hospital geral e hospital especializado.
2.4. Recursos Humanos
No que se refere aos recursos humanos, o servio de
urgncia psiquitrica deve ter a seguinte equipe tcnica
mnima; perodo diurno (servio at 10 leitos para
internaes breves):
1 mdico psiquiatra ou 1 mdico clnico e 1 psiclogo;
1 assistente social;
1 enfermeiro;
profssionais de nveis mdio e elementar necessrios
ao desenvolvimento das atividades.
Especifcamente no que se refere aos Servios Hospitalares
de Referncia para a ateno integral aos usurios de lcool e
outras drogas (SHR-ad), a Portaria GM n 2.197/2004, no art.
8, incisos I a III, contemplou entre os procedimentos do SUS o
tratamento de intoxicao aguda, que perdura entre 24 e 48h, o
tratamento da sndrome de abstinncia do lcool, que perdura
99
entre trs e sete dias, bem como tratamento de dependncia do
lcool, com a presena de intoxicao aguda com evoluo para a
instalao de sndrome de abstinncia grave, com durao entre
trs e quinze dias. A Portaria GM/MS n 1.612/2005, confrma
o oferecimento desses servios pelo SUS (art. 4), assim como
fzera a Portaria GM/MS n 1.027/2005, revogada pela Portaria
GM/MS n 1.612/2005.
Entre as funes dos SHR-ad est a de dar suporte demanda
assistencial caracterizada por situaes de urgncia/emergncia
que sejam decorrentes do consumo ou abstinncia de lcool
e/ou outras drogas, advindas da rede dos Centros de Ateno
Psicossocial para a Ateno a Usurios de lcool e outras Drogas
(CAPSad), da rede bsica de cuidados em sade (Programa
Sade da Famlia, e Unidades Bsicas de Sade), e de servios
ambulatoriais especializados e no-especializados (Portaria GM/
MS n 1.612/2005, Anexo I, item 1.3.1, alnea c).
Enfm, como demonstrado, no mbito do SUS h previso
expressa para atuao do profssional psiclogo no atendimento
de urgncias psiquitricas, especialmente em hospital-geral.
6.2. REGULAO DO ATENDIMENTO AMBULATORIAL,
HOSPITALAR E DE URGNCIA E EMERGNCIA EM SADE
MENTAL NO SETOR DE SADE SUPLEMENTAR
A ateno sade na Sade Suplementar obedece aos
princpios determinados na Resoluo Normativa da Agncia
Nacional de Sade Suplementar (ANS) n 211/2010, entre os
quais se encontram a ateno multiprofssional e a integralidade
das aes respeitando a segmentao contratada (art. 3, inc. I
e II, respectivamente). Esses princpios devem ser observados
em todos os nveis de complexidade da ateno, respeitando as
segmentaes contratadas (art. 3, nico).
Portanto, h segmentaes distintas de contratao de planos
de sade, as quais repercutem em maior ou menor cobertura.
De modo geral, obrigatrio o oferecimento do plano-referncia
estabelecido pelo art. 10 da Lei 9.656/98. Isso se d de acordo
com as segmentaes contratadas: Plano Ambulatorial, Plano
100
Hospitalar sem Obstetrcia, Plano Hospitalar com Obstetrcia
e Plano Odontolgico, bem como combinaes entre eles (art.
12 da Lei 9.656/98; art. 6 da Resoluo Normativa da ANS n
167/08).
Cumpre, ento, analisar o tema tanto na hiptese de plano
ambulatorial, como na hiptese de plano hospitalar, bem
como analisar a obrigatoriedade de prestao de servios de
emergncia.
6.2.1. Ateno ambulatorial em sade mental no setor de
sade suplementar: o Plano Ambulatorial
Segundo a Resoluo ANS n 211/2010, o Plano Ambulatorial
compreende os atendimentos realizados em consultrio ou
em ambulatrio, defnidos e listados no Rol de Procedimentos
e Eventos em Sade, no incluindo internao hospitalar ou
procedimentos para fns de diagnstico ou terapia que, embora
prescindam de internao, demandem o apoio de estrutura
hospitalar por perodo superior a 12 (doze) horas, ou servios
como unidade de terapia intensiva e unidades similares (art. 17).
De acordo com o art. 12, inc. I, da Lei 9.656/98, os planos
includos na segmentao ambulatorial devem oferecer,
obrigatoriamente, no mnimo, o seguinte:
a) cobertura de consultas mdicas, em nmero ilimitado,
em clnicas bsicas e especializadas, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina;
b) cobertura de servios de apoio diagnstico, tratamentos
e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo
mdico assistente;
Note-se que a alnea a se refere a consultas com mdicos, no
com psiclogos. Se, por um lado o nmero de consultas mdicas
ilimitado, por outro, o nmero de sesses de psicoterapia
limitado a doze por ano, mediante indicao de mdico assistente,
conforme a Resoluo ANS n 211/2010 (art. 17, inciso IV e
Anexo). Com relao aos procedimentos ambulatoriais inclusos
obrigatoriamente no plano, referido na alnea b, note-se que a lei
101
exige que sejam solicitados pelo mdico assistente.
Assim, no que se refere ao atendimento ambulatorial, o paciente
mental pode enfrentar limitao integralidade da assistncia de
que necessite, seja por causa da limitao do nmero de sesses
anuais de psicoterapia cobertas, seja em funo da necessidade
de indicao mdica para os servios ambulatoriais.
Ocorre que, considerando a necessidade de indicao
mdica para a psicoterapia, seria razovel que a regulao da
cobertura mnima pela sade suplementar evolusse para limitar
a psicoterapia (feita por mdico ou por psiclogo) ao nmero de
sesses determinadas pelo mdico assistente e no a um nmero
mximo de sesses, como ocorre hoje.
Isso o que seria razovel, hoje. Mas o ideal seria ir ainda
mais longe, para extinguir a limitao quantitativa de sesses de
psicoterapia e aceitar a necessidade de tratamento tanto quando
h a indicao mdica, como quando h a indicao por psiclogo.
6.2.2. Atendimento Hospitalar em Sade Mental no Setor de
Sade Suplementar
No que se refere ao atendimento hospitalar, o art. 12, inc. II, da
Lei 9.656/98, determina que os planos includos na segmentao
hospitalar devem oferecer, obrigatoriamente, no mnimo, o
seguinte:
a) cobertura de internaes hospitalares, vedada a
limitao de prazo, valor mximo e quantidade, em
clnicas bsicas e especializadas, reconhecidas pelo
Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a excluso
dos procedimentos obsttricos;
b) cobertura de internaes hospitalares em centro de
terapia intensiva, ou similar, vedada a limitao de prazo,
valor mximo e quantidade, a critrio do mdico assistente;
c) cobertura de despesas referentes a honorrios mdicos,
servios gerais de enfermagem e alimentao;
d) cobertura de exames complementares indispensveis
para o controle da evoluo da doena e elucidao
diagnstica, fornecimento de medicamentos, anestsicos,
gases medicinais, transfuses e sesses de quimioterapia
102
e radioterapia, conforme prescrio do mdico assistente,
realizados ou ministrados durante o perodo de internao
hospitalar;
e) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais
utilizados, assim como da remoo do paciente,
comprovadamente necessria, para outro estabelecimento
hospitalar, dentro dos limites de abrangncia geogrfca
previstos no contrato, em territrio brasileiro; e
f) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de
pacientes menores de dezoito anos;
A Resoluo Normativa da ANS n 211/2010, ao tratar do plano
hospitalar, no art. 18, no traz regras especfcas sade mental.
Conforme esse dispositivo, que defne o Plano Hospitalar, as
coberturas so as seguintes:
Do Plano Hospitalar
Art. 18. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos
realizados em todas as modalidades de internao
hospitalar e os atendimentos caracterizados como de
urgncia e emergncia, conforme Resoluo especfca
vigente, no incluindo atendimentos ambulatoriais para
fns de diagnstico, terapia ou recuperao, ressalvado o
disposto no inciso X deste artigo, observadas as seguintes
exigncias: I - cobertura, em nmero ilimitado de dias,
de todas as modalidades de internao hospitalar;
II - quando houver previso de utilizao de mecanismos
fnanceiros de regulao dispostos em contrato,
para internaes hospitalares, deve-se observar:
a) nos casos em que o contrato preveja co-participao
ou franquia para internao, a mesma regra deve
ser estabelecida para todas as especialidades
mdicas inclusive para as internaes psiquitricas; e
b) excepcionalmente, pode ser estabelecida co-
103
participao, crescente ou no, somente para
internaes psiquitricas, entretanto, esta s poder
ser aplicada quando ultrapassados 30 (trinta) dias de
internao no transcorrer de 1 (um) ano de contrato;
III cobertura de hospital-dia para transtornos
mentais, de acordo com as Diretrizes de
Utilizao na forma estabelecida pelo artigo 22;
IV - cobertura de transplantes listados no
Anexo desta Resoluo Normativa, e dos
procedimentos a eles vinculados, incluindo:
a) as despesas assistenciais com doadores vivos;
b) os medicamentos utilizados durante a internao;
c) o acompanhamento clnico no ps-operatrio imediato
e tardio, exceto medicamentos de manuteno; e
d) as despesas com captao, transporte e preservao
dos rgos na forma de ressarcimento ao SUS;
V - cobertura do atendimento por outros profssionais
de sade, de forma ilimitada durante o perodo de
internao hospitalar, quando indicado pelo mdico
assistente; VI cobertura de rteses e prteses ligadas
aos atos cirrgicos listados no Anexo desta Resoluo;
VII - cobertura das despesas relativas
a um acompanhante, que incluem:
a) acomodao e alimentao necessrias
permanncia do acompanhante, para
104
crianas e adolescentes menores de 18 anos;
b) acomodao e alimentao, conforme indicao do
mdico ou cirurgio dentista assistente e legislaes
vigentes, para acompanhantes de idosos a partir do 60
anos de idade, e pessoas portadoras de defcincias.
VIII - cobertura dos procedimentos cirrgicos buco-
maxilo-faciais listados no Anexo desta Resoluo,
para a segmentao hospitalar, conforme disposto
no artigo 4 desta Resoluo Normativa, incluindo a
solicitao de exames complementares e o fornecimento
de medicamentos, anestsicos, gases medicinais,
transfuses, assistncia de enfermagem, alimentao,
rteses, prteses e demais materiais ligados ao ato
cirrgico utilizados durante o perodo de internao
hospitalar;
IX cobertura da estrutura hospitalar necessria
realizao dos procedimentos odontolgicos
passveis de realizao ambulatorial, mas que por
imperativo clnico necessitem de internao hospitalar,
incluindo exames complementares e o fornecimento
de medicamentos, anestsicos, gases medicinais,
transfuses, assistncia de enfermagem e alimentao
utilizados durante o perodo de internao hospitalar;
X - cobertura obrigatria para os seguintes
procedimentos considerados especiais cuja
necessidade esteja relacionada continuidade da
assistncia prestada em nvel de internao hospitalar:
a) hemodilise e dilise peritonial - CAPD;
b) quimioterapia oncolgica ambulatorial, como
defnida no artigo 17, inciso XI, desta Resoluo;
c) procedimentos radioterpicos previstos no Anexo desta
Resoluo para as segmentaes ambulatorial e hospitalar;
105
d) hemoterapia;
e) nutrio parenteral ou enteral;
f) procedimentos diagnsticos e
teraputicos em hemodinmica descritos
no Anexo desta Resoluo Normativa;
g) embolizaes listadas no Anexo
desta Resoluo Normativa;
h) radiologia intervencionista;
i) exames pr-anestsicos ou pr-cirrgicos;
j) procedimentos de reeducao e reabilitao fsica
listados no Anexo desta Resoluo Normativa; e
k) acompanhamento clnico no ps-operatrio imediato e
tardio dos pacientes submetidos aos transplantes listados no
Anexo, exceto fornecimento de medicao de manuteno.
1 Para fns do disposto no inciso III deste artigo,
entende-se hospital-dia para transtornos mentais
como recurso intermedirio entre a internao e o
ambulatrio, que deve desenvolver programas de ateno
e cuidados intensivos por equipe multiprofssional,
visando substituir a internao convencional, e
proporcionando ao benefcirio a mesma amplitude de
cobertura oferecida em regime de internao hospitalar.
2 Para fns do disposto no inciso VI deste artigo,
deve ser observado o seguinte: I - cabe ao mdico
ou cirurgio dentista assistente a prerrogativa de
determinar as caractersticas (tipo, matria-prima e
dimenses) das rteses, prteses e materiais especiais
OPME necessrios execuo dos procedimentos
contidos no Anexo desta Resoluo Normativa;
II - o profssional requisitante deve, quando assim solicitado
106
pela operadora de plano privado de assistncia sade,
justifcar clinicamente a sua indicao e oferecer pelo menos
03 (trs) marcas de produtos de fabricantes diferentes,
quando disponveis, dentre aquelas regularizadas junto
ANVISA, que atendam s caractersticas especifcadas; e
III - em caso de divergncia entre o profssional
requisitante e a operadora, a deciso caber a um
profssional escolhido de comum acordo entre as
partes, com as despesas arcadas pela operadora.
3 Para fns do disposto no inciso IX deste artigo, o
imperativo clnico caracteriza-se pelos atos que se impem
em funo das necessidades do benefcirio, com vistas
diminuio dos riscos decorrentes de uma interveno.
4 Ainda para fns do disposto no inciso IX deste artigo:
I - em se tratando de atendimento odontolgico, o
cirurgio-dentista assistente e/ou o mdico assistente ir
avaliar e justifcar a necessidade do suporte hospitalar
para a realizao do procedimento odontolgico, com
o objetivo de garantir maior segurana ao paciente,
assegurando as condies adequadas para a execuo
dos procedimentos, assumindo as responsabilidades
tcnicas e legais pelos atos praticados; e
II - os honorrios do cirurgio-dentista e os materiais
odontolgicos utilizados na execuo dos procedimentos
odontolgicos ambulatoriais que, nas situaes de
imperativo clnico, necessitem ser realizados em
ambiente hospitalar, no esto includos na cobertura da
segmentao hospitalar e plano referncia.
Embora no contemple regras especfcas sobre sade mental
no plano hospitalar, a Resoluo Normativa da ANS n 211/2010
107
prev a substituio de terapia em regime hospitalar e ambulatorial
nos termos do art. 15, in verbis:
As operadoras de planos privados de assistncia sade
podero oferecer, por sua iniciativa, cobertura maior
do que a mnima obrigatria prevista nesta Resoluo
Normativa e seus Anexos, dentre elas, ateno domiciliar
e assistncia farmacutica, inclusive medicao de uso
oral domiciliar que substitua a terapia em regime hospitalar
ou ambulatorial de cobertura obrigatria.
Com relao limitao de tempo para internao hospitalar,
o Superior Tribunal de Justia j defniu que os planos de sade
no podem limitar o valor do tratamento e de internao de seus
associados, in verbis:
A fnalidade essencial do seguro-sade reside em
proporcionar adequados meios de recuperao ao
segurado, sob pena de esvaziamento da sua prpria ratio,
o que no se coaduna com a presena de clusula limitativa
do valor indenizatrio de tratamento que as instncias
ordinrias consideraram coberto pelo contrato.
9
Vale ressaltar, ainda, que luz da Lei 9.656/98, o atendimento
hospitalar, que inclui o hospital-dia, no pode sofrer limitaes
de cobertura quanto a sua durao. Enfm, a Lei 9.656/98 no
autoriza qualquer discriminao para os casos de internao em
sade mental, pois s limita a cobertura hospitalar em obstetrcia.
Paralelamente, h as diretrizes da ANS em matria de sade
mental, as quais so mais abrangentes. Essas diretrizes, no
entanto, no so obrigatrias.
As Diretrizes Assistenciais em Sade Mental na Sade
Suplementar visam a contextualizar o quadro da sade mental
no Brasil e estimular aes de promoo e de preveno em
matria de sade mental. Embora no tratem especifcamente
do atendimento hospitalar em sade mental, as Diretrizes,
especialmente no que concerne aos portadores de transtornos
mentais graves e persistentes, sugerem aes tendo em vista
9
REsp 326147/SP, Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJ
08/06/2009.
108
evitar internaes repetidas e o abandono do tratamento, bem
como estimular a reinsero social (ANS, 2008, p. 45). Entre
as aes sugeridas esto contar com equipe multidisciplinar e
equipe qualifcada nas emergncias psiquitricas (ANS, 2008,
p. 45-46). De modo geral, as Diretrizes visam a estabelecer novos
paradigmas para a ateno sade mental no setor suplementar
que incluam o respeito aos direitos e cidadania do portador de
transtorno mental, a reduo da ateno hospitalar, a utilizao
de equipes multidisciplinares e abordagem psicossocial em todos
os nveis de ateno, a adoo de polticas de preveno ao uso
e dependncia de substncias psicoativas, a busca ativa dos
pacientes evitando o abandono do tratamento, o apoio e medidas
educativas aos familiares e/ou cuidadores (ANS, 2008, p. 57).
Antes de concluir a anlise da normativa da Sade
Suplementar referente ao atendimento hospitalar psiquitrico,
importante mencionar algumas disposies gerais pertinentes
aos planos de sade.
Segundo o art. 14 da Lei 9.656/98, em razo da idade do
consumidor, ou da condio de pessoa portadora de defcincia,
ningum pode ser impedido de participar de planos privados de
assistncia sade. No obstante, em caso de doenas pr-
existentes contratao do plano de sade, aplica-se o art. 11 da
Lei 9.656/98, in verbis:
Art. 11. vedada a excluso de cobertura s doenas e
leses preexistentes data de contratao dos produtos
de que tratam o inciso I e o 1
o
do art. 1
o
desta Lei aps
vinte e quatro meses de vigncia do aludido instrumento
contratual, cabendo respectiva operadora o nus da
prova e da demonstrao do conhecimento prvio do
consumidor ou benefcirio.
Pargrafo nico. vedada a suspenso da assistncia
sade do consumidor ou benefcirio, titular ou
dependente, at a prova de que trata o caput, na forma da
regulamentao a ser editada pela ANS.
Enfm, a anlise da normativa legal e infra-legal referente
sade mental no mbito da sade suplementar, no que concerne
109
ao atendimento ambulatorial e ao atendimento hospitalar, indica
que h importantes limitaes cobertura. Diante disso, a
proteo dada pela legislao
10
pode no ser sufciente para que
o usurio de planos privados de sade exera satisfatoriamente
seu direito sade, enquanto direito subjetivo de acesso
ateno individual necessria.
6.2.3. Atendimento de emergncia em sade mental no setor
da sade suplementar
Por lei, os planos de sade so obrigados a dar cobertura
em caso de urgncia e emergncia (Lei 9.656/98, art. 35-C).
Considera-se de emergncia os casos que implicarem risco
imediato de vida ou de leses irreparveis para o paciente,
caracterizado em declarao do mdico assistente (art. 35-
C, inciso I). Considera-se de urgncia os casos resultantes de
acidentes pessoais ou de complicaes no processo gestacional
(art. 35-C, inciso II).
Alm disso, importante mencionar que, quando o plano de
sade fxar perodos de carncia, o perodo mximo permitido por
lei para a carncia da cobertura de casos de urgncia e emergncia
de 24 horas (Lei 9.656/98, art. 12, inciso V, alnea c). Ademais,
caso, em funo da prpria urgncia, o atendimento emergencial
ocorra em estabelecimento mdico no conveniado, o consumidor
ter direito ao reembolso (Lei 9.656/98, art. 12, inciso VI).
Portanto, prima facie, tanto os planos de modalidade
ambulatorial, como os planos da modalidade hospitalar, devem
cobrir casos urgentes e emergenciais.
No mesmo sentido, no plano infralegal, a Resoluo ANS
n 211/2010 inclui, na cobertura mnima a ser oferecida pelos
planos de sade, os atendimentos de urgncia e emergncia
(art. 16, caput). Isso se aplica tanto ao plano ambulatorial (art. 17,
inciso VIII) como ao plano hospitalar (art. 18, caput), conforme
resoluo especfca. O plano ambulatorial deve dar, ainda
cobertura de remoo, depois de realizados os atendimentos
10
Entende-se, aqui, legislao em sentido amplo, abarcando o conjunto das
fontes diretas de direito sanitrio, ou seja, os instrumentos normativos produzidos
no apenas pelo Poder Legislativo, mas tambm os decretos regulamentadores,
as portarias, as resolues etc. (AITH, 2007, p. 145).
110
classifcados como urgncia ou emergncia, quando caracterizada
pelo mdico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade
para a continuidade da ateno ao paciente ou pela necessidade
de internao (art. 14, inciso VII).
A resoluo especfca para situaes de urgncia e emergncia
dada pela Resoluo CONSU n 13/98, com as alteraes
estabelecidas na Resoluo CONSU n 15/99. H regras distintas
conforme se trate de plano ambulatorial ou hospitalar. No caso de
plano ambulatorial, a cobertura bastante limitada:
Art. 2 O plano ambulatorial dever garantir cobertura
de urgncia e emergncia, limitada at as primeiras 12
(doze) horas do atendimento.
Pargrafo nico. Quando necessria, para a continuidade
do atendimento de urgncia e emergncia, a realizao
de procedimentos exclusivos da cobertura hospitalar,
ainda que na mesma unidade prestadora de servios e em
tempo menor que 12 (doze) horas, a cobertura cessar,
sendo que a responsabilidade fnanceira, a partir da
necessidade de internao, passar a ser do contratante,
no cabendo nus operadora.
(...)
Art. 7 A operadora dever garantir a cobertura de
remoo, aps realizados os atendimentos classifcados
como urgncia e emergncia, quando caracterizada, pelo
mdico assistente, a falta de recursos oferecidos pela
unidade para continuidade de ateno ao paciente ou pela
necessidade de internao para os usurios portadores
de contrato de plano ambulatorial.
1 Nos casos previstos neste artigo, quando no
possa haver remoo por risco de vida, o contratante
e o prestador do atendimento devero negociar entre
si a responsabilidade fnanceira da continuidade da
assistncia, desobrigando-se, assim, a operadora, desse
nus
2 Caber a operadora o nus e a responsabilidade
da remoo do paciente para uma unidade do SUS
que disponha dos recursos necessrios a garantir a
continuidade do atendimento
3 Na remoo, a operadora dever disponibilizar
111
ambulncia com os recursos necessrios a garantir a
manuteno da vida, s cessando sua responsabilidade
sobre o paciente quando efetuado o registro na unidade
SUS.
4 Quando o paciente ou seus responsveis optarem,
mediante assinatura de termo de responsabilidade,
pela continuidade do atendimento em unidade diferente
daquela defnida no 2 deste artigo, a operadora estar
desobrigada da responsabilidade mdica e do nus
fnanceiro da remoo.
Quanto ao plano hospitalar, a cobertura maior, aplicando-se
os seguintes dispositivos da Resoluo CONSU n 13/98:
Art. 3 Os contratos de plano hospitalar devem oferecer
cobertura aos atendimentos de urgncia e emergncia que
evolurem para internao, desde a admisso do paciente
at a sua alta ou que sejam necessrios preservao da
vida, rgos e funes.
1
o
. No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando
o atendimento de emergncia for efetuado no decorrer
dos perodos de carncia, este dever abranger cobertura
igualmente quela fxada para o plano ou seguro do
segmento ambulatorial, no garantindo, portanto,
cobertura para internao.
2
o
. No plano ou seguro do segmento hospitalar, o
atendimento de urgncia decorrente de acidente pessoal,
ser garantido, sem restries, aps decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da vigncia do contrato.
3
o
. Nos casos em que a ateno no venha a se
caracterizar como prpria do plano hospitalar, ou como de
risco de vida, ou ainda, de leses irreparveis, no haver
a obrigatoriedade de cobertura por parte da operadora.
Art. 4 Os contratos de plano hospitalar, com ou sem
cobertura obsttrica, devero garantir os atendimentos de
urgncia e emergncia quando se referirem ao processo
gestacional.
Pargrafo nico. Em caso de necessidade de assistncia
mdica hospitalar decorrente da condio gestacional de
pacientes com plano hospitalar sem cobertura obsttrica
ou com cobertura obsttrica porm ainda cumprindo
perodo de carncia a operadora estar obrigada a cobrir
112
o atendimento prestado nas mesmas condies previstas
no art.2 para o plano ambulatorial.
No foram encontradas regras especfcas sobre urgncia
e emergncia em sade mental. Tampouco foram encontradas
referncias especfcas incluso de servios do profssional
psiclogo no atendimento de emergncia em sade mental no
mbito da sade suplementar, diferentemente do que ocorre no
mbito do SUS
6.3. CONSIDERAES FINAIS SOBRE EMERGNCIAS E
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Percebe-se que a regulao da sade mental no SUS vem
desde o incio dos anos 1990, confrmando-se nos primeiros anos
do novo sculo. Por sua vez, a regulao da sade mental na
sade suplementar um pouco mais recente.
A cobertura de atendimento mental ilimitada no mbito do
SUS, respeitando o princpio da integralidade. Diferentemente,
na Sade Suplementar, a cobertura limitada, havendo uma
concepo restrita da integralidade, condicionada rea
geogrfca abrangida pelo plano, ao rol de procedimentos
mnimos, limitao de sesses por ano e segmentao
contratada (ambulatorial ou hospitalar).
Alm disso, de acordo com o art. 8, inc. I, da Lei 9.656/98, as
operadoras de planos privados de assistncia sade devem ser
registradas nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia.
No h exigncia neste sentido no que se refere aos Conselhos
Regionais de Psicologia.
Tudo isso denota uma assimetria entre o tratamento dado aos
servios de psicologia no mbito do SUS e na seara da Sade
Suplementar. A Sade Suplementar, tal como regulamentada
7. ATENDIMENTO DOMICILIAR
EM SADE MENTAL
114
atualmente, no garante aos consumidores de planos privados
de assistncia sade o pleno exerccio do direito sade no
que concerne sade mental, seja no mbito do atendimento
ambulatorial, seja na seara do atendimento hospitalar.
No obstante isso, tanto na esfera do SUS como no
campo da Sade Suplementar reconhecida a necessria
multiprofssionalidade da ateno sade, o que impe a
adequada incluso da psicologia e de outras profsses da sade
nos servios de sade, inclusive no que tange ao atendimento
ambulatorial, hospitalar e de emergncia. Portanto, a regulao
da Sade Suplementar deve caminhar em direo a cada vez
maior abrangncia multiprofssional, por meio da diminuio de
limitaes ao atendimento psicolgico, em direo eliminao
dessas limitaes, tudo isso em homenagem ao direito humano
fundamental sade.
Por outro lado, o Cdigo de tica do Profssional Psiclogo
estabelece princpios fundamentais, os quais so baliza para a
evoluo do reconhecimento social e jurdico da Psicologia. Para o
escopo deste trabalho, importante referir os seguintes princpios:
II. O psiclogo trabalhar visando promover a sade e a
qualidade de vida das pessoas e das coletividades (...).
III. O psiclogo atuar com responsabilidade social,
analisando crtica e historicamente a realidade poltica,
econmica, social e cultural.
IV. O psiclogo atuar com responsabilidade, por meio do
contnuo aprimoramento profssional, contribuindo para o
desenvolvimento da Psicologia como campo cientfco de
conhecimento e de prtica.
V. O psiclogo contribuir para promover a universalizao
do acesso da populao s informaes, ao conhecimento
da cincia psicolgica, aos servios e aos padres ticos
da profsso.
(...)
VII. O psiclogo considerar as relaes de poder nos
contextos em que atua e os impactos dessas relaes
sobre as suas atividades profssionais, posicionando-se de
forma crtica e em consonncia com os demais princpios
deste Cdigo.
115
Em face do exposto, a ampliao da cobertura do atendimento
ambulatorial e hospitalar em sade mental, na rbita jurdica da
sade suplementar, uma legtima pretenso dos profssionais da
psicologia, amparada pelos princpios fundamentais que norteiam
o exerccio dessa profsso.
7. ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SADE MENTAL
O atendimento domiciliar em Sade Mental medida
geralmente aplicada aos casos de transtornos mentais severos,
caracterizados pela incapacidade do paciente em procurar
atendimento fora de seu domiclio. Alm disso, o atendimento em
domiclio representa a nica alternativa vivel para pacientes com
difculdades locomotoras, que no conseguem sair de casa para
procurar ou freqentar tratamento.
7.1. ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SADE MENTAL NO
SISTEMA NICO DE SADE - SUS
7.1.1. Subsistema de Atendimento e Internao Domiciliar
A Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispe sobre
as condies para a promoo, proteo e recuperao da
sade, bem como organizao e funcionamento dos servios
correspondentes.
Em seu Captulo VI, a Lei trata do Subsistema de Atendimento
e Internao Domiciliar, onde estabelece, no mbito do Sistema
nico de Sade, o atendimento domiciliar e a internao domiciliar.
Na modalidade de assistncia de atendimento e internao
domiciliares, inclui principalmente, os procedimentos mdicos,
de enfermagem, fsioteraputicos, psicolgicos e de assistncia
social, entre outros necessrios ao cuidado integral dos pacientes
em seu domiclio. A Lei prev que o tratamento domiciliar seja
realizado por equipes multidisciplinares, que atuem nos nveis de
medicina preventiva, teraputica e reabilitadora, e destaca que
116
tratamentos desse tipo s podem ser realizados por indicao
mdica, com expressa concordncia do paciente e de sua famlia.
7.1.2. Atendimento Domiciliar nos servios de Sade Mental
do SUS
A Portaria SNAS 224, de 29 de janeiro de 1992 regulamenta
o funcionamento de todos os servios de Sade Mental. Alm da
incorporao de novos procedimentos tabela do SUS, a Portaria
regulamentou o funcionamento dos hospitais psiquitricos e
teve a particularidade de ter sido aprovada pelo conjunto dos
coordenadores/assessores de Sade Mental dos estados, para
que, entendida como regra mnima, pudesse ser cumprida em
todas as regies do Pas.
O documento destaca que a ateno aos pacientes, tanto em
unidades ambulatoriais de sade, como em Ncleos/Centros de
ateno psicossocial (NAPS/CAPS hoje apenas CAPS) e no
Hospital-dia, deve incluir visitas domiciliares por profssional de
nvel mdio ou superior (artigo 1.3, 2.4 e 2.1 do Anexo).
7.1.3. Atendimento Domiciliar no Sistema de Informaes
Ambulatoriais do Sistema nico de Sade (SIA-SUS)
A Portaria SNAS 189, 19 de novembro de 1991, incluiu
novos procedimentos no Sistema de Informaes Ambulatoriais,
do Sistema nico de Sade (SIA/SUS), com destaque para a
incluso de Visita domiciliar por profssional de nvel superior;
Componentes: atendimento domiciliar realizado por profssional
de nvel superior, com durao mdia de 60 minutos.
A Portaria GM 1.635, de 12 de setembro de 2002 tambm
incluiu no Sistema de Informaes Ambulatoriais do Sistema
nico de Sade (SIA-SUS), procedimento especfco que
garante s pessoas portadoras de defcincia mental e de
autismo assistncia por intermdio de equipe multiprofssional e
multidisciplinar, utilizando-se de mtodos e tcnicas teraputicas
especfcas. Em seu artigo 7, a Portaria incluiu no SIA-SUS
117
Visita Domiciliar para Consulta/Atendimento em Assistncia
Especializada e de Alta Complexidade.
7.1.4. Atendimento Domiciliar nos Centros de Ateno
Psicossocial CAPS
A Portaria GM 336, de 19 de fevereiro de 2002 acrescentou
novos parmetros aos defnidos pela Portaria SNAS 224/92
(que regulamenta o funcionamento dos CAPS) para ampliar
a abrangncia dos servios substitutivos de ateno diria,
estabelecendo portes diferenciados a partir de critrios
populacionais.
A Portaria estabelece que os Centros de Ateno Psicossocial,
em todas suas modalidades de servios (CAPS I, CAPS II, CAPS
III, CAPSi II e CAPSad II), devem incluir o servio de visitas
domiciliares a pacientes (artigos 4.1.1, 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1 e 4.5.1)
7.1.5. Atendimento Domiciliar de Pacientes com Transtornos
causados pelo Uso Prejudicial ou Dependncia de lcool e
Outras Drogas
A Portaria SAS 305, de 3 de maio de 2002, aprova Normas
de Funcionamento e Cadastramento de CAPS para Atendimento
de Pacientes com Transtornos Causados pelo Uso Prejudicial ou
Dependncia de lcool e Outras Drogas.
As normas ressaltam que os CAPSad, que atendem usurios
de lcool e outras drogas, devem incluir visitas e atendimentos
domiciliares dentre suas atividades (artigo 1.3.2, d).
7.2. ATENDIMENTO DOMICILIAR EM SADE MENTAL NO
SISTEMA DE SADE SUPLEMENTAR
7.2.1. Atendimento Domiciliar no Rol de Procedimentos e
Eventos em Sade de cobertura mnima
A Resoluo Normativa ANS n 211/2010, que defne o Rol de
Procedimentos e Eventos em Sade de cobertura mnima nos
118
planos privados de assistncia sade, no inclui atendimento
domiciliar dentre os procedimentos de cobertura mnima. Porm,
em seu artigo 15, destaca que as operadoras de planos privados
de assistncia sade podero oferecer, por sua iniciativa,
cobertura maior do que a mnima obrigatria prevista nesta
Resoluo Normativa e seus Anexos, dentre elas, a ateno
8. ATENDIMENTO TERAPUTICO
E/OU POR SESSES EM SADE
MENTAL NO SUS E NA SADE
SUPLEMENTAR
120
domiciliar.
7.2.2. Ateno Domiciliar nas Diretrizes Assistenciais em
Sade Mental na Sade Suplementar
O documento da ANS que estabelece Diretrizes Assistenciais
em Sade Mental na Sade Suplementar, defne cinco linhas de
cuidado especfcas para as quais sugere aes de promoo
e preveno em sade, conforme aqui j elucidado no estudo
sobre Preveno em Sade Mental. As linhas de cuidado so
as seguintes: a) Transtornos Mentais Graves e Persistentes; b)
Transtornos Decorrentes do Uso de lcool e Outras Drogas; c)
Transtornos Depressivos, Ansiosos e Alimentares; d) Sade
Mental de Crianas e Adolescentes; e e) Sade Mental de Idosos.
Por meio dessas diretrizes, a ANS fala em ateno domiciliar
quando se refere ao atendimento s pessoas idosas. Destaca
que embora a Ateno Domiciliar no esteja contemplada
entre as aes de cobertura obrigatria na sade suplementar,
a oferta desta modalidade de ateno, principalmente para os
idosos, tem se tornado bastante comum nos planos privados
de sade. A ateno domiciliar defnida como um conjunto de
aes realizadas por uma equipe multi-disciplinar no domiclio
do usurio/famlia, a partir do diagnstico da realidade em que o
idoso est inserido, de seus potenciais e limitaes, articulando
promoo, preveno, diagnstico, tratamento e reabilitao.
7.2.3. Consideraes Finais sobre Atendimento Domiciliar
O presente estudo destaca a presena do atendimento
domiciliar na regulao da Sade Mental no SUS. As visitas
domiciliares esto presentes nos programas de ao do SUS e
inclusive em todas as modalidades de CAPS.
J na Sade Suplementar, a situao bastante diferente. A
cobertura de atendimento domiciliar no sequer includa no rol
de procedimentos e eventos de cobertura mnima pelos planos
de sade privados. O atendimento domiciliar aparece como
mera sugesto na Resoluo Normativa ANS n 167, de 9 de
121
janeiro de 2007.
Isso revela a falha da Sade Suplementar em exigir
obrigatoriedade ao atendimento domiciliar, essencial para lidar
com determinadas situaes de Sade Mental e para atender
pacientes com difculdades locomotoras. A Sade Suplementar,
notadamente nesse aspecto, no prev as garantias necessrias
aos consumidores de planos privados de sade.
8. ATENDIMENTO TERAPUTICO E/OU POR
SESSES EM SADE MENTAL NO SUS E NA
SADE SUPLEMENTAR
O atendimento teraputico a pacientes no Sistema nico de
Sade e no Sistema de Sade Suplementar bastante distinto
para cada qual. No SUS, a terapia psicossocial por sesses
concebida essencialmente para portadores de transtornos
severos e persistentes enquanto, na Sade Suplementar, o fltro
outro, e engloba o tratamento por todo tipo de transtorno, limitado
pela cobertura mnima oferecida pelos planos de sade privados.
A terapia psicossocial por sesses um desafo na medida
que compreende um tratamento de mdio ou longo prazo,
dependente do compromisso do paciente e da acessibilidade da
instituio que oferece o tratamento.
8.1. ATENDIMENTO TERAPUTICO E/OU POR SESSES EM
SADE MENTAL NO SISTEMA NICO DE SADE - SUS
8.1.1. Atendimento Teraputico/ por sesses nos Hospitais
A Portaria MS/GM 251, de 31 de janeiro de 2002, instituiu o
processo sistemtico e anual de avaliao e superviso da rede
hospitalar especializada de psiquiatria, assim como dos hospitais
gerais com enfermarias ou leitos psiquitricos, estabelecendo
critrios de classifcao conforme porte do estabelecimento e
cumprimento dos requisitos qualitativos de avaliao.
Em seu Anexo, a Portaria estabelece diretrizes e normas para
a assistncia hospitalar em psiquiatria no SUS, ressaltando que
o atendimento hospitalar psiquitrico deve compreender: b)
122
garantia do atendimento dirio ao paciente por, no mnimo, um
membro da equipe multiprofssional, de acordo com o projeto
teraputico individual bem como c) atendimento individual
(medicamentoso, psicoterapia breve, terapia ocupacional, dentre
outros) e d) atendimento grupal (grupo operativo, psicoterapia
em grupo, atividades socioterpicas) (artigo 2.3, b, c e d).
Verifca-se, assim, que o atendimento hospitalar no SUS deve
contar com projeto teraputico individual para os pacientes,
incluindo psicoterapia individual breve e psicoterapia em grupo.
8.1.2. Terapia Psicossocial no Sistema de Informaes
Ambulatoriais do Sistema nico de Sade (SIA-SUS)
A Portaria SNAS 189, de novembro de 1991, incluiu novos
procedimentos no Sistema de Informaes Ambulatoriais, do
Sistema nico de Sade (SIA/SUS), com destaque para os
seguintes:
Cdigo 038-8 Atendimento em grupo executados por
profssionais de nvel superior; Componentes: atividade
de grupo de pacientes (grupo de orientao, grupo
operativo, psicoterapia grupal e/ou familiar), composto
por no mnimo 5 e no mximo 15 pacientes, com durao
mdia de 60 minutos, executada por um profssional de
nvel superior, desenvolvida nas unidades ambulatoriais
cadastradas no SIA, e que tenham estes profssionais
devidamente cadastrados.
Cdigo 840-0 Atendimento em Ncleos/Centros de
Ateno Psicossocial (01 turno);
Componentes: atendimento a pacientes que demandem
programa de ateno de cuidados intensivos, por equipe
multiprofssional em regime de um turno de 4 horas,
incluindo um conjunto de atividades (acompanhamento
mdico, acompanhamento teraputico, ofcina teraputica,
psicoterapia individual/grupal, atividades de lazer,
orientao familiar) com fornecimento de duas refeies,
realizado em unidades locais devidamente cadastradas no
SIA para a execuo deste tipo de procedimento.
123
Cdigo 842-7 Atendimento em Ncleos/Centros Ateno
Psicossocial (02 turnos); Componentes: atendimento
a pacientes que demandem programa de ateno de
cuidados intensivos, por equipe multiprofssional em
regime de dois turnos de 4 horas, incluindo um conjunto de
atividades (acompanhamento mdico, acompanhamento
teraputico, ofcina teraputica, psicoterapia individual/
grupal, atividades de lazer, orientao familiar), com
fornecimento de trs refeies, realizado em unidades
locais devidamente cadastradas no SIA para a execuo
deste tipo de procedimento.
Verifca-se, assim, que a psicoterapia individual ou em grupo
passou a integrar a lista de procedimentos do SAI/SUS em 1991.
A Portaria MS/GM 1.635, de 12 de setembro de 2002 tambm
inclui no Sistema de Informaes Ambulatoriais do Sistema nico
de Sade (SIA-SUS), procedimento especfco que garante s
pessoas portadoras de defcincia mental e de autismo assistncia
por intermdio de equipe multiprofssional e multidisciplinar,
utilizando-se de mtodos e tcnicas teraputicas especfcas.
Em seu artigo 7, a Portaria inclui no SIA-SUS as Terapias em
Grupo e Terapias Individuais especfcas para o atendimento
aos portadores de defcincia mental e autismo.
8.1.3. Terapia Psicossocial nos Centros de Ateno
Psicossocial - CAPS
A Portaria MS/GM 336, de 19 de fevereiro de 2002, acrescenta
novos parmetros regulao dos Centros de Ateno Psicossocial
CAPS, ampliando a abrangncia dos servios substitutivos de
ateno diria, estabelecendo portes diferenciados a partir de
124
critrios populacionais, e direcionando novos servios especfcos
para rea de lcool e outras drogas e infncia e adolescncia.
Em seu artigo 1, a Portaria estabelece que os Centros de
Ateno Psicossocial podero constituir-se nas modalidades
de servios CAPS I, CAPS II e CAPS III, defnidos por ordem
crescente de porte/complexidade e abrangncia populacional.
Destaque-se que as trs modalidades de servios devem estar
capacitadas para realizar prioritariamente o atendimento de
pacientes com transtornos mentais severos e persistentes em sua
rea territorial, em regime de tratamento intensivo, semi-intensivo
e no-intensivo, conforme defnido adiante, evidncia de que
resta pouco espao para a psicoterapia voltada para outros tipos
de transtornos mentais nos CAPS.
Porm, o Anexo da Portaria MS/GM 336 segue defnindo as
atividades includas na assistncia prestada aos pacientes dos
CAPS e, para todas as modalidades de CAPS, inclui atendimento
individual (medicamentoso, psicoterpico, de orientao, entre
outros) e atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo,
atividades de suporte social, entre outras) (artigos 4.1.1, 4.2.1,
4.3.1, 4.4.1 e 4.5.1).
8.1.4. Terapia Psicossocial no Atendimento de Pacientes
com Transtornos causados pelo Uso Prejudicial ou
Dependncia de lcool e Outras Drogas
A Portaria MS/GM 1027, de 04 de julho de 2005, aprova as
normas de funcionamento e credenciamento/habilitao dos
servios hospitalares de referncia para a ateno integral
aos usurios de lcool e de outras drogas. Inclui na Tabela de
Servios/Classifcaes dos Sistemas de Informaes do SUS,
a classifcao de cdigo 006 Servio Hospitalar de Referncia
para a Ateno Integral aos Usurios de lcool e outras Drogas,
que prev atendimento especializado em sade mental,
individualmente e/ou em grupos.
O Anexo I da Portaria ainda traz as Normas para
Funcionamento e Credenciamento/Habilitao dos Servios
Hospitalares de Referncia para a Ateno Integral aos Usurios
125
de lcool e Outras Drogas - SHR-ad o qual prev, novamente,
que os SHR-ad devero contemplar em seu projeto tcnico as
seguintes atividades: atendimento individual (medicamentoso,
psicoterpico, de orientao, entre outros) e atendimento em
grupo (psicoterapia, orientao, atividades de suporte social,
entre outras) (artigo 1.3.2).
8.2. ATENDIMENTO TERAPUTICO E/OU POR SESSES EM
SADE MENTAL NO SISTEMA DE SADE SUPLEMENTAR
8.2.1. Porta de Entrada para o atendimento teraputico em
sade mental no setor da sade suplementar
A Resoluo Normativa ANS n 211, de 11 de janeiro de 2010,
atualizada em 2012 pela RN 262/2012, dispe em seu artigo 4,
pargrafo nico, que os procedimentos e eventos de cobertura
obrigatria na Sade Suplementar devem ser solicitados pela
fgura do mdico assistente para que possam ser executados,
com exceo dos procedimentos de natureza odontolgica:
Os procedimentos listados nesta Resoluo Normativa e
nos seus Anexos sero de cobertura obrigatria quando
solicitados pelo mdico assistente, conforme disposto
no artigo 12 da Lei n 9.656 de 1998, com exceo
dos procedimentos odontolgicos e dos procedimentos
vinculados aos de natureza odontolgica aqueles
executados por cirurgio-dentista ou os recursos, exames e
tcnicas auxiliares necessrios ao diagnstico, tratamento
e prognstico odontolgicos - que podero ser solicitados
ou executados diretamente pelo cirurgio dentista.
O texto da Resoluo Normativa n 211 ainda deixa claro, em
seu artigo 17, V, que a cobertura de psicoterapia, de acordo com
o nmero de sesses estabelecido no Anexo I da Resoluo,
prescinde de indicao de mdico assistente. Porm, isso no se
justifca. A regulao da Sade Suplementar deve estar pautada
pela lgica da integralidade. O paciente pode enfrentar limitao
integralidade da assistncia de que necessite em funo da
necessidade de indicao de mdico assistente para os servios
de terapia psicossocial.
126
Deve-se partir do princpio de que o paciente conhece as
razes que o levam a procurar servios de sade mental e,
portanto, sabe qual profssional deve procurar. Os atuais servios
de porta de entrada na Sade Suplementar impe limitaes e
bices desnecessrios. Deve ser garantida ao usurio a opo
de acessar diretamente um profssional de sade especializado.
Entretanto, caso seja necessrio discutir a criao de uma porta
de entrada diferenciada, ela deve ser racional e multiprofssional,
contando com mecanismos de controle multidisciplinares
para procedimentos especializados, alm de compreender
categorias profssionais diversifcadas. Tanto no campo do
SUS como na Sade Suplementar reconhecida a necessria
multiprofssionalidade na ateno sade, o que impe a
adequada incluso dos profssionais da psicologia e de outras
profsses da sade nos servios de porta de entrada. Ressalte-
se que o prprio texto da Resoluo Normativa n 211 de 2010
estabelece, em seu artigo 3, que a ateno Sade na Sade
Suplementar deve observar a ateno multiprofssional.
A garantia ao direito fundamental sade exige a diminuio
das limitaes ao acesso de pacientes. Deve-se buscar a
racionalizao da porta de entrada, adequando-se natureza
multiprofssional dos servios prestados. A centralizao da
tarefa de auditoria fgura do mdico assistente absolutamente
contrria racionalizao, eis que o mdico assistente no possui
o amplo conhecimento necessrio para bem racionalizar o uso de
procedimentos e eventos em todas as reas da sade mental.
8.2.2. Terapia Psicossocial no Rol de Procedimentos e Even-
tos em Sade
A Resoluo Normativa ANS n 211, de 11 de janeiro de
2010, atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Sade,
que constitui a referncia bsica para cobertura assistencial nos
planos privados de assistncia sade, contratados a partir de 1
de janeiro de 1999.
No artigo 17 da Resoluo da ANS, inciso V, h previso para
a cobertura de psicoterapia, que poder ser realizada tanto por
127
psiclogo como por mdico devidamente habilitado, de acordo
com o nmero de sesses estabelecido nos Anexos I e II, que listam
os procedimentos e eventos de cobertura mnima obrigatria e
defnem que, para sesses de psicoterapia relacionadas a vrias
doenas da CID, h cobertura mnima de 12 sesses por ano
(pgina 33, item 67 do Anexo II).
8.2.3. Limite ao nmero de sesses
O nmero de sesses de psicoterapia limitado a doze por ano
na Sade Suplementar, mediante indicao de mdico assistente,
conforme a Resoluo ANS n 211/2019 (art. 17, inciso V e
Anexos I e II). Assim, no que se refere ao tratamento por terapia
psicossocial, o paciente enfrenta limitao integralidade da
assistncia de que necessita tanto em funo da necessidade de
indicao mdica para os servios, como por conta da limitao a
doze sesses anuais de psicoterapia.
Ocorre que a limitao ao nmero de consultas/sesses impe
restrio integralidade da assistncia em sade, contrariando a
lgica do sistema constitucional de proteo do direito fundamental
sade estipulado no Art. 6 da Constituio de 1988.
O nmero de consultas/sesses deve ser ilimitado para
respeitar a integralidade e a fnalidade resolutiva do tratamento. O
ideal seria extinguir a limitao quantitativa de consultas/sesses
de psicoterapia por completo. Porm, se necessria a criao de
mecanismo para o controle do nmero de consultas/sesses, a
cobertura obrigatria deve ser ampliada, levando-se em conta
que as sesses podem ser divididas em diferentes tratamentos.
Pode-se estabelecer, por exemplo, um atendimento mnimo de
uma vez por semana em 12 meses (48 sesses/consultas ao
ano), considerando que alguns transtornos mais graves devem
compreender cobertura mnima ainda mais ampliada. Outra
possibilidade seria permitir ao mdico assistente determinar o
nmero de sesses para cada caso especfco, sem considerar
128
9. CONSIDERAES FINAIS
129
limitao ao nmero de 12 sesses.
8.3. CONSIDERAES FINAIS SOBRE ATENDIMENTO POR
SESSES
H uma clara diferena no tratamento da terapia psicossocial
por sesses no SUS e na Sade Suplementar. O SUS concebe a
terapia psicossocial como instrumento para lidar com transtornos
mentais severos e persistentes, compreendendo sesses de
terapia individuais e em grupo. As sesses de terapia em grupo
representam a alternativa mais interessante para o SUS, na
medida em que exigem poucos recursos para atender a maior
quantidade de pacientes. Aps passar pela porta de entrada do
SUS, o paciente redirecionado para servios de atendimento
previstos para seu tipo de transtorno, o que, por vezes, recai na
terapia psicossocial por sesses em grupos e, em casos mais
especfcos, de atendimento individual.
Na Sade Suplementar, a terapia psicossocial por sesses
direcionada de forma mais ntida a todos os tipos de transtornos
mentais, em todos os seus nveis de gravidade. Os pacientes da
Sade Suplementar procuram o atendimento por sesses pelas
mais variadas razes pessoais, e no chegam a ele apenas pela
via da emergncia ou da extrema gravidade. Porm, as sesses
de terapia na Sade Suplementar sofrem as limitaes marcadas
pela Resoluo n 211/2010 da ANS, o que compromete seu
andamento e sucesso. Alm disso, a Sade Suplementar
raramente trabalha com o conceito de psicoterapia em grupo para
pacientes acometidos por problemas de mesma base, restando a
psicoterapia individual como nica alternativa.
Essas diferenas apontam para falhas e avanos de ambos
os sistemas de Sade, bem como indicam a difculdade de se
delimitar e conceituar o que seria o atendimento psicossocial por
sesses. Nota-se que o nome dado a esse tipo de atendimento
varia dentro da prpria regulao do SUS. Isso porque o leque
de servios englobados pela terapia psicossocial por sesses
muito abrangente e dspare.
No entanto, em ambos os sistemas de organizao e regulao
130
da sade, o atendimento teraputico por sesses reconhecido
como procedimento importante e j ocupa seu espao distinto.
A regulao da Sade deve almejar chegar a uma defnio
mais clara sobre o tema para, depois, criar e estabelecer novas
polticas de atendimento.
9. CONSIDERAES FINAIS
Para fnalizar este estudo, apresenta-se uma sntese geral
com algumas consideraes fnais sobre o tema pesquisado,
organizadas de acordo com a lgica da pesquisa realizada::
9.1. CONSIDERAES FINAIS SOBRE A LEGISLAO DE
PREVENO NO CAMPO DA SADE MENTAL
Nota-se que a legislao sobre Sade no Sistema nico de
Sade expressa clara preocupao em delinear a importncia de
aes preventivas dentro do sistema, o que parece, no entanto,
ainda no estar claramente refetido nas polticas pblicas. As
aes preventivas ainda concentram-se em poucos programas
especfcos, como, por exemplo, nos programas para atendimento
de usurios de lcool e outras drogas.
Entretanto, a cobertura do atendimento mental na Sade
Suplementar, por sua vez, regulada por instrumentos normativos
mais recentes, prev ainda menos aes preventivas, e de forma
meramente sugestiva.
Esse quadro aponta para a carncia de medidas preventivas
na Sade Mental, e a conseqente necessidade e importncia de
desenvolver mais estudos e propostas para a rea, como forma
de atender tanto os interesses da populao como os interesses
da gesto do SUS e da Sade Suplementar.
A preveno voltada para os transtornos mentais implica
necessariamente na insero comunitria das prticas propostas,
com a colaborao de todos os segmentos sociais disponveis. As
estratgias de preveno devem ser orientadas pela Lgica da
Reduo de Danos, devendo contemplar a utilizao combinada
131
do fornecimento de informaes sobre os transtornos mentais,
como tambm facilitar a identifcao de problemas pessoais e o
acesso ao suporte para tais problemas.
No mbito da sade suplementar, mostra-se fundamental que
a Agncia Nacional de Sade Suplementar insira a lgica da
preveno em suas normas sobre o plano de referncia mnimo,
impondo obrigaes s operadoras de planos de sade que
garantam aos usurios do sistema suplementar o acesso aos
servios preventivos necessrios para a reduo dos riscos de
doenas e de outros agravos sade, em especial no que tange
sade mental.
Na medida em que a Constituio Federal defne, em seu artigo
198, II, que uma das diretrizes do SUS o atendimento integral
com prioridade para as atividades preventivas, parece-nos natural
que um sistema criado para ser suplementar ao pblico tenha o
dever de contemplar essas duas diretrizes em seus objetivos.
9.2. CONSIDERAES FINAIS SOBRE EMERGNCIAS E
ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Percebe-se que a regulao da sade mental no SUS vem
desde o incio dos anos 1990, confrmando-se nos primeiros anos
do novo sculo. Por sua vez, a regulao da sade mental na
sade suplementar um pouco mais recente.
A cobertura de atendimento mental ilimitada no mbito do
SUS, respeitando o princpio da integralidade. Diferentemente,
na Sade Suplementar, a cobertura limitada, havendo uma
concepo restrita da integralidade, condicionada rea
geogrfca abrangida pelo plano, ao rol de procedimentos
mnimos, limitao temporal de dias de internao por ano e
segmentao contratada (ambulatorial ou hospitalar).
Alm disso, de acordo com o art. 8, inc. I, da Lei 9.656/98, as
operadoras de planos privados de assistncia sade devem ser
registradas nos Conselhos Regionais de Medicina e Odontologia.
No h exigncia neste sentido no que se refere aos Conselhos
Regionais de Psicologia.
Tudo isso denota uma assimetria entre o tratamento dado aos
132
servios de psicologia no mbito do SUS e na seara da Sade
Suplementar. A Sade Suplementar, tal como regulamentada
atualmente, no garante aos consumidores de planos privados
de assistncia sade o pleno exerccio do direito sade no
que concerne sade mental, seja no mbito do atendimento
ambulatorial, seja na seara do atendimento hospitalar.
No obstante isso, tanto na esfera do SUS como no
campo da Sade Suplementar reconhecida a necessria
multiprofssionalidade da ateno sade, o que impe a
adequada incluso da psicologia e de outras profsses da sade
nos servios de sade, inclusive no que tange ao atendimento
ambulatorial, hospitalar e de emergncia. Portanto, a regulao
da Sade Suplementar deve caminhar em direo a cada vez
maior abrangncia multiprofssional, por meio da diminuio de
limitaes ao atendimento psicolgico, em direo eliminao
dessas limitaes, tudo isso em homenagem ao direito humano
fundamental sade.
Por outro lado, o Cdigo de tica do Profssional Psiclogo
estabelece princpios fundamentais, os quais so baliza para
a evoluo do reconhecimento social e jurdico da Psicologia.
Para o escopo deste trabalho, importante referir os seguintes
princpios:
II. O psiclogo trabalhar visando promover a sade e a
qualidade de vida das pessoas e das coletividades (...).
III. O psiclogo atuar com responsabilidade social,
analisando crtica e historicamente a realidade poltica,
econmica, social e cultural.
IV. O psiclogo atuar com responsabilidade, por meio do
contnuo aprimoramento profssional, contribuindo para o
desenvolvimento da Psicologia como campo cientfco de
conhecimento e de prtica.
V. O psiclogo contribuir para promover a universalizao
do acesso da populao s informaes, ao conhecimento
da cincia psicolgica, aos servios e aos padres ticos
da profsso.
(...)
VII. O psiclogo considerar as relaes de poder nos
contextos em que atua e os impactos dessas relaes
133
sobre as suas atividades profssionais, posicionando-se de
forma crtica e em consonncia com os demais princpios
deste Cdigo.
Em face do exposto, a ampliao da cobertura do atendimento
ambulatorial e hospitalar em sade mental, na rbita jurdica da
sade suplementar, uma legtima pretenso dos profssionais da
psicologia, amparada pelos princpios fundamentais que norteiam
o exerccio dessa profsso. Neste aspecto, compete Agncia
Nacional de Sade Suplementar fazer as adequaes normativas
necessrias para que o Plano de Referncia previsto pela Lei
9.656, de 1998, seja de fato um plano de sade capaz de dar o
atendimento mnimo sade aos usurios do sistema de sade
suplementar. Este atendimetno mnimo, a ser oferecido no mbito
do plano de referncia da sade suplementar, deve ser capaz
de desafogar o sistema pblico de sade, oferecendo solues
teraputicas amplas e resolutividade no atendimento.
9.3. CONSIDERAES FINAIS SOBRE ATENDIMENTO POR
SESSES
H uma clara diferena no tratamento da terapia psicossocial
por sesses no SUS e na Sade Suplementar. O SUS concebe a
terapia psicossocial como instrumento para lidar com transtornos
mentais severos e persistentes, compreendendo sesses de
terapia individuais e em grupo. As sesses de terapia em grupo
representam a alternativa mais interessante para o SUS, na
medida em que exigem poucos recursos para atender a maior
quantidade de pacientes. Aps passar pela porta de entrada do
SUS, o paciente redirecionado para servios de atendimento
previstos para seu tipo de transtorno, o que, por vezes, recai na
terapia psicossocial por sesses em grupos e, em casos mais
especfcos, de atendimento individual.
Na Sade Suplementar, a terapia psicossocial por sesses
direcionada de forma mais ntida a todos os tipos de transtornos
mentais, em todos os seus nveis de gravidade. Os pacientes da
Sade Suplementar procuram o atendimento por sesses pelas
134
mais variadas razes pessoais, e no chegam a ele apenas pela
via da emergncia ou da extrema gravidade. Porm, as sesses de
terapia na Sade Suplementar sofrem as limitaes marcadas pela
Resoluo n 211/2010 da ANS, com as alteraes posteriores, o
que compromete seu andamento e sucesso. Alm disso, a Sade
Suplementar raramente trabalha com o conceito de psicoterapia
em grupo para pacientes acometidos por problemas de mesma
base, restando a psicoterapia individual como nica alternativa.
Essas diferenas apontam para falhas e avanos de ambos
os sistemas de Sade, bem como indicam a difculdade de se
delimitar e conceituar o que seria o atendimento psicossocial por
sesses. Nota-se que o nome dado a esse tipo de atendimento
varia dentro da prpria regulao do SUS. Isso porque o leque
de servios englobados pela terapia psicossocial por sesses
muito abrangente e dspare.
No entanto, em ambos os sistemas de organizao e regulao
da sade, o atendimento teraputico por sesses reconhecido
como procedimento importante e j ocupa seu espao distinto.
A regulao da Sade deve almejar chegar a uma defnio
mais clara sobre o tema para, depois, criar e estabelecer novas
polticas de atendimento.
9.4. NECESSIDADE DE APERFEIOAMENTO DA REGU-
LAO DA AGNCIA NACIONAL DE SADE SUPLEMENTAR
PARA A PROTEO DA SADE MENTAL
10. BIBLIOGRAFIA
136
A Sade Suplementar, tal como regulamentada atualmente,
no garante aos consumidores de planos privados de assistncia
sade o pleno exerccio do direito sade no que concerne
sade mental, seja no mbito do atendimento preventivo,
ambulatorial, hospitalar ou por sesses.
luz dos princpios e diretrizes estabelecidos em nossa
Constituio Federal de 1988, fundamental que a sociedade,
por meio dos diversos instrumentos democrticos existentes, faa
as interlocues necessrias com o rgo regulador da sade
suplementar para a melhoria do sistema.
Destaca-se, neste sentido, a participao ativa nas discusses
realizadas no mbito da Agncia Nacional de Sade Suplementar
para adefnio dos Planos de Referncia.
No que diz respeito s inconstitucionalidades e ilegalidades que
podem ser identifcadas na regulao e na organizao do setor
no que diz respeito sade mental, vale ressaltar a possibilidade
do desenvolvimento de parcerias com outros conselhos de
profssionais de sade que tambm so negligenciados na
regulao da Agncia, tais como fsioterapia, educao fsica,
nutrio, entre outros.
Finalmente, no sendo possvel a soluo dos atuais
problemas regulatrios identifcados na atual normatizao
da ANS diretamente com os rgos da prpria Agncia, deve-
se destacar a importncia do Ministrio Pblico Federal para a
adoo de medidas jurdicas cabveis necessrias para a correo
dos vcios de constitucionalidade e legalidade identifcados no
presente estudo. Assim, uma possibilidade sempre aberta ao
sistema conselho de psicologia a de representar ao Ministrio
Pblico Federal, para que esta importante instituio atue no
sentido de apurar os vcios de constitucionalidade e legalidade
existentes e fscalizar a regulao estatal sobre o setor da sade
suplementar no mbito da sade mental, com a conseqente
adoo das medidas judiciais cabveis para a correo das
distores identifcadas.
preciso evitar o estabelecimento de normas de regulao
dos planos de referncia que somente levem em conta somente
137
os fatores econmicos, gerando aos usurios uma carncia
no oferecimento de servios de atendimento de patologias
relacionadas sade mental, em especial servios de psicologia
e psicoterapia.
10. BIBLIOGRAFIA
AITH, Fernando Mussa Abujamra. Curso de Direito Sanitrio.
So Paulo/SP, Ed. Quartier Latin, 2007.
BRASIL. Constituio da Repblica Federativa do Brasil.
Braslia, DF: Senado Federal; 1988. Disponvel em: <http://www.
senado.gov.br/legislacao/ const/con1988/CON1988_13.07.2010/
index.shtm>. Acesso em: 02 jul. 2012.
BRASIL. Presidncia da Repblica. Lei n 8.080, de 19 de
setembro de 1990. Dispe sobre as condies para a promoo,
proteo e recuperao da sade, a organizao e o funcionamento
dos servios correspondentes e d outras providncias. Braslia,
DF: Dirio Ofcial da Unio; 20 set. 1990. Disponvel em: < http://
portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/ lei8080.pdf>. Acesso em:
02 ago. 2012
BRASIL. Presidncia da Repblica. Lei n 8.142, de 28 de
dezembro de 1990. Dispe sobre a participao da comunidade
na gesto do Sistema nico de Sade (SUS) e sobre as
transferncias intergovernamentais de recursos fnanceiros na
rea da sade e d outras providncias. Braslia, DF: Dirio Ofcial
da Unio; 28 dez. 1990. Disponvel em: <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l8142.htm>. Acesso em: 02 ago. 2012.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 9
a
ed.
So Paulo: Malheiros Editores, 2000. p.26
CANOTILHO. J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da
Constituio, 3 Ed., Editora Almedina, Coimbra, 1998.
138
COMPARATO, Fabio Konder. A Afrmao Histrica dos
Direitos Humanos. 1
a
Edio. So Paulo: Editora Saraiva, 1999.
DALLARI, D.A. Elementos de Teoria Geral do Estado, 16
a
ed.,
So Paulo, Saraiva, 1991.
__________ Normas Gerais sobre Sade: Cabimento e
Limitaes. Em Programa nacional de Controle de Dengue:
Amparo Legal execuo das aes de campo. Braslia, Funasa/
Ministrio da Sade, Braslia, 2002.
DALLARI, S.G. Manual do Curso de Especializao Distncia
em Direito Sanitrio para Membros do Ministrio Pblico e da
Magistratura Federal, Braslia, Ministrio da Sade, 2002.
________ A construo do Direito Sanitrio no
Brasil. REvista de Direito Sanitrio, Ed. Ltr, Vol. 9, p. 09-35, 2008.
FARLOW, Andrew. A Global Medical Research and
Development Treaty. An answer to global health needs? London,
UK: IPN Working Papers on Intellectual Property, Innovation
and Health; 2007. Disponvel em: http://www.il-rs.org.br/ingles/
arquivos/AGlobalMedical.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2012.
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 2 Edio Brasileira.
So Paulo. Editora Martins Fontes, 1987. p. 303.
LAFER, Celso. A Reconstruo dos Direitos Humanos Um
Dilogo Com o Pensamento de Hannah Arendt. 2
a
Reimpresso.
So Paulo:Companhia das Letras, 1988. p. 121
NIKEN, Pedro. El Concepto de Derechos Humanos. Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Serie Estudos de
Derechos Humanos. Tomo I, p. 22.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Audincia Pblica sobre
Sade. Braslia: Supremo Tribunal Federal; 2009. Disponvel em:
139
<http://www.stf.jus.br/portal/cms/vertexto.asp?servico=processoa
udienciapublicasaude>. Acessoem: 18 set. 2012.
VASAK, Karel, Lon Inaugurale, sob o ttulo Pour Les Droits
de lHomme de la Troisime Gnration: Les Droits de Solidarit,
ministrada em 2 de julho de 1979, no Instituto Internacional dos
Direitos do Homem, em Estrasburgo, apud Paulo Bonavides,
Curso de Direito Constitucional, Ed. Malheiros, 9
a
edio, So
Paulo, 2000, p. 523
140
Você também pode gostar
- Manual Saude Mental No SUS Os CAPS MS 2004Documento86 páginasManual Saude Mental No SUS Os CAPS MS 2004MariSuzarte100% (1)
- Carta Europeia Do Ordenamento Do Território Carta Europeia Da Autonomia LocalDocumento15 páginasCarta Europeia Do Ordenamento Do Território Carta Europeia Da Autonomia LocalNuno SantosAinda não há avaliações
- Apontamentos de Direito Administrativo IDocumento64 páginasApontamentos de Direito Administrativo IEdna Maria Mendes MonteiroAinda não há avaliações
- Diretrizes para Um Modelo de Atenção em Saúde MentalDocumento48 páginasDiretrizes para Um Modelo de Atenção em Saúde MentalRenata AlmeidaAinda não há avaliações
- Saúde Mental e Dependência QuimicaDocumento98 páginasSaúde Mental e Dependência QuimicaBrunaProençaAinda não há avaliações
- Diretrizes Raps Abp 2020Documento34 páginasDiretrizes Raps Abp 2020PaulaAinda não há avaliações
- Cartilha Saude Mental PDFDocumento18 páginasCartilha Saude Mental PDFJunior MenezesAinda não há avaliações
- Psicologia e Saúde Aula II 19092022 Rosemary UVADocumento28 páginasPsicologia e Saúde Aula II 19092022 Rosemary UVAmanoelamfsantosAinda não há avaliações
- Diretrizes para Um Modelo de Atenção Integral em Saúde Mental No BrasilDocumento19 páginasDiretrizes para Um Modelo de Atenção Integral em Saúde Mental No BrasilrocolmarAinda não há avaliações
- 1694-Texto Do Artigo-10717-1-10-20131022Documento15 páginas1694-Texto Do Artigo-10717-1-10-20131022Alex Silva GonçalvesAinda não há avaliações
- Assistência Farmacêutica e Saude MentalDocumento8 páginasAssistência Farmacêutica e Saude MentalJailson BorgesjrAinda não há avaliações
- Mariana Silva - TeseDocumento73 páginasMariana Silva - TeseGabriel SantanaAinda não há avaliações
- Manual de Capacitação ACS PDFDocumento20 páginasManual de Capacitação ACS PDFRosanamarciasantanaAinda não há avaliações
- Noções de Atenção em Saúde MentalDocumento37 páginasNoções de Atenção em Saúde MentalAlessandro Santos SilvaAinda não há avaliações
- Fundamentos Básicos e Teoria em Saúde MentalDocumento62 páginasFundamentos Básicos e Teoria em Saúde MentalLuiz CavalcantiAinda não há avaliações
- Manual Vigilancia Medicamentos Psicotropicos PovosDocumento20 páginasManual Vigilancia Medicamentos Psicotropicos PovosFábio RebouçasAinda não há avaliações
- Cartilha SM CAPS Penedo 2018Documento23 páginasCartilha SM CAPS Penedo 2018kellyAinda não há avaliações
- Saude Mental Na Atenção BasicaDocumento21 páginasSaude Mental Na Atenção BasicaIsadora SouzaAinda não há avaliações
- Protocolo Saude Mental FlorianópolisDocumento246 páginasProtocolo Saude Mental FlorianópolisIvhan MendesAinda não há avaliações
- Guia de Enfermagem Na Atencao PsicossocialDocumento131 páginasGuia de Enfermagem Na Atencao PsicossocialRoberta SalemeAinda não há avaliações
- 951.1 - Vigilia em Defesa Da Saude Mental Carta v1Documento20 páginas951.1 - Vigilia em Defesa Da Saude Mental Carta v1Daisy AlfaiaAinda não há avaliações
- A Saúde Mental Na Atenção Básica - Articulação Entre Os Princípios Do SUS eDocumento8 páginasA Saúde Mental Na Atenção Básica - Articulação Entre Os Princípios Do SUS eTelma MeloAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Função Do Farmacêutico Na Saúde MentalDocumento24 páginasArtigo Sobre Função Do Farmacêutico Na Saúde MentalGabryell LucasAinda não há avaliações
- Saude MentalDocumento64 páginasSaude Mentalsilvania ferreira de souza fragosoAinda não há avaliações
- Servicos de Emergencia Psiquiatrica - Rede de Atencao Psi PDFDocumento7 páginasServicos de Emergencia Psiquiatrica - Rede de Atencao Psi PDFTiago RodriguesAinda não há avaliações
- Saúde Mental No Sus - Os CapsDocumento86 páginasSaúde Mental No Sus - Os CapsGiovanna MartinsAinda não há avaliações
- Cartilha - A Rede de Ateno Psicossocial No Piaui PDFDocumento36 páginasCartilha - A Rede de Ateno Psicossocial No Piaui PDFAlexandre SantosAinda não há avaliações
- Guia Pratico Matriciamento SaudementalDocumento236 páginasGuia Pratico Matriciamento SaudementalSeventhEclipseAinda não há avaliações
- Revista Saúde Física & MentalDocumento19 páginasRevista Saúde Física & MentalKamylla FranciellyAinda não há avaliações
- Bibliografia1 LinhaGuiaSaudeMentalDocumento238 páginasBibliografia1 LinhaGuiaSaudeMentalCissa LsgAinda não há avaliações
- Longo Caminho A Percorrer Na Volta para A Sociedade. (TESE)Documento136 páginasLongo Caminho A Percorrer Na Volta para A Sociedade. (TESE)Erica LobatoAinda não há avaliações
- Manual de CAPSDocumento86 páginasManual de CAPSmansomic100% (6)
- Newsletter Saude MentalDocumento18 páginasNewsletter Saude MentalAntonio de PaduaAinda não há avaliações
- Saude Mental e Atencao Basica A Saude CRDocumento8 páginasSaude Mental e Atencao Basica A Saude CRabinoa meloAinda não há avaliações
- Conteúdos de Estudos para Seleções de Residências Psi @vanessa - Firmino.psiDocumento5 páginasConteúdos de Estudos para Seleções de Residências Psi @vanessa - Firmino.psiJessica MartinsAinda não há avaliações
- Enfermagem Saúde Mental 1Documento9 páginasEnfermagem Saúde Mental 1Alexandre NascimentoAinda não há avaliações
- 3 - 4 - 02 - Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas À Luz Da Saúde Pública. Cap 4Documento27 páginas3 - 4 - 02 - Uso e Abuso de Álcool e Outras Drogas À Luz Da Saúde Pública. Cap 4ivanAinda não há avaliações
- Cartilha Saude Mental 1Documento72 páginasCartilha Saude Mental 1beijaflorkelly1991Ainda não há avaliações
- RESOLUÇÃO #17, DE 19 DE JULHO DE 2022 - RESOLUÇÃO #17, DE 19 DE JULHO DE 2022 - DOU - Imprensa NacionalDocumento16 páginasRESOLUÇÃO #17, DE 19 DE JULHO DE 2022 - RESOLUÇÃO #17, DE 19 DE JULHO DE 2022 - DOU - Imprensa NacionalPatrícia SampaioAinda não há avaliações
- Fundamentos Básicos e Teoria em Saúde MentalDocumento78 páginasFundamentos Básicos e Teoria em Saúde MentalJobson Santana0% (1)
- 2996 8460 1 SMDocumento15 páginas2996 8460 1 SMFabio MouraAinda não há avaliações
- Revisão Integrativa Do Uso Do PTS Na Saúde Mental - 2023Documento17 páginasRevisão Integrativa Do Uso Do PTS Na Saúde Mental - 2023Erica SantiagoAinda não há avaliações
- 19011-Texto Do Artigo-63030-65399-10-20181114Documento8 páginas19011-Texto Do Artigo-63030-65399-10-20181114Luiza Marra de Araújo CruvinelAinda não há avaliações
- TCC - A Atuação Do Psicólogo No CAPS-AD e CAPS-IDocumento44 páginasTCC - A Atuação Do Psicólogo No CAPS-AD e CAPS-IJulio100% (1)
- PPP Versão Final2Documento16 páginasPPP Versão Final2maicofernandocostaAinda não há avaliações
- Ementa&Cronograma PsiSaúde QUINTADocumento6 páginasEmenta&Cronograma PsiSaúde QUINTARui Roinuj MaliAinda não há avaliações
- Guia Trabalho Na RAPS Diretrizes e OrientacoesDocumento94 páginasGuia Trabalho Na RAPS Diretrizes e OrientacoesNayara BretasAinda não há avaliações
- Perspetiva Sobre A Saúde Mental em PortugalDocumento7 páginasPerspetiva Sobre A Saúde Mental em PortugalAndreia SantoAinda não há avaliações
- Saude Mental OMSDocumento106 páginasSaude Mental OMSEleusa Gallo RosenburgAinda não há avaliações
- Projeto CapsDocumento28 páginasProjeto CapsPEQUENO HANSAinda não há avaliações
- Relatório Final de 2001Documento23 páginasRelatório Final de 2001Rafaela CordeiroAinda não há avaliações
- Saúde Mental e Atividade Física: Alguns apontamentosNo EverandSaúde Mental e Atividade Física: Alguns apontamentosAinda não há avaliações
- Saúde Mental e Moral Capitalista do Trabalho: A Dialética das AlienaçõesNo EverandSaúde Mental e Moral Capitalista do Trabalho: A Dialética das AlienaçõesAinda não há avaliações
- Saúde Mental e Atenção Primária em Saúde: Uma Interface NecessáriaNo EverandSaúde Mental e Atenção Primária em Saúde: Uma Interface NecessáriaAinda não há avaliações
- Atividades FísicasNo EverandAtividades FísicasAinda não há avaliações
- Práticas Integrativas em Saúde: Uma realidade na atenção primária, especializada e hospitalarNo EverandPráticas Integrativas em Saúde: Uma realidade na atenção primária, especializada e hospitalarAinda não há avaliações
- Promoção da saúde mental no Brasil: Aspectos teóricos e práticosNo EverandPromoção da saúde mental no Brasil: Aspectos teóricos e práticosAinda não há avaliações
- Psicologia da saúde: Especificidades e diálogo interdisciplinarNo EverandPsicologia da saúde: Especificidades e diálogo interdisciplinarAinda não há avaliações
- Fluxograma Da AgdrDocumento63 páginasFluxograma Da AgdrFigueredo WalaceAinda não há avaliações
- Controle e Responsabilização Da AdministraçãoDocumento17 páginasControle e Responsabilização Da AdministraçãoJussara Cristina AlmeidaAinda não há avaliações
- Lei Organica - MangaratibaDocumento77 páginasLei Organica - MangaratibaNelson RicardoAinda não há avaliações
- Apostila 1 Da Administração Pública (Arts. 37 e 38) e Dos Servidores Públicos (Arts.39 A 41)Documento9 páginasApostila 1 Da Administração Pública (Arts. 37 e 38) e Dos Servidores Públicos (Arts.39 A 41)Gilson Meira100% (1)
- Lei Do TrabalhoDocumento44 páginasLei Do TrabalhoRufus MaculuveAinda não há avaliações
- 2 Apontamentos-STMDocumento9 páginas2 Apontamentos-STMGomes CumbulaAinda não há avaliações
- Lei de BasesDocumento44 páginasLei de BasesXone Tavares100% (1)
- Lein8 112de1990AnotadaTtulosIeII17 05 2017 PDFDocumento62 páginasLein8 112de1990AnotadaTtulosIeII17 05 2017 PDFlidiannyfontelesAinda não há avaliações
- Cartilha - de - Incentivos - Fiscais - PORT - Rev2011 Sufrana Zona Franca de ManausDocumento40 páginasCartilha - de - Incentivos - Fiscais - PORT - Rev2011 Sufrana Zona Franca de ManausFernanda PereiraAinda não há avaliações
- Consolidação Do Atos Normativos PDFDocumento374 páginasConsolidação Do Atos Normativos PDFIgor FrancaAinda não há avaliações
- Contencioso Das Taxas Das AutarquiasDocumento36 páginasContencioso Das Taxas Das AutarquiasMaria CostaAinda não há avaliações
- 1725 - DOS DIREITOS SOCIAIS - Art. 6º Ao 11 Da CF - Apostila AmostraDocumento11 páginas1725 - DOS DIREITOS SOCIAIS - Art. 6º Ao 11 Da CF - Apostila AmostraJeferson Luiz Da Rocha CostaAinda não há avaliações
- 1.lições de Direito Administrativo, J.C.V. AndradeDocumento29 páginas1.lições de Direito Administrativo, J.C.V. AndradeSusete OliveiraAinda não há avaliações
- SIADAPDocumento15 páginasSIADAPPaulo SabinoAinda não há avaliações
- Lei Complementar N. 308 25out2005 - Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Do RN PDFDocumento42 páginasLei Complementar N. 308 25out2005 - Reestrutura o Regime Próprio de Previdência Do RN PDFDenilson LopesAinda não há avaliações
- Princípio Da Intranscendência Subjetiva Das SançõesDocumento4 páginasPrincípio Da Intranscendência Subjetiva Das SançõesRafael SouzaAinda não há avaliações
- CRM 2018Documento39 páginasCRM 2018Mauro Manuel FalcãoAinda não há avaliações
- (O2) - Ordenamento Territorial para Gestão Do Uso e Ocupação Da Terra Emmoçambique Aspetos LegaisDocumento19 páginas(O2) - Ordenamento Territorial para Gestão Do Uso e Ocupação Da Terra Emmoçambique Aspetos LegaiswillycarlosjoaoraulAinda não há avaliações
- Lei 8.112 Anotada - Título III - 08.05.2017Documento125 páginasLei 8.112 Anotada - Título III - 08.05.2017pierreAinda não há avaliações
- TEMA - Planificacao de Bens e ServicosDocumento11 páginasTEMA - Planificacao de Bens e ServicosSergio Alfredo Macore100% (1)
- Questões Sobre Princípios Constitucionais Da Adm PubDocumento5 páginasQuestões Sobre Princípios Constitucionais Da Adm PubCarlos PessoaAinda não há avaliações
- Caderno Questoes Analista TJ-PEDocumento297 páginasCaderno Questoes Analista TJ-PEmariliaveira100% (1)
- Lei Complementar 197 89 - Atualizada Ate Jan2006Documento21 páginasLei Complementar 197 89 - Atualizada Ate Jan2006Débora WegnerAinda não há avaliações
- SRF - Instrução Normativa 1.234-2012Documento33 páginasSRF - Instrução Normativa 1.234-2012Julio Cesar CarvalhoAinda não há avaliações
- Rbac 141Documento66 páginasRbac 141Marcelo NobregaAinda não há avaliações
- Lei N° 282 - 2012 - Estatuto Dos ServidoresDocumento89 páginasLei N° 282 - 2012 - Estatuto Dos Servidoresfranciscomariano50% (2)
- MonografiaDocumento60 páginasMonografiaAllex MendonçaAinda não há avaliações
- Mono - Tecnologia de Informação Na Área Pública-Um Estudo Da Utilização Do FIPLAN Na Universidade Do Estado de Mato GrssoDocumento51 páginasMono - Tecnologia de Informação Na Área Pública-Um Estudo Da Utilização Do FIPLAN Na Universidade Do Estado de Mato GrssoPaulo Roberto LucasAinda não há avaliações