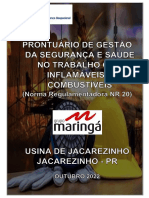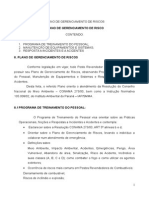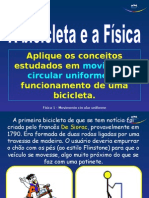Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Manual Grafica
Manual Grafica
Enviado por
adrianoifaelDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Manual Grafica
Manual Grafica
Enviado por
adrianoifaelDireitos autorais:
Formatos disponíveis
M
A
N
U
A
L
D
E
S
E
G
U
R
A
N
A
E
S
A
D
E
N
O
T
R
A
B
A
L
H
O
I
N
D
S
T
R
I
A
G
R
F
I
C
A
M
A
N
U
A
L
D
E
S
E
G
U
R
A
N
A
E
S
A
D
E
N
O
T
R
A
B
A
L
H
O
I
N
D
S
T
R
I
A
G
R
F
I
C
A
SESI Servio Social da Indstria
DAM Diretoria de Assistncia Mdica e Odontolgica
GSST Gerncia de Segurana e Sade no Trabalho
Manual de Segurana e Sade no Trabalho
INDSTRIA GRFICA
Coleo Manuais | 2006 | SESI-SP
Departamento Regional de So Paulo
Conselho Regional
Presidente
Paulo Skaf
Representantes das Atividades Industriais
Titulares
Elias Miguel Haddad
Fernando Greiber
Luis Eulalio de Bueno Vidigal Filho
Suplentes
Nelson Abbud Joo
Nelson Antunes
Sylvio Alves de Barros Filho
Representante da Categoria Econmico das Comunicaes
Ruy de Salles Cunha
Representante do Ministrio do Trabalho e Emprego
Titular
Mrcio Chaves Pires
Suplente
Maria Elena Taques
Representante do Governo
Wilson Sampaio
SESI-SP
SESI Departamento Regional de So Paulo
proibida a reproduo total ou parcial desta publicao,
por quaisquer meios, sem autorizao prvia do SESI SP
Outras publicaes da Coleo Manuais:
Indstria Caladista
Indstria do Vesturio
Indstria Moveleira
Indstria da Panificao
Ficha Catalogrfica elaborada por Emilene da Silva Ribeiro CRB-8 / 6801
Servio Social da Indstria SESI. Diretoria de Assistncia Mdica e
Odontolgica DAM. Gerncia de Segurana e Sade no Trabalho GSST.
Manual de segurana e sade no trabalho. / Gerncia de Segurana e
Sade no Trabalho. So Paulo : SESI, 2006.
240 p.: il. color.; 28cm. (Coleo Manuais ; Indstria Grca).
Bibliograa: p. 230-236.
ndice remissivo: p. 228-229.
ISBN 85-98737-07-0.
I. Ttulo. 1. Sade ocupacional.
SESI Servio Social da Indstria
Departamento Regional de So Paulo
Av. Paulista, 1313 So Paulo SP
PABX: (11) 3146-7000
www.sesisp.org.br
Diretoria de Assistncia Mdica e Odontolgica
Tel.: (11) 3146-7170 / 3146-7171
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica 2 | 3
4 | 5 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
SEGURANA E SADE IMPRESSAS NAS ARTES GRFICAS
O conhecimento de seus colaboradores, somado dedicao e eccia, constituem os principais aspectos
do patrimnio da empresa moderna. A rigor, o gerenciamento de pessoas o mais importante item da
gesto de negcios. Assim, bsico cuidar da sua sade e segurana. No para menos que a busca por
incorporar ateno nesses campos seja, cada vez mais, uma das preocupaes dos empresrios.
O respeito aos recursos humanos est entre os principais itens da governana corporativa. E, em todo
o mundo, surgem os programas de atendimento aos interesses dos trabalhadores. Educao alimentar,
exerccios, combate ao vcio do fumo e do lcool, exames preventivos de sade, hbitos adequados
no exerccio das funes so, entre outros, alguns dos pontos aos quais o administrador empenha sua
melhor ateno.
Nessa direo, lanamos o Manual de Segurana e Sade, cuja srie vem contemplando os vrios
segmentos industriais.
Esta edio, dirigida a Indstria Grca, atende aos interesses de 15.500 empresas, representando 2,6% do
PIB industrial brasileiro, que geram 202 mil empregos diretos. Um segmento industrial que, nos ltimos dez
anos, investiu cerca de US$ 6 bilhes.
Que esta leitura contribua para que a Indstria Grca do Brasil avance, ainda mais, na qualidade de vida e
bem-estar dos seus colaboradores.
Paulo Skaf
Presidente da Fiesp
SUMRIO
Lista de Siglas e Abreviaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Lista de Figuras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Lista de Quadros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Lista de Grcos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Apresentao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
PARTE I INTRODUO
1 Histrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
2 Tipicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.1 Pr-impresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.2 Impresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
2.3 Ps-impresso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3 Riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.1 Fsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.2 Qumicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.3 Biolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.4 Ergonmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3.5 Acidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
PARTE II ESTUDO DE CAMPO
4 Perl das Empresas Pesquisadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.1 Avaliao qualitativa dos riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.2 Avaliao quantitativa dos riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.3 Avaliao das condies gerais de sade dos trabalhadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4.4 Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.4.1 Avaliao qualitativa dos riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
4.4.2 Avaliao quantitativa dos riscos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
4.4.3 Avaliao das condies gerais de sade dos trabalhadores . . . . . . . . . . . . . . 49
4.5 Consideraes nais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
PARTE III PROGRAMAS E AES
5 Gesto de Segurana e Sade no Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
6 Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.1 Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
6.2 Etapas para constituio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
6.3 Treinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
6.4 Atribuies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
6.4.1 Mapa de risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
6.4.1.1 Modelo de mapa de risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.4.1.2 Medidas recomendadas pela CIPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
7 Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.1 Desenvolvimento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
7.1.1 Antecipao e reconhecimento dos riscos ambientais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
7.1.2 Avaliao da exposio dos trabalhadores aos riscos ambientais . . . . . . . . . . . . 102
7.1.3 Estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle . . . . . . . . . . . . 113
7.1.4 Implantao de medidas de controle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
7.2 Cronograma de atividades a serem executadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.3 Registro e divulgao dos dados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.4 Responsabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
7.5 Consideraes nais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
8 Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
8.1 Identicao da empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.2 Avaliao dos riscos ambientais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6 | 7 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
8.3 Exames mdicos e periodicidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
8.4 Atestado de Sade Ocupacional (ASO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
8.5 Pronturio mdico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
8.6 Relatrio anual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
8.7 Comunicao de Acidente de Trabalho (CAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
8.8 Primeiros socorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
8.9 Planos de aes preventivas de doenas ocupacionais e no ocupacionais . . . . . . . . . . 153
8.10 Consideraes nais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
9 Preveno e Combate a Incndios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
9.1 Parte terica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
9.2 Parte prtica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
10 Programa de Conservao Auditiva (PCA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
10.1 Competncias e responsabilidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
10.2 Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
10.3 Exemplos de documentos do PCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
10.3.1 Modelo de cha de exame audiomtrico, contemplando os dados
descritos na Portaria n. 19 (audiograma) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
10.3.2 Modelo de seleo e indicao dos protetores auditivos . . . . . . . . . . . . . . . . 166
10.3.3 Modelo de cronograma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
10.3.4 Modelo de temas para o desenvolvimento de palestras . . . . . . . . . . . . . . . . 170
10.4 Consideraes nais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
11 Aspectos Organizacionais em Primeiros Socorros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11.1 Conceitos bsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11.2 Socorristas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
11.3 Treinamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
11.4 Equipamentos e transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
12 Laudo Tcnico das Condies Ambientais do Trabalho (LTCAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
12.1 Estrutura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
12.2 Elaborao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
13 Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
PARTE IV LEGISLAO
14 Introduo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
15 Constituio Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
16 Normatizao Trabalhista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
16.1 Jornada de trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
16.2 Trabalho do idoso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
16.3 Trabalho da criana e do adolescente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
16.4 Trabalho do deciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
16.5 Trabalho da mulher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
16.6 Trabalho terceirizado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
16.7 Trabalho temporrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
16.8 Normas Regulamentadoras (NR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
17 Normatizao Previdenciria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1 Acidente do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1.1 Tpico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1.2 Trajeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1.3 Doenas ocupacionais e/ou prossionais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1.4 Doenas do trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
17.1.5 Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
18 Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
19 Responsabilidade Civil e Criminal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
20 Legislao Ambiental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
INFORMAES COMPLEMENTARES
ndice Remissivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Glossrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Referncias Bibliogrcas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Bibliograa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
8 | 9 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS
ABESO Associao Brasileira para o Estudo da Obesidade
ABIGRAF Associao Brasileira da Indstria Grca
ABTG Associao Brasileira de Tecnologia Grca
ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AIDS Acquired Immunodeciency Syndrome
ASO Atestado de Sade Ocupacional
CA Certicado de Aprovao
CAGED Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
CAI Certicado de Aprovao de Instalaes
CAT Comunicao de Acidente do Trabalho
CBO Cdigo Brasileiro de Ocupao
CDI Centro de Documentao e Informao
CE Comisso Eleitoral
CFM Conselho Federal de Medicina
CIP Controle Integrado de Pragas
CIPA Comisso Interna de Preveno de Acidentes
CLT Consolidao das Leis do Trabalho
CNAE Classicao Nacional de Atividades Econmicas
CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica
CORDE Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Portadora de Decincia
CP Cdigo Penal
CRF
a
Conselho Regional de Fonoaudiologia
CTPS Carteira de Trabalho Previdncia Social
DAM Diretoria de Assistncia Mdica e Odontolgica
DI Declarao das Instalaes
DORT Distrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho
DRT Delegacia Regional do Trabalho
DST Doenas Sexualmente Transmissveis
EPC Equipamento de Proteo Coletiva
EPI Equipamento de Proteo Individual
FIESP Federao das Indstrias do Estado de So Paulo
FISPQ Ficha de Informaes de Segurana de Produtos Qumicos
GLP Gs Liquefeito de Petrleo
GSST Gerncia de Segurana e Sade no Trabalho
HA Hipuric Acid (cido Hiprico)
IBUTG ndice de Bulbo mido Termmetro de Globo
IBMP ndice Biolgico Mximo Permitido
IMC ndice de Massa Corprea
IN Instruo Normativa
INSS Instituto Nacional de Seguridade Social
ISO International Organization for Standardization
LT Limite de Tolerncia
LTCAT Laudo Tcnico de Condies Ambientais do Trabalho
MHA Metil Hipuric Acid (cido Metil Hiprico)
MTE Ministrio do Trabalho e Emprego
MTPS Ministrio do Trabalho e Previdncia Social
NBR Norma Brasileira Registrada
NHO Norma de Higiene Ocupacional
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health
NIT Nmero de Identicao do Trabalhador
NPS Nvel de Presso Sonora
NR Norma Regulamentadora
OIT Organizao Internacional do Trabalho
ORL Otorrinolaringologia
OSHAS Occupational Health and Safety Assessment Series
PAIR Perda Auditiva Induzida por Rudo
10 | 11 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PCA Programa de Conservao Auditiva
PCMSO Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
PIB Produto Interno Bruto
PPP Perl Prossiogrco Previdencirio
PPR Programa de Proteo Respiratria
PPRA Programa de Preveno de Riscos Ambientais
RCP Reanimao Cardiopulmonar
RPS Regulamento da Previdncia Social
RAIS Relao Anual Informao Social
SAT Seguro de Acidente de Trabalho
SBC Sociedade Brasileira de Cardiologia
SBIm Sociedade Brasileira de Imunizao
SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial
SESI Servio Social da Indstria
SESMT Servio Especializado em Engenharia de Segurana e em Medicina do Trabalho
SIDA Sndrome da Imunodecincia Adquirida
SINDGRAF Sindicato das Indstrias Grcas do Estado de So Paulo
SIPAT Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho
SST Segurana e Sade no Trabalho
STI Setor de Toxicologia Industrial
SUS Sistema nico de Sade
TLV Threshold Limit Values
TST Tribunal Superior do Trabalho
UFIR Unidade Fiscal de Referncia
UV Ultravioleta
VR Valor de Referncia
12 | 13 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 Carto CNPJ
Figura 2 Representao grca dos riscos
Figura 3 Representao grca das cores dos riscos
Figura 4 Representao de um risco no setor
Figura 5 Representao de vrios riscos de mesma intensidade
Figura 6 Utilizao de equipamento de proteo individual
Figura 7 Ventilao geral da sala de revelao
Figura 8 Distribuio de produtos qumicos nos locais de uso
Figura 9 Recipientes para descarte dos panos de limpeza
Figura 10 Limpeza da tela de serigraa
Figura 11 Estoque de produtos qumicos
Figura 12 Estoque de embalagens para descarte
Figura 13 Apoio dos ps para descanso da coluna
Figura 14 Ambiente iluminado
Figura 15 Demarcao de piso
Figura 16 Transporte manual
Figura 17 Transporte mecnico
Figura 18 Trabalho com uso do computador
Figura 19 Trabalho em bancada
Figura 20 Utilizao de empurrador na guilhotina
Figura 21 Roteiro de limpeza dos rolos das mquinas
Figura 22 Enclausuramento do ponto de convergncia
Figura 23 Mquina de corte e vinco
Figura 24 Mquina de corte e vinco modelo antigo
Figura 25 Uniforme adequado
Figura 26 Treinamento com extintores
Figura 27 Treinamento com rede de hidrante
Figura 28 Utilizao do protetor auditivo
Figura 29 Orientao do uso dos protetores auditivos
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 Distribuio do nmero de trabalhadores e de empresas de acordo com o porte
Quadro 2 Tecnologias usuais na etapa de pr-impresso
Quadro 3 Tecnologias usuais na etapa de impresso
Quadro 4 Tecnologias usuais na etapa de ps-impresso
Quadro 5 Distribuio das empresas estudadas por cidade
Quadro 6 Distribuio das empresas quanto ao porte e processo de impresso
Quadro 7 Distribuio das empresas quanto ao porte e nmero de trabalhadores
Quadro 8 Limite de tolerncia aos solventes analisados
Quadro 9 Valores de referncia e ndices biolgicos mximos permitidos
Quadro 10 Classicao da presso arterial
Quadro 11 Classicao do ndice de massa corprea (IMC)
Quadro 12 Relatos sobre programas e aes em SST
Quadro 13 Nveis de presso sonora (NPS)
Quadro 14 Exposio do trabalhador ao rudo (dosimetria)
Quadro 15 Concentraes de mistura de solventes amostragem ativa
Quadro 16 Concentraes de mistura de solventes amostragem passiva
Quadro 17 Dosagens dos metablitos urinrios em porcentagem
Quadro 18 Distribuio percentual da faixa etria por processo de produo
Quadro 19 Relao da Classicao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE)
Quadro 20 Dimensionamento da CIPA
Quadro 21 Cronograma do processo eleitoral
Quadro 22 Treinamento da CIPA
Quadro 23 Classicao dos principais riscos ocupacionais
Quadro 24 Nveis instantneos de presso sonora
Quadro 25 Nomenclaturas para interpretao dos dados do dosmetro
Quadro 26 Dosimetria de rudo impressor offset
Quadro 27 Dosimetria de rudo impressor offset rotativa
Quadro 28 Dosimetria de rudo impressor
Quadro 29 Dosimetria de rudo impressor
Quadro 30 Dosimetria de rudo impressor
Quadro 31 Dosimetria de rudo operador de dados variveis
Quadro 32 Resultados das anlises de amostras de ar coletadas de forma ativa
Quadro 33 Resultados das anlises de amostras de ar coletadas de forma passiva
Quadro 34 Iluminncia medida nos postos de trabalho
Quadro 35 Cronograma para execuo dos eventos propostos
Quadro 36 Exames mdicos ocupacionais
Quadro 37 Parmetros mnimos adotados para exames de acordo com os riscos ocupacionais
identicados
Quadro 38 Relatrio Anual do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO)
Quadro 39 Sugesto de materiais de primeiros socorros
Quadro 40 Calendrio de vacinao para o trabalhador
Quadro 41 Exemplo das condies ambientais do trabalho
Quadro 42 Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP)
14 | 15 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
LISTA DE GRFICOS
Grco 1 Principais motivos da no utilizao de protetor auditivo.
Grco 2 Resultados das audiometrias tonais por via area.
Grco 3 Resultados da medio da presso arterial.
Grco 4 Resultados do ndice de massa corprea (IMC).
Grco 5 Hbitos pessoais.
Grco 6 Acidentes de trabalho tpicos referidos por porte de empresa.
Grco 7 Acidentes de trabalho tpicos referidos por etapa de processo.
Grco 8 Sintomas referidos por porte da empresa.
Grco 9 Sinais e sintomas apresentados ao exame fsico.
Grco 10 Sintomas referidos por etapa de processo.
Grco 11 Achados do exame fsico por etapa de processo.
Grco 12 Relato de cansao por etapa de processo.
Grco 13 Leses de pele referidas por etapa de processo.
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
APRESENTAO
O Servio Social da Indstria de So Paulo (SESI-SP), atravs de sua Diretoria de Assistncia Mdica e
Odontolgica (DAM), apresenta o Manual de Segurana e Sade no Trabalho Indstria Grca.
O presente manual foi elaborado pela equipe multidisciplinar de prossionais da Gerncia de Segurana e
Sade no Trabalho (GSST), formada por bilogo, bibliotecrio, enfermeiro do trabalho, engenheiro de
segurana do trabalho, fonoaudilogo, mdico do trabalho, qumico, tcnico em qumica, tcnico de
segurana do trabalho e administrativo. Tem como objetivo orientar as indstrias grcas e est
dividido em quatro partes:
I Introduo
II Perl das empresas pesquisadas
III Programas e Aes
IV Legislao
A DAM e a GSST do SESI-SP agradecem a participao e a colaborao das empresas visitadas, de seus tra-
balhadores, e espera que este manual possa colaborar com a melhoria do ambiente de trabalho e da quali-
dade de vida dos trabalhadores.
Agradecemos tambm o apoio da Escola SENAI Theobaldo de Nigris para o desenvolvimento deste trabalho.
16 | 17
PARTE I
introduo
18 | 19 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
1 histrico
A humanidade viveu um longo perodo sem nenhuma espcie de linguagem escrita, e no h dvida de que
a linguagem articulada ou falada era usada nesse tempo. Ao longo de milnios, as lnguas desenvolveram-se,
modicaram-se e algumas desapareceram sem deixar registros.
A necessidade humana de se comunicar e se exprimir a raiz de todas as formas de inscrio grca, sejam
elas rudimentares, sejam eruditas.
A escrita desenvolveu-se em razo da necessidade de transmitir mensagens a distncia e de preservar informaes.
A poca mais remota das inscries feitas pelo ser humano a Pr-Histria. As pinturas ruprestes, que repre-
sentam cenas de batalhas ou descrevem animais, contm elementos de escrita, por constiturem expresso
visual xa de fatos e coisas.
A atividade pictogrca do homem, ao escrever usando guras, estabelecia uma correspondncia entre a
imagem e o objeto, e esse tipo de escrita pode ser utilizado para qualquer lngua falada.
Na tentativa de criar os registros, vrios materiais foram usados para a transmisso de informaes: os egpcios,
por exemplo, utilizavam o junco para a confeco de seus rolos de papiro; os astecas e os maias usavam uma das
camadas da casca de rvore; os romanos, placas de madeira; os sumrios, sinetes cilndricos e tabletes de argila;
e na Idade Mdia os escritos passaram a ser grafados em pergaminhos feitos de pele de animais.
As primeiras formas de impresso conhecidas ocorreram nas antigas civilizaes do Extremo Oriente, no en-
tanto, a China foi o primeiro pas a utilizar papel e tinta para suas reprodues de textos e imagens, em um
processo chamado xilograa, mtodo que utilizava papel, tinta e blocos de madeira talhados mo.
A China comeou a imprimir por meio de formas de madeira gravadas, e entre 1041 e 1049 foram criados os
caracteres (tipos) mveis de loua (terracota), depois os tipos mveis de metal, chumbo e cobre.
Para a civilizao ocidental, a tcnica de imprimir teve incio, por volta de 1300 d.C., na Europa, quando os
comerciantes comearam a importar mercadorias do Oriente.
Os blocos entalhados foram usados na Europa, primeiramente, para imprimir guras de santos e baralhos de
cartas, e os tipos mveis comearam a ser utilizados pouco antes de 1450.
Na Alemanha, Johannes Gutenberg, ourives na cidade de Mainz, foi considerado o criador da imprensa em
srie, ao confeccionar moldes de metal que serviam como matrizes para a moldagem dos tipos mveis em
liga de chumbo, antimnio e bismuto, utilizados para a composio dos textos a serem impressos atravs do
prelo de madeira, no qual a folha de papel era apoiada e prensada manualmente. Este processo foi chamado
de impresso tipogrca.
Por volta de 1456, Gutenberg produziu uma Bblia impressa em latim, que foi a primeira publicao pelo pro-
cesso tipogrco. Foram confeccionados duzentos exemplares, em dois volumes, com 642 pginas no total.
A regio de Mainz foi perturbada pela guerra dos bispos, que culmina com o saque da cidade onde Gutenberg
vivia, levando muitos operrios a se refugiarem em outras regies da Europa e a instalarem pequenas tipogra-
as, difundindo para o mundo as tcnicas de impresso.
O clero viu as vantagens do poder da impresso. Indulgncias, textos teolgicos e manuais para conduo de inqui-
sies passaram a ser impressos e se tornaram instrumentos comuns para disseminao da inuncia da Igreja.
De 1456 at 1500, houve grande produo e distribuio de uma variedade de textos, bem como aumento
do nmero de estabelecimentos impressores.
A Revoluo Industrial, em 1760, impulsionou consideravelmente os avanos tecnolgicos nas artes grcas.
As inovaes eram to freqentes que, quando uma tcnica comeava a ser aceita e praticada, outra nova
surgia. Processos de impresso foram aperfeioados e outros foram criados, como: offset (Alois Senefelder, em
1796), impresso anilina (John A Kingsley, em 1860), posteriormente chamada de exograa (1952), rotogra-
vura (Karl Kleitsche, em 1878) e serigraa, do qual derivou o estncil.
No Brasil, devido s rgidas proibies e censuras da Coroa Portuguesa, a primeira ocina tipogrca ocial-
mente instalada aconteceu em 1808, a Imprensa Rgia, por iniciativa de D. Joo VI, no Rio de Janeiro, onde
foi mantido o monoplio da impresso at 1822, quando o Brasil se tornou independente.
Em 1815, chegou em Pernambuco uma impressora adquirida na Europa, a qual entretanto, por falta de mo-
de-obra especializada, cou inoperante at 1817, quando em mos de revoltosos foi impresso um manifesto.
Em 1875, havia catorze ocinas tipogrcas e quatro ocinas litogrcas operando na cidade do Recife.
O declnio da importncia poltica do estado de Pernambuco, no nal do sculo XIX, levou estagnao eco-
nmica, reetindo diretamente na reduo do setor grco na regio. No sculo XX, sobretudo aps os anos
20, ocorreu a expanso da industrializao no eixo RioSo Paulo, acentuando a estagnao pernambucana.
A expanso das grcas, nos ramos comercial e editorial, ocorreu principalmente no Estado de So Paulo. Esta
expanso no foi acompanhada por um programa de formao e aprimoramento prossional. A escassez de
mo-de-obra especializada tornou-se um problema e, em 1945, criou-se a Escola SENAI do Belm Seo
20 | 21 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
de Artes Grcas C-2a. Posteriormente, a unidade mudou-se para o bairro do Cambuci e, em 1962, j bem
maior, recebeu a denominao de Escola SENAI Felcio Lanzara, dedicada formao de mo-de-obra para a
Indstria Grca.
A Associao Brasileira de Tcnicos Grcos, hoje chamada de Associao Brasileira de Tecnologia Grca
(ABTG), foi fundada em 1959 e direcionada para a formao e a informao tcnica do meio grco.
Em 1965, reunidos num congresso na cidade paulista de guas de Lindia, os empresrios do setor grco
criaram a Associao Brasileira da Indstria Grca (ABIGRAF), encontrando uma nova maneira de atuao
coletiva, j que os seus sindicatos estavam sob interveno em decorrncia da Revoluo de 1964. O primeiro
presidente da ABIGRAF foi Theobaldo De Nigris, tambm presidente da Federao das Indstrias do Estado de
So Paulo (FIESP).
O Colgio Industrial de Artes Grcas, atual Escola SENAI Theobaldo De Nigris, foi fundado em 1971, no bair-
ro da Moca na cidade de So Paulo, SP, e oferecia o Curso Tcnico em Artes Grcas, preenchendo a lacuna
para uma formao mais especializada deixada pela Escola SENAI de Artes Grcas Felcio Lanzara, que at
ento ministrava ensinamentos sobre tipograa, clicheria e offset dirigidos formao de aprendizes. Essas
duas Escolas foram unicadas em 1978.
Na dcada de 1970, o Brasil se lanou na moderna industrializao grca graas velocidade da produo de
novos equipamentos e a produo de impressos, atingindo o status de indstria, em oposio ao de arte.
O avano tecnolgico implicou alteraes na prpria logstica da Indstria Grca. Neste sentido, ocorreu uma
concentrao geogrca em reas metropolitanas em razo das atividades econmicas e das caractersticas do
produto a ser produzido, tornando o contato com os clientes um elemento fundamental.
O fator mais importante para a compreenso das tendncias na Indstria Grca a mudana tecnolgica,
que se expressa hoje seja atravs da informatizao e, conseqentemente, da digitalizao e da robotizao,
seja atravs da transformao do ambiente em que as empresas atuam, com o rpido avano da mdia eletr-
nica. Com ela, mudam tambm as necessidades referentes mo-de-obra e matria-prima, entre outras, a
localizao geogrca e as necessidades de capacitao gerencial.
2 tipificao
A Indstria Grca brasileira possui um parque muito diversicado e atende a todos os setores da economia,
incluindo servios pblicos, nanceiros, publicitrios, editoriais, prestao de servios e indstria de manufatu-
ra como um todo. Para atender a demandas to diversicadas, aplica diferentes tecnologias nos processos de
produo e presta servios para os mais diversos campos.
Este setor representa cerca de 1,0% do PIB nacional e 3,3% do PIB industrial, responsvel pela gerao de
mais de duzentos mil postos de trabalho diretos e, nos ltimos quinze anos, investiu perto de US$ 6 bilhes
em mquinas, equipamentos e novas tecnologias (ABIGRAF, 2006).
No Brasil, este segmento emprega 247.264 trabalhadores (RAIS Trabalhadores, 2004), em 15.616 empresas
(RAIS Estabelecimentos, 2004). No Estado de So Paulo, concentram-se 35% do total de empresas, participan-
do com cerca de 41% dos empregos diretos em 5.460 empresas, conforme Quadro 1.
QUADRO 1 distribuio do nmero de trabalhadores e de empresas de acordo com o porte
Porte da Empresa (SEBRAE) Brasil So Paulo
(n. de trabalhadores) Trabalhadores Empresas Trabalhadores Empresas
Micro (0 a 19) 89.965 14.076 31.279 4.826
Pequena (20 a 99) 67.603 1.289 26.467 508
Mdia (100 a 499) 61.291 226 29.144 112
Grande (acima de 500) 28.405 25 14.510 14
Total 247.264 15.616 101.400 5.460
Fonte: BRASIL. MTE. Bases Estatsticas RAIS/CAGED, 2004.
Segundo o Anurio Estatstico da Previdncia Social (Brasil, 2003), o segmento grco foi responsvel no ano
de 2004 pelo registro de 2.327 acidentes de trabalho, 1.663 acidentes tpicos e 206 doenas do trabalho.
Estes indicadores tiveram pequena variao entre 2002 a 2004.
Aproximadamente 90% das empresas grcas empregam menos de vinte pessoas e, em sua maioria, serve a
mercados locais e regionais.
Geogracamente, a Indstria Grca brasileira concentrada nas regies sudeste (56%) e sul (22%) do pas.
22 | 23 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 3 tecnologias usuais na etapa de impresso
Impresso Sem tinta Fotoqumica Haletos de heliograa
Termoqumica Trmica
Eletroqumica Descarga eltrica
Com tinta Sem forma Jato de tinta Sob demanda
Contnuo
Transferncia trmica Elcogrca
Cera
Sublimao tinta
Eletrosttica Eletrofotogrca
Eletrogrca
Deposio Ions
Magnetogrca
Com forma Relevogrca Flexogrca
Tipogrca
Letterset
Planogrca Litograa
Offset
Encavogrca Rotogrca
Calcogrca
Tampogrca
Permeogrca Serigrca
por estnceis
Fonte: SO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Guia tcnico ambiental da Indstria Grca, 2003.
A utilizao de cada um dos processos de impresso depende de fatores como: a qualidade nal do impresso,
o tipo de material a ser impresso, a tiragem, a aplicao nal do impresso, entre outros.
Os processos de impresso mais comuns so: offset, rotogravura, exograa, tipograa, serigraa e impresso
digital, conforme descritos a seguir.
Conforme o Guia Tcnico Ambiental da Indstria Grca, o processo produtivo dividido em trs etapas: pr-
impresso, impresso e ps-impresso.
2.1 Pr-impresso
Esta a primeira etapa aps a criao do trabalho, a redao de textos e a denio do layout, iniciando-se
uma seqncia de operaes at a confeco da matriz, fotolito ou arquivo para impresso digital. As alterna-
tivas tecnolgicas mais usuais nesta etapa esto apresentadas no Quadro 2.
QUADRO 2 tecnologias usuais na etapa de pr-impresso
Tecnologia Analgica Tecnologia Digital
Preparao criao criao
arte-nal analgica arte-nal digital
processamento de processamento de
reproduo de imagem reproduo de imagem
preparao de prova preparao de prova
Montagem montagem da prova montagem da prova
Confeco de matriz preparao de forma: preparao de forma:
manual computador para portador
mecnica imagem suporte
Fonte: SO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Guia tcnico ambiental da Indstria Grca, 2003.
2.2 Impresso
Esta etapa consiste na transferncia da imagem, contida na matriz para um suporte. O Quadro 3 mostra as
principais alternativas tecnolgicas e as operaes utilizadas nesta etapa.
24 | 25 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
OFFSET
o processo mais difundido atualmente, devido alta qualidade e ao baixo custo para grandes tiragens. A
impresso de forma indireta, em que a matriz no entra em contato com o suporte (papel). A matriz, grava-
da por tcnicas de fotograa ou a laser, tem sua imagem transferida para a blanqueta, cilindro coberto com
borracha, e desta para o papel.
O processo offset indicado para a impresso de: livros, peridicos, psteres promocionais, brochuras, car-
tes, rtulos, embalagens, jornais, tablides, revistas e catlogos.
As impressoras podem ser planas ou rotativas, as rotativas servindo para grandes tiragens e as planas,
para tiragens menores. Estas variam quanto quantidade de cores, podendo imprimir apenas uma cor ou
vrias cores.
ROTOGRAVURA
um processo direto de reproduo grca em que se utilizam superfcies em baixo-relevo para imprimir ima-
gens complexas, coloridas ou no.
A matriz um cilindro com as imagens divididas em milhares de pontos individuais, formando pequenas cavi-
dades. Esses processos so freqentemente usados para impresso em bobinas.
Em geral, a rotogravura utilizada para a impresso de embalagens exveis, papis de presente, papis de
parede e, mais raramente, para a produo de peridicos de grandes tiragens.
FLEXOGRAFIA
Processo utilizado para as mesmas aplicaes da rotogravura, alm de etiquetas. baseado no modelo de
matrizes em alto-relevo com impresso direta sobre o suporte. Suas matrizes so exveis, feitas de polmero,
e permitem a impresso em vrios tipos de superfcie, alm de papel, plsticos, laminados, papelo microon-
dulado e outros.
A impresso realizada diretamente sobre o suporte, utilizando tintas uidas, de secagem rpida, ou tinta
com cura com luz ultravioleta UV.
O processo apresenta baixo custo para grandes quantidades e voltado principalmente impresso de emba-
lagens, etiquetas, rtulos, produtos de sacarias, listas telefnicas, jornais e sacolas.
TIPOGRAFIA
um processo em que a matriz composta de pequenos blocos metlicos, chamados de tipos, com caracte-
res, letras, nmeros e sinais de pontuao em relevo, colocados em uma grade de metal que os mantm na
ordem desejada.
Caracteriza-se pelo uso de formas gravadas em alto-relevo, que transferem, sob presso, a tinta das imagens
diretamente para o material a ser impresso. Esta impresso, pouco utilizada hoje em dia, ainda encontra apli-
cao em notas scais, cartes e convites cerimoniais.
SERIGRAFIA
Processo tambm conhecido como silkscreen, a impresso d-se de forma direta, utilizando como matriz uma tela
de tecido, plstico ou metal, permevel tinta nas regies gravadas com a imagem e impermeabilizada nas demais.
A tinta espalhada e forada sobre a matriz com uma lmina de borracha, para atingir o material a ser impresso.
A serigraa permite a impresso sobre diferentes tipos de materiais, como vidro, plstico, tecido, madeira e metal, e
em superfcies irregulares. Em geral, utilizada em psteres, banners, camisetas, papis de parede e decalques.
IMPRESSO DIGITAL
A imagem gerada de um arquivo digital e transferida diretamente para uma impressora a laser, a jato de tinta
e outras, sem a utilizao de matriz.
Esse processo pode ser usado para a impresso de quase todos os tipos de impressos, inclusive embalagens,
sendo especialmente conveniente para pequenas tiragens. o nico que permite a personalizao dos im-
pressos com dados variveis. H equipamentos digitais de grande formato especialmente projetados para a
impresso de banners e outdoors.
2.3 Ps-impresso
Esta a etapa nal do processo grco, envolvendo vrias operaes que dependem dos requisitos denidos
pelo cliente e a logstica, que visam criar, realar e preservar as qualidades tteis e visuais do produto, deter-
minar seu formato e dimenses. Por meio do rele (corte), dada a forma nal ao material impresso, ento o
corte e vinco preparam o impresso para que ele seja dobrado e/ou montado. As principais tcnicas e operaes
utilizadas na ps-impresso esto descritas no Quadro 4.
26 | 27 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 4 tecnologias usuais na etapa de ps-impresso
Ps-Impresso Acabamento Corte
Rele
Gotragem
Revestimento
Estampagem
Dobradura
Converso Colagem
Encadernao
Laminao
Corte e vinco
Picotagem
Puncionamento
Perfurao
Distribuio Etiquetagem
Deslocamento
Empacotamento
Expedio
Armazenagem
Fonte: SO PAULO. Secretaria do Meio Ambiente. Guia tcnico ambiental da Indstria Grca, 2003.
O avano da tecnologia propocionou, ao segmento grco, um maior acesso e, conseqentemente, um au-
mento na informatizao de processos e mquinas, aumentando a rapidez e a qualidade dos servios.
Essas tecnologias trouxeram benefcios na preveno de acidentes de trabalho, uma vez que as mquinas
passaram a ter sistemas de proteo mais sosticados, tornando mais difcil seu desligamento pelos operado-
res e diminuindo tambm a exposio a alguns produtos qumicos, devido automatizao dos sistemas de
gravao de matrizes e outros.
28 | 29 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Outros fatores, como a rapidez da transmisso de informaes associada falta de planejamento, podem
acarretar ritmos de trabalho mais intensos, diminuindo a ateno do trabalhador e possibilitando um aumento
dos acidentes de trabalho ou danos sade.
De forma geral, o ramo grco apresenta condies de trabalho que podem ser aprimoradas pelo reconhe-
cimento de suas inadequaes e pela implementao de medidas de controle necessrias, bem como pela
utilizao de tcnicas mais modernas de gesto de segurana e sade no trabalho.
3 RISCOS
So as diversas situaes (mquinas, equipamentos e ferramentas) ou condies (organizao de trabalho)
que ocorrem no ambiente laboral devido presena de agentes que conforme sua natureza, concentrao,
intensidade e tempo de exposio, podem causar danos segurana e sade dos trabalhadores.
So classicados como: fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos e de acidentes.
3.1 Fsicos
So considerados como agentes: o rudo, a vibrao, a umidade, as radiaes ionizantes e no ionizantes, e a
temperatura extrema (frio e calor).
Vrios autores citam o rudo como o principal agente de risco na Indstria Grca. Este ocorre principalmente
nas etapas de impresso e ps-impresso, devido utilizao de mquinas rotativas e dobradeiras.
O rudo denido como um som indesejvel e nocivo sade dos trabalhadores, podendo ocasionar, alm de
alteraes auditivas, distrbios de equilbrio, do sono, psicolgico, social, bem como alteraes nos sistemas
circulatrio digestivo e reprodutor.
Estudos realizados apontam que a exposio do trabalhador radiao na Indstria Grca est relacionada
apenas radiao no ionizante na forma ultravioleta, utilizada no processo de sensibilizao de lmes, telas
e chapas, na cura e nas atividades de soldagem eltrica (manuteno).
A radiao no ionizante (radiofreqncias, microondas, infravermelho, visvel e ultravioleta) aquela que no
possui capacidade de ionizar e emitir partculas. As possveis conseqncias no organismo, devido exposio
sem proteo adequada, so queimaduras, leses nos olhos, na pele e em outros rgos.
3.2 Qumicos
So considerados como agentes: poeiras, fumos, gases, vapores, neblinas e produtos qumicos em geral. Estes
agentes penetram no organismo do trabalhador pelas vias cutnea, digestiva e respiratria.
Na Indstria Grca, os produtos qumicos utilizados so: xadores, reveladores, reparadores, tintas e solventes org-
nicos (diluentes de tintas e limpeza de equipamentos). Dependendo do produto qumico utilizado, sua manipulao,
a concentrao no ambiente e o tempo de exposio do trabalhador, podem ocorrer sintomas como cefalia, tontu-
ra, irritao ocular, problemas de pele pelo contato, episdios depressivos e outros relacionados ao sistema nervoso.
3.3 Biolgicos
Os agentes biolgicos so: vrus, bactrias, fungos, protozorios e parasitas.
Segundo a OIT, na Indstria Grca os trabalhadores esto expostos aos agentes biolgicos em duas situaes:
instalaes antigas, que podem estar infestadas por roedores e insetos, entre outros;
contato com tintas utilizadas para impresso, as quais contm, em sua formulao, componentes que fun-
cionam como nutrientes para o crescimento de microorganismos.
Alm disso, a presena de sistemas de ar condicionado, divisrias de madeira, equipamentos e plantas que
podem conter poeira, fungos e caros, quando no so limpos adequadamente e com regularidade, causam
alergias e problemas respiratrios.
3.4 Ergonmicos
Referem-se adaptao das condies de trabalho s caractersticas psicosiolgicas dos trabalhadores e se
relacionam diretamente organizao do trabalho, ao ambiente laboral e ao trabalhador.
A organizao do trabalho vincula-se com o ritmo da produo, o processo de trabalho, o trabalho em turnos,
a ausncia de pausas e a realizao de horas extras.
O ambiente laboral est relacionado ao piso e via de circulao irregular, iluminao inadequada, tempe-
ratura desconfortvel, existncia de vibrao, rudo, poeira, produto qumico e outros.
Em relao ao trabalhador, esto envolvidos os aspectos pessoais (idade, sexo, estado civil, escolaridade,
atividade fsica, tabagismo e antropometria), psicossociais (percepes de sobrecarga, trabalhos montonos,
controle limitado das funes e pouco apoio social no trabalho) e biomecnicos (postura inadequada, uso de
fora excessiva e repetio de movimentos).
De forma geral, a presena desses agentes podem contribuir para o aparecimento de algumas caractersticas
desfavorveis nas condies de trabalho, causando tenso psicolgica, ansiedade e depresso, fadiga visual,
leso ocular, lacrimejamento, dores de cabea, fadiga, dor muscular e distrbios osteomusculares relacionados
ao trabalho DORT (Stellman, 1998).
A maioria dos especialistas arma que, na Indstria Grca, difcil generalizar os problemas ergonmicos,
pois cada empresa apresenta um aspecto diferente da outra. Porm, alguns relatam que as empresas de pe-
queno porte apresentam aspectos em comum, como transporte manual de cargas e trabalho contnuo em p,
e que, nas de maior porte, o ritmo de trabalho intenso e com expedientes noturnos.
30 | 31 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
32 | 33 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
3.5 Acidentes
Os agentes so caracterizados por vrias situaes adversas encontradas nos ambientes e nos processos de
trabalho, envolvendo principalmente os aspectos de construo e de manuteno das mquinas e das edica-
es, o tipo de arranjo fsico e suas utilizaes.
No ramo grco, esses agentes podem ser representados por:
alimentao manual em mquinas semi-automticas;
falta de proteo nas partes mveis de mquinas e equipamentos;
falhas de instalaes e aterramento, causando choque eltrico;
armazenamento e manuseio inadequado de materiais inamveis;
falta de orientao e treinamento para utilizao de mquinas, ferramentas manuais e equipamentos de
proteo coletivas ou individuais;
falta de sinalizao, com obstruo da sada de emergncia, escadas e rotas de fugas, de alarmes e extin-
tores de incndios;
iluminao inadequada nos postos de trabalho.
PARTE II
estudo de campo
34 | 35 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
4 perfil das empresas pesquisadas
A equipe multiprossional da Gerncia de Segurana e Sade no Trabalho (GSST) realizou estudo em empresas
do ramo grco, indicadas pelo Sindicato das Indstrias Grcas do Estado de So Paulo (SINDIGRAF/SP), para
avaliar suas caractersticas em relao s questes de segurana e sade no trabalho. O objetivo foi obter sub-
sdios para descrever estas questes e apresentar sugestes para reduo ou eliminao dos fatores de riscos
ocupacionais e para medidas de proteo aos trabalhadores.
O estudo foi realizado em empresas localizadas em oito cidades do Estado de So Paulo, no perodo de junho
a dezembro de 2005, em duas etapas, denominadas preliminar e complementar, abrangendo empresas
e o nmero total de trabalhadores apresentados no Quadro 5.
QUADRO 5 distribuio das empresas estudadas por cidade
Cidade Etapa Preliminar Etapa Complementar
Empresas Trabalhadores Empresas Trabalhadores
So Paulo 27 2.784 15 1.266
Barueri 5 800
Osasco 4 555 2 133
Taboo da Serra 3 133 3 133
Guarulhos 4 512 1 11
So Jos dos Campos 4 220
Ribeiro Preto 6 324 4 303
Bauru 10 1.236 5 231
Total 63 6.564 30 2.077
Nota: Nmero de trabalhadores informado pela Abigraf.
Na etapa preliminar, foram levantadas as condies gerais das 63 empresas, seus processos produtivos, o
interesse dos gestores e as condies necessrias para participarem da etapa complementar. Foi aplicado
um protocolo abordando questes gerais, relacionadas sobretudo segurana e sade no trabalho. Para a
participao das empresas na etapa complementar, foi denida como condio mnima a disponibilidade de
ambientes adequados para a realizao das avaliaes de sade dos trabalhadores.
Na etapa complementar, 30 empresas foram avaliadas de forma mais detalhada, para identicao e quanti-
cao dos riscos laborais existentes, como so controlados, suas possveis conseqncias e repercusses na
sade dos trabalhadores.
No Quadro 6, est apresentada a distribuio das empresas estudadas segundo o porte e o processo de impresso.
QUADRO 6 distribuio das empresas quanto ao porte e processo de impresso
Processo de Etapa Preliminar Etapa Complementar
Impresso Micro Pequena Mdia Micro Pequena Mdia
Offset 10 16 17 8 12 3
Flexograa 7 2 5
Tipograa 5 2 3 2 2 1
Serigraa 2 5 2 2 3
Rotogravura 3 3
Digital 3 1 3 2 1 2
Nota: Vrias empresas operam com mais de um processo de impresso.
A distribuio das empresas, nas duas etapas do estudo, quanto ao porte e ao nmero de trabalhadores est
apresentada no Quadro 7.
QUADRO 7 distribuio das empresas quanto ao porte e nmero de trabalhadores
Porte Etapa Preliminar Etapa Complementar
Empresas Trabalhadores Empresas Trabalhadores
Micro 22 254 10 131
Pequena 21 1.027 15 755
Mdia 20 5.283 5 1.191
Total 63 6.564 30 2.077
Nota: Nmero de trabalhadores informado pela Abigraf.
36 | 37 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Na etapa complementar, em uma empresa de pequeno porte que imprime com uso de processos offset e exogr-
co, foram realizadas somente avaliaes ambientais, pois a empresa optou pela no-continuidade do estudo. Em
duas empresas, uma de micro e outra de mdio porte, que imprimem com uso de processos offset e digital, o estudo
foi focado apenas no processo digital, por considerarmos completa a amostra do estudo para o processo offset.
O interesse em avaliar empresas de diferentes portes e, principalmente, que utilizavam vrios processos de
impresso, aliado restrio quanto condio exigida para a participao da etapa complementar, foi fator
que determinou a no-representatividade da amostra estudada, mas possibilitou a obteno dos subsdios
desejados para a apresentao de sugestes.
4.1 Avaliao qualitativa dos riscos
Para identicar os eventuais agentes causadores de acidentes e/ou agravos sade do trabalhador, foram
observadas qualitativamente as condies gerais referentes conservao das edicaes, organizao e
limpeza, ao acondicionamento e manuseio de materiais utilizados e de resduos gerados no processo de pro-
duo, bem como as condies de conforto dos postos de trabalho e a utilizao de mquinas, equipamentos
e dispositivos de proteo.
Em 29 empresas entre as selecionadas, foi aplicado, aos gestores, um protocolo de investigao da demanda
de produo, para identicar as principais referncias a situaes determinantes para atrasos na produo. Em
uma empresa, no foi aplicado o referido protocolo, por se tratar de lial de outra empresa avaliada.
Nas entrevistas, foram identicados os principais programas e aes desenvolvidos em SST.
4.2 Avaliao quantitativa dos riscos
Os agentes rudo, iluminncia e concentrao de solventes orgnicos a que se expem os trabalhadores, foram
avaliados quantitativamente com uso de tcnicas, equipamentos e procedimentos especcos. Os resultados
foram analisados de acordo com os parmetros estabelecidos nas Normas Regulamentadoras da Portaria
n. 3.214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE).
RUDO
Foram utilizados aparelhos medidores do nvel de presso sonora (NPS) com a nalidade de avaliar os nveis de
rudo dos ambientes laborais e os nveis a que os trabalhadores esto expostos em suas jornadas de trabalho.
Os resultados obtidos foram interpretados conforme as determinaes constantes na Norma Regulamentado-
ra n. 15 (NR-15) e na Norma de Higiene Ocupacional da Fundacentro (NHO-01).
ILUMINNCIA
As medies de iluminncia dos postos de trabalho foram realizadas com o aparelho Luxmetro, conforme
estabelecido na Norma Regulamentadora n. 17 (NR-17), e os resultados foram avaliados com base nos valores
estabelecidos na Norma Brasileira Registrada (NBR 5413).
CONCENTRAO DE SOLVENTES ORGNICOS
Feitas as avaliaes qualitativas, foram identicados os solventes orgnicos mais utilizados, como acetato
de etila, acetona, lcool isoproplico, n-hexano, metil etil cetona, tolueno e xilenos. Foram ento denidas
estratgias de amostragens para determinao das concentraes desses solventes no ambiente e no traba-
lhador, bem como para vericar a concentrao dos seus metablitos em amostras de urina como indicado-
res biolgicos das exposies ocupacionais.
Foram coletadas amostras de ar de forma ativa e passiva: na forma ativa, com amostradores acoplados a
bombas de ao contnua, posicionados altura mdia das zonas respiratrias dos trabalhadores; e, na forma
passiva, com amostradores axados em suas roupas e o mais prximo possvel de suas zonas respiratrias.
Essas amostras foram analisadas pela tcnica de cromatograa em fase gasosa em coluna capilar, por mtodo
desenvolvido para as condies do laboratrio, com base em metodologias NIOSH (National Institute of Oc-
cupational Safety and Health) para solventes orgnicos. Os resultados foram comparados com os limites de
tolerncia (LT) estabelecidos pela NR15 e, na falta destes, pelos valores de limites de exposio ocupacional
adotados pela American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH), apresentados no Quadro
8, e tambm com os respectivos nveis de ao, considerados como a metade da concentrao dos LT.
38 | 39 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 8 limite de tolerncia aos solventes analisados
Agentes Qumicos Limite de Tolerncia at 48 horas / semana
ppm mgm
-3
Acetato de etila 310 1.090
Acetona 780 1.870
Metil etil cetona 155 460
N-hexano 50 176
Tolueno 78 290
Xilenos 78 340
lcool isoproplico 310 765
Nota: Dados extrados da NR-15 e da ACGIH.
Obs.: ppm = partes por milho; mgm
-3
= miligramas das substncias por metro cbico de ar.
Devido relevncia toxicolgica e observao da utilizao de combustvel (gasolina) para a limpeza de m-
quinas e suas partes, foi avaliada a presena de benzeno nas amostras de ar coletadas.
Foram coletadas amostras de urina dos trabalhadores para a dosagem de metablitos dos solventes orgnicos
tolueno, xilenos e n-hexano, respectivamente cido hiprico, cido metil hiprico e 2,5-hexanodiona. Estas
foram analisadas por metodologias estabelecidas e de rotina do Setor de Toxicologia Industrial (STI) do SESI/SP.
Os resultados foram comparados aos parmetros estabelecidos na NR-7, os ndices Biolgicos Mximos Permi-
tidos (IBMP) e ao Valor de Referncia (VR) para cido hiprico, observando-se que no h VR estabelecido para
os outros metablitos analisados, portanto, resultados de cido metil hiprico e de 2,5-hexanodiona acima do
limite de quanticao indicam que o trabalhador est exposto aos agentes em questo. Os parmetros esto
apresentados no Quadro 9.
QUADRO 9 valores de referncia e ndices biolgicos mximos permitidos
Indicador Biolgico Valor de Referncia (VR) ndice Biolgico Mximo Permitido (IBMP)
cido hiprico 1,5 g g
-1
creatinina 2,5 g g
-1
creatinina
cido metil hiprico 1,5 g g
-1
creatinina
2,5 Hexanodiona 5 mg g
-1
creatinina
Nota: Dados extrados da NR-7, Quadro I.
Obs.: g g
-1
: grama por grama.
4.3 Avaliao das condies gerais de sade dos trabalhadores
Foram avaliados os trabalhadores que exercem suas funes diretamente na rea de produo, exceto em trs
empresas de porte mdio, em que o atendimento foi por amostragem.
Devido disponibilidade dos trabalhadores, houve variao no nmero total de atendimentos (609). Foram
realizadas 608 avaliaes sociais, 605 da audio e 603 mdicas.
AVALIAO SOCIAL
Foi aplicado um questionrio abordando aspectos culturais, prossionais e de sade.
AVALIAO DA AUDIO
Foi aplicado um questionrio clnico e ocupacional (anamnese), inspeo do meato acstico externo em ambas
as orelhas e audiometria tonal (via area) executada e classicada com base na Portaria n. 19 (Anexo I, NR-7).
AVALIAO MDICA
Foi aplicado um questionrio sobre antecedentes pessoais de doenas, hbitos pessoais, histrico ocupacional
e realizado exame fsico, incluindo medio de presso arterial, peso e altura.
Para a avaliao do estado nutricional, foi calculado o ndice de massa corprea (IMC), obtido pela diviso do
peso (kg) e o quadrado da altura (m).
Os valores obtidos de presso arterial e de ndice de massa corprea (IMC) foram comparados s classicaes
da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e Associao Brasileira para Estudo da Obesidade (ABESO), res-
pectivamente, apresentados nos Quadros 10 e 11.
40 | 41 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 10 classificao da presso arterial
Presso Arterial Classicao
Presso sistlica (mmHg) Presso diastlica (mmHg)
tima <120 <80
normal <130 <85
limtrofe 130-139 85-89
Hipertenso
leve 140-159 90-99
moderada 160-179 100-109
grave 180 110
sistlica isolada 140 <90
Fonte: SBC.
Obs.: mmHg = milmetros de mercrio.
QUADRO 11 classificao do ndice de massa corprea (IMC)
Classicao IMC
Abaixo do peso abaixo de 18,5
Normal 18,5 24,9
Sobrepeso 25,0 29,9
Obesidade
grau 1 30,0 34,9
grau 2 35,0 39,9
grau 3 40 e acima
Fonte: Abeso.
4.4 Resultados
4.4.1 AVALIAO QUALITATIVA DOS RISCOS
A maioria das empresas estudadas est instalada em edicaes do tipo galpo industrial, com uma rea til
entre 300 e 500 m
2
e p direito de aproximadamente 6 metros. As coberturas so em telhas do tipo bro
cimento e, no geral, sem forrao sob o telhado, o que pode interferir na acstica do ambiente, elevando os
nveis de rudo interno, e favorecer o aumento da temperatura dos ambientes.
Os pisos so em concreto, geralmente em boas condies de limpeza e conservao, sem salincias ou depresses.
A ventilao ocorre de forma natural (janelas) e articial. Em algumas empresas, observa-se que os trabalha-
dores no utilizam os equipamentos de ventilao articial existentes.
A iluminao natural, atravs de janelas, auxiliada por lmpadas uorescentes.
As instalaes eltricas prediais aparentemente esto em boas condies, sem os expostos, descascados
ou ligados improvisadamente. J as instalaes das mquinas de modelos mais antigos no apresentam a
mesma regularidade.
As empresas so providas de refeitrio para uso dos trabalhadores, embora naquelas de micro porte sejam
usadas garrafas de caf nas reas de produo, o que no adequado, devido ao risco de contaminao por
produtos qumicos. H banheiros e vestirios separados por sexo, mantidos em boas condies de limpeza e
conservao.
H equipamentos para combate a incndios, extintores e hidrantes, distribudos pelas dependncias e de-
vidamente sinalizados, com pessoal orientado sobre o uso destes, havendo em algumas empresas equipes
de brigada de incndio. Foi observado, principalmente nas reas de produo, muitos desses equipamentos
obstrudos por diversos tipos de materiais, o que diculta ou pode at impedir o acesso a estes equipamentos
em casos de emergncias.
Nas empresas de mdio porte, o armazenamento de materiais realizado de forma organizada, em local
apropriado e de fcil acesso. Os produtos qumicos so acondicionados em embalagens adequadas, rotuladas,
havendo disponibilidade das Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ), que, no geral,
so apenas arquivadas, no consultadas, tampouco suas informaes so divulgadas aos trabalhadores.
Nas micro e pequenas empresas, no geral, o armazenamento inadequado, no havendo separao dos tipos
de materiais, isolamento das reas, rotulagem de identicao dos produtos qumicos ou disponibilizao das
FISPQ. Em vrias dessas empresas, os produtos qumicos so mantidos nos setores da produo com as emba-
lagens abertas. Essa prtica propicia a evaporao, com a conseqente elevao da concentrao de vapores
de solventes orgnicos no ambiente, expondo os trabalhadores e aumentando o risco de incndio.
Na maioria das empresas, o transporte dos materiais feito manualmente; em algumas, so utilizados carri-
nhos do tipo paleteira e, em poucas, usam-se empilhadeiras.
42 | 43 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
No geral, as vias internas de circulao tm largura inferior ao necessrio e no dispem de demarcao, resul-
tando na ocorrncia de trnsito simultneo de pessoas e materiais. Esta situao diculta a realizao do trans-
porte de materiais e pode provocar acidentes como colises, quedas de pessoas e de materiais, principalmente
se h utilizao de empilhadeira, o que agrava a intensidade do risco, podendo ocorrer atropelamentos.
A maioria das mquinas utilizadas so providas de protees nas suas partes mveis e de transmisso de
fora, com exceo da mquina de impresso exogrca, que no possui proteo dos cilindros no ponto
de convergncia.
Mquinas sem proteo de suas partes mveis expem os trabalhadores a condies de risco de acidentes,
podendo resultar em graves conseqncias, como amputaes ou esmagamentos de partes do corpo, princi-
palmente das mos.
Nas guilhotinas, os dispositivos de proteo existentes so comandos bimanuais para acionamento da faca
e sensores de fotoclulas para impedir sua descida, caso o operador esteja com a mo ou parte do corpo no
ponto de operao. Antes do corte, o papel prensado por um balancim que acionado por um pedal, no
havendo sistema de bloqueio ou parada automtica.
As plataformas das impressoras offset so desprovidas de guarda-corpo. A limpeza dos rolos de impresso
realizada manualmente pelo operador, com solventes orgnicos aplicados em panos. O operador aciona o
avano (giro) da mquina para ter acesso s partes a serem limpas. comum a no utilizao de luvas imper-
meveis para esta operao, o que leva o operador, posteriormente, a usar solvente para retirar a sujidade de
tintas das mos. A prtica o expe inalao dos solventes, assim como absoro pela pele desprotegida.
Os panos de limpeza usados so acondicionados em tambores para retirada e reciclagem. Foi observado que
a maioria desses tambores eram desprovidos de tampa, o que gera mais uma fonte de contaminao de sol-
ventes orgnicos na rea de produo.
O lcool isoproplico utilizado como soluo de molha no processo de impresso offset e, como todo solvente
orgnico, deve ser utilizado com critrio. Foi observado em duas empresas a utilizao deste solvente de forma
indiscriminada, uma para lavagem de peas e outra, em excesso e sem controle, como soluo de molha.
Apenas 30% das empresas estudadas encaminham seus resduos lquidos de produtos qumicos para trata-
mento especializado. As demais descartam este resduo na rede pblica de esgoto.
No levantamento de informaes com os gestores, 62% relatou a ocorrncia de horas extras, o que no foi
caracterizado quanto freqncia e quantidade.
A mobilidade interna foi relatada em 90% das empresas, sendo 46% para adaptao de funcionrios, a maio-
ria ajudantes, a outros postos de trabalho, em funo da necessidade da produo.
Foi relatado pelos gestores como principal causa para atrasos na produo, problemas com equipamentos
(39%), com maior incidncia na etapa de impresso (42%).
Embora com altos ndices de declaraes em relao atuao nas questes de SST, como apresentado no
Quadro 12, houve relato de 56% de acidentes no trabalho, com maior citao para cortes e prensamento das
mos, 48,6% dessas ocorrncias em empresas de mdio porte.
QUADRO 12 relatos sobre programas e aes em SST
Relatos Refere No Refere
n. % n. %
Orientaes em SST 55 87 8 13
Uso de EPI 61 97 2 3
Treinamento contra incndio 46 73 17 27
CIPA 41 65 22 35
Mapa de risco 28 44 35 56
PCMSO 59 94 4 6
PPRA 55 87 8 13
FISPQ 38 60 25 40
4.4.2 AVALIAO QUANTITATIVA DOS RISCOS
Foram realizadas 1.435 medies de rudo instantneo para vericar os nveis de presso sonora dos ambien-
tes de trabalho. Os resultados esto apresentados no Quadro 13.
44 | 45 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 13 nveis de presso sonora (NPS)
Nvel de Presso Sonora Nmero de locais de %
Trabalho Avaliados
Abaixo de 80 dB(A) 736 51
Entre 80 dB(A) e 85 dB(A) 460 32
Acima de 85 dB(A) 239 17
Total 1.435 100
Obs.: dB = decibel.
Esses resultados indicam que 49% dos postos avaliados necessitam de medidas de controle.
Foram realizadas dosimetrias de rudo em 169 trabalhadores, para estimar as doses de rudo a que eles esto
expostos em suas jornadas de trabalho. Os resultados esto apresentados no Quadro 14.
QUADRO 14 exposio do trabalhador ao rudo (dosimetria)
Nvel de Presso Sonora Nmero de %
Trabalhadores Avaliados
Abaixo de 80 dB(A) 57 34
Entre o nvel de ao (80 dB(A) para
jornada de 8 horas) e 85 dB(A)
67 40
Acima do limite de tolerncia para
jornada de 8 horas 85 dB(A)
45 26
Total 169 100
Obs.: dB = decibel.
Os resultados indicam que 66% dos trabalhadores avaliados necessitam utilizar protetores auditivos e refor-
am a necessidade de medidas de controle nos postos de trabalho.
A iluminncia foi medida em 1.375 pontos, obtendo-se como resultado 49% abaixo do mnimo recomendado
conforme NBR-5413 (1992), o que caracteriza risco ergonmico.
Alm do aspecto ergonmico, postos de trabalho com iluminncias decientes ou em excesso podem causar
condies propcias a ocorrncias de acidentes.
Foram realizadas 239 amostragens de ar, sendo 120 de forma ativa e 119 de forma passiva, para avaliar as
concentraes de solventes orgnicos nos ambientes de trabalho e estimar as concentraes a que os tra-
balhadores esto expostos durante suas jornadas de trabalho. Como os solventes de limpeza, as tintas e os
diluentes so compostos de vrios solventes orgnicos em um mesmo produto, nos resultados apresentados
nos Quadros 15 e 16, consideramos os efeitos combinados destes e no o de solventes isolados.
QUADRO 15 concentraes de mistura de solventes amostragem ativa
ndice de Exposio Offset Rotogravura Serigraa Flexograa Tipograa
n % n % n % n % n %
Abaixo do nvel de ao (<0,5) 60 94 9 45 15 79 14 93 2 100
Nvel de ao (0,51,0) 2 3 3 15 4 21 1 7
Limite de tolerncia (>1,0) 2 3 8 40
Total 64 100 20 100 19 100 15 100 2 100
Fonte: Limite de exposio (TLV) para mistura de solventes (ACGIH, 2002).
Obs.: n = nmero de amostragens.
QUADRO 16 concentraes de mistura de solventes amostragem passiva
ndice de Exposio Offset Rotogravura Serigraa Flexograa Tipograa
n % n % n % n % n %
Abaixo do nvel de ao (<0,5) 60 92 9 47 12 63 15 100 3 100
Nvel de ao (0,51,0) 1 2 9 47 5 26
Limite de tolerncia (>1,0) 4 6 1 6 2 11
Total 65 100 19 100 19 100 15 100 3 100
Fonte: Limite de exposio (TLV) para mistura de solventes (ACGIH, 2002).
Obs.: n = nmero de amostragens.
Os resultados das anlises das amostras de ar, coletadas de forma ativa e de forma passiva, indicam que os
processos de impresso que geram maior exposio dos trabalhadores a solventes orgnicos so rotogravura,
serigraa e offset, este ltimo principalmente devido operao de limpeza de rolos.
O processo tipogrco considerado qualitativamente como pouco seguro no foi caracterizado neste trabalho
como um gerador relevante de exposio dos trabalhadores a solventes orgnicos. A razo a utilizao deste
46 | 47 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
processo para pequenas tarefas, geralmente complementares s impresses por offset, como a de numerao
de talonrios, o que envolve a impresso de pequenas superfcies, consumindo baixa quantidade de tinta e
tendo, conseqentemente, pequena quantidade de solvente orgnico a ser evaporada.
Os solventes predominantes foram tolueno, xilenos, acetato de etila e lcool isoproplico, bem como, em bai-
xas concentraes, metil etil cetona, acetona e n-hexano.
O processo de impresso rotogravura foi avaliado em empresas que imprimem em papel, em que utilizado
principalmente tolueno para diluio de tintas e limpeza de mquinas, e que imprimem em plstico, em que
o solvente predominante acetato de etila. Em ambas, os solventes orgnicos so usados em grandes quan-
tidades para ajustar a viscosidade das tintas.
As dosagens ambientais nas empresas que operam com impresso serigrca, manual e semi-automtica indicam
que o sistema manual o que gera maior exposio ao trabalhador, devido proximidade do operador na impres-
so, limpeza de telas e constante diluio de tintas com thinner, produto que contm tolueno e xilenos.
Na impresso offset, a exposio do trabalhador aos solventes orgnicos ocorre principalmente na limpeza dos
rolos das mquinas, sendo usados vrios tipos de mistura de solventes para esta operao.
Em algumas avaliaes, foram detectados, alm de tolueno e xilenos, traos de benzeno, o que foi associado
utilizao de gasolina e querosene como solvente.
No utilizar combustveis como solventes de limpeza, ou diluentes, pois apresentam concentrao de benzeno
de at 1 ppm, valor de referncia tecnolgica (VRT).
Foram encontrados, em duas empresas, resultados da dosagem de lcool isoproplico acima do nvel de ao,
porque este solvente foi usado de forma inadequada, em excesso e sem controle.
Apenas em duas empresas que imprimem com o processo de impresso exogrca so utilizadas tintas
base de solvente orgnico e as demais, utilizam tintas base de gua.
Foram coletadas 371 amostras de urina de trabalhadores expostos a solventes orgnicos e realizadas 1.991
anlises de metablitos de n-hexano, tolueno e xilenos, respectivamente, 2,5-hexanodiona (2,5HD), cido
hiprico (HA) e cido metil hiprico (MHA).
O Quadro 17 mostra os resultados das anlise de urina, distribudos pelo processo de impresso:
QUADRO 17 dosagens dos metablitos urinrios em porcentagem
ndice de Exposio Offset Rotogravura Serigraa Flexograa Tipograa
HA MHA 2,5HD HA MHA 2,5HD HA MHA 2,5HD HA MHA 2,5HD HA MHA 2,5HD
Abaixo do valor de referncia (%) 98,7 96,1 99,2 95,6 100 100 79,5 61,4 95,0 100 100 100 100 100 100
Acima do valor de referncia (%) 0,9 3,9 0,8 4,4 18,2 38,6 5,0
Acima do IBMP (%) 0,4 2,3
Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Obs.: HA = cido hiprico; MHA = cido metil hiprico; 2,5HD = 2,5 hexanodiona; IBMP = ndice biolgico mximo permitido.
Para dosagens de cido metil hiprico e 2,5-hexanodiona, no existe valor de referncia, portanto, os resulta-
dos acima do valor de quanticao do mtodo analtico so considerados no valor de referncia. No houve
resultados de cido metil hiprico e 2,5-hexanodiona acima do ndice Biolgico Mximo Permitido (IBMP).
Os resultados de cido hiprico e cido metil hiprico, que indicam exposio a tolueno e a xilenos, so refe-
rentes, principalmente no caso de trabalhadores dos processos offset, serigraa e rotogravura: na impresso
offset, devido limpeza de mquinas; na serigraa e na rotogravura, devido evaporao dos solventes e
tintas e limpeza de mquinas.
Os resultados das avaliaes toxicolgicas (ambiental e biolgica) indicam que a maior exposio a solventes
orgnicos ocorre nos processos de impresso rotogravura, serigraa e offset (limpeza das mquinas), devido
ao tipo de solvente utilizado, forma inadequada de manuseio e falta de ventilao.
4.4.3 AVALIAO DAS CONDIES GERAIS DE SADE DOS TRABALHADORES
Foram avaliados 609 trabalhadores da rea produtiva, 86% deles do gnero masculino e com mdia de idade
de 30,2 anos, sendo observados seis trabalhadores com idade entre 16 e 17 anos, conforme Quadro 18.
48 | 49 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
A utilizao de produtos qumicos durante a jornada de trabalho referida por 59,5%. A maior referncia
de utilizao de solventes, e 11,7% refere dor de cabea ou tontura quando expostos a algum tipo de produto
qumico. 69,4% relatam exposio rudo anteriormente a empresa atual.
O percentual de trabalhadores que referem utilizar protetores auditivos de 75%, e o modelo mais utilizado
o tipo plug de silicone. Os principais motivos da no utilizao de protetores auditivos so: o trabalhador acha
desnecessrio (11,9%); a empresa no fornece (6%); e outros (7,1%), conforme Grco 1.
GRFICO 1 principais motivos da no utilizao de protetor auditivo
25
20
15
10
5
0
% 11,9 6,0 7,1
ACHA DESNECESSRIO EMPRESA NO FORNECE OUTROS
Na inspeo do meato acstico externo, 17,3% dos trabalhadores apresentaram alterao unilateral ou bila-
teral, o que no inviabilizou a realizao da audiometria.
Os resultados das audiometrias tonais apontam uma populao com 15,7% de trabalhadores com alterao
sugestiva de perda auditiva relacionada ao trabalho unilateral ou bilateral, conforme grco 2.
QUADRO 18 distribuio percentual da faixa etria por processo de produo
Faixa Etria Pr-impresso Impresso Ps-impresso Outros
n = 76 n = 295 n = 226 n = 12
< 18 0 1,7 0,4 0
18 30 47,4 46,8 42,9 16,7
31 40 30,3 33,2 31,0 33,3
41 50 15,8 14,2 18,6 50,0
51 60 5,3 3,7 4,9 0
> 60 1,3 0,4 2,2 0
Nota: Refere-se aos setores que no fazem parte diretamente da produo, como almoxarifado, expedio e limpeza predial.
O tempo mdio de trabalho dessa populao no setor grco de 10 anos e 3 meses, e o tempo na empresa
de 8 anos e 5 meses.
As mulheres no possuem cursos prossionalizantes especcos da Indstria Grca. As entrevistadas traba-
lham nos setores de servios gerais (limpeza) ou de acabamento. No setor de acabamento, elas tm a possibi-
lidade de trabalhar sentadas e/ou em p, o que no ocorre com os homens (bloquistas), que trabalham em p
e geralmente necessitam carregar peso. Outros prossionais que tambm trabalham em p o dia todo so os
pr-impressores e os impressores.
Foi vericado que na maioria das empresas visitadas no existe pausas programadas, exceto para as refeies
e caf.
Os trabalhadores relataram acreditar que as atividades desenvolvidas na Indstria Grca podem causar danos
sade e segurana. Quando questionados sobre conhecimentos em Segurana e Sade no Trabalho (SST),
a maioria relata conhecimentos sobre equipamentos de proteo individual e sobre CIPA.
Nas empresas de pequeno e mdio porte, os trabalhadores informaram que tiveram palestras para conscienti-
zao sobre o uso adequado do equipamento de proteo individual, mas em algumas visitas preliminares foi
observado que muitos no estavam utilizando os equipamentos, principalmente as luvas.
Segundo a opinio dos trabalhadores, a Indstria Grca estvel; o relacionamento com a chea direta e
com os colegas de trabalho bom; gostam do que fazem e so prossionalmente satisfeitos.
50 | 51 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
De maneira geral, foi encontrada uma populao sem muitas queixas de sade, apesar dos riscos mencionados.
O levantamento de dados foi realizado considerando-se os resultados de presso arterial, ndice de massa
corprea e hbitos pessoais (etilismo, tabagismo e drogas), para caracterizar a qualidade e o estilo de vida da
populao.
Doenas como diabetes e hipertenso arterial foram relatadas por 1,7% e 8,3% dos trabalhadores respecti-
vamente. Ao exame, constatou-se 75,1% de trabalhadores com presso arterial tima e normal, 1,8% com
presso limtrofe e 23,1% com alterao, conforme Grco 3.
GRFICO 3 resultados da medio da presso arterial
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% 19,9 55,2 1,8 13,8 4,0 1,0 4,3
PA TIMA PA NORMAL LIMTROFE ESTGIO 1 ESTGIO 2 ESTGIO 3 SISTLICA ISOLADA
As alteraes de presso arterial podem ter como fatores contribuintes o estresse, o rudo, as jornadas de
trabalho prolongadas e a sobrecarga de trabalho fsico e mental.
GRFICO 2 resultados das audiometrias tonais por via area
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% 74,9 9,4 15,7
LIMIARES ALTERADO NO SUGESTIVO ALTERADO SUGESTIVO
DENTRO DA DE PERDA AUDITIVA DE PERDA AUDITIVA
NORMALIDADE RELACIONADA AO TRABALHO RELACIONADA AO TRABALHO
Destes, o ndice de no-utilizao de protetores auditivos 4,1%; enquanto 11,6% refere utiliz-los. A mdia
de idade dos trabalhadores que apresentaram resultados alterados sugestivos de perda auditiva relacionada
ao trabalho unilateral ou bilateral de 43 anos. O tempo mdio referido de exposio a riscos ocupacionais,
rudo e produtos qumicos, 21 anos e 3 meses.
Os trabalhadores com alteraes auditivas sugestivas de perda auditiva relacionada ao trabalho apresentaram
mdia de idade e tempo referido de exposio a riscos ocupacionais maior do que os demais. Conforme pes-
quisa bibliogrca prvia, o ndice de alteraes neste grupo estudado foi inferior aos relatados em outros
estudos. Este dado deve considerar a diferena entre as amostras, alm dos fatores j citados, como a idade e
o tempo de exposio aos riscos.
A relao entre a funo, a etapa de trabalho e os resultados dos exames merece uma investigao mais de-
talhada do histrico prossional do trabalhador, considerando que a perda auditiva decocorre de um perodo
de exposio a riscos ocupacionais associado a outros fatores no ocupacionais, como histrico individual de
sade e exposio a fontes de rudo extra-ocupacional.
52 | 53 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Em relao ao ndice de massa corprea, os resultados indicam 54,7% dos trabalhadores com peso considera-
do normal, 44,0% acima do peso e 1,3% abaixo do peso, conforme apresentado no Grco 4.
Os trabalhadores que apresentaram ndices alterados devem fazer parte de um programa de qualidade de
vida, que inclui hbitos alimentares e atividade fsica.
GRFICO 4 resultados do ndice de massa corprea (IMC)
60
54
48
42
36
30
24
18
12
6
0
% 1,3 54,7 33,3 7,6 2,3 0,8
ABAIXO DO PESO PESO NORMAL SOBREPESO GRAU 1 GRAU 2 GRAU 3
O etilismo social foi referido por 19,2% da populao total estudada, enquanto o tabagismo foi citado por
18,9% e outras drogas, por 2%, conforme Grco 5.
GRFICO 5 hbitos pessoais
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
% 19,2 18,9 2,0
ETILISMO TABAGISMO DROGAS
O etilismo, o tabagismo e o uso de outras drogas tambm so prejudiciais ao organismo, predispondo-o a
danos maiores, quando somados aos riscos ocupacionais.
54 | 55 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Os acidentes tpicos, distribudos pelas etapas do processo produtivo, indicam 5,6% na pr-impresso (71
avaliados), 23,8% na impresso (281 avaliados) e 15,5% na ps-impresso (238 avaliados), conforme apre-
sentado no Grco 7.
GRFICO 7 acidentes de trabalho tpicos referidos por etapa de processo
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
% 5,6 23,8 15,5
PR-IMPRESSO IMPRESSO PS-IMPRESSO
(71 trabalhadores) (281 trabalhadores) (238 trabalhadores)
H referncia bibliogrca de ser comum na Indstria Grca a observao de ferimentos corto-contusos e
laceraes de extremidades e membros, distrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), lombal-
gias, dermatites, queimaduras e narcose.
Foram considerados importantes relatos de acidentes tpicos de trabalho: alteraes de pele, cefalia, alte-
rao de viso, uso de culos, varizes, dor em membros superiores, inferiores e coluna, bem como presena
ao exame de hrnia, de varizes, edema de membros inferiores, dor movimentao de membros superiores,
inferiores e coluna. Estes dados esto apresentados em grcos conforme o porte das empresas estudadas.
Em relao aos acidentes de trabalho tpicos relatados, h predominncia das leses de mos, principalmente
dos trabalhadores das empresas de porte mdio, conforme Grco 6.
GRFICO 6 acidentes de trabalho tpicos referidos por porte de empresa
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
% 17,1 15,1 30,0
MICRO PEQUENA MDIA
(76 trabalhadores) (397 trabalhadores) (130 trabalhadores)
56 | 57 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
58 | 59 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
O Grco 8 ilustra a incidncia dos sintomas referidos pelos trabalhadores, evidenciando-se a predominncia
de alterao de viso e o uso de culos nos trabalhadores das micro-empresas, seguida pelas empresas de
mdio e pequeno portes. Relatos de dores em membros inferiores e coluna foram os mais freqentes nas
pequenas empresas.
GRFICO 8 sintomas referidos por porte da empresa
100
90 MICRO PEQUENA MDIA
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% 11,8 17,1 15,4 47,3 25,9 36,9 44,7 28,2 33,8 17,1 10,0 5,4 10,5 12,1 13,8 13,2 19,6 9,2 7,9 17,9 11,5
CEFALIA ALTERAO USO DE VARIZES DE MMII DOR MMSS DOR MMII DOR DE COLUNA
DE VISO CULOS/LENTE (REFERIDO)
Obs.: MMII = membros inferiores; MMSS = membros superiores.
Os sinais e sintomas apresentados durante o exame fsico mostram a predominncia dos achados nos traba-
lhadores das microempresas, como apresentado no Grco 9.
GRFICO 9 sinais e sintomas apresentados ao exame fsico
25
MICRO PEQUENA MDIA
20
15
10
5
0
% 9,2 2,3 1,5 5,3 2,0 1,5 0,0 1,0 0,0 13,2 4,0 1,5 19,7 10,6 8,5
HRNIA DOR MMSS DOR MMII EDEMA MMII VARIZES DE MMII
Obs.: MMII = membros inferiores; MMSS = membros superiores.
60 | 61 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Comparando as avaliaes dos trabalhadores nas diferentes etapas do processo produtivo, foi vericada maior
freqncia de alteraes visuais e uso de culos na pr-impresso, e de dores em membros inferiores e de
coluna na ps-impresso, conforme apresentado no Grco 10.
GRFICO 10 sintomas referidos por etapa de processo
100
90 PR-IMPRESSO IMPRESSO PS-IMPRESSO
80
70
60
50
40
30
20
10
0
% 16,9 18,1 12,6 42,3 28,8 30,3 46,5 28,5 30,3 4,2 8,2 13,9 11,3 14,6 9,7 15,5 11,4 22,3 7,0 13,9 18,5
CEFALIA ALTERAO USO DE VARIZES DE MMII DOR MMSS DOR MMII DOR DE COLUNA
DE VISO CULOS/LENTE (REFERIDO)
Os resultados obtidos indicam maior incidncia de alteraes de viso e uso de culos nos trabalhadores das
microempresas e nos que exercem atividade na etapa de pr-impresso, realizando tarefas em computadores.
As dores em membros superiores, relatadas principalmente no caso de trabalhadores da etapa de impresso,
podem ter como fatores desencadeantes ou agravantes: posturas inadequadas no ajuste e na limpeza de m-
quinas, na colocao de material, que exige fora ou levantamento de peso, bem como na colocao de tinta,
alm do ritmo excessivo de trabalho.
As queixas de dores em membros inferiores e coluna tiveram maior incidncia entre os trabalhadores da etapa
de ps-impresso, assim como a constatao de varizes ao exame dos membros inferiores. Podem contribuir
para estes sintomas posturas prolongadas em determinada posio, em p ou sentado, e fatores individuais.
Ao exame fsico, varizes foram observadas em maior porcentagem nos trabalhadores da ps-impresso, con-
forme apresentado no Grco 11.
GRFICO 11 achados do exame fsico por etapa de processo
20
18 PR-IMPRESSO IMPRESSO PS-IMPRESSO
16
14
12
10
8
6
4
2
0
% 2,8 2,5 3,8 1,4 2,1 2,1 0,0 0,7 0,8 5,6 2,8 6,7 5,6 4,5 16,4
HRNIA DOR MMSS DOR MMII EDEMA MMII VARIZES DE MMII
Obs.: MMII = membros inferiores; MMSS = membros superiores.
A maior incidncia de relatos de cansao foi observada em trabalhadores das etapas de impresso e ps-im-
presso, conforme Grco 12.
GRFICO 12 relato de cansao por etapa de processo
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
% 5,6 13,5 15,5
PR-IMPRESSO IMPRESSO PS-IMPRESSO
(71 trabalhadores) (281 trabalhadores) (238 trabalhadores)
Foi freqente a observao de resduos de produtos qumicos nas mos dos trabalhadores, devido no utili-
zao de luvas durante os processos produtivos.
As leses de pele referidas pelos trabalhadores esto apresentadas no Grco 13 e indicam pouca diferena
de freqncia em funo da etapa de processo.
62 | 63 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
GRFICO 13 leses de pele referidas por etapa de processo
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
% 5,6 5,0 6,7
PR-IMPRESSO IMPRESSO PS-IMPRESSO
(71 trabalhadores) (281 trabalhadores) (238 trabalhadores)
Para o acompanhamento da sade dos trabalhadores, os programas especcos e as campanhas educativas
devem considerar os fatores individuais (idade, hereditariedade, gnero, tabagismo, etilismo, drogas, hbitos
alimentares, atividade fsica, doenas, entre outros) e os fatores ocupacionais, como riscos ambientais a que o
trabalhador est exposto, condies de trabalho oferecidas, tenso, trabalho montono, demandas excessi-
vas, conitos, situaes organizacionais, trabalho em turnos e o noturno, assim como os dados de incidncia
de doenas obtidos com o mdico responsvel.
4.5 Consideraes finais
As caractersticas mostram que as atividades desenvolvidas nas grcas estudadas apresentam algumas condi-
es de risco segurana e sade do trabalhador que requerem medidas de controle.
Para a promoo de melhorias dessas condies de trabalho, recomendada a adoo de medidas e de pro-
gramas preventivos com uma ateno integral sade do trabalhador, pois o estilo de vida e as condies
laborais podem repercutir no organismo do indivduo, comprometendo sua qualidade de vida.
PARTE III
programas e aes
64 | 65 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
5 gesto de segurana e sade no trabalho
Os programas em sade e segurana devem ter uma viso mais ampliada, no se restringindo somente legislao
e buscando um resultado que venha a agregar valor ao negcio da empresa. O modelo de gesto deve contemplar
o gerenciamento pela reduo de perdas e danos, para evitar que essas despesas cheguem a comprometer a pro-
dutividade e a rentabilidade da empresa.
Os pontos importantes a serem observados para o desenvolvimento e a implementao de um sistema de
GSST so:
poltica de segurana e sade;
implantao dos programas de ordem e requisitos legais, PPRA, PCMSO, PCA, CIPA e outros;
treinamentos;
inspees planejadas;
anlise de riscos;
procedimentos operacionais de tarefa de riscos;
regras para trabalho seguro;
investigao de acidentes e incidentes;
controle de custos dos acidentes e perdas;
gerenciamento de EPI;
promoes gerais de induo e conscientizao;
planos de emergncias;
critrios para tomada de deciso sobre os riscos;
metas para plano de ao.
A empresa institui como meta alcanar um alto nvel de desempenho na gesto da segurana e sade do
trabalho, sabendo que os requisitos legais vigentes so o ponto de partida para metas mais avanadas.
Deve fornecer meios e recursos necessrios manuteno de condies de segurana e de conforto no
ambiente laboral.
A responsabilidade de todos na empresa, do empregador ao trabalhador, para juntos atingirem os padres
de desempenho desejados.
Com a implantao da gesto por preveno e controle de perdas, observa-se os seguintes benefcios:
adoo de sistemtica de anlise de incidentes, acidentes sem leso e com leso, danos propriedade e
perdas no processo;
mudana de atitude do pessoal, passando do enfoque apenas social para uma nova postura, voltada para
o resultado do negcio;
indicao de reas, equipamentos, atividades e tarefas crticas dentro do processo de gerenciamento dos riscos;
motivao dos empregados e elevao da moral pela melhoria das condies, gerando maior produtividade
para empresa;
estabelecimento de procedimentos operacionais padro e prticas seguras de trabalho;
adoo de procedimentos operacionais padro, que xa a rotina para as tarefas repetitivas, permitindo maior
delegao aos subordinados e liberando capacidade dos gerentes e supervisores para tarefas mais nobres;
adoo de um sistema de gesto estruturado e integrado (segurana e sade OSHA 18.000), que permite
o gerenciamento ecaz do sistema de qualidade (ISO 9000), do meio ambiente (ISO14.000), assim como
uniformizao de procedimentos;
controle de causas comuns dos eventos;
aprimoramento da poltica de gerenciamento dos riscos e dos seguros;
valorizao da importncia das aes de segurana e sade, pela melhoria da produtividade e da rentabili-
dade com reduo das perdas, melhorando o desempenho nos negcios;
reduo das perdas e danos com diminuio dos custos de produo e sem sacricar a lucratividade;
sistema de gesto para segurana e sade no trabalho, uma sada estratgica para atingir um nvel de de-
sempenho satisfatrio;
reforo da imagem institucional da empresa no mercado e na sociedade como empresa responsvel e
cidad.
Alguns programas e algumas aes em segurana e sade no trabalho que devem fazer parte da gesto
de SST como: Comisso Interna de Preveno de Acidentes (CIPA), Mapa de Riscos, Preveno e Combate
a Incndios, Programa de Preveno de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle Mdico de Sade
Ocupacional (PCMSO) e Programa de Conservao Auditiva (PCA) esto descritos a seguir, como exemplos,
e devem abranger toda a empresa e os trabalhadores.
66 | 67 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
6 comisso interna de preveno de acidentes (CIPA)
A CIPA (NR-5) tem por nalidade a participao do trabalhador na preveno de acidentes e doenas ocupa-
cionais mediante a identicao dos riscos e o acompanhamento das medidas de controle adotadas, de modo
que se obtenha a permanente integrao entre trabalho, segurana e promoo da sade.
Dependendo do nmero de trabalhadores da empresa, a CIPA ser composta por representantes do emprega-
dor, indicados por ele, e dos empregados, eleitos pelos trabalhadores.
6.1 Estrutura
Para iniciar a composio da Comisso, o responsvel indicado para tal atividade deve consultar a Classicao
Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), contida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ), conforme
exemplo da Figura 1.
FIGURA 1 carto CNPJ
68 | 69 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
De posse dessa informao, deve-se vericar na NR5, Quadro III, em qual grupo a empresa se enquadra,
conforme o Quadro 19.
QUADRO 19 relao da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE)
C.N.A.E. Descrio da Atividade Grupo
22.19-5 Edio; edio e impresso de outros produtos grcos. C-8
22.21-7 Impresso de jornais, revistas e livros. C-8
22.22-5 Servio de impresso de material escolar e de
material para uso industrial e comercial. C-8
22.29-2 Execuo de outros servios grcos. C-8
Nota: Extrado da NR-5, Quadro III.
Identicado o grupo, no caso C-8, e considerando o nmero de empregados da empresa, verica-se a quanti-
dade de representantes efetivos e suplentes necessrios, conforme disposto na NR5, Quadro I, exemplicados
no Quadro 20:
QUADRO 20 dimensionamento da CIPA
Nmero de Empregados no Estabelecimentos
Grupos N. de membros da CIPA 20 a 29 30 a 50 51 a 80 81 a 100 101 a 120 121 a 140 141 a 300 301 a 500
C-8 Efetivos 1 1 2 2 3 3 4 5
C-8 Suplentes 1 1 2 2 3 3 4 5
Nota: Extrado da NR-5, Quadro I.
Diante do exposto e de posse do nmero de membros necessrios, passa-se etapa de formao da Comis-
so, que poder, como j informado, possuir membro efetivo e suplente, representantes do empregador e dos
empregados, ou somente o designado pelo empregador (NR-05 Item 5.6.4), caso a empresa tenha menos de
vinte trabalhadores.
6.2 Etapas para constituio
O cronograma das etapas do processo eleitoral da CIPA est apresentado no Quadro 21.
QUADRO 21 cronograma do processo eleitoral
Etapa Prazo (dias) Ao
1 60 Convocao da eleio
2 55 Constituio da Comisso Eleitoral
3 45 Publicao e divulgao de edital
4 30 Eleio
5 0 Posse
Nota: Quando j houver uma CIPA instalada, o edital de convocao da eleio deve ser divulgado sessenta dias antes do trmino do mandato em curso.
1 etapa: Convocao da Eleio
A primeira etapa do processo eleitoral a divulgao do edital pelo empregador, no quadro de avisos, convi-
dando todos os trabalhadores para inscrio e eleio. O edital deve conter o perodo de inscrio, o local, a
data, o horrio de incio e o de trmino do pleito, alm do perodo de gesto da CIPA.
Tomada tal providncia, o edital deve ser encaminhado ao sindicato da categoria, em duas vias, comunicando
o processo eleitoral. Uma das vias dever ser protocolada e anexada no Livro Ata da CIPA.
2 etapa: Constituio da Comisso Eleitoral
A organizao e o acompanhamento do processo eleitoral so de responsabilidade da Comisso Eleitoral,
formada at o 5 dia, com participao de representantes, do empregador e dos empregados.
Quando j houver CIPA instalada, a comisso eleitoral dever ser constituda por seus membros, devendo,
neste caso, a comisso ser formada, no mnimo, 55 dias antes do trmino do mandato em vigor.
3 etapa: Edital de Inscrio
At o 15 dia, deve ser publicado e divulgado o edital de inscrio para a eleio, que precisa car exposto em
local visvel e de fcil acesso aos trabalhadores por um prazo mnimo de 15 dias.
A cha de inscrio individual e deve conter setor, nmero do registro, nome do empregado e apelido, quan-
do houver. Depois de preenchida, deve ser assinada, em duas vias, cando uma com a comisso eleitoral e a
outra, com o candidato.
70 | 71 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
A garantia de emprego se dar do momento da inscrio at a data de divulgao do resultado da eleio,
momento em que se saber quem so os novos cipeiros. Os eleitos tm mandato com durao de um ano,
sendo permitida uma reeleio, e sua estabilidade no emprego ser de um ano aps o trmino do mandato.
4 etapa: Eleio
A eleio deve ser realizada at o 30 dia, durante o expediente normal de trabalho, respeitando os horrios
e turnos, a m de possibilitar a participao de todos os empregados.
necessria a participao majoritria, ou seja, metade mais um dos empregados, para que a eleio seja
validada, caso contrrio no haver apurao dos votos e a comisso eleitoral dever realizar outro pleito, no
prazo mximo de dez dias.
A apurao do resultado realizada pela comisso eleitoral no horrio normal de trabalho, com a presena de
qualquer pessoa que tenha interesse em acompanh-la. Na Ata de eleio e apurao, deve constar: o total
de eleitores, a quantidade de votos vlidos, nulos e brancos, os candidatos eleitos e seus respectivos votos. Ao
nal desta etapa, rmada a data de posse e do treinamento de todos os empregados eleitos e indicados.
5 etapa: Posse
A posse ocorre imediatamente aps a apurao. Nesse momento, o presidente ser indicado pelo empregador,
e o vice-presidente ser escolhido entre os titulares eleitos. O secretrio e seu substituto podero ou no ser
membros eleitos e sero indicados de comum acordo pelos representantes da CIPA.
Na Ata de instalao e posse deve constar o nome e a assinatura de todos os eleitos e indicados, bem como o
Calendrio Anual de reunies ordinrias.
Aps a posse, a empresa dever protocolar na Delegacia Regional do Trabalho (DRT), em at dez dias corridos,
as Atas de Eleio e Posse da CIPA e o Calendrio Anual das reunies ordinrias.
No caso de j existir CIPA, a nova comisso ser empossada ao trmino do mandato da CIPA em vigor, isto ,
no 60 dia.
Nota: todos os documentos relativos eleio devem ser guardados por um perodo mnimo de cinco anos.
72 | 73 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FLUXOGRAMA EXEMPLIFICATIVO DE FORMAO DA CIPA
EXEMPLO 1 Quando no houver necessidade de eleio, enquadrado no grupo C-8, com menos de vinte empregados:
EMPREGADOR
Designao de um representante
EXEMPLO 2 Quando houver necessidade de eleio, enquadrado no grupo C-8, com vinte ou mais empregados:
EMPREGADOR EMPREGADOS
Designao Eleio
Titular Suplente Titular Suplente
(Presidente) (Vice-Presidente)
SECRETRIO e SUBSTITUTO
(indicados em comum acordo pelos representantes da CIPA, podendo ou no ser pertencentes CIPA)
6.3. Treinamento
O treinamento deve ocorrer at trinta dias aps a posse da primeira CIPA ou at o dia da posse, quando j
houver CIPA instalada. Caso a empresa no seja obrigada a constituir CIPA, o responsvel designado dever
obrigatoriamente receber esse treinamento, com as caractersticas expostas.
O contedo mnimo do treinamento deve atender o descrito no Quadro 22 com o mnimo de vinte horas, distribu-
das conforme a disponibilidade da empresa, porm sempre respeitando o disposto e o horrio normal de trabalho.
QUADRO 22 treinamento da CIPA
Item Contedo
A Estudo do ambiente, das condies de trabalho, bem como dos riscos originados do processo produtivo
B Metodologia de investigao e anlise de acidentes e doenas do trabalho
C Noes sobre acidentes e doenas do trabalho decorrentes de exposio aos riscos existentes
D Noes sobre a sndrome da imunodecincia adquirida SIDA/AIDS e medidas de preveno
E Noes sobre as legislaes, trabalhista e previdenciria relativas segurana e sade no trabalho
F Princpios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos
G Organizao da CIPA e outros assuntos necessrios ao exerccio das atribuies da Comisso
6.4 Atribuies
Entre as atribuies da CIPA, podemos destacar:
elaborar plano de trabalho para aes preventivas visando soluo dos problemas em SST;
participar da implementao e do controle de qualidade das medidas de preveno, assim como da avalia-
o das prioridades de ao na empresa;
avaliar, nas reunies ordinrias ou extraordinrias, se as metas foram cumpridas ou no;
informar aos trabalhadores os assuntos relativos segurana e sade no trabalho;
colaborar no desenvolvimento e na implementao do Programa de Preveno de Riscos Ambientais, do
Programa de Controle Mdico da Sade Ocupacional e de outros programas;
divulgar e promover o cumprimento da legislao e dos acordos coletivos vigentes relativos segurana e
sade no trabalho;
participar da promoo da Semana Interna de Preveno de Acidentes do Trabalho (SIPAT), bem como de
campanhas de promoo da sade e de preveno de doenas como sndrome da imunodecincia adqui-
rida (SIDA/AIDS) e as doenas sexualmente transmissveis (DST), em conjunto com a empresa;
elaborar mapa de risco, que consiste na identicao dos possveis riscos em um ambiente laboral, nas con-
dies de trabalho e no processo produtivo, conforme descrito a seguir.
6.4.1 MAPA DE RISCO
a representao grca que identica de forma qualitativa os riscos e sua intensidade, por meio de crculos
de diferentes cores e tamanhos de acordo com os riscos fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos e de aci-
dentes que podem ocorrer nos locais de trabalho.
elaborado pelos cipeiros e demais trabalhadores, tendo como principais recursos, na sua confeco, as per-
cepes e opinies nas avaliaes dos postos de trabalho.
A classicao dos grupos de riscos est apresentada no Quadro 23, de forma adaptada, para abordar os
observados no ramo grco.
QUADRO 23 classificao dos principais riscos ocupacionais
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
VERDE VERMELHO MARROM AMARELO AZUL
Riscos Fsicos Riscos Qumicos Riscos Biolgicos Riscos Ergonmicos Riscos de Acidentes
Nota: Adaptado da NR-5, Tabela I, de acordo com os agentes encontrados no ramo grco.
Rudo
Exposio a
substncias corrosivas
e vapores orgnicos
provenientes dos
produtos qumicos
utilizados nos
processos de pr-
impresso, impresso
e limpeza
Parasitas (ex. caro)
Bactrias
Fungos
Vetores de doenas
(roedores, insetos e
aranhas)
Repetitividade
Postura
inadequada
Levantamento e
transporte manual de
carga
Trabalho em p por
perodos prolongados
Arranjo fsico
inadequado
Contato com materiais
quentes
Mquinas e equipamentos
sem proteo
Iluminao inadequada
Instrumento e
equipamento de corte
inadequado
Queda de materiais
Piso escorregadio
Vazamento de GLP
Fiao eltrica
improvisada
Armazenamento
inadequado
Com as informaes obtidas, os riscos da rea industrial so classicados, conforme exemplo a seguir:
REFEITRIO
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Biolgicos caros, bactrias, fungos e vetores Doenas de pele, alergias, infeces intestinais,
de doenas presentes nos materiais, nos restos parasitoses
de alimentos e no ambiente
Ergonmicos Trabalho em p por perodos Dores musculares, problemas de coluna, varizes
prolongados, repetitividade
Acidentes Contato com materiais quentes, Queimaduras, queda de materiais, corte nas mos
armazenamento inadequado de materiais, e nos dedos
uso de utenslios de corte
BANHEIROS E VESTIRIOS
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Qumicos Material de limpeza Alergias e/ou ressecamento das mos
Biolgicos caros, bactrias, fungos e vetores de Doenas de pele, alergias, infeces intestinais,
doenas presentes nos materiais e no ambiente parasitoses
Ergonmicos Postura inadequada durante a Dores musculares, problemas de coluna, varizes
limpeza, trabalho em p por perodos prolongados,
repetitividade
Acidentes Piso escorregadio Quedas, fraturas, contuses
74 | 75 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
MANUTENO
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Qumicos leo, graxa Alergias
Ergonmicos Postura inadequada em bancadas Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de trabalho, levantamento e transporte manual
de carga, trabalho em p ou agachado por
perodos prolongados
Acidentes Queda de materiais, contato com Fraturas, contuses, queimaduras, choque eltrico,
materiais quentes, mquinas e equipamentos sem prensamento, corte nas mos e nos dedos
proteo, ao eltrica exposta, instrumentos
e equipamentos de corte
PR-IMPRESSO Desenvolvimento
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Biolgicos caros, bactrias e fungos presentes Alergias, infeces, problemas respiratrios
em ductos e ltros do sistema de ar condicionado
Ergonmicos Postura inadequada no posto Dores musculares, problemas de coluna, varizes,
de trabalho cansao visual
Acidentes Arranjo fsico inadequado, Fraturas, quedas, contuses, cansao visual
iluminao insuciente
76 | 77 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PR-IMPRESSO Fotolito
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Qumicos Exposio a produtos qumicos Irritao das vias respiratrias, dor de cabea,
como reveladores, xadores e corretores nuseas, ressecamento da pele, dermatites
de contato
Biolgicos caros, bactrias e fungos presentes Alergias, infeces, problemas respiratrios
em ductos e ltros do sistema de ar condicionado
Ergonmicos Postura inadequada em bancadas Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de trabalho, levantamento e transporte manual
de carga, trabalho em p por perodos
prolongados e repetitividade
Acidentes Contato com materiais quentes, Queimaduras, quedas
arranjo fsico inadequado
PR-IMPRESSO Almoxarifado
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Qumicos Exposio a produtos qumicos como Irritao das vias respiratrias, dor de cabea,
reveladores, xadores, corretores, tintas e solventes nuseas, ressecamento da pele, dermatites
de contato
Ergonmicos Postura inadequada, levantamento Dores musculares, problemas de coluna e varizes
e transporte manual de carga, trabalho em p por
perodos prolongados, repetitividade
Acidentes Queda de materiais, arranjo fsico Fraturas, quedas, contuses, incndio
inadequado
PR-IMPRESSO Guilhotina
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Ergonmicos Postura inadequada na bancada de Dores musculares, problemas de coluna, varizes
trabalho, levantamento e transporte manual de
carga, trabalho em p por perodos prolongados,
repetitividade
Acidentes Mquinas e equipamentos sem Prensamento, corte das mos e nos dedos;
proteo, arranjo fsico inadequado fraturas, quedas, contuses
IMPRESSO Offset, Tipograa, Rotogravura e Rotativa
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Qumicos Exposio a vapores orgnicos Irritao das vias respiratrias, dor de cabea,
proveniente de tintas e solventes de limpeza nuseas, ressecamento da pele, dermatites de
contato; danos pulmonares, cardiovasculares
e no sistema nervoso, em caso de exposies
repetidas a vapores concentrados
Ergonmicos Postura inadequada no posto de Dores musculares, problemas de coluna, varizes
trabalho, levantamento e transporte manual de
carga, trabalho em p por perodos prolongados,
repetitividade
Acidentes Queda de materiais, equipamentos Fraturas, contuses, prensamento, corte nas mos
sem proteo, arranjo fsico inadequado, e nos dedos, cansao visual
iluminao inadequada
78 | 79 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
IMPRESSO Bobinas e material acabado (parte integrante da Rotogravura e Rotativa)
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Ergonmicos Levantamento e transporte manual Dores musculares, problemas de coluna
de carga
Acidentes Queda de materiais, arranjo fsico Fraturas, contuses, incndio, prensamento de mos
inadequado e dedos
IMPRESSO Flexograa
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Qumicos Exposio a vapores orgnicos Irritao das vias respiratrias, dor de cabea,
proveniente de tintas e solventes de limpeza nuseas, ressecamento da pele, dermatites de
contato; danos pulmonares, cardiovasculares
e no sistema nervoso, em caso de exposies
repetidas a vapores concentrados
Ergonmicos Postura inadequada em bancadas Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de trabalho, levantamento e transporte manual de
carga, trabalho em p por perodos prolongados,
repetitividade
Acidentes Equipamentos sem proteo, arranjo Contuses, prensamento, corte nas mos e nos
fsico inadequado dedos
IMPRESSO Material aguardando acabamento (estoque de produtos do processo Flexogrco)
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Ergonmicos Levantamento e transporte manual Dores musculares, problemas de coluna
de carga
Acidentes Queda de materiais, arranjo fsico Contuses, incndio
inadequado
IMPRESSO Serigraa automtica e manual
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Qumicos Exposio a vapores orgnicos Irritao das vias respiratrias, dor de cabea,
proveniente de tintas e solventes de limpeza nuseas, ressecamento da pele, dermatites de
contato; danos pulmonares, cardiovasculares
e no sistema nervoso, em caso de exposies
repetidas a vapores concentrados
Ergonmicos Postura inadequada em bancadas Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de trabalho, levantamento e transporte manual de
carga, trabalho em p por perodos prolongados,
repetitividade
Acidentes Equipamentos sem proteo, Fraturas, contuses, prensamento, corte nas mos
arranjo fsico inadequado e nos dedos
80 | 81 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
IMPRESSO Digital
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Biolgicos caros, bactrias e fungos presentes Alergias, infeces, problemas respiratrios
em ductos e ltros do sistema de ar condicionado
Ergonmicos Postura inadequada nos postos Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de trabalho
Acidentes Arranjo fsico inadequado Quedas, contuses
IMPRESSO Secagem de papis
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Ergonmicos Transporte manual de carga Dores musculares, problemas de coluna, varizes
PS-IMPRESSO Acabamento
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Fsicos Rudo Alteraes auditivas
Ergonmicos Levantamento e transporte manual Dores musculares, problemas de coluna
de carga, movimentos repetitivos
Acidentes Arranjo fsico inadequado Fraturas, quedas, contuses, incndio
PS-IMPRESSO Depsito de resduos
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Qumicos Exposio a solventes orgnicos Irritao das vias respiratrias, ressecamento da
provenientes de embalagens vazias, panos usados pele, dermatites de contato, nuseas, dor de
na limpeza e resduos lquidos resultantes dos cabea
processos de impresso e limpeza
Biolgicos Bactrias, fungos e vetores presentes Doenas de pele, alergias, infeces intestinais
no sistema de tratamento de euentes e nos e parasitrias, tifo, ttano
resduos armazenados inadequadamente
PS-IMPRESSO Expedio
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Ergonmicos Levantamento, transporte manual Dores musculares, problemas de coluna, varizes
de carga, trabalho em p por perodos prolongados
Acidentes Arranjo fsico inadequado Quedas, fraturas, contuses
PORTARIA
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Ergonmicos Trabalho em p por perodos Dores musculares, problemas de coluna, varizes
prolongados
Acidentes Arranjo fsico inadequado Quedas, contuses
RECEPO E ADMINISTRAO
Riscos / Agentes Possveis Conseqncias
Biolgicos caros, bactrias e fungos presentes Alergias, infeces, problemas respiratrios
em ductos e ltros do sistema de ar condicionado
Ergonmicos Postura inadequada Dores musculares, varizes
Com os riscos identicados e classicados, inicia-se a elaborao grca do mapa de risco por meio de crculos
e cores sobre a planta da empresa. O tamanho do crculo, conforme a gura 2, representa a intensidade do risco.
FIGURA 2 representao grfica dos riscos
Risco Grande Risco Mdio Risco Pequeno
O tipo de risco representado por cores, como ilustrado na Figura 3.
82 | 83 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 3 representao grfica das cores dos riscos
Fsicos Qumicos Biolgicos Ergonmicos Acidentes
Cada crculo deve ser desenhado na rea na qual foi identicado o risco, incluindo no seu interior o nmero
de trabalhadores a ele expostos.
Se, num mesmo local, forem observado diferentes riscos de um s grupo como, por exemplo, riscos ergon-
micos (repetitividade, postura inadequada, levantamento e transporte manual de carga, trabalho em p por
perodos prolongados) a representao deve ser feita apenas com um crculo, desde que estes riscos apre-
sentem o mesmo grau de intensidade, pequena, mdia ou grande, conforme ilustrado na Figura 4.
FIGURA 4 representao de um risco no setor
Setor de Almoxarifado
2
Ergonmicos
Na ocorrncia de diferentes tipos de riscos, em um mesmo local de trabalho e com a mesma intensidade, es-
tes podem ser representados em um nico crculo, dividido em partes iguais, com as respectivas cores, como
ilustrado na Figura 5.
FIGURA 5 representao de vrios riscos de mesma intensidade
Setor de PR-IMPRESSO
10
ACIDENTES
ERGONMICOS
BIOLGICOS
QUMICOS
FSICOS
6.4.1.1 Modelo de mapa de risco
RISCO GRANDE RISCO MDIO RISCO PEQUENO
X
= NMERO DE TRABALHADORES
RISCOS FSICOS RISCOS QUMICOS RISCOS BIOLGICOS RISCOS ERGONMICOS RISCOS DE ACIDENTES
84 | 85 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
6.4.1.2 Medidas recomendadas pela CIPA
Feito o mapa de risco, so elaboradas recomendaes relativas Segurana e Sade, apresentadas a seguir:
treinamento na operao de mquinas e equipamentos;
manuteno preventiva de mquinas e equipamentos;
treinamento para uso de EPI;
treinamento para armazenamento, descarte e utilizao de produtos e resduos qumicos;
orientao quanto ao transporte e ao armazenamento de produtos diversos;
treinamento para combate a incndio;
treinamento em primeiros socorros.
OBSERVAO
Aps a elaborao do mapa de risco, a CIPA deve encaminhar, ao responsvel administrativo da empresa, um
relatrio contendo os riscos, sua localizao e as sugestes de medidas aplicveis. Deve axar o mapa de riscos
em cada local analisado, de forma visvel e de fcil acesso por parte dos trabalhadores.
86 | 87 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
7 programa de preveno de riscos ambientais (PPRA)
Este programa, descrito na NR-9, consiste em avaliar os riscos ambientais nos locais de trabalho e implantar
aes para a melhoria das situaes encontradas em um plano e um cronograma anual. Serve de subsdio para
o Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO), NR-7, e para o Laudo Tcnico das Condies
Ambientais do Trabalho (LTCAT).
O PPRA tem como objetivo antecipar, reconhecer, avaliar e controlar os agentes ambientais no ambiente labo-
ral, considerando tambm a proteo do meio ambiente industrial e dos recursos naturais. aplicado a todas
as empresas com trabalhadores contratados regidos pela CLT, independentemente do tipo de atividade, risco
ou nmero de trabalhadores, sendo seu cumprimento de responsabilidade do empregador.
O programa dever conter, no mnimo:
identicao da empresa, com informaes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ), grau de risco,
de acordo com o Quadro I da NR-4, nmero de trabalhadores, com sua distribuio por sexo, nmero de
menores, horrios de trabalho e turnos;
planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma;
estratgia e metodologia de ao;
forma de registro, manuteno e divulgao dos dados;
periodicidade e forma de avaliao do desenvolvimento do PPRA.
7.1 Desenvolvimento
A elaborao, a implementao, o acompanhamento e a avaliao do PPRA podero ser realizados por um
Servio Especializado em Engenharia de Segurana e Medicina do Trabalho (SESMT), por pessoa ou equipe
que, a critrio do empregador, sejam capazes de desenvolver o disposto na NR-9.
O desenvolvimento desse programa foi dividido em sete etapas:
1. antecipao e reconhecimento dos riscos ambientais;
2. avaliao da exposio dos trabalhadores aos riscos ambientais;
3. estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle;
4. implantao de medidas de controle;
5. elaborao de cronograma de atividades a serem executadas;
6. registro e divulgao dos dados;
7. responsabilidades.
7.1.1 ANTECIPAO E RECONHECIMENTO DOS RISCOS AMBIENTAIS
Esta etapa envolve a anlise das instalaes, dos mtodos e processos de trabalho, identicando os riscos
potenciais de forma qualitativa e quantitativa. Os riscos considerados so os ambientais, fsicos, qumicos e
biolgicos, que, dependendo de sua natureza, concentrao ou intensidade e tempo de exposio, podem
ocasionar danos sade dos trabalhadores.
OBSERVAO
Embora no previsto pela NR-9, foram considerados os riscos de acidentes e os ergonmicos, para um estudo
mais completo.
Riscos Fsicos
As avaliaes destes riscos foram realizadas quantitativamente com o auxlio de equipamentos de medio
adequados e calibrados, para comprovao ou no da exposio dos trabalhadores aos riscos ambientais.
Rudo
Os nveis de presso sonora medidos no ambiente da produo, pelo critrio de amostragem, esto apresen-
tados no Quadro 24, tendo sido comparados ao nvel de ao e ao limite de tolerncia para uma jornada de
oito horas dirias, respectivamente, 80 dB(A) e 85 dB(A).
QUADRO 24 nveis instantneos de presso sonora
Pr-impresso
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Nvel de Presso Sonora dB (A)
Setor Desenvolvimento
1 Mesa com micro 55
2 Mesa com micro 56
3 Impressora plotter 52
Setor Fotolito
4 Mesa de reviso 59
5 Mquina prensa cpia de chapa 58
6 Tanque de revelao de chapa 59
7 Tanque de lavagem 60
8 Mquina secagem de chapa 59
Setor Almoxarifado
9 Mesa com micro 63
10 rea 60
Setor Guilhotina
11 Mquina guilhotina 79
88 | 89 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
ARRANJO FSICO
Os pontos avaliados quantitativamente esto representados no arranjo fsico, para facilitar a visualizao dos
locais onde foram realizadas as medies.
EXTINTORES DE
GUA PRESSURIZADA GS CARBNICO P QUMICO SECO CARRETA DE P QUMICO CARRETA DE GUA PRESSURIZADA
HIDRANTE
Impresso
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Nvel de Presso Sonora dB (A)
Setor Offset
12 Bancada 80
13 Mquina offset incio 81
14 Mquina offset torre 1 82
15 Mquina offset torre 2 82
16 Mquina offset torre 3 82
17 Mquina offset torre 4 82
18 Mquina offset m 81
19 Bancada de inspeo 80
20 Bancada 81
21 Mquina offset incio 83
22 Mquina offset torre 1 83
23 Mquina offset torre 2 83
24 Mquina offset m 82
25 Mquina UV 82
26 Bancada de inspeo 81
Setor Tipograa
27 Bancada 79
28 Mquina tipogrca (incio) 82
29 Mquina tipogrca (m) 83
30 Bancada de inspeo 82
Setor Rotogravura
31 Bancada 86
32 Mquina rotogravura incio 87
33 Mquina rotogravura 88
34 Mquina rotogravura 88
35 Mquina rotogravura 88
CONTINUA
36 Mquina rotogravura m 88
37 Bancada de inspeo 87
Setor Offset Rotativa
38 Bancada 89
39 Mquina rotativa incio 90
40 Mquina rotativa torre 1 90
41 Mquina rotativa torre 2 90
42 Mquina rotativa torre 3 91
43 Mquina rotativa torre 4 90
44 Mquina rotativa m 91
45 Bancada de inspeo 89
Setor Flexograa
46 Bancada 81
47 Mquina exogrca incio 84
48 Mquina exogrca m 83
49 Bancada de inspeo 82
Setor Serigraa Semi-Automtica
50 Bancada 79
51 Mquina serigraa semi automtica 82
52 Bancada 75
53 Bancada serigraa manual 71
Setor Digital (dados variveis)
54 Sala de secagem de papis 79
55 Mquina laser (digital) 83
90 | 91 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Nvel de Presso Sonora dB (A)
Ps-Impresso
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Nvel de Presso Sonora dB (A)
56 Bancadas 82
57 Mquina corte e vinco 83
58 Mquina alceadeira 85
59 Mquina coladeira 85
60 reas 83
Dosimetria de rudo
A dosimetria de rudo foi realizada em seis trabalhadores, sendo as nomenclaturas da resposta do equipa-
mento apresentadas no Quadro 25 e os resultados, nos Quadros 26 a 31. Os nveis mdios de presso sonora
foram comparados ao nvel de ao e ao limite de tolerncia para uma jornada de 8 horas dirias, respectiva-
mente, 80 dB(A) e 85 dB(A).
QUADRO 25 nomenclaturas para interpretao dos dados do dosmetro
Incio Incio da medio em horas/minutos
Trmino Final da medio em horas/minutos
Tempo de medida Tempo de medio em horas/minutos
Pausa Parada do tempo de medio em horas/minutos
Dose % Quantidade de rudo a que o trabalhador foi exposto, expressa em
porcentagem de dose relativa ao tempo de avaliao
Dose % 8h Dose de rudo projetada para um perodo de 8 horas, em porcentagem
L
avg
dB(A) Nvel mdio de presso sonora durante o perodo de medio, isto , o nvel
contnuo que produziria a mesma dose que o rudo real varivel, no mesmo
tempo avaliado (average level nvel mdio)
Max L dB(A) Nvel de presso sonora mximo no perodo avaliado
Max P dB(A) Pico de nvel de presso sonora mximo no perodo de medio
QUADRO 26 dosimetria de rudo impressor offset
Funo Impressor
Setor Offset
Data 00/00/00
Incio 08h28
Fim 11h08
Tempo de medida 02h40
Pausa No houve
Dose % 28,0
Dose 8h % 82,0
Lavg dB(A) 83,6
Max L dB(A) 103,7
Max P dB(A) 132,8
QUADRO 27 dosimetria de rudo impressor offset rotativa
Funo Impressor
Setor Offset Rotativa
Data 00/00/00
Incio 09h11
Fim 11h20
Tempo de medida 02h09
Pausa No houve
Dose % 78,0
Dose 8h % 288,0
Lavg dB(A) 92,6
Max L dB(A) 124,5
Max P dB(A) 124,5
92 | 93 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 28 dosimetria de rudo impressor
Funo Impressor
Setor Flexograa
Data 00/00/00
Incio 08h44
Fim 10h47
Tempo de medida 02h07
Pausa No houve
Dose % 28,0
Dose 8h % 104,0
Lavg dB(A) 85,3
Max L dB(A) 106,4
Max P dB(A) 128,8
QUADRO 29 dosimetria de rudo impressor
Funo Operador
Setor Rotogravura
Data 00/00/00
Incio 10h41
Fim 11h45
Tempo de medida 01h04
Pausa No houve
Dose % 21,0
Dose 8h % 153,0
Lavg dB(A) 88,0
Max L dB(A) 108,1
Max P dB(A) 130,7
QUADRO 30 dosimetria de rudo impressor
Funo Impressor
Setor Serigraa (semi-automtica)
Data 00/00/00
Incio 13h13
Fim 15h49
Tempo de medida 02h28
Pausa No houve
Dose % 22,0
Dose 8h % 72,0
Lavg dB(A) 82,6
Max L dB(A) 113,2
Max P dB(A) 132,4
QUADRO 31 dosimetria de rudo operador de dados variveis
Funo Operador
Setor Digital (dados variveis)
Data 00/00/00
Incio 13h38
Fim 15h12
Tempo de medida 01h34
Pausa No houve
Dose % 15,0
Dose 8h % 75,0
Lavg dB(A) 82,9
Max L dB(A) 133,3
Max P dB(A) 152,0
94 | 95 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Calor
Durante o perodo do estudo de campo as condies ambientais, externas e internas, estavam adequadas.
Para comprovar tal situao, foram realizadas medies e os resultados coletados, demonstraram IBUTG (ndi-
ce de Bulbo mido e Termmetro de Globo) abaixo do limite de tolerncia para atividade moderada (26,7 C),
conforme Quadro 1 do Anexo 3 da NR-15.
Riscos Qumicos
As avaliaes foram realizadas qualitativamente, por observao do processo produtivo, procedimentos de
manuseio dos produtos qumicos, armazenamento e descarte de resduos. De forma quantitativa pela deter-
minao da concentrao de vapores dos solventes orgnicos em amostras de ar, coletadas de forma ativa, em
pontos xos nas reas mais crticas, para avaliar suas disperses no ambiente e de forma passiva, nos traba-
lhadores para estimar a exposio destes durante suas jornadas de trabalho. Os resultados, apresentados nos
Quadros 32 e 33 foram comparados aos limites de tolerncia estabelecidos na NR-15 e, na ausncia destes,
aos valores preconizados pela ACGIH.
QUADRO 32 resultados das anlises de amostras de ar coletadas de forma ativa
Resultados em ppm
Setor/Fonte Local acetona acetato lcool metil etil n-hexano tolueno xilenos
de etila isoproplico cetona
Offset 13 <10 <10 27 13 <10 <10 <10
24 <10 <10 24 <10 <10 <10 <10
21 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Rotogravura 20 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
36 <10 94 244 <10 <10 146 <10
33 <10 142 153 <10 <10 223 <10
37 <10 30 29 <10 <10 50 <10
Flexografa 31 <10 27 28 <10 <10 21 <10
47 <10 17 <10 <10 <10 <10 <10
48 <10 58 28 <10 <10 21 <10
CONTINUA
Serigraa 46 <10 13 <10 <10 <10 <10 <10
52 <10 <10 <10 <10 <10 23 13
53 <10 <10 <10 <10 <10 31 20
50 <10 <10 <10 <10 <10 25 14
Tipograa 51 <10 <10 <10 <10 <10 21 12
27 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
28 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
29 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Limite de tolerncia 780 310 310 155 50 78 78
(NR-15) (NR-15) (NR-15) (NR-15) (ACGIH) (NR-15) (NR-15)
QUADRO 33 resultados das anlises de amostras de ar coletadas de forma passiva
Resultados em ppm
Setor/Fonte Local acetona acetato lcool metil etil n-hexano tolueno xilenos
de etila isoproplico cetona
Offset Impressor <10 <10 19 17 <10 <10 <10
Impressor <10 <10 11 10 <10 <10 <10
Ajudante de impresso <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Ajudante de impresso <10 <10 <10 15 <10 <10 <10
Rotogravura Impressor <10 46 46 <10 <10 53 <10
Ajudante de impresso <10 43 42 <10 <10 54 <10
Impressor <10 17 15 <10 <10 23 <10
Impressor <10 16 11 <10 <10 20 <10
Flexograa Impressor <10 34 24 <10 <10 <10 <10
Ajudante de impresso <10 48 62 <10 <10 <10 <10
Impressor <10 17 11 <10 <10 <10 <10
CONTINUA
96 | 97 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Resultados em ppm
Setor/Fonte Local acetona acetato lcool metil etil n-hexano tolueno xilenos
de etila isoproplico cetona
Serigraa Impressor <10 <10 <10 <10 <10 42 30
Impressor <10 <10 <10 <10 <10 48 33
Impressor <10 <10 <10 <10 <10 41 26
Ajudante de impresso <10 <10 <10 <10 <10 54 37
Tipograa Impressor <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Impressor <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Ajudante de impresso <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10
Limite de tolerncia 780 310 310 155 50 78 78
(NR-15) (NR-15) (NR-15) (NR-15) (ACGIH) (NR-15) (NR-15)
Riscos Biolgicos
As avaliaes foram feitas de forma qualitativa no refeitrio, nos banheiros e nos depsitos de resduos, visan-
do observar a presena de sujidade e de vetores (insetos e roedores) que podem contaminar os ambientes, os
trabalhadores, a matria-prima e as embalagens.
Riscos Ergonmicos
As avaliaes foram realizadas por observaes das atividades, dos locais e condies de trabalho, e tambm
quantitativamente para o agente iluminncia.
Iluminncia
Foram realizadas medies de iluminncias nos postos e ambientes de trabalho, sendo os resultados, confor-
me o Quadro 34, comparados aos preconizados pela NBR 5413 para as atividades realizadas.
QUADRO 34 iluminncia medida nos postos de trabalho
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Iluminncia NBR 5413
(Medida em Lux) (Mnimo de Lux recomendado)
Pr-Impresso Setor Desenvolvimento
1 Mesa com micro 390 300
2 Mesa com micro 350 300
3 Impressora plotter 310 300
Pr-Impresso Setor Fotolito
4 Mesa de reviso 500 500
5 Mquina prensa cpia de chapa 310 300
6 Tanque de revelao de chapa 320 300
7 Tanque de lavagem 310 300
8 Mquina secagem de chapa 320 300
Pr-Impresso Setor Almoxarifado
9 Mesa com micro 420 500
10 rea 110 200
Pr-Impresso Setor Guilhotina
11 Mquina guilhotina 600 300
Impresso Setor Offset
12 Bancada 510 500
13 Mquina offset incio 350 300
14 Mquina offset torre 1 340 300
15 Mquina offset torre 2 330 300
16 Mquina offset torre 3 340 300
17 Mquina offset torre 4 340 300
18 Mquina offset m 310 300
19 Bancada inspeo 1100 1000
20 Bancada 520 500
21 Mquina offset incio 550 300
CONTINUA
98 | 99 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Resultados em ppm
Setor/Fonte trabalhador acetona acetato lcool metil etil n-hexano tolueno xilenos
de etila isoproplico cetona
22 Mquina offset torre 1 520 300
23 Mquina offset torre 2 530 300
24 Mquina offset m 510 300
25 Mquina UV 490 300
26 Bancada de inspeo 1100 1000
Impresso Setor Tipogrco
27 Bancada 200 500
28 Mquina tipogrca incio 210 300
29 Mquina tipogrca m 200 300
30 Bancada de inspeo 210 1000
Impresso Setor Rotogravura
31 Bancada 250 500
32 Mquina rotogravura incio 210 300
33 Mquina rotogravura 230 300
34 Mquina rotogravura 220 300
35 Mquina rotogravura 210 300
36 Mquina rotogravura m 280 300
37 Bancada de inspeo 300 1000
Impresso Setor Offset Rotativa
38 Bancada 510 500
39 Mquina rotativa incio 310 300
40 Mquina rotativa torre 1 290 300
41 Mquina rotativa torre 2 280 300
CONTINUA
42 Mquina rotativa torre 3 280 300
43 Mquina rotativa torre 4 290 300
44 Mquina rotativa m 290 300
45 Bancada de inspeo 400 1000
Impresso Setor Flexograa
46 Bancada 510 500
47 Mquina exogrca incio 500 300
48 Mquina exogrca m 510 300
49 Bancada de inspeo 1500 1000
Impresso Setor Serigraa Semi-Automtica
50 Bancada 450 500
51 Mquina serigraa semi-automtica 290 300
52 Bancada 300 500
53 Bancada serigraa manual 600 300
Impresso Setor Digital (dados variveis)
54 Sala de secagem de papis 600 300
55 Mquina laser (digital) 300 500
Ps-impresso
56 Bancadas 490 500
57 Mquina corte e vinco 260 300
58 Mquina alceadeira 250 300
59 Mquina coladeira 280 300
60 reas 220 300
100 | 101 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Iluminncia NBR 5413
(Medida em Lux) (Mnimo de Lux recomendado)
Pontos Posto de Trabalho / Equipamento Iluminncia NBR 5413
(Medida em Lux) (Mnimo de Lux recomendado)
7.1.2 AVALIAO DA EXPOSIO DOS TRABALHADORES AOS RISCOS AMBIENTAIS
As avaliaes qualitativas foram realizadas por meio da anlise do mapa de risco, por observaes dos am-
bientes laborais e das tarefas desenvolvidas pelos trabalhadores. Os riscos ocupacionais apresentados e as
sugestes de medidas de controle esto exemplicados abaixo.
PR-IMPRESSO | Setor Desenvolvimento
Funo Atividades
Analista de sistema Receber arquivos digitais, originais fotogrcos e impressos;
preparar a arte atravs de cores, textos, reservas (sobreposio
de tintas); tratar e nalizar a arte, separando cores, acrescentando
distores de passo; realizar reservas e porcentagens; conhecer os
programas especcos para analisar a arte por separao de
cores, lineatura, porcentagem e demais dados tcnicos.
Operador de editorao eletrnica Receber arquivos digitais, originais fotogrcos e impressos;
conferir sua adequao; abrir ordem de servio; encaminhar o
material para a produo; acompanhar o processo; informar o
cliente e os representantes sobre o andamento do servio;
desenvolver as atividades e os controles diversos em escritrios
climatizados, com o auxlio de microcomputadores.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Ergonmicos Fadiga visual; Fixao visual na tela do monitor; utilizao
posturas estticas de membros prolongada do mouse; disposio inadequada do
superiores e cervical mobilirio; monitores ergonomicamente desfavorveis.
Medidas de controle necessrias
Realizar exerccios para alongamento e relaxamento muscular.
Incluir pausas para descanso do operador de editorao eletrnica, de 10 min. por 50 min. trabalhados.
Manter disposio adequada e manuteno do mobilirio com ajustes ao biotipo do trabalhador.
Orientar os trabalhadores quanto forma e permanncia da postura sentada.
Ajustar nitidez, contraste, brilho, tamanho dos caracteres e posicionamento da tela do monitor.
Obs: A manuteno peridica do sistema de ar condicionado previne o risco biolgico.
PR-IMPRESSO | Setor Fotolito
Funo Atividades
Copiador de fotolito/Copiador de chapas Conferir caractersticas tcnicas do trabalho executado,
tomando como base especicaes, provas e
determinaes fornecidas pelo cliente; responsabilizar-se
pela qualidade total e nal do produto executado;
executar servios na prensa de cpia, revelar a chapa
retirando com soluo qumica as reas de no imagem,
lavar a chapa utilizando gua, retocar com corretor, retirar
manchas e/ou imperfeies, identicar as chapas com
etiqueta de rastreabilidade, cobrir a chapa com carto
apropriado e arquivar; operar o forno para secagem.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Qumicos Exposio a produtos qumicos Produtos corrosivos e vapores de solventes orgnicos
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de ventilao local exaustora
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Luva, avental de PVC, culos de segurana
Medidas de controle necessrias
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
102 | 103 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PR-IMPRESSO | Setor Almoxarifado
Funo Atividades
Almoxarife Cadastrar a criao de novos cdigos no sistema; efetuar pedido de materiais
para o setor de compras; realizar contato com fornecedores e com o setor de
compras no caso de atrasos e/ou problemas de entrega do material requisitado;
emitir relatrios das movimentaes de materiais, como compras realizadas,
baixa de estoque, pedidos atrasados, consumo e outros; supervisionar o quadro
de trabalhadores do setor de almoxarifado, organizar as tarefas e as rotinas de
cada um; auxiliar o departamento de compras, informando o estoque atual;
planejar o setor, desde o arranjo fsico at as normas internas de funcionamento.
Auxiliar de almoxarife Atender os trabalhadores no balco do setor; efetuar baixa na requisio de
movimentao de material; emitir relatrios para conferir se a baixa do material
est correta; consultar o sistema para vericao de estoque dos produtos;
manter os arquivos, tais como documentaes sobre ordem de compra,
mostrurio de impressos, notas scais e requisies; conferir e receber as
mercadorias, incluindo produtos qumicos; movimentar e armazenar as
mercadorias para estocagem; identicar e codicar os materiais; manter
o setor de trabalho limpo e organizado.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Ergonmicos Postura inadequada; Manuseio, transporte e armazenamento de materiais
levantamento e transporte manual de carga de forma inadequada
Acidentes Queda de materiais e prensagem Manuseio, transporte e armazenamento de materiais
de membros superiores ou inferiores
EPI recomendados de acordo com a atividade a ser executada
Luva de malha de algodo, luva de raspa, calado de segurana com biqueira de ao
Medidas de controle necessrias
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Organizar a rea.
PR-IMPRESSO | Setor Guilhotina
Funo Atividades
Operador de guilhotina Receber a ordem de servio; programar e operar a mquina de guilhotina
para cortar papis e/ou cartes at obter as medidas especicadas; efetuar a
troca das facas da guilhotina, se necessrio, remover as aparas
identicando-as e enviando ao local apropriado; zelar pela limpeza e
pela manuteno da mquina; orientar o auxiliar nas tarefas.
Auxiliar de guilhotina Auxiliar o operador de guilhotina, buscando os papis e/ou cartes no
almoxarifado para realizao do corte, conforme ordem de servio;
transportar o material especicado a outro setor.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Ergonmicos Postura inadequada; Manuseio, transporte e armazenamento de materiais
levantamento e transporte manual de carga de forma inadequada
Acidentes Prensagem e corte das mos; Descida do balancim da mquina no momento da
queda de materiais prensagem do material; manuseio, transporte e
armazenamento de materiais
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de fotoclula na mquina
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Calado de segurana
Medidas de controle necessrias
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Disponibilizar empurrador para ajuste de resmas.
104 | 105 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
IMPRESSO | Setor Offset
Funo Atividades
Impressor offset/ Operar equipamento de impresso offset, de acordo com a ordem de servio
Monocolor/Bicolor/ e gabarito de impresso; xar as chapas, regular a presso do cilindro e
Quatro cores controlar a posio das folhas de papel e a distribuio de tinta e gua; efetuar
testes e acompanhar o uxo da mquina com a nalidade de aferir a qualidade.
Meio ocial impressor Auxiliar o impressor nas tarefas no gabarito de impresso, xar as chapas,
offset/Operador offset regular presso do cilindro, controlar a posio das folhas de papel, distribuir
tinta e gua, armazenar as pilhas impressas; realizar limpeza da mquina.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquina para realizao da tarefa
Qumicos Exposio a produtos qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das
tintas e solventes
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; Difcil acesso aos dispositivos dos equipamentos no
levantamento e transporte manual de carga momento de limpeza e manuteno das mquinas;
manuseio, transporte e armazenamento de materiais
de forma inadequada
Acidentes Contato e prensagem das mos em Roletes/cilindros da mquina impressora em
mquinas e equipamentos; queda de materiais funcionamento; manuseio, transporte e
armazenamento de materiais
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de fotoclula nas grades de proteo dos cilindros da mquina impressora; sistema de ventilao
local exaustora.
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo, creme protetor para as mos, culos de segurana, luvas de PVC, calado de segurana
com biqueira de ao, respirador para solventes orgnicos na atividade de limpeza da mquina (em caso
de inexistncia de um sistema de exausto adequado e exposio acima do limite de tolerncia, e estar de
acordo com o PPR)
Medidas de controle necessrias
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Estudar com o fabricante a possibilidade de facilitar o acesso aos dispositivos das mquinas.
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
Manter a originalidade da mquina quanto aos dispositivos de segurana.
IMPRESSO | Setor Offset Rotativa
Funo Atividades
Impressor de offset Operar equipamento de impresso, de acordo com a ordem de servio e
em mquina rotativa gabarito de impresso; xar as chapas, regular a presso do cilindro e
controlar a posio das folhas de papel e a distribuio de tinta e gua;
efetuar testes, acompanhar o uxo operacional da mquina, aferindo a
qualidade do produto, e realizar a limpeza da mquina.
Meio ocial impressor/ Auxiliar o impressor nas tarefas no gabarito de impresso atravs de
Ajudante de impressor dispositivos e comandos, xar as chapas, regular a presso do cilindro,
controlar a posio das folhas de papel, distribuir tinta e gua, armazenar as
pilhas impressas; realizar a limpeza da mquina.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquina para a realizao da tarefa
Qumicos Exposio a produtos qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das
tintas e dos solventes
Ergonmicos Exigncia de postura Difcil acesso aos dispositivos dos equipamentos no
inadequada; levantamento e transporte momento de limpeza e manuteno das mquinas;
manual de carga manuseio, transporte e armazenamento de materiais
de forma inadequada
Acidentes Contato e prensagem das Roletes/cilindros da mquina impressora em funcionamento;
mos na mquina; queda de materiais manuseio, transporte e armazenamento de materiais
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de fotoclula nas grades de proteo dos cilindros da mquina; sistema de exausto na mquina.
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo, culos de segurana, luvas de PVC para limpeza, creme protetor para as mos; calado
de segurana com biqueira de ao
Medidas de controle necessrias
Estudar com o fabricante a possibilidade de facilitar o acesso aos dispositivos das mquinas.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Manter a originalidade da mquina quanto aos dispositivos de segurana.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
106 | 107 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
IMPRESSO | Setor de Flexograa
Funo Atividades
Impressor exogrco Receber a ordem de servio; montar e preparar a troca de cilindros; efetuar o
preparo de tintas; acertar o registro; vericar o padro de tinta, comparando
com a amostra para acerto da tonalidade; executar impresso de alto relevo
utilizando clichs; limpar e lubricar a mquina.
Ajudante de impresso Auxiliar o impressor nas tarefas de impresso, xar as chapas, regular a
exogrca presso do cilindro, controlar a posio das folhas de papel, distribuir tinta
e armazenar o material impresso em pilhas.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquina para a realizao da tarefa
Qumicos Exposio a Vapores de solventes orgnicos provenientes das
produtos qumicos tintas e solventes
Ergonmicos Exigncia de Difcil acesso aos dispositivos dos equipamentos no levantamento
postura inadequada; transporte e no momento de limpeza e manuteno das mquinas; manuseio,
manual de carga transporte e armazenamento de materiais de forma inadequada
Acidentes Corte, prensagem, Roletes/cilindros da mquina impressora em funcionamento;
contato das mos na mquina e manuseio, transporte e armazenamento de materiais
equipamentos; queda de materiais
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de fotoclula nas grades de proteo dos cilindros da mquina impressora; sistema de exausto na
mquina impressora
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo, luvas de PVC para limpeza, creme protetor para as mos, calado de segurana com
biqueira de ao
Medidas de controle necessrias
Estudar com o fabricante a possibilidade de facilitar o acesso aos dispositivos das mquinas.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
IMPRESSO | Setor de Rotogravura
Funo Atividades
Operador Receber a ordem de servio, conferir o cilindro gravado com a amostra recebida, vericar
de mquina as medidas dos cilindros gravados e o sentido da impresso; colocar os cilindros na
mquina; ligar as bombas de circulao de tintas e controlar sua viscosidade; iniciar o
processo de produo da mquina com bobinas de polietileno, acionar e efetuar ajustes de
passamento, tenso e alinhamento; acompanhar a evoluo, visualizar a impresso do
lme e corrigir os defeitos ou anomalias encontradas; coletar amostras para anlise e caso
necessrio, corrigir; aps o trmino da impresso, numerar a bobina para identicao;
efetuar a limpeza da mquina e dos acessrios.
Ajudante Auxiliar o impressor nas tarefas de impresso atravs de dispositivos e comandos; colocar
os cilindros na mquina, ligar as bombas de circulao de tintas e controlar sua viscosidade
com solvente orgnico; iniciar o processo de produo da mquina com bobinas de
polietileno; acionar e efetuar ajustes de passamento, tenso e alinhamento; acompanhar a
evoluo, visualizar a impresso do lme, corrigir os defeitos ou anomalias encontradas;
efetuar a limpeza da mquina e dos acessrios.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquina para a realizao da tarefa
Qumicos Exposio a produtos qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das
tintas e solventes
Ergonmicos Exigncia de postura Difcil acesso aos dispositivos dos equipamentos no
inadequada; levantamento e transporte momento de limpeza e manuteno das mquinas;
manual de carga manuseio, transporte e armazenamento de materiais
de forma inadequada
Acidentes Corte, prensagem e contato Roletes/cilindros da mquina impressora em funcionamento;
das mos na mquina e equipamentos; manuseio, transporte e armazenamento de materiais
queda de materiais
EPC recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Sistema de fotoclula nas grades de proteo dos cilindros da mquina impressora; sistema de exausto na
mquina impressora
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo, luvas de PVC para limpeza, creme protetor para as mos, calado de segurana com
biqueira de ao
Medidas de controle necessrias
Estudar com o fabricante a possibilidade de facilitar o acesso aos dispositivos das mquinas.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
108 | 109 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
IMPRESSO | Setor de Serigraa
Funo Atividades
Impressor serigrco Ajustar a mquina semi-automtica para impresso, colocar a folha a
semi-automtica ser impressa, ajustar a velocidade e a guia de posicionamento do
suporte; aps a impresso, limpar a mquina com produtos qumicos.
Impressor serigrco manual Fazer a impresso manual utilizando tela, tinta e um rodo pequeno;
ajustar a tela na bancada, colocar um guia para inserir o material a
ser impresso e limpar vrias vezes a tela com solvente orgnico.
Ajudante Auxiliar o impressor nas atividades de impresso; armazenar materiais
nos carrinhos para secagem; realizar limpeza de tela vrias vezes com
solvente orgnico e distribuir tintas; solventes para os impressores.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Qumicos Exposio a produtos qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das
tintas e solventes
Ergonmicos Postura inadequada; levantamento Manuseio, transporte e armazenamento de
e transporte manual de carga. materiais de forma inadequada
Acidentes Contato e prensagem das mos na Manuseio transporte e armazenamento de materiais
mquina e equipamentos
EPC recomendado de acordo com atividade a ser executada
Sistema de ventilao local exaustora ou geral diluidora
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Luvas de PVC para limpeza ,creme protetor para as mos, respirador para solventes orgnicos (em caso
de inexistncia de um sistema de exausto adequado e exposio acima do limite de tolerncia, e estar de
acordo com o PPR)
Medidas de controle necessrias
Melhorar a ventilao ambiente.
Estudar com o fabricante a possibilidade de facilitar o acesso aos dispositivos das mquinas.
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Disponibilizar aos trabalhadores as Fichas de Informao de Segurana de Produtos Qumicos (FISPQ).
IMPRESSO | Setor Digital (dados variveis)
Funo Atividades
Operador Desenvolver projeto de sistemas a serem implantados na mquina impressora de dados
variveis; acompanhar a evoluo desse trabalho e prestar o necessrio suporte ao auxiliar e
a outros prossionais da rea; utilizar banco de dados e produtos existentes no mercado;
determinar, juntamente com os usurios, as responsabilidades sobre os dados quanto
gerao, coleta, leitura e atualizao de dados.
Auxiliar Operar diferentes plataformas (PC, MCA, UNIX); preparar, organizar e enviar arquivos
para impressoras; controlar o processo de impresso digital e abastec-las com os
insumos necessrios.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquina para realizao da tarefa
Ergonmicos Postura inadequada; levantamento Manuseio, transporte e armazenamento de materiais
e transporte manual de carga de forma inadequada; trabalho realizado na posio
em p
Acidentes Queda de materiais manuseio, transporte e armazenamento de materiais
de forma inadequada
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo
Medidas de controle necessrias
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
Instruir a forma correta de manuseio, armanezamento e transporte manual de cargas.
Instruir a forma correta de postura em p, com alternncia de apoio para os ps.
Disponibilizar assentos para descanso.
Obs: A manuteno peridica do sistema de ar condicionado previne o risco biolgico.
110 | 111 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PS-IMPRESSO | Setor de Acabamento
Funo Atividades
Operador corte vinco Receber a ordem de servio; montar forma de faca e coloc-la na mquina
para acerto; preparar e comparar com a impresso matriz a diviso do corte
e vinco do servio a ser executado; operar os comandos e dispositivos da
mquina, vericar o corte e vinco, serrilhar materiais e regular a mesa para
margeao de produo; retirar o material acabado na mesa, conferir e
registrar na ordem de servio.
Bloquista Receber o material da impresso, observar a qualidade, detectando
possveis defeitos; organizar o material na mquina, retirar no nal e colocar
o material acabado em pallets.
Operador de alceadeira Ajustar, alimentar e operar a mquina de alceamento manual dos cadernos,
livros e revistas; efetuar os registros de produo.
Colador Ajustar e operar a mquina de acabamento grco, alinhar o coleiro,
obedecendo a seqncia das operaes, para garantir a caracterstica do
trabalho programado; controlar o uxo de entrada e sada de materiais,
evitando misturas de lote; abastecer de cola a base dgua e vericar a
tenso dos roletes que estendem e dosam a cola; vericar a qualidade do
material produzido, para aprovar ou fazer correes, se necessrio.
Auxiliar de acabamento/ Receber o material da impresso; observar a qualidade detectando
Ajudante de acabamento possveis defeitos; organizar os pallets; colocar o material acabado em caixas
ou em pacotes; preencher a etiqueta com identicao e peso.
Riscos ocupacionais Fontes geradoras
Fsicos Rudo Mquinas utilizadas para realizao das tarefas
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; Mobilirio inadequado para sentar; manuseio,
levantamento e transporte manual de carga, transporte e armazenamento de materiais de
movimentos repetitivos de membros superiores. forma inadequada; trabalho na posio em p;
realizao de tarefas de forma que requer
movimentos repetitivos
Acidentes Queda de materiais Manuseio, transporte e armazenamento de materiais
EPI recomendado de acordo com a atividade a ser executada
Protetor auditivo
Medidas de controle necessrias
Estudar modicao do mobilirio utilizado para sentar.
Instruir a forma correta de postura em p.
Instruir a forma correta de manuseio, armazenamento e transporte manual de carga.
Fornecer EPI adequado e orientar seu uso.
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
7.1.3 ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES E METAS DE AVALIAO E CONTROLE
As prioridades e metas de avaliao e controle dos riscos so estabelecidas para serem desenvolvidas ao longo
do perodo de doze meses, vigncia desse programa.
A administrao, responsvel pela elaborao do programa, e os trabalhadores envolvidos, de posse das
informaes levantadas, devem elaborar um cronograma de execuo das medidas necessrias conforme a
prioridade estabelecida.
As aes para atingir as metas priorizadas no cronograma devero ser acompanhadas e avaliadas constante-
mente, a m de vericar se os resultados esperados esto sendo alcanados.
7.1.4 IMPLANTAO DE MEDIDAS DE CONTROLE
As medidas necessrias para a eliminao, a minimizao ou o controle dos riscos ambientais devem ser ado-
tadas quando:
se identicar um risco potencial sade;
se constatar um risco evidente sade, comprovado pelos resultados das avaliaes quantitativas que exce-
derem os limites previstos na NR-15 ou, na ausncia destes, os valores da ACGIH ou, se mais rigorosos que
estes, os estabelecidos em negociao coletiva de trabalho.
Quando existir inviabilidade tcnica da adoo de medidas coletivas, ou estas no forem sucientes, dever ser
utilizado o Equipamento de Proteo Individual (EPI), seguindo-se as recomendaes constantes na NR-6.
Para os riscos sade dos trabalhadores encontrados no setor avaliado, foram sugeridas e priorizadas as
medidas de controle especicadas a seguir, que devem ser implantadas e desenvolvidas durante o perodo de
vigncia deste programa.
112 | 113
Riscos Fsicos
Rudo
Nos ambientes de trabalho com rudo acima de 80 dB(A), deve-se adotar medidas de controle como: manu-
teno preventiva das mquinas e equipamentos, incluindo lubricao, substituio de peas e/ou compo-
nentes. Enquanto estas medidas no forem adotadas ou forem insucientes na reduo do rudo abaixo de 80
dB(A), deve-se disponibilizar equipamento de proteo individual (protetor auditivo) e treinar os trabalhadores
para o uso efetivo destes.
FIGURA 6 utilizao de equipamento de proteo individual
Riscos Qumicos
Disponibilizar, aos trabalhadores que utilizam produtos qumicos, as informaes sobre o manuseio correto e
sobre aes preventivas e de emergncia, contidas nas Fichas de Informaes de Segurana de Produtos Qu-
micos (FISPQ) fornecidas pelos fabricantes.
Adequar a ventilao geral dos ambientes, por meio de janelas e/ou sistemas de ventilao e exausto mecnicos.
O sistema de ventilao dever permitir o direcionamento do uxo de ar, para facilitar a exausto do ar contaminado.
Este sistema deve ser instalado para tarefas especcas, como preparao de tintas, limpeza de mquinas e telas.
A manuteno de ventiladores e exaustores deve ser realizada de acordo com as instrues dos fabricantes.
FIGURA 7 ventilao geral da sala de revelao
114 | 115 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 8 distribuio de produtos qumicos nos locais de uso
Manter apenas a quantidade necessria de produtos qumicos em uso nos locais de trabalho. Estes devem
estar organizados, identicados e com as embalagens fechadas.
FIGURA 9 recipientes para descarte dos panos de limpeza
Os recipientes para depsito de panos de limpeza sujos devem estar identicados e tampados, e precisam ser
retirados da rea de produo com a maior freqncia possvel.
116 | 117 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 10 limpeza da tela de serigrafia
Recomenda-se o uso de luvas de punho comprido na preparao de tintas e na limpeza das impressoras e
acessrios. Os cremes protetores no substituem as luvas, porm oferecem proteo adicional.
Os culos de segurana so recomendados sempre que a tarefa a ser realizada oferea risco de respingos,
como, por exemplo, na limpeza das telas de serigraa.
Os respiradores para solventes orgnicos so recomendados quando a exposio dos trabalhadores a estes
produtos for superior aos limites de tolerncia estabelecidos na NR-15. Esta medida deve ser implantada se-
gundo o Programa de Proteo Respiratria (PPR), conforme Instruo Normativa do Ministrio do Trabalho e
Emprego I.N. SSST/MT n. 1 (11 de abril de 1994).
FIGURA 11 estoque de produtos qumicos
Manter as embalagens dos produtos qumicos fechadas, quando estes no estiverem sendo utilizados.
Orientar os trabalhadores para a utilizao de luvas impermeveis, evitando o uso de solventes orgnicos na
limpeza da pele, e para a lavagem das mos antes e depois de comer, beber e utilizar o banheiro.
Os produtos qumicos devem ser armazenados em locais prprios, de preferncia fora da rea produtiva. O local
deve ser bem ventilado, isento de fontes de ignio, com piso impermevel e diques de conteno, para reter
os produtos em caso de vazamento.
118 | 119 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 12 estoque de embalagens para descarte
As embalagens vazias de produtos qumicos e os panos sujos utilizados na limpeza das mquinas, assim como
resduos lquidos provenientes dos processos de pr-impresso, impresso e limpeza, devem ser armazenados
em local prprio fora da rea produtiva, at que sejam retirados por uma empresa especializada e licenciada
pelo rgo ambiental.
Riscos Biolgicos
A manuteno dos ltros do ar condicionado deve ser feita periodicamente, com a nalidade de evitar a con-
taminao do ar.
Riscos Ergonmicos
Orientar os trabalhadores que realizam suas atividades continuamente na posio em p a utilizar as dife-
renas de nveis da parte inferior da mquina, ou providenciar um suporte de aproximadamente 30 cm para
apoio alternado dos ps.
tambm recomendado disponibilizar para estes trabalhadores, assentos para descanso em locais que possam
ser utilizados por todos durante as pausas.
FIGURA 13 apoio dos ps para descanso da coluna
120 | 121 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 14 ambiente iluminado
Para manter os ambientes com iluminncias adequadas s tarefas, implantar um programa de manuteno
preventiva que envolva a limpeza das luminrias, das janelas, a substituio de lmpadas defeituosas ou quei-
madas e melhor distribuio destas. Conservar as paredes limpas e pintadas em cor clara. Estes procedimentos
facilitam o atendimento ao recomendado pela Norma Brasileira Registrada (NBR) 5413.
FIGURA 15 demarcao de piso
Organizar adequadamente o ambiente de trabalho, demarcando os locais com faixas para facilitar a circulao
de pessoas, o transporte de materiais, bem como o acesso aos extintores e hidrantes.
122 | 123 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 16 transporte manual
No levantamento e transporte manual de cargas, disponibilizar condio favorvel para evitar sobrecarga
muscular, adequando o nmero de trabalhadores e a freqncia com que realizada a atividade. Orient-los
quanto distribuio do peso, ou seja, a utilizarem as duas mos e, no caso de materiais posicionados prximo
ao solo, a etirem os joelhos e trazerem a carga o mais prximo possvel do corpo.
FIGURA 17 transporte mecnico
Orientar que o carrinho mecnico deve ser empurrado e no puxado.
124 | 125 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 18 trabalho com uso do computador
No setor de pr-impresso, onde o trabalho re-
alizado em posio sentada e com uso de com-
putador, utilizar cadeira giratria com as seguin-
tes caractersticas: assento giratrio com borda
anterior arredondada e regulagem de altura, en-
costo com ajuste regulvel e reclinveis em duas
ou mais posies, e, opcionalmente, braos late-
rais regulveis.
Manter a borda superior da tela do monitor na
mesma linha horizontal dos olhos com distncia
olhotela de 60 a 70 centmetros.
Utilizar apoio para os ps regulvel na altura com
movimentao anterior e posterior.
OBSERVAO: Na utilizao do mouse para o tratamento de imagens, alm da exigncia visual exige-se
postura esttica, que solicita a contrao muscular dos membros superiores e cervicais por longos perodos,
sobrecarregando-os. A preveno a incluso de pausa para descanso de 10 minutos a cada 50 minutos
trabalhados.
FIGURA 19 trabalho em bancada
No setor de ps-impresso, onde o trabalho realizado em posio sentada em frente bancada, utilizar cadeira
com p xo com as seguintes caractersticas: assento giratrio com borda anterior arredondada e regulagem de
altura, encosto com ajuste regulvel e reclinveis em duas ou mais posies, e, opcionalmente, braos laterais
regulveis.
Utilizar descanso para os ps com ajuste de regulagem de altura e manter livre a parte inferior da bancada para
o acesso da cadeira e movimentao dos membros inferiores. As bancadas devem possuir bordas arredonda-
das a m de evitar a compresso das estruturas musculares.
Para evitar conseqncias de movimentos repetitivos nos trabalhadores do setor de ps-impresso, a recomen-
dao o ajuste da organizao do trabalho, envolvendo pausas e revezamento de tarefas.
126 | 127 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Riscos de Acidentes
Orientar os trabalhadores a utilizar um empurrador para o acerto das resmas na guilhotina.
FIGURA 20 utilizao de empurrador na guilhotina
FIGURA 21 roteiro de limpeza dos rolos das mquinas
Os rolos das mquinas precisam estar parados durante a operao de limpeza, e o operador deve acionar o
giro para acessar as partes a serem limpas. Nesta operao, os trabalhadores devem usar luvas impermeveis
e resistentes a solventes orgnicos. A limpeza com os rolos em movimento pode causar o esmagamento das
mos devido ao ponto de convergncia.
128 | 129 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 22 enclausuramento do ponto de convergncia
Na adaptao de mquinas para atender s necessidades especcas, deve-se prever dispositivos de proteo.
ilustrada a proteo desenvolvida para enclausurar o ponto de convergncia de mquina offset adaptada
para a impresso de formulrio contnuo.
FIGURA 23 mquina de corte e vinco
Para evitar o contato acidental do operador na platina da mquina, esta deve possuir mecanismo de proteo.
130 | 131 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIGURA 24 mquina de corte e vinco modelo antigo FIGURA 25 uniforme adequado
O trabalhador deve utilizar roupas de tamanhos adequados e evitar o uso de adornos para prevenir o contato
destes com as partes mveis das mquinas.
132 | 133 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
7.2 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS
Deve ser realizado acompanhamento sistemtico da exposio dos riscos ambientais, conforme exemplicado
no Quadro 35.
QUADRO 35 cronograma para execuo dos eventos propostos
Eventos Propostos Prazo de Execuo Ano / Ano
Treinamento sobre segurana
e sade no trabalho
Implantao de programa de
manuteno preventiva de
mquinas e equipamentos
Manuteno do controle
integrado de pragas (CIP)
Instalao de proteo em
partes mveis de mquinas
Instalao de aterramento
eltrico nos equipamentos
Instalao de sistemas de captao
de vapores de solventes e tintas
Implantao de programa de
manuteno predial
Implementao do uso de protetor auditivo
Implantao de programas ergonmicos
AGO SET OUT NOV DEZ JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL
7.3 REGISTRO E DIVULGAO DOS DADOS
O registro dos dados deste programa deve ser mantido pela empresa por um perodo mnimo de vinte anos,
disponibilizando-o aos trabalhadores interessados, ou seus representantes, e s autoridades competentes.
7.4 RESPONSABILIDADES
Anualmente, ou sempre que houver mudanas no ambiente de trabalho, deve ser feita uma anlise global do
PPRA para avaliao de seu desenvolvimento e ajustes.
Este programa dever estar descrito num documento base que contenha todos os aspectos j mencionados, o
qual ser apresentado e discutido na CIPA, devendo sua cpia ser anexada ao Livro de Ata desta Comisso.
Cabe ao empregador informar os trabalhadores sobre os agentes ambientais existentes no local de trabalho e
sobre as medidas de controle necessrias.
7.5 CONSIDERAES FINAIS
Os benefcios na implementao deste programa podem ser observados quando realizada uma anlise geral,
que considerar o bem-estar dos trabalhadores, a produtividade e a qualidade provenientes da reduo dos
riscos ambientais, da identicao e da correo dos problemas internos, bem como da conscientizao dos
trabalhadores quanto importncia de sua participao.
134 | 135 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
8 programa de controle mdico de sade ocupacional (PCMSO)
Este programa um instrumento que visa melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores e de seu ambien-
te de trabalho, estabelecendo a obrigatoriedade por parte da empresa na promoo e na preveno da sade
destes. Est articulado com as demais Normas Regulamentadoras, sobretudo com o PPRA (NR-9), atravs de
avaliaes quantitativas e qualitativas. Deve ser reavaliado anualmente e estar sob a responsabilidade do m-
dico do trabalho, coordenador, empregado da empresa ou terceirizado, registrado no Conselho Regional de
Medicina do Estado.
O cumprimento das medidas contidas neste documento de responsabilidade do empregador, competindo-
lhe as seguintes atribuies:
garantia da elaborao e da efetiva implementao do PCMSO, zelando pela sua eccia;
custeio, sem nus para o trabalhador, de todos os procedimentos relacionados ao PCMSO;
encaminhamento dos trabalhadores para a realizao do exame clnico-ocupacional e dos exames comple-
mentares solicitados conforme a NR-7;
manuteno dos dados deste programa e dos Atestados de Sade Ocupacional (ASO) arquivados na empre-
sa por um perodo mnimo de vinte anos aps o desligamento do trabalhador;
de acordo com a NR-4, Anexo II, a Indstria Grca com at quinhentos empregados no precisa manter
um mdico do trabalho em seu quadro de trabalhadores; para aquelas com 501 a mil trabalhadores, h
necessidade de manter um mdico em tempo parcial, no mnimo de trs horas dirias; e para aquelas com
1.001 a 3.500 trabalhadores, um mdico em tempo integral (os demais dimensionamentos esto na NR e
no anexo referidos).
O no-cumprimento dos itens relacionados s responsabilidades do empregador passvel de penalidades,
conforme estabelecido na NR-28 (Anexo I e II).
Sua estrutura deve conter:
identicao da empresa;
avaliao dos riscos ambientais;
exames mdicos/complementares e periodicidade;
exames alterados;
emisso do Atestado de Sade Ocupacional (ASO);
pronturio mdico;
relatrio do PCMSO;
emisso da Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT);
primeiros socorros;
planos de aes preventivas de doenas ocupacionais e no ocupacionais.
8.1 Identificao da empresa
A identicao da empresa deve conter:
informaes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ);
grau de risco de acordo com a Classicao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), conforme Quadro
I da NR-4;
nmero de trabalhadores;
distribuio por gnero;
nmero de menores;
horrios de trabalho e turnos.
8.2 Avaliao dos riscos ambientais
O levantamento dos riscos ambientais realizado com base no PPRA, sendo complementado por inspees de
campo e outras Normas Regulamentadoras.
8.3 Exames mdicos e periodicidade
Os exames ocupacionais compreendem a avaliao clnica, a anamnese ocupacional, o exame fsico e mental,
alm de exames complementares, solicitados de acordo com os termos especicados na NR-7 e em seus ane-
xos, a periodicidade cando a critrio do mdico coordenador.
obrigatria a realizao dos exames: admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de mudana de funo
e o demissional. As caractersticas de cada tipo de exame esto descritas resumidamente no Quadro 36.
136 | 137 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
QUADRO 36 exames mdicos ocupacionais
Tipo de Exame Caracterstica
Admissional Realizado antes de o trabalhador iniciar suas atividades na empresa.
Peridico Anual Para menores de 18 anos e para maiores de 45 anos no expostos a
riscos especcos.
Bienal Para trabalhadores entre 18 e 45 anos no expostos a riscos especcos.
Determinado pelo mdico coordenador Para trabalhadores expostos a
riscos especcos.
Retorno ao trabalho Indicado aos trabalhadores que se ausentarem do servio por motivo de sade
ou parto por perodo igual ou superior a trinta dias, devendo ser realizado antes
do retorno ao trabalho.
Mudana de funo Realizado quando ocorre exposio a risco diferente da exposio atual de
trabalho, conhecido como mudana de posto de trabalho.
Demissional Realizado at a data da homologao, desde que o ltimo exame mdico
ocupacional tenha sido realizado h mais de noventa dias.
Em conformidade com a NR-9 (PPRA), que avaliou a rea produtiva da Indstria Grca, e com as demais Nor-
mas Regulamentadoras pertinentes a este programa, foram utilizados os critrios para exames ocupacionais
apresentados no Quadro 37.
QUADRO 37 parmetros mnimos adotados para exames de acordo com os riscos ocupacionais identificados
Pr-impresso
Setor Desenvolvimento
Funes ANALISTA DE SISTEMA
Riscos ocupacionais Ergonmicos Fadiga visual e posturas estticas de membros superiores e cervical
Exames Exame clnico, com ateno para aparelho ocular, e osteomuscular
Periodicidade Anual
Setor Desenvolvimento
Funes OPERADOR DE EDITORAO ELETRNICA
Riscos ocupacionais Ergonmicos Fadiga visual e posturas estticas de membros superiores e cervical
Exames Exame clnico, com ateno para aparelho ocular, e osteomuscular
Periodicidade Anual
Setor Fotolito
Funes COPIADOR DE FOTOLITO / COPIADOR DE CHAPAS
Riscos ocupacionais Qumicos Exposio a produtos qumicos.
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular*.
Periodicidade Anual
Setor Almoxarifado
Funes ALMOXARIFE / AUXILIAR DE ALMOXARIFE
Riscos ocupacionais Ergonmicos Postura inadequada; levantamento e transporte manual de carga.
Acidentes Queda de materiais; prensagem de membros superiores ou inferiores.
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular.
Periodicidade Anual
* situaes em que o trabalhador tenha postura inadequada.
CONTINUA
138 | 139 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Setor Guilhotina
Funes OPERADOR DE GUILHOTINA / AUXILIAR DE GUILHOTINA
Riscos ocupacionais Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Prensagem e/ou corte das mos em mquinas e equipamentos;
queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno ao aparelho cardiovascular e osteomuscular
Periodicidade Anual
Impresso
Setor Offset
Funes IMPRESSOR MONOCOLOR, BICOLOR E QUATRO CORES /
MEIO OFICIAL IMPRESSOR / OPERADOR
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Qumicos* Exposio a produtos qumicos
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Contato e prensagem das mos em mquinas e equipamentos;
queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual
*Apesar da exposio a vapores de solventes orgnicos, h excluso dos exames complementares para seus respectivos componentes, conforme PPRA.
CONTINUA
Setor Rotativa
Funes IMPRESSOR / MEIO OFICIAL IMPRESSOR / AJUDANTE DE IMPRESSOR
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Qumicos* Exposio a produtos qumicos
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Contato e prensagem das mos em mquinas e equipamentos;
queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps 6 meses e anual.
Setor Flexograa
Funes IMPRESSOR FLEXOGRFICO / AJUDANTE DE IMPRESSO FLEXOGRFICA
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Qumicos* Exposio a produtos qumicos
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Contato, prensagem e corte dos membros superiores em mquinas
e equipamentos; queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
*Apesar da exposio a vapores de solventes orgnicos, h excluso dos exames complementares para seus respectivos componentes, conforme PPRA.
CONTINUA
140 | 141 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Setor Rotogravura
Funes OPERADOR DE MQUINA / AJUDANTE
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das tintas e solventes
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Contato e prensagem das mos em mquinas e equipamentos;
queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Dosagem de cido hiprico na urina
Periodicidade Semestral
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
Setor Serigraa
Funes IMPRESSOR SILK SEMI-AUTOMTICA / IMPRESSOR DE SILK MANUAL / AJUDANTE
Riscos ocupacionais Qumicos Vapores de solventes orgnicos provenientes das tintas e solventes
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Contato e prensagem das mos em mquinas e equipamentos
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Dosagem de cido hiprico na urina
Periodicidade Semestral.
CONTINUA
Setor Digital
Funes OPERADOR / AUXILIAR.
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
Ps-impresso
Setor Acabamento
Funes OPERADOR CORTE E VINCO
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga, movimentos repetitivos de membros superiores
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
CONTINUA
142 | 143 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
144 | 145 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Setor Acabamento
Funes BLOQUISTA
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga, movimentos repetitivos de membros superiores
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
Setor Acabamento
Funes ALCEADEIRO
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
CONTINUA
Setor Acabamento
Funes COLADOR
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
Setor Acabamento
Funes AUXILIAR/AJUDANTE
Riscos ocupacionais Fsicos Rudo
Ergonmicos Exigncia de postura inadequada; levantamento e transporte
manual de carga, movimentos repetitivos de membros superiores
Acidentes Queda de materiais
Exames Exame clnico, com ateno para pele e anexos, aparelho respiratrio,
cardiovascular, neurolgico e osteomuscular
Periodicidade Anual
Exames complementares Audiometria
Periodicidade Admissional, aps seis meses e anual.
Esses exames citados devero ser realizados segundo a determinao legal existente na NR-7. Outros procedi-
mentos podero ser adotados, caso seja identicado algum outro fator de risco.
Os setores de rotogravura e serigraa apresentaram medies ambientais de tolueno acima do nvel de ao,
por isso foi solicitada a dosagem de cido hiprico na urina, indicador biolgico da exposio a esse produto.
Os intervalos dos exames clnicos e complementares podero ser reduzidos a critrio do mdico coordenador,
por noticao do mdico auditor scal do trabalho e/ou mediante negociao coletiva.
Para a seleo do trabalhador usurio de equipamentos de proteo respiratria (EPR), deve-se utilizar os se-
guintes parmetros:
caractersticas fsicas do ambiente de trabalho temperatura, umidade, presso parcial de O
2
;
demandas fsicas especicas;
tempo de uso em relao jornada de trabalho;
Na avaliao clnica, devem ser observados os seguintes aspectos:
deformidades faciais: sseas, cicatrizes, prteses dentrias que possam interferir na utilizao do
equipamento de proteo individual;
plos faciais: bigodes e costeletas;
doenas pulmonares obstrutivas e restritivas, assim como sintomas de dispnia aos esforos;
doenas cardiovasculares, como insucincia coronariana e arritmias;
doenas neurolgicas: epilepsia;
alteraes psquicas: claustrofobia, ansiedade.
Exames complementares que possam avaliar o trabalhador usurio de respirador e a periodicidade cam a
critrio do mdico coordenador .
8.4 Atestado de sade ocupacional (ASO)
Para cada exame mdico ocupacional, o atestado deve ser emitido em duas vias, sendo a primeira via arqui-
vada na empresa e a segunda via entregue ao trabalhador, mediante sua assinatura de recebimento, cando
a critrio do mdico a emisso de outras vias de acordo com a necessidade. Um exemplo preenchido do ASO
apresentado a seguir.
146 | 147 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Operador de mquina de rotogravura
8.5 Pronturio mdico
O pronturio mdico deve ser individual, conter os exames ocupacionais, a avaliao clnica e os exames
complementares, e estar sob a responsabilidade do mdico coordenador. Deve ser arquivado por um pe-
rodo mnimo de vinte anos aps o desligamento do trabalhador. As alteraes encontradas nos exames e
casos suspeitos ou diagnosticados como doena ocupacional devero ser encaminhados ao mdico coorde-
nador, para as devidas providncias em favor da sade do trabalhador, estando ou no assistido e periciado
fora da empresa pelo INSS.
8.6 Relatrio anual
O mdico coordenador dever elaborar o relatrio anual e discriminar por setor o nmero e a natureza dos
exames mdicos, incluindo avaliaes clnicas e exames complementares, estatsticas de resultados considera-
dos anormais, assim como o planejamento dos exames mdicos para o prximo ano.
Esse relatrio dever ser apresentado e discutido com os membros da CIPA, sendo anexada sua cpia no livro
de Ata dessa Comisso.
O exemplo do modelo de relatrio anual, para a rea produtiva da Indstria Grca est descrito no Quadro 38,
conforme NR-7, Anexo III.
QUADRO 38 relatrio anual do Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO)
Responsvel: Mdico Coordenador
Data: ____ /____ / ____
Assinatura:
Setor Funo Natureza do Exame
Desenvolvimento Analista de sistema Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Operador editorao eletrnica Admissional Clnico 1 0 0,0% 0
Operador editorao eletrnica Peridico Clnico 1 0 0,0% 2
Fotolito Copiador de fotolito /
Peridico Clnico 2 0 0,0% 1
Copiador de chapas
Copiador de fotolito /
Demissional Clnico 1 0 0,0% 0
Copiador de chapas
Almoxarifado
Almoxarife
Peridico Clnico 2 0 0,0% 2
Audiometria 2 0 0,0% 2
Auxiliar de almoxarifado Peridico Clnico 2 0 0,0% 2
Guilhotina
Operador de guilhotina
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Auxiliar de guilhotina Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Offset Admissional Clnico 1 0 0,0% 0
Impressor Peridico Clnico 1 0 0,0% 2
Audiometria 3 0 0,0% 2
Peridico Clnico 5 0 0,0% 5
Meio ocial impressor / Operador
Audiometria 5 1 20,0% 6
CONTINUA
148 | 149 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
R
e
a
l
i
z
a
d
o
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
x
1
0
0
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
N
.
d
e
E
x
a
m
e
s
p
a
r
a
o
A
n
o
S
e
g
u
i
n
t
e
Setor Funo Natureza do Exame
Rotativa
Impressor
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 2 0 0,0% 2
Meio ocial impressor / Peridico Clnico 6 0 0,0% 6
Ajudante de impressor Audiometria 6 1 16,7% 7
Flexograa
Impressor exogrco
Peridico Clnico 2 0 0,0% 2
Audiometria 2 0 0,0% 2
Ajudante de Impresso
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Rotogravura Peridico Clnico 2 0 0,0% 2
Operador de mquina
Audiometria 2 0 0,0% 2
Dosagem cido hiprico 2 0 0,0% 2
na urina
Peridico Clnico 2 0 0,0% 2
Ajudante
Audiometria 2 0 0,0% 2
Dosagem cido hiprico 2 0 0,0% 2
na urina
Serigraa Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Impressor silk semi-automtica
Audiometria 1 0 0,0% 1
Dosagem cido hiprico 1 0 0,0% 1
na urina
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Impressor silk manual
Audiometria 1 0 0,0% 1
Dosagem cido hiprico 1 0 0,0% 1
na urina
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Ajudante
Audiometria 1 0 0,0% 1
Dosagem cido hiprico 1 0 0,0% 1
na urina
CONTINUA
Setor Funo Natureza do Exame
Digital
Operador
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Auxiliar
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Acabamento
Operador corte vinco
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Bloquista
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Alceadeiro
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Colador
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Auxiliar / ajudante
Peridico Clnico 1 0 0,0% 1
Audiometria 1 0 0,0% 1
Nota: Extrado da NR-7, Quadro III.
Foram realizados 43 exames clnicosocupacionais e 43 exames complementares, sendo observados dois re-
sultados alterados. A previso para o prximo ano de realizao de 41 exames clnicosocupacionais e 51
exames complementares.
8.7 Comunicao de Acidente do Trabalho (CAT)
Sempre que ocorrer um acidente de trabalho, tipo ou de trajeto, uma doena prossional ou uma doena do
trabalho, o mdico coordenador dever ser informado imediatamente e solicitar empresa a emisso da CAT
(modelo do documento apresentado na p. 220).
Quando necessrio, o trabalhador deve ser afastado da exposio ao risco ou at mesmo da atividade laboral,
sendo encaminhado Previdncia Social para estabelecimento de nexo causal, avaliao de incapacidade e
denio da conduta previdenciria em relao ao trabalho.
150 | 151 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
R
e
a
l
i
z
a
d
o
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
x
1
0
0
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
N
.
d
e
E
x
a
m
e
s
p
a
r
a
o
A
n
o
S
e
g
u
i
n
t
e
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
R
e
a
l
i
z
a
d
o
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
N
.
d
e
R
e
s
u
l
t
a
d
o
s
A
n
o
r
m
a
i
s
x
1
0
0
N
.
A
n
u
a
l
d
e
E
x
a
m
e
s
N
.
d
e
E
x
a
m
e
s
p
a
r
a
o
A
n
o
S
e
g
u
i
n
t
e
8.8 Primeiros socorros
O material de primeiros socorros deve estar disponvel de acordo com as caractersticas da atividade desenvol-
vida na empresa, armazenado em local adequado e aos cuidados de pessoa treinada.
Para a Indstria Grca, o material para primeiros socorros est apresentado no Quadro 39.
QUADRO 39 sugesto de materiais de primeiros socorros
3 pares de luvas
1 colar cervical
1 tala para dedo
1 tala para punho
1 tala para perna
1 rolo de algodo
1 rolo de esparadrapo
10 rolos de atadura de crepe
1 bandagem para imobilizao
5 pacotes de compressa de gaze
5 unidades de compressas cirrgicas
1 caixa de curativo adesivo
1 frasco de soro siolgico 0,9% 500 ml
1 frasco de anti-sptico
1 tesoura sem ponta
1 ressuscitador (ambu)
1 mscara de barreira para parada crdio-respiratria
152 | 153 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
8.9 Planos de aes preventivas de doenas ocupacionais e no ocupacionais
Apesar da NR-7 no tratar especicamente deste item, recomenda-se uma ateno integral sade do traba-
lhador, acompanhada por atividades de ateno primria, secundria e terciria.
Atividades de ateno primria
Essas atividades envolvem medidas de preveno, promoo e educao em sade, como:
ambiente de trabalho seguro e sadio;
melhoria dos hbitos de nutrio e higiene pessoal;
programa de acuidade visual;
programa de assistncia odontolgica preventiva;
programa de ginstica laboral;
programa de imunizao (vacinas);
programa de preveno de doenas respiratrias;
programa de preveno de doenas sexualmente transmissveis (DST/AIDS);
programa de qualidade de vida;
programas antidrogas, incluindo o tabagismo;
programas de preveno de hipertenso, diabetes e de sade da mulher.
Foi exemplicado o programa de imunizao (vacinas) como uma das atividades a ser desenvolvida, conforme
Quadro 40.
QUADRO 40 calendrio de vacinao para o trabalhador
Para todos os adultos
Para todos os adultos com indicaes mdicas
Para todos os adultos a partir de 60 anos
Vacina / Idade 18 40 anos 50 60 anos > 60 anos
Ttano/Difteria Dose de reforo a cada 10 anos (esquema primrio trs doses)
Gripe Uma dose anual
Pneumoccica Uma dose (dose de reforo aps 5 anos) de Uma dose (uma
acordo com avaliao mdica sob o risco dose de reforo
aps 5 anos)
Hepatite B Trs doses (0, 1-2, 4-6 meses)
Hepatite A Duas doses (0, 6-18 meses)
Varicela Uma ou duas doses (um ms de intervalo), dependendo do fabricante
Sarampo, Caxumba e Rubola Uma dose (e um reforo de acordo com o risco de exposio)
Meningoccica Uma dose
Febre Amarela Uma dose e (reforo a cada 10 anos)
Observaes:
Algumas vacinas de uso geral, devido natureza do trabalho, so indicadas especicamente. Por exemplo:
Contato com o pblico: rubola, varicela, sarampo, inuenza, difteria e ttano;
Trabalho manual/ braal: ttano.
Informaes adicionais podem ser obtidas na Sociedade Brasileira de Imunizao (SBIm), no site www.sbim.org.br.
Algumas das vacinas, bem como as orientaes sobre sua aplicao, podero ser obtidas nas unidades sanitrias.
Atividades de ateno secundria
Consistem na utilizao de recursos, de investigao clnica e/ou exames complementares, visando ao diagns-
tico precoce das doenas ou das alteraes de sistemas biolgicos j instalados.
Atividades de ateno terciria
O nvel tercirio tem como objetivo minimizar as possveis seqelas, evitar a incapacidade laborativa e possibi-
litar ao trabalhador o retorno s suas atividades dirias, por meio de tratamentos e reabilitao adequados.
8.10 Consideraes finais
A elaborao e a execuo deste programa para a empresa fundamental na preveno, promoo e assis-
tncia sade, sendo primordial a colaborao de todos os envolvidos.
As atividades de ateno sade podem ser desenvolvidas em qualquer poca do ano, e especialistas podem
ser convocados para abordarem os temas propostos.
154 | 155 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
156 | 157 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
9 preveno e combate a incndios
O risco de incndio est presente praticamente em todos os lugares. O fogo originado por fontes naturais de
calor (raio ou sol) ou por fontes artificiais (sobrecargas e curtos-circuitos em mquinas e instalaes eltricas)
poder evoluir para um incndio de grandes propores.
Nos diversos ramos industriais, as fontes artificiais aliadas ao volume de materiais combustveis e inflamveis
utilizados em seus processos produtivos representam as causas de grande nmero de incndios ocorridos.
Para evitar esse tipo de ocorrncia, necessrio implantar e implementar aes preventivas.
A finalidade principal da preveno e do combate a incndios proteger a vida, o patrimnio, reduzir as
conseqncias sociais provocadas pelo sinistro e os danos causados ao meio ambiente.
Um programa de preveno e combate a incndios formado por um conjunto de medidas de segurana
abrangendo dispositivos ou sistemas instalados nas edificaes e em reas de riscos, necessrias para
evitar o surgimento de um incndio, limitar sua propagao, possibilitar sua extino, facilitar a sada
dos ocupantes da edificao de forma segura e fornecer condies de acesso para as operaes do
Corpo de Bombeiros.
Para o bom funcionamento dessas medidas de segurana, fundamental que se forme uma equipe de
pessoas treinadas. Essa equipe recebe a denominao de brigada de incndio e tem a finalidade de
evitar essa ocorrncia atravs de aes preventivas, avaliando os riscos existentes, realizando inspees dos
equipamentos de combate a incndio, dos sistemas de alarmes e das rotas de fuga para abandono de reas;
devendo, no caso da ocorrncia de um incndio, combat-lo at sua extino ou control-lo at a chegada
do Corpo de Bombeiros.
Para a execuo do programa de formao da brigada de incndio, necessria a observncia s disposies
legais contidas na Portaria n. 3.214 do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), em sua Norma Regulamentadora
NR-23 (Proteo contra Incndios), Decreto Estadual (SP) n. 46.076, de 31 de agosto de 2001, e Norma
Brasileira Registrada NBR 14.276 ABNT de 1 de maro de 1999.
A primeira etapa para a implantao desse programa a verificao do risco gerado pela carga de incndio
do local, que representada pela soma das energias calorficas possveis de serem liberadas pela combusto
completa dos materiais combustveis contidos em um espao, inclusive o revestimento das paredes, as divisrias,
os pisos e tetos. Essa classificao encontrada na Tabela 1 do Decreto Estadual n. 46.076.
Identificado o risco, deve-se ento planejar a composio da brigada de incndio, obedecendo aos parmetros
mnimos de recursos humanos necessrios determinados na Tabela 1 da NBR 14.276 (Programa de Brigada de
Incndio).
Definido o nmero necessrio de componentes, dever ser realizada a seleo de pessoas interessadas em ser
brigadista, levando-se em conta os seguintes aspectos:
os componentes so voluntrios;
as atividades a serem desempenhadas exigiro certos esforos fsicos, como correr e transportar pesos,
sendo necessrio, portanto, que o candidato possua aptido fsica e boa sade, recomendando-se que ele
seja submetido a exame mdico;
o brigadista precisa permanecer na edificao durante todo o seu horrio de trabalho, no devendo executar
servios externos.
Aps a seleo dos brigadistas, estes devero participar do curso de formao de brigada de incndio com
carga horria mnima de 16 horas (8 tericas e 8 prticas). O curso dever ser ministrado por profissionais
habilitados, ou seja, civis com formao em higiene, segurana e medicina do trabalho, ou militares do
Corpos de Bombeiros ou das Foras Armadas que possuam especializao em preveno e combate a
incndio, com carga horria mnima de 60 horas, ou em tcnicas de emergncia mdica, com carga horria
mnima de 40 horas.
O objetivo do curso de formao de brigada de incndio proporcionar aos participantes conhecimentos
bsicos sobre preveno, isolamento e extino de princpios de incndio, sobre abandono de local com
sinistro, alm de tcnicas de primeiros socorros, conforme o seguinte currculo bsico:
9.1 Parte terica
Responsabilidades do brigadista:
Teoria do fogo Identificar a combusto, seus elementos e a reao em cadeia;
Propagao do fogo Distinguir os processos de propagao do fogo;
Classes de incndio Conhecer as classes de incndio e suas caractersticas;
Tcnicas de preveno Avaliar os riscos em potencial e os meios de preveno;
Mtodos de extino Conhecer os mtodos e suas aplicaes;
Agentes extintores Identificar os agentes utilizados, suas caractersticas e aplicaes;
Equipamentos de combate a incndio Identificar extintores, hidrantes, mangueiras e acessrios;
Equipamentos de deteco e alarme Conhecer seus tipos e funcionamento;
Abandono de rea Aprender sobre os procedimentos para abandono do local e controle de pnico;
Anlise de vtimas Conhecer as tcnicas de exame primrio (sinais vitais);
Vias areas Reconhecer os sintomas de obstrues das vias respiratrias;
RCP (Reanimao Cardiopulmonar) Conhecer as tcnicas para realizar a RCP atravs de ventilao
artificial e compresso cardaca externa;
Hemorragias Conhecer as tcnicas para estancamento de hemorragias externas;
Fratura Conhecer as tcnicas para imobilizaes;
Queimaduras Adquirir informaes sobre os procedimentos para atendimento em vtimas de
queimaduras trmicas, qumicas e eltricas;
Transporte de vtimas Conhecer as tcnicas para realizao de transporte de vtimas, mesmo com
suspeita de leso na coluna vertebral.
9.2 Parte prtica
Combate a incndios Exercitar em campo de treinamento especfico as tcnicas de combate a incndio;
Abandono de rea Realizar na prpria edificao as tcnicas para abandono de rea;
Primeiros socorros Praticar as tcnicas de primeiros socorros com vtimas simuladas.
FIGURA 26 treinamento com extintores
FIGURA 27 treinamento com rede de hidrante
158 | 159 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Para o bom funcionamento da brigada de incndio, necessrio estabelecer um organograma com a formao
de equipes de atuaes especficas, como:
Equipe de combate Realiza o combate ao foco de incndio, evitando a propagao do fogo at sua
total extino. Quando isso no for possvel, devido s dimenses do sinistro, controla o incndio at a
chegada do Corpo de Bombeiros.
Equipe de socorristas Atua resgatando pessoas acidentadas, transportando-as para reas seguras
prestando-lhes os primeiros socorros.
Equipe de isolamento Realiza o isolamento de reas e a retirada de materiais que estejam prximos
ao local onde est sendo combatido o incndio, com a finalidade de facilitar as operaes da equipe de
combate e impedir a propagao do fogo.
Equipe de apoio No necessrio que os componentes dessa equipe sejam brigadistas, mas devero
ser orientados quanto aos procedimentos necessrios em casos de emergncias. Tem como atribuies
auxiliar as outras equipes quando a situao envolve o corte de energia eltricae no abastecimento de
gua, estabelecer comunicao com o Corpo de Bombeiros e com demais servios de emergncia, assim
como liberar as vias de acesso, agilizando a recepo das viaturas.
O brigadista deve estar consciente de que, mesmo fazendo parte de uma equipe especfica, ele est
preparado para atuar, quando necessrio, em qualquer outra.
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
10 programa de conservao auditiva (PCA)
Este programa consiste em medidas organizadas e coordenadas, embasado no Programa de Preveno de
Riscos Ambientais (PPRA) e no Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional (PCMSO).
O PCA, elaborado por equipe multidisciplinar, tem por objetivo desenvolver aes para a proteo e o
monitoramento da audio dos trabalhadores expostos a nveis de presso sonora (NPS) iguais ou superiores
a 80dB(A), bem como a agentes qumicos ototxicos presentes no ambiente laboral. Em empresas de micro
e pequeno porte, os prossionais envolvidos podem ser os responsveis pelo PCMSO e pelo PPRA, ou seja,
o fonoaudilogo que presta atendimento aos trabalhadores, em conjunto com o proprietrio e com os
prossionais interessados da prpria empresa.
Na Indstria Grca, a implantao deste programa deve ser uma prioridade, devido aos altos nveis de
presso sonora gerados por mquinas, principalmente nos setores de impresso e ps-impresso, e existncia
de produtos qumicos ototxicos utilizados no processo, como o tolueno.
10.1 Competncias e responsabilidades
Coordenador
articular todas as atividades do programa;
estimular aes necessrias para o bom desenvolvimento;
conscientizar a gerncia da empresa quanto necessidade de controle e monitoramento dos riscos
prejudiciais audio, assim como aos benefcios a serem alcanados.
Prossionais de higiene, segurana e sade ocupacional
realizar levantamentos tcnicos e treinamentos necessrios, atuando em ao conjunta na implantao e
implementao do PCA.
Chefes e encarregados de setor
fornecer informaes necessrias e participar na implementao do PCA.
160 | 161
CIPA
participar em conjunto com os prossionais responsveis, pelo PCA, envolvendo os trabalhadores nas
medidas e aes bencas deste programa.
Trabalhadores
relatar suas idias sobre o risco existente, fazendo uso das medidas de controle adotadas;
contribuir com a poltica e os procedimentos referentes ao PCA.
10.2 Estrutura
O programa deve ser implantado de acordo com o porte da empresa, o nmero de trabalhadores e a natureza
das atividades, executando e desenvolvendo uma cultura de segurana em que o prprio trabalhador se
conscientize quanto importncia de proteger sua sade auditiva e melhorar seu ambiente laboral. Deve
contemplar as seguintes atividades:
Avaliao inicial do programa
Tem como objetivo vericar as providncias j adotadas pela empresa com relao aos riscos existentes, bem
como as que podem ou devem ser conservadas.
Avaliao da exposio do trabalhador ao risco
A determinao da natureza dos riscos e a identicao de quais trabalhadores esto expostos so fundamentais
para o programa. Na Indstria Grca, h exposio a rudo do tipo contnuo, nos processos de impresso e ps-
impresso; transmitido principalmente por via area, sendo gerado por desgaste de peas e falta de manuteno.
Os produtos qumicos utilizados nesses processos tambm apresentam risco audio, devido presena de
mistura de solventes orgnicos como tolueno, xilenos e n-hexano, que possuem relevncia ototxica.
Medidas de controle organizativas e ambientais
Os controles organizacionais, administrativos, so medidas que levam a mudanas nos esquemas de trabalho
ou nas operaes, que reduzem a exposio se adotados de forma eciente. As medidas ambientais devem
neutralizar ou amenizar os riscos prejudiciais audio.
Avaliao e monitoramento audiolgico
A realizao de avaliaes auditivas o grande indicador da eccia do PCA. Atravs delas possvel detectar
alteraes mnimas nos limiares auditivos, fornecendo parmetros para impedir que a alterao progrida
mediante intervenes apropriadas nos demais itens do programa.
Uso de protetores auditivos
So indicados quando for invivel a adoo de medidas de proteo coletiva para o rudo ou estas
forem insucientes ou estiverem em fase de implantao. Devem ser usados em carter temporrio ou
complementar.
importante que os trabalhadores sejam orientados para a utilizao correta dos protetores auditivos e conscien-
tizados de que todos os expostos aos riscos devem usar o referido equipamento de proteo individual (EPI).
FIGURA 28 utilizao do protetor auditivo
162 | 163 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Formao e informao dos trabalhadores
fundamental a educao, o treinamento e a motivao do trabalhador para que as prticas deste programa
no sejam apenas obrigatrias.
FIGURA 29 orientao do uso dos protetores auditivos
Conservao de registros
Os documentos do PCA devem ser mantidos pela empresa por pelo menos vinte anos.
Avaliao da eccia do programa
Os dados obtidos devem ser comparados entre si para vericao de sua consistncia e compatibilidade,
indicando os problemas a serem revistos e corrigidos.
10.3 Exemplos de documentos do PCA
10.3.1 MODELO DE FICHA DE EXAME AUDIOMTRICO, CONTEMPLANDO OS DADOS DESCRITOS NA
PORTARIA N. 19 (AUDIOGRAMA)
164 | 165 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
10.3.2 MODELO DE SELEO E INDICAO DOS PROTETORES AUDITIVOS 10.3.3 MODELO DE CRONOGRAMA
166 | 167 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
168 | 169 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
10.3.4 MODELO DE TEMAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PALESTRAS
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
10.4 Consideraes finais
Para a implantao deste programa, faz-se necessrio elaborar um planejamento junto com o cronograma de
aes do PPRA.
As empresas com pouco recurso para investir nas aes em SST podem ter um prossional que organize as
etapas realizadas de forma isolada, garantindo a integrao e a qualidade dos dados obtidos, necessrios para
o bom desenvolvimento do PCA.
170 | 171
11 aspectos organizacionais em primeiros socorros
A empresa como uma instituio voltada para a produo de bens e servios, inserida em uma comunidade,
deve criar facilidades e ter um sistema adequado de prestao de Primeiros Socorros, de acordo com seu porte
e as atividades de risco nela existentes, (Pereira Jr., 1995).
11.1 Conceitos bsicos
Primeiros socorros: atendimento imediato a vtimas de acidentes e males sbitos, prestado por pessoa leiga
que procu rando diminuir suas conseqncias antes da ateno especializada de um mdico ou tcnico em sade.
Urgncia mdica: toda condio imprevista e que depende de medidas imediatas ao socorro das pessoas
acidentadas.
Emergncia mdica: toda situao em que haja risco iminente de vida, sofrimento extremo, perigo imediato
e perda de rgo ou funo.
11.2 Socorristas
Socorristas so os empregados devidamente escolhidos e treinados para o atendimento s urgncias e
emergncias de uma forma mais adequada. Devem ter qualidades de ordem prossional e comportamental,
entre elas o domnio pleno do trabalho que executam, isto , devem possuir uma viso completa do processo
produtivo e ter, acima de tudo, a capacidade de se interessar por pessoas e por seus problemas. Esse trabalho
deve ser executado por qualquer pessoa que se disponibilize a estudar o assunto e tenha a qualidade de se
manter calmo diante de situaes de urgncia e/ou emergncia. inadequado para indivduos temperamentais,
incapazes de lidar com condies no rotineiras, assim como para os hipocondracos, pois a exagerada
ansiedade com doenas as torna incapaz de atenderem adequadamente.
O nmero de socorristas na empresa, depender do nmero de empregados e do risco existente. Em cada
local de trabalho com mais de 20 trabalhadores, necessrio um socorrista treinado. Nas empresas que
possuem brigada de incndio, essa tarefa, geralmente, tambm dada aos membros da brigada, j que ele
deve possuir as qualidades j referidas para socorrista (Pereira Jr., 1995).
Os trabalhadores devem estar preparados ao correto atendimento de emergncias, para uma total cobertura
da ateno em primeiros socorros. A formao de equipes treinadas deve fazer parte de um amplo programa
de primeiros socorros. Os monitores devem manter-se treinados, independentemente de suas posies na
hierarquia da empresa. necessria a superviso mdica ao programa, garantindo a qualidade do treinamento
realizado pelos monitores, no importando o porte e os riscos da empresa.
11.3 Treinamento
O ensino de primeiros socorros nas empresas deve ser ministrado a todos os trabalhadores, enfatizando-se os
riscos existentes nos locais de trabalho. A carga horria do curso ser dimensionada de acordo com os riscos
existentes e no deve ser inferior a dez horas, com duas horas de atividade prtica. O contedo programtico
deve incluir:
conceito de primeiros socorros;
dados vitais;
reanimao cardiorrespiratria;
hemorragias;
fraturas, entorses e luxaes;
ferimentos e queimaduras;
estado de choque;
transporte de acidentados;
leses por animais peonhentos;
corpos estranhos;
choque eltrico;
desmaios e outros males sbitos;
intoxicaes por agentes qumicos especcos existentes na empresa;
atendimento ao parto sbito para empresas com trabalhadoras.
Obs.: Dependendo do grupo funcional e do risco, outros temas devem ser includos.
A reciclagem dos conhecimentos ministrados deve ser regular e a toda oportunidade que se apresente o
ensino deve ser renovado. O uso de cartazes e volantes bem ilustrados uma forma de relembrar aspectos
bem denidos acerca do atendimento a vtimas de acidentes. As demonstraes prticas de aplicao de
bandagens, talas, curativos, transporte de acidentados e manobras de ressuscitao crdiorrespiratria so
condies para um bom aproveitamento da aprendizagem.
necessria a entrega de um manual com detalhamento das tcnicas ministradas, que servir como referncia
para que o trabalhador possa recordar os ensinamentos recebidos e tambm para promover discusses sobre
o assunto em reunies de grupo.
11.4 Equipamentos e transporte
Dentre os equipamentos que devem obrigatoriamente existir nos locais de trabalho, destacam-se as macas
dobrveis e as talas, que devem car em local de fcil acesso, bem sinalizado e totalmente desimpedido para
sua retirada imediata no atendimento de primeiros socorros.
Deve haver facilidades para o transporte de acidentados, um aspecto que faz parte do programa de segurana das
empresas. O transporte do local da ocorrncia para a sala de enfermagem, ou para uma ambulncia, pode ser feito
por macas disponveis nos locais de trabalho ou por cadeiras de rodas disponibilizadas em locais prdeterminados.
Um local determinado para o estacionamento de ambulncia ou veculo preparado para o transporte de
emergncia facilitar o acesso ao atendimento mais complexo em clnicas e hospitais. Esse local precisa ser
sinalizado e estar sempre livre para atender a essa necessidade. A empresa, na dependncia das condies de
sua localizao ou porte, dever ter um veculo prprio para o transporte. Usualmente, recorre-se aos servios
existentes na comunidade para o transporte de emergncia. O acesso aos nmeros de telefones para requisitar
esses servios deve estar facilmente disponvel nas salas de emergncia, na portaria e nos setores responsveis
pelo sistema de comunicao externo da empresa.
A atividade de primeiros socorros nas empresas deve ser cuidadosamente planejada e envolver todos os
empregados que nela exeram seu trabalho. Cada um, dentro de sua competncia, pode atuar de maneira
ecaz nas ocorrncias que exijam pronto atendimento, desde que haja treinamento e existam recursos
mnimos disponveis.
172 | 173 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
12 laudo tcnico das condies ambientais do trabalho (LTCAT)
O LTCAT, estabelecido pela Legislao Previdenciria, uma declarao pericial que tem por nalidade apresentar
tecnicamente a existncia ou no de riscos ambientais em nveis ou concentraes que prejudiquem a sade
ou a integridade fsica do trabalhador. Caracteriza tanto a nocividade do agente quanto o tempo de exposio,
servindo de subsdio para a elaborao do Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP).
As condies de trabalho apresentadas no LTCAT devem estar comprovadas pelas demonstraes ambientais
e a monitorao biolgica por meio dos seguintes documentos:
Programa de Preveno de Riscos Ambientais PPRA (NR-9);
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional PCMSO (NR-7);
Comunicao de Acidente do Trabalho CAT.
Atravs do LTCAT, a empresa dever demonstrar que administra adequadamente o ambiente de trabalho,
eliminando e controlando os agentes ambientais (fsicos, qumicos e biolgicos) nocivos sade e integridade
fsica dos trabalhadores.
A obrigatoriedade de elaborao desse laudo se aplica a todas as empresas regidas pela CLT, incluindo
terceirizadas e cooperativas, independentemente do tipo de atividade, risco ou nmero de trabalhadores.
Este documento, emitido exclusivamente por engenheiro de segurana ou por mdico do trabalho habilitados
pelo respectivo rgo de registro prossional, deve ser atualizado pelo menos uma vez ao ano, por ocasio
da avaliao global, ou sempre que ocorrer qualquer alterao ou modicaes no ambiente de trabalho,
tais como: mudana no arranjo fsico, substituio de mquinas ou de equipamentos, alterao de proteo
coletiva, ou outras mudanas ambientais (de trabalho).
12.1 Estrutura
O LTCAT, conforme o Art. 178 da Instruo Normativa n. 99 INSS/DC, de 5 de dezembro de 2003, deve
respeitar a seguinte estrutura mnima:
reconhecimento dos fatores de riscos ambientais;
estabelecimento de prioridades e metas de avaliao e controle;
avaliao dos riscos e da exposio dos trabalhadores;
especicao e implantao de medidas de controle e avaliao da sua eccia;
monitoramento da exposio aos riscos;
registro e divulgao dos dados.
12.2 Elaborao
de fundamental importncia que um laudo pericial, como o LTCAT, seja elaborado de forma clara e objetiva,
com fundamentao legal e dados conclusivos.
Sua organizao segue a Portaria n. 3.311, de 29 de novembro de 1989, do Ministrio do Trabalho e Emprego
(MTE), que estabelece padres para elaborao de laudos, como segue:
1 Identicao;
2 Descrio do ambiente de trabalho;
3 Anlises qualitativa e quantitativa;
4 Medidas de controle;
5 Quadro descritivo;
6 Concluso.
Recomenda-se que o LTCAT apresente o instrumental utilizado, a metodologia de avaliao e os demais
informaes que fundamentem as concluses.
Identicao
A identicao da empresa deve conter informaes do Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica (CNPJ), grau de
risco de acordo com o Quadro I da NR-4, nmero de trabalhadores e sua distribuio por sexo, nmero de
menores e horrios de trabalho e turnos.
Descrio do Ambiente de Trabalho
Caracterizar ambiente de trabalho, arranjo fsico, dimenses, condies gerais de higiene, ventilao,
iluminao, tipo de construo, mobilirio e demais descries, como consta no PPRA.
Anlises Qualitativas
Descrever as atividades do trabalhador, incluindo todos os tipos de tarefas da funo, e considerar as etapas
do processo de trabalho de acordo com o desenvolvimento das atividades.
174 | 175 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Analisar os riscos a que o trabalhador submetido durante a jornada de trabalho e determinar o tempo em
que ele ca exposto a cada risco sem proteo.
Anlises Quantitativas
Realizar medio de cada risco, aps as anlises qualitativas e quando houver a convico de que os tempos
de exposio conguram uma situao intermitente ou contnua.
Medidas de Controle
Descrever as medidas preventivas utilizadas no intuito de eliminar, neutralizar ou minimizar a exposio do
trabalhador a cada risco, como adoo de equipamentos de proteo coletiva (EPC), equipamentos de proteo
individual (EPI), treinamentos e rodzio de tarefas.
Quadro Descritivo
Sendo o LTCAT o documento que subsidia as informaes ambientais do PPP (p. 179), importante a elaborao
de uma tabela analtica que resuma todas as informaes.
O Quadro 41 um exemplo prtico das condies ambientais do trabalho no ramo grco.
Concluso
A concluso caracteriza o laudo, apresentando fundamentao cientca e reconhecendo a obrigatoriedade,
ou no, do pagamento de adicionais de insalubridade ou periculosidade pela empresa.
QUADRO 41 exemplo das condies ambientais do trabalho
Setor Impresso
Funo Impressor offset
CBO 76.62-15
Atividade Operar equipamento de impresso offset, de acordo com a ordem de servio e
o gabarito de impresso, xar as chapas, regular a presso do cilindro e
controlar a posio das folhas de papel e distribuir tintas e gua. Efetuar
testes para aprovao do controle de qualidade, acompanhando o uxo da
mquina com a nalidade de aferir a qualidade. Efetuar limpeza nas mquinas.
Riscos Fsicos Rudo
Qumicos Tintas e solventes orgnicos
Fontes Geradoras Operao de mquinas e equipamentos
Possveis conseqncias Alteraes auditivas
Medidas de controle EPC Instalao de coifa e de sistema de exausto
EPI Utilizao de protetor auditivo
outros Instalao de proteo nas mquinas
Instalao de aterramento eltrico nas mquinas e equipamentos
SAT 1
GFIP 0
176 | 177 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
178 | 179 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
13 perfil profissiogrfico previdencirio (PPP)
O Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP) foi criado pela Legislao Previdenciria, atravs da Instruo
Normativa IN INSS/DC n. 78/2002, sendo modicado pela IN 99/2003, que estabelece sua vigncia a partir
de 1 de janeiro de 2004, e seu modelo, conforme Anexo XV (Quadro 42).
Este documento uma declarao da empresa sobre o histrico laboral individual do trabalhador, que
rene, entre outras informaes, dados administrativos, registros das condies do ambiente de trabalho e
monitoramento biolgico durante o perodo em que ele exerceu suas atividades.
As informaes administrativas so obtidas dos dados cadastrais do trabalhador, no setor de Recursos Humanos,
Departamento Pessoal ou Contador. O preenchimento dos dados de monitoramento biolgico subsidiado
pelo PCMSO, e as condies ambientais so expressas no LTCAT e no PPRA.
O representante da empresa quem assina o PPP, informando nome e registro dos prossionais responsveis
pelos registros ambientais e pela monitoramento biolgico.
O Perl Prossiogrco Previdencirio dever ser emitido em duas vias, com cpia autntica para o trabalhador,
sempre que houver encerramento do contrato de trabalho, solicitao de licena no INSS ou pedido de
aposentadoria especial.
QUADRO 42 perfil profissiogrfico previdencirio (PPP)
180 | 181 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
182 | 183 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
184 | 185 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PARTE IV
legislao
186 | 187 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
188 | 189 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
14 introduo
A Segurana e Sade no Trabalho objeto de normatizao em diversos dispositivos legais. Nesta seo, sero
apresentados, resumidamente, os principais tpicos de legislao pertinentes ao ramo grco.
fundamental o cumprimento destes dispositivos na ntegra, assim como o de outros dispositivos legais das
esferas federal, estadual, municipal e dos acordos coletivos.
15 constituio federal
A Constituio da Repblica Federativa do Brasil, promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu art. 7, inciso
XXII, assegura a todos os trabalhadores, urbanos ou rurais, reduo dos riscos inerentes ao trabalho, por
meio de normas de sade, higiene e segurana, dispostas na Consolidao das Leis do Trabalho (CLT) e nas
Normas Regulamentadoras do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE).
190 | 191 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
16 normatizao trabalhista
O objeto de normatizao e os dispositivos legais sobre Segurana e Sade no Trabalho esto contidos nas
Normas Regulamentadoras (NR) da Portaria n. 3.214 de 08 de junho 1978, do Ministrio do Trabalho e
Emprego (MTE). Essas normas tm como objetivo explicitar e implantar as determinaes contidas nos Art.154
a 201 da Consolidao das Leis do Trabalho (CLT), relativas Segurana e Medicina do Trabalho, sendo
passveis de alteraes e complementos.
16.1 Jornada de trabalho
O Captulo II da CLT, referente durao do trabalho, estabelece preceitos legais sobre jornada de trabalho e
suas peculiaridades. Os artigos 59 e 60 dispem sobre horas suplementares, sua compensao, remunerao
e prorrogaes em atividades insalubres.
Os artigos 66 a 72 dispem sobre descanso dirio e semanal, bem como sobre o intervalo para repouso ou
alimentao; e o artigo 73 dispe sobre o trabalho noturno, considerado aquele executado entre as 22h de
um dia e s 5h do dia seguinte, prevendo acrscimo de 20% sobre a remunerao da hora diurna.
16.2 Trabalho do idoso
O estatuto do idoso institudo pela Lei ordinria n. 10.741 de 1 de outubro de 2003, Art. 1, dispe sobre os
direitos assegurados s pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta anos).
Em relao Segurana e Sade no Trabalho, este estatuto d providncias sobre direitos e benefcios dos
idosos nos Captulos VI, VII e VIII, referentes prossionalizao do trabalho, previdncia e assistncia social.
16.3 Trabalho da criana e do adolescente
A Lei Ordinria n. 8.069, publicada no Dirio Ocial da Unio em 13 de julho de 1990, dispe sobre o
Estatuto da Criana e do Adolescente em seu Ttulo I, Art. 2: Considera-se criana, para os efeitos desta
Lei, a pessoa at doze anos de idade incompletos, e adolescentes aquela entre doze e dezoito anos de
idade.
No Captulo V, do direito prossionalizao e proteo no trabalho, Art. 60, consta: proibido qualquer
trabalho a menores de quatorze anos de idade, salvo na condio de aprendiz.
Entende-se como aprendiz o adolescente que se encontra em processo de formao tcnico-prossional,
ministrada segundo as diretrizes e bases da legislao de educao em vigor (Art. 62).
Conforme o Art. 63, a formao tcnico-prossional obedecer aos seguintes princpios: I garantia de acesso
freqncia obrigatria ao ensino regular; II atividade compatvel com o desenvolvimento do adolescente;
III horrio especial para o exerccio das atividades.
O Artigo 67, em seus incisos I, II, III e IV, regulamenta as situaes nas quais vedado o trabalho ao adolescente:
trabalho noturno; perigoso, insalubre ou penoso; realizado em locais prejudiciais sua formao; e desenvolvido
em horrios e locais que no permitam a freqncia escola.
ATENO: Alm das proibies constantes no Art. 67 e seus incisos, do Estatuto da Criana e do Adolescente,
deve ser observado tambm o Art. 405, inciso I, da CLT, descrito pela Portaria n. 20 do MTE/SIT, de 13 de
setembro de 2001, referente ao trabalho proibido aos menores no Anexo I.
16.4 Trabalho do deficiente
A Ordem de Servio conjunta do Instituto Nacional da Previdncia Seguridade Social (INSS) n. 90, de 27 de
outubro de 1998, dene a decincia fsica como a alterao completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, tendo como conseqncia o comprometimento da funo motora.
O direito participao em atividades econmicas de pessoas portadoras de decincias assegurado pela
Declarao Universal dos Direitos Humanos e pela legislao brasileira vigente.
A Lei n. 7.853, de 24 de outubro de 1989, dispe sobre o apoio s pessoas portadoras de decincia, sua
integrao social, sobre a Coordenadoria Nacional para Integrao da Pessoa Portadora de Decincia (CORDE),
institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuao do Ministrio
Pblico (MP), dene crimes e d outras providncias.
O Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei n. 7.853 e dispe sobre a Poltica Nacional
para Integrao da Pessoa Portadora de Decincia, consolida as normas de proteo e dene as categorias
de decincias, saber:
decincia fsica;
decincia auditiva;
decincia visual;
decincia mental;
decincia mltipla.
De acordo com a Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991, Art. 93, as empresas que possuem em seu quadro de
funcionrios 100 (cem) ou mais empregados so obrigadas a dispor, em sua estrutura, da seguinte proporo
de prossionais decientes:
at 200 empregados................2%;
de 201 a 500 empregados.......3%;
de 501 a 1000 empregados.....4%;
de 1001 em diante....................5%.
16.5 Trabalho da mulher
A Constituio Federal do Brasil considera todos os trabalhadores iguais perante a lei, e a CLT, em seu Captulo
II, Ttulo III, referente s normas especiais de tutela do trabalhador, trata da proteo do trabalho da mulher.
O Art. 372 deste captulo refere que: Os preceitos que regulam o trabalho masculino so aplicveis ao
trabalho feminino, naquilo em que no colidirem com a proteo especial instituda por este Captulo.
A seguir, sero apresentados os artigos que se referem exclusivamente ao trabalho e aos direitos da mulher:
O Art. 373-A, ressalvadas as disposies legais destinadas a corrigir as distores que afetam o acesso da
mulher ao mercado do trabalho, veda ao empregador: inciso IV exigir atestado ou exame, de qualquer
natureza, para comprovao de esterilidade ou gravidez, na admisso ou permanncia no emprego; e inciso
VI proceder o empregador ou preposto a revistas ntimas nas empregadas ou funcionrias.
O Art. 377 dispe que a adoo de medidas de proteo ao trabalho das mulheres considerada de ordem
pblica, no justicando, em hiptese alguma, a reduo de salrio.
O Art. 389 trata das obrigaes das empresas:
1 Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta) mulheres, com mais de 16 (dezesseis)
anos de idade, tero local apropriado onde seja permitido s empregadas guardar sob vigilncia e assistncia
os seus lhos no perodo de amamentao.
2 A exigncia do 1 poder ser suprida por meio de creches distritais mantidas, diretamente ou mediante
convnios, com outras entidades pblicas ou privadas, pelas prprias empresas, em regime comunitrio, ou a
cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.
Art. 390. Ao empregador vedado empregar a mulher em servio que demande o emprego de fora
muscular superior a 20 (vinte) quilos, para o trabalho contnuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos, para o trabalho
ocasional.
Seo V Da Proteo Maternidade
Art. 391. No constitui justo motivo para a resciso do contrato de trabalho da mulher o fato de haver
contrado matrimnio ou de encontrar-se em estado de gravidez.
Art. 392. A empregada gestante tem direito licena-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuzo do emprego e do salrio.
Art. 396. Para amamentar o prprio lho, at que este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher ter
direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) descansos especiais, de meia hora cada um.
Art. 400. Os locais destinados guarda dos lhos das operrias durante o perodo de amamentao
devero possuir, no mnimo, um berrio, uma saleta de amamentao, uma cozinha diettica e uma
instalao sanitria.
16.6 Trabalho terceirizado
Consiste a terceirizao na possibilidade de contratar terceiro para a realizao de atividades que no
constituem o objeto principal da empresa. Essa contratao pode envolver tanto a produo de bens, como
de servios, como ocorre na necessidade de contratao de empresa de limpeza, de vigilncia ou at para
servios temporrios (Martins, 2002).
De acordo com o Enunciado n. 331 (contrato de prestao de servios legalidade) da smula do Tribunal
Superior do Trabalho (TST), inciso I: A contratao irregular de trabalhadores por empresa interposta ilegal,
formando-se o vnculo diretamente com o tomador dos servios, salvo no caso de trabalho temporrio (Lei
n. 6.019, de 3/1/1974); inciso II: A contratao irregular de trabalhador, atravs de empresa interposta, no
gera vnculo de emprego com os rgos da Administrao Pblica Direta, Indireta ou Fundacional (Art. 37,
II, da Constituio da Repblica); inciso III: No forma vnculo de emprego com o tomador a contratao
de servios de vigilncia (Lei n. 7.102, de 20/6/1983), de conservao e limpeza, bem como a de servios
especializados ligados atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e subordinao
direta; e, por ltimo, inciso IV: O inadimplemento das obrigaes trabalhistas, por parte do empregador,
192 | 193 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
implica a responsabilidade subsidiria do tomador dos servios, quanto quelas obrigaes, inclusive quanto a
rgos da administrao direta, das autarquias, das fundaes pblicas, das empresas pblicas e das sociedades
de economia mista, desde que hajam participado da relao processual e constem tambm do ttulo executivo
judicial (Art. 71 da Lei n. 8.666/93). (Alterada pela Res. n. 96, de 11/9/00, DJ 19/9/2000). S se admite a
terceirizao da atividade-meio e no da atividade-m.
16.7 Trabalho temporrio
A Lei n. 6.019/74 dispe sobre trabalho temporrio nas empresas urbanas e d outras providncias.
No Art. 2, dene-se que trabalho temporrio aquele prestado por pessoa fsica a uma empresa, para atender
necessidade transitria de substituio de seu pessoal regular e permanente ou acrscimo extraordinrio
de servios.
O Art. 4 dene como empresa de trabalho temporrio a pessoa fsica ou jurdica urbana, cuja atividade consiste
em colocar disposio de outras empresas, temporariamente, trabalhadores, devidamente qualicados, por
elas remunerados e assistidos.
O Art. 10 refere que: O contrato entre a empresa de trabalho temporrio e a empresa tomadora ou cliente,
com relao a um mesmo empregado, no poder exceder de trs meses, salvo autorizao conferida
pelo rgo local do Ministrio do Trabalho e Previdncia Social, segundo instrues a serem baixadas pelo
Departamento Nacional de Mo-de-Obra.
J o Art. 12 assegura os direitos do trabalhador temporrio no que se refere a: remunerao; jornada de
trabalho; frias; repouso semanal; adicional por trabalho noturno; indenizao por dispensa sem justa causa;
seguro contra acidentes do trabalho e proteo previdenciria. Os pargrafos 1 e 2 desse artigo obrigam as
empresas tomadoras ou clientes a registrar o trabalhador na Carteira de Trabalho e Previdncia Social quanto
sua condio de temporrio, e a comunicar empresa de trabalho temporrio a ocorrncia de todo acidente
cuja vtima seja um assalariado posto sua disposio.
16.8 Normas Regulamentadoras NR
Neste tpico, sero apresentadas de forma resumida as NR pertinentes s atividades e aos ambientes de
trabalho do ramo grco. Em caso de dvidas, consultar o texto completo dessas normas.
NR-1 DISPOSIES GERAIS
Dispe das demais normas relativas segurana e medicina do trabalho, sendo de observncia obrigatria
pelas empresas e rgos que possuam empregados regidos pela Consolidao das Leis do Trabalho (CLT).
A observncia das Normas Regulamentadoras (NR) no desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposies includas em cdigos de obras ou regulamentos sanitrios dos Estados ou Municpios, e outras
provenientes de convenes e acordos coletivos de trabalho.
Deveres do empregador: cumprir e fazer cumprir as disposies legais e regulamentares, elaborar ordens
de servio sobre Segurana e Medicina do Trabalho; informar aos trabalhadores: os riscos prossionais
que possam estar expostos nos locais de trabalho, os meios para prevenir/limitar tais riscos e as medidas
adotadas pela empresa, permitir que representantes dos trabalhadores acompanhem a scalizao dos
preceitos legais e regulamentares sobre segurana e medicina do trabalho.
Deveres do empregado: cumprir as disposies legais e regulamentares sobre Segurana e Medicina do
Trabalho, inclusive as ordens de servio expedidas pelo empregador; usar o equipamento de Prote o individual
fornecido pelo empregador; submeter-se aos exames mdicos previstos nas Normas Regulamentadoras
(NR); colaborar com a empresa na aplicao dessas normas.
194 | 195 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-2 INSPEO PRVIA
Todo estabelecimento novo, antes de iniciar suas atividades, dever solicitar ao rgo regional do Ministrio
do Trabalho e Emprego uma inspeo prvia para aprovao de suas instalaes, o qual emitir o Certicado
de Aprovao das Instalaes (CAI); quando no for possvel a realizao dessa inspeo, o estabelecimento
dever encaminhar uma Declarao das Instalaes (DI), em modelo prprio fornecido pela Regional.
Tanto o certicado de aprovao quanto a declarao das instalaes so documentos bsicos que buscam
assegurar ao novo estabelecimento iniciativas prevencionistas quanto a riscos ou doenas do trabalho.
NR-3 EMBARGO OU INTERDIO
Mediante laudo tcnico de servio competente que demonstre risco grave e iminente para a sade do
trabalhador, o delegado regional do trabalho poder interditar o estabelecimento, o setor de servio, a mquina
ou equipamento, ou ainda embargar a obra, indicando, na deciso tomada, as providncias que devero ser
adotadas para preveno de acidentes do trabalho e doenas prossionais.
Ateno: Durante a paralisao do servio, os empregados recebero os salrios como se estivessem em
efetivo exerccio.
196 | 197 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-4 SERVIOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANA
E EM MEDICINA DO TRABALHO (SESMT)
Esta NR estabelece que as empresas privadas e pblicas, os rgos pblicos da administrao direta e indireta
e dos poderes legislativo e judicirio que possuam empregados regidos pela CLT mantero, obrigatoriamente,
o SESMT, de acordo com o grau de risco em que estiverem enquadrados e o nmero de empregados.
O SESMT constitui-se de um rgo tcnico da empresa composto exclusivamente por prossionais com
formao especializada em segurana e medicina do trabalho, tendo como nalidades principais: elaborao
e implementao de programas de preveno de acidentes e doenas ocupacionais nos ambientes de
trabalho.
As indstrias grcas somente sero obrigadas a manter o SESMT quando o nmero de empregados for igual
ou superior a 101 (cento e um), conforme Quadro II da NR-4.
NR-5 COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES (CIPA)
A CIPA, apresentada na Parte III (Programas e Aes), pginas 68 a 85, mostra as providncias necessrias para
que se possa constituir a comisso em questo.
198 | 199 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-6 EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL (EPI)
O equipamento de proteo individual (EPI) todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo
trabalhador, destinado sua proteo contra os riscos existentes no ambiente de trabalho:
obrigao da empresa fornecer gratuitamente aos empregados o(s) EPI adequado(s) ao(s) risco(s) de
acidente do trabalho ou de doenas ocupacionais sempre que: as medidas de proteo coletivas necessrias
forem tecnicamente inviveis; enquanto as medidas de proteo coletiva estiverem sendo implantadas; e
para atender as situaes de emergncia;
cabe ao empregador adquirir o tipo de EPI com Certicado de Aprovao (CA) adequado atividade do
trabalhador, treinando-o sobre o seu uso e obrigatoriedade, alm de oferecer possibilidade de troca e
manuteno peridica;
o empregado tem o dever de usar o EPI, responsabilizando-se por sua guarda e conservao.
ATENO
O empregador deve ter uma cha datada e assinada pelo trabalhador comprovando o recebimento do(s) EPI.
A recusa por parte do trabalhador em us-los passvel de penalidades, conforme a legislao.
NR-7 PROGRAMA DE CONTROLE MDICO DE SADE OCUPACIONAL (PCMSO)
O PCMSO, apresentado na Parte III (Programas e Aes), pginas 136 a 155, mostra as providncias necessrias
para que se possa implantar o referido programa.
200 | 201 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-8 EDIFICAES
Esta Norma Regulamentadora estabelece requisitos tcnicos mnimos que devem ser observados nas edica-
es, para garantir segurana e conforto aos que nelas trabalham.
os locais de trabalho devem ter no mnimo trs metros de p direito (altura livre do piso ao teto);
os pisos dos locais de trabalho no devem apresentar salincias nem depresses;
os pisos, as escadas e as rampas devem oferecer resistncia suciente para suportar as cargas mveis e xas
para as quais a edicao se destina; devem dispor de processos antiderrapantes e de guarda-corpo de
proteo contra quedas onde for necessrio;
quando necessrio, os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser impermeabilizados e protegidos
contra a umidade;
as edicaes dos locais de trabalho devem ser projetadas e construdas de modo que evitem insolao
excessiva ou falta de insolao.
ATENO
A construo do ambiente de trabalho deve ser projetada de modo que favorea a ventilao e a iluminao
natural.
NR-9 PROGRAMA DE PREVENO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA)
O PPRA, apresentado na parte III (Programas e Aes), pginas 86 a 135, mostra as providncias necessrias
para que se possa implantar o referido programa.
202 | 203 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-10 INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE
A NR-10 estabelece os requisitos e as condies mnimas para a implementao de medidas de controle e sistemas
preventivos, de forma que garantam a segurana e a sade dos trabalhadores que, direta ou indiretamente,
operam em instalaes eltricas e servios com eletricidade. Esta norma se aplica s fases de gerao, transmisso,
distribuio e consumo, incluindo as etapas de projeto, construo, montagem, operao, manuteno das
instalaes e quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Para atendimento dos quesitos relacionados
documentao eltrica, deve-se consultar na sua ntegra o item 10.2 Medidas de Controle.
ATENO
Todo eletricista deve estar apto a prestar primeiros socorros a acidentados, especialmente atravs das tcnicas
de reanimao respiratrias, a manusear e a operar os equipamentos de combate a incndio utilizados nessas
instalaes.
NR-11 TRANSPORTE, MOVIMENTAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
Esta norma trata dos equipamentos utilizados na movimentao de materiais, tais como elevadores de carga,
empilhadeiras, entre outros.
em todo equipamento deve ser indicada em local visvel a carga mxima de trabalho permitida;
os carros manuais para transporte devem possuir protetores das mos;
os operadores de equipamentos de transporte motorizado devero receber um treinamento dado pela
empresa, que o habilitar nessa funo, e s podero dirigir se, durante o horrio de trabalho, portarem um
carto de identicao com validade de um ano, contendo o nome e a fotograa do trabalhador;
os equipamentos de transporte motorizados devero ter sinal de advertncia sonora (buzina);
todos os transportadores industriais devem ser permanentemente inspecionados, e as peas com defeitos
devem de imediato;
os materiais armazenados devem estar dispostos de forma que evitem a obstruo de portas, equipamentos
contra incndio, sadas de emergncia, entre outros.
ATENO
Para a validao do carto de identicao, o empregado deve passar por exame de sade completo por conta
do empregador.
204 | 205 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
206 | 207 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-12 MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Esta norma estabelece requisitos mnimos na instalao das mquinas e equipamentos utilizados nas empresas:
as mquinas e os equipamentos devem ter dispositivos de acionamento e parada localizados de modo que
possam ser acionados ou desligados pelo operador na sua posio de trabalho, ou por outra pessoa, e que
no possam ser acionados ou desligados involuntariamente ou de forma acidental pelo operador;
as mquinas e os equipamentos que utilizarem energia eltrica devem possuir chave geral em local de fcil
acesso e acondicionada em caixa, de maneira que se que evite o seu acionamento acidental e se proteja as
suas partes energizadas;
devem possuir transmisses de fora enclausuradas na sua estrutura e devidamente isoladas por anteparos
adequados.
ATENO
Os reparos, a limpeza, os ajustes e a inspeo somente podem ser executados com as mquinas paradas, salvo
se o movimento for indispensvel sua realizao.
A manuteno e a inspeo s podem ser executadas por pessoas devidamente credenciadas pela empresa.
NR-13 CALDEIRAS E VASOS DE PRESSO
A NR-13 se refere preveno de acidentes com caldeiras e vasos de presso:
vaso sob presso so equipamentos que contm uidos sob presso interna;
todo vaso de presso deve ter axado em seu corpo, em local de fcil acesso e bem visvel, placa de
indicao indelvel com no mnimo as seguintes informaes: fabricante; nmero de identicao; ano de
fabricao; presso mxima de trabalho admissvel; presso de teste hidrosttico; cdigo de projeto e ano
de edio, alm de outras especicadas nesta norma;
todo vaso de presso deve possuir, no estabelecimento onde estiver instalado, a seguinte documentao
devidamente atualizada: pronturio do vaso de presso; registro de segurana; projetos de instalao ou
reparo; relatrio de inspeo.
A operao de unidades que possuam vasos de presso deve ser efetuada por prossional qualicado e com
Treinamento de Segurana na Operao de Unidades de Processo.
ATENO
A inspeo de segurana de caldeiras e vaso de presso deve ser realizada por prossional habilitado ou
por servio prprio de inspeo de equipamentos, emitindo um relatrio de inspeo sempre que a
pea for danicada por acidente de trabalho ou haja outra ocorrncia capaz de comprometer a segurana;
quando submetida alterao ou reparo capaz de alterar as condies de segurana; antes de ser colocada
em funcionamento; quando permanecer inativa por mais de seis meses; quando houver mudana de local de
instalao da caldeira.
208 | 209 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-15 ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES
So consideradas atividades ou operaes insalubres as que, por seu carter, condies ou mtodos de
trabalho exponham os empregados a agentes nocivos sade, acima dos limites de tolerncia xados em
razo da natureza, da intensidade do agente, do tempo de exposio a seus efeitos, comprovadas por laudo
de inspeo do local de trabalho ou assim caracterizadas pela autoridade competente.
O exerccio de trabalho em condies de insalubridade assegura, ao trabalhador, adicional sobre o salrio
mnimo da regio equivalente a:
40% para insalubridade de grau mximo;
20% para insalubridade de grau mdio;
10% para insalubridade de grau mnimo.
No caso de incidncia de mais de um fator de insalubridade, ser considerado o grau mais elevado.
ATENO
No poder o adicional de insalubridade ser acumulado com o de periculosidade, cabendo ao empregado
optar por um dos dois.
NR-16 ATIVIDADES E OPERAES PERIGOSAS
So consideradas atividades ou operaes perigosas as que, por sua natureza ou mtodos de trabalho, impliquem
contato permanente com inamveis ou explosivos, em condies de risco acentuado. O contato do trabalhador
com energia eltrica tambm confere direito ao adicional de periculosidade, conforme a Lei n. 7.369/85.
Na periculosidade, no importa o tempo de exposio mas sim a intensidade do risco a que o trabalhador est
exposto, pois no age biologicamente contra seu organismo, provocando o desenvolvimento gradativo de
doenas. A periculosidade uma possibilidade iminente, como no caso de uma exploso.
O exerccio de trabalho em condies de periculosidade assegura ao trabalhador adicional de 30% sobre o
salrio contratual, sem acrscimos resultantes de graticaes, prmios ou participaes nos lucros da empresa.
210 | 211 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-17 ERGONOMIA
A NR-17 estabelece parmetros que permitem a adaptao das condies de trabalho s caractersticas psico-
siolgicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um mximo de conforto, segurana e desempenho
eciente:
as condies de trabalho incluem aspectos relacionados a levantamento, transporte e descarga manual
de cargas, ao mobilirio, aos equipamentos, s condies ambientais do posto de trabalho e prpria
organizao do trabalho;
a anlise ergonmica do trabalho deve descrever as exigncias do trabalho ao homem, como posturas e
movimentos;
todo trabalhador designado ao transporte manual regular de cargas (exceto as leves) deve receber
treinamento ou instrues satisfatrias quanto aos mtodos de executar o trabalho; o peso mximo que
um empregado pode remover individualmente de 60 kg, ressalvadas as disposies especiais relativas ao
trabalho do menor e da mulher;
o mobilirio deve ser adaptado s caractersticas antropomtricas da populao e natureza do trabalho;
sempre que a tarefa puder ser executada na posio sentada, o posto de trabalho deve ser planejado ou
adaptado para essa posio;
a organizao do trabalho deve levar em considerao as normas de produo, o modo operatrio, a exigncia
de tempo, a determinao do contedo de tempo, o ritmo de trabalho e o contedo das tarefas.
ATENO
Cabe ao empregador solicitar a anlise ergonmica do trabalho, avaliando a adaptao das condies de
trabalho s caractersticas psico-siolgicas dos trabalhadores.
Outros aspectos importantes referem-se aos posicionamentos dos mobilirios e dos equipamentos nos postos
de trabalho, incluindo as condies de conforto ambiental no que diz respeito aos nveis de rudo, de acordo
com a NBR 10152, ao ndice de temperatura efetiva, velocidade do ar e sua umidade relativa.
NR-20 LQUIDOS COMBUSTVEIS E INFLAMVEIS
Essa norma trata dos aspectos de segurana que envolvem lquidos combustveis e inamveis, gs liquefeito
de petrleo (GLP) e outros gases inamveis.
O armazenamento de lquidos inamveis dentro do edifcio s poder ser realizado com recipientes cuja
capacidade mxima seja de 250 litros cada.
As empresas que armazenam produtos lquidos combustveis e inamveis devem faz-lo em local ventilado,
com boas condies das instalaes eltricas, livre da incidncia direta de raios solares; paredes, pisos e tetos
devem ser construdos de material resistente ao fogo e de maneira que facilitem a limpeza e que no provoquem
centelhas por atritos de sapatos ou ferramentas.
212 | 213 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-23 PROTEO CONTRA INCNDIOS
A proteo contra incndio apresentada na Parte III (Programas e Aes), pginas 156 a 160, que trata
da brigada de incndio, apresenta os procedimentos necessrios para desenvolver um trabalho adequado
nessa rea.
NR-24 CONDIES SANITRIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHO
Esta norma diz respeito aos aspectos mnimos de higiene e conforto nas instalaes sanitrias, vestirios e refeitrios.
Instalaes sanitrias
Devem atender s dimenses de 1,00 m
2
(um metro quadrado) para cada sanitrio, por grupo de vinte trabalha-
dores em atividade, devendo ser separadas por sexo e submetidas a um processo permanente de higienizao.
Vestirios
Em todos os estabelecimentos em que a atividade exija a troca de roupas, precisa existir local apropriado
para vestirio, que deve ser dotado de armrios individuais e provido de bancos, sendo ainda observada
observada a separao por sexo.
Refeitrio
Por ocasio das refeies, devem ser asseguradas aos trabalhadores condies de conforto, com requisitos
de limpeza, arejamento, iluminao e fornecimento de gua potvel.
Nos estabelecimentos em que trabalhem mais de 300 (trezentos) operrios, obrigatria a existncia de
refeitrio, devendo ser instalado em local apropriado e sem comunicao direta com os locais de trabalho,
as instalaes sanitrias e lugares insalubres.
Cozinha
Quando houver refeitrio, a cozinha deve estar localizada junto a ele, sendo as refeies servidas atravs
de aberturas.
ATENO
Todo lavatrio deve ser provido de material para limpeza e secagem das mos, sendo proibido o uso de toalhas
coletivas.
indispensvel que os funcionrios da cozinha, encarregados de manipular gneros alimentcios, refeies e
utenslios, disponham de sanitrio e vestirio prprios que no se comuniquem com a cozinha.
214 | 215 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-25 RESDUOS INDUSTRIAIS
Esta norma trata de coletas e descartes dos resduos industriais slidos, lquidos e gasosos:
os resduos lquidos e slidos produzidos por processos e operaes industriais devem ser convenientemente
tratados e/ou dispostos e/ou retirados dos limites da indstria, de forma que evitem riscos sade e
segurana dos trabalhadores.
O lanamento ou a disposio dos resduos slidos e lquidos nos recursos naturais, gua e solo devem obedecer
ao disposto na legislao federal, estadual e municipal.
ATENO
Qualquer material inamvel, como tintas e solventes, no pode ser jogado na rede de esgoto.
NR-26 SINALIZAO DE SEGURANA
A utilizao de cores nos locais de trabalho deve ser feita de forma racional, a m de no ocasionar distrao,
confuso e fadiga ao trabalhador.
COR UTILIZAO MAIS FREQENTE
Vermelho Para distinguir e indicar equipamentos e aparelhos de proteo e combate a incndio.
Amarelo Empregado para identicar canalizaes de gases no liquefeitos, e para indicar
cuidado.
Branco Empregado para identicar passarelas e corredores de circulao, coletores de resduos
e reas destinadas armazenagem.
Alumnio Para indicar canalizaes, gases liquefeitos (GLP), inamveis e combustveis de baixa
viscosidade.
Verde Para identicar caixas de equipamentos de socorro, localizao de EPI, dispositivos de
segurana e canalizao de gua.
Azul Para identicar a canalizao de ar comprimido.
Cinza escuro Para identicar eletrodutos.
Laranja Para identicar partes mveis de mquinas e equipamentos.
216 | 217 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NR-28 FISCALIZAO E PENALIDADES
A NR-28 determina os procedimentos a serem adotados pela scalizao no que diz respeito aos prazos
para regularizao dos itens que por ventura no estejam em conformidade com essa norma, e tambm o
procedimento de autuao por infrao s normas regulamentadoras.
O agente de inspeo do trabalho poder noticar os empregadores, concedendo ou no prazo para a
correo das irregularidades encontradas, que dever ser de no mximo de 60 (sessenta) dias.
A empresa ter 10 (dez) dias a partir da noticao para entrar com recurso ou solicitar prorrogao de
prazo, que poder ser estendido at 120 (cento e vinte) dias. Quando o empregador necessitar de prazo de
execuo superior a 120 dias, ca condicionada a prvia negociao entre empresa, sindicato da categoria
dos empregados e representante da autoridade regional competente.
A empresa que no sanar as irregularidades descritas no auto de infrao, mesmo aps reiteradas as advertncias
e intimaes nas quais foi noticada por 3 (trs) vezes consecutivas, estar negligenciando as disposies
legais da norma e car sujeita s penalidades.
ATENO
Caso a empresa seja reincidente nas penalidades, poder pagar o teto mximo de multa, que de 6.304 UFIR.
NR 32 SEGURANA E SADE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTO DE ASSISTNCIA SADE
Esta NR tem por nalidade estabelecer as diretrizes bsicas para a implementao de medidas de proteo
segurana e sade dos trabalhadores dos servios de sade, bem como daqueles que exercem atividades de
promoo e assistncia sade em geral.
Para ns de aplicao desta norma, entendem-se por servios de sade qualquer edicao destinada
prestao de assistncia sade da populao, e todas as aes de promoo, recuperao, assistncia,
pesquisa e ensino em sade em qualquer nvel de complexidade.
17 normatizao previdenciria
A legislao previdenciria fundamentada nas Leis n. 8.212 e n. 8.213 e no Regulamento da Previdncia
Social (RPS), todas de 24 de julho de 1991.
17.1 Acidente do trabalho
Acidente de trabalho aquele que ocorre pelo exerccio do trabalho a servio da empresa, provocando leso
corporal ou perturbao funcional que cause morte, ou perda, ou reduo permanente ou temporria, da
capacidade do trabalho (Art. 2 da Lei n. 6.367, de 19 de outubro de 1976). Pode ser:
17.1.1 TPICO aquele decorrente do exerccio da atividade prossional.
17.1.2 TRAJETO ocorrido no trajeto entre a residncia e o local de trabalho do segurado ou vice-versa.
17.1.3 DOENAS OCUPACIONAIS E/OU PROFISSIONAIS so aquelas decorrentes da exposio a agentes
ou condies perigosas inerentes a processos e atividades prossionais ou ocupacionais.
Exemplo: rudo (mquinas em funcionamento).
17.1.4 DOENAS DO TRABALHO so aquelas adquiridas ou desencadeadas pelas condies inadequadas
em que o trabalho realizado, expondo o trabalhador a agentes nocivos a sua sade.
Exemplo: dores na coluna (na realizao de atividades em condies inadequadas ergonomia).
Nota: No so consideradas como prossionais as doenas hereditrias, mesmo que surjam durante a vida
laboral.
17.1.5 COMUNICAO DE ACIDENTE DO TRABALHO CAT
O acidente do trabalho e a doena prossional devem ser comunicados ao Instituto Nacional do Seguro Social
INSS atravs da CAT, por meio de formulrio especco (anexo) protocolado neste rgo ou enviado por
meio eletrnico (disponvel no site www.mpas.gov.br). Nos casos de acidente do trabalho, tal comunicao
218 | 219
deve realizar-se nas primeiras 24 horas de sua ocorrncia, e em caso de morte dever ser feita imediatamente
autoridade competente.
Nos acidentes de trajeto ou a servio externo da empresa, a abertura da CAT deve ser efetuada pelo trabalhador
ou, quando este estiver impossibilitado, por qualquer pessoa que acompanhou o ocorrido.
A CAT considerada, a ttulo de registro, em trs eventos: Inicial; Reabertura e Comunicao de bito.
Inicial Corresponde ao registro dos eventos: acidente tpico, de trajeto, doenas
ocupacionais e/ou prossionais ou doena do trabalho.
Reabertura Correspondente ao reincio de tratamento ou afastamento por agravamento
de leso de acidente do trabalho ou de doena prossional ou do trabalho,
j comunicado anteriormente ao INSS.
Comunicao de bito Correspondente ao falecimento decorrente de acidente ou doena prossional
ou do trabalho.
OBSERVAO
Em se tratando de afastamento do trabalhador por acidente ou doena do trabalho por mais de quinze dias,
os quinze primeiros dias (incluindo o dia do afastamento) so pagos pelo empregador, devendo o auxlio-
doena ser pago pela Previdncia Social a partir do 16 dia de afastamento.
A Figura 30, mostra o modelo de preenchimento da CAT.
manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
modelo Comunicao de Acidente do Trabalho 18 perfil profissiogrfico previdencirio (PPP)
A legislao previdenciria referente ao Perl Prossiogrco Previdencirio (PPP), apresentado na Parte
III (Programas e Aes), pginas 178 a 184, mostra a seqncia necessria quanto ao preenchimento, ao
desenvolvimento e constituio do referido documento.
220 | 221 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
19 responsabilidade civil e criminal
O resultado de uma ao provm de um ato lcito ou ilcito. Para que haja o ato ilcito necessrio existir um
fato lesivo que ocorra por ao, omisso voluntria, negligncia ou imprudncia, causando dano patrimonial
ou moral, e tal ato lesivo deve ser praticado em desacordo com a determinao legal existente, gerando
responsabilidade civil. Temos, de acordo com a Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Cdigo Civil:
DA OBRIGAO DE INDENIZAR
Art. 927. Aquele que, por ato ilcito (Arts. 186 e 187 do Cdigo Civil), causar dano a outrem, ca obrigado
a repar-lo.
Pargrafo nico. Haver obrigao de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especicados
em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem. Portando, explicito que aquele que, (...), causar dano a outrem, ca obrigado
a repar-lo, gerando a responsabilidade principal, que a de indenizar.
Alm da responsabilidade civil, temos a responsabilidade criminal e, para tanto, dispe o Cdigo Civil que:
Art. 935. A responsabilidade civil independente da criminal, no se podendo questionar mais sobre a existncia
do fato, ou sobre quem seja o autor, quando estas questes se acharem decididas no juzo criminal.
O princpio da independncia da responsabilidade civil em relao penal expressa pelo Cdigo de Processo
Penal e dispe: Art. 64. a ao para ressarcimento do dano poder ser proposta no juzo cvel, contra o autor
do crime.
Pargrafo nico: Intentada a ao penal, o juiz da ao civil poder suspender o curso desta, at o julgamento
denitivo daquela. Contudo, percebe-se que a sentena condenatria criminal tem inuncia na ao cvel.
Com base no Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940, de acordo com a reforma da Lei n. 7.209, de
11 de julho de 1984 Cdigo Penal (C.P.), para que seja possvel a responsabilidade criminal faz-se necessrio
que haja uma ao penal pblica incondicionada com base na exposio da vida ou da sade de outrem a
perigo direto ou iminente, dispondo o texto legal so Art. 132 do Cdigo Penal, referente exposio:
PERIGO PARA A VIDA OU SADE DE OUTREM
Art. 132. Expor a vida ou sade de outrem a perigo direto e iminente:
Pena deteno, de trs meses a um ano, se o fato no constitui crime mais grave.
Pargrafo nico. A pena aumentada de um sexto a um tero se a exposio da vida ou da sade de outrem
a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestao de servios em estabelecimentos de qualquer
natureza, em desacordo com as normas legais.
O objeto jurdico do referido texto a vida e a sade de qualquer pessoa, porm, para caracterizar o ato lesivo,
necessrio que haja uma vtima determinada. O referido texto legal foi institudo em virtude dos acidentes do
trabalho ocorridos por descaso na aplicao das medidas de preveno contra os acidentes. Se da exposio
do trabalhador houver resultado mais grave, como, por exemplo, morte, poder ser o crime caracterizado
como homicdio culposo (Art.121, 3, do C.P.).
Para evitar responsabilidade dessa natureza, importante implantar aes de melhoria da sade, higiene e
segurana dos trabalhadores.
222 | 223 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
20 legislao ambiental
um instrumento de poltica ambiental institudo em mbito nacional pela Lei Federal n. 6.938 de 31 de agosto
de 1981, e regulamentado pelo Decreto n. 88.351 de 01 de junho de 1983, que consiste em um processo
destinado a condicionar a construo, a instalao, o funcionamento e a ampliao de estabelecimentos de
atividades poluidoras ou que utilizem recursos ambientais ao prvio licenciamento, por autoridade ambiental
competente.
A legislao prev a expedio de trs licenas ambientais, todas obrigatrias, independentes de outras licenas
e autorizaes exigveis pelo Poder Pblico: Licena Prvia (LP), Licena de Instalao (LI) e Licena de Operao
(LO), conforme Art. 20 do referido decreto. Existe um momento preliminar na etapa do licenciamento em que
o rgo expedidor poder orientar o empreendedor quanto localizao do seu empreendimento, atravs do
Parecer de Viabilidade de Localizao (PVL), que no um documento obrigatrio, porm funciona como uma
ferramenta preventiva de problemas com a localizao do seu empreendimento.
Licena Prvia (LP): concedida na fase inicial do planejamento da atividade do estabelecimento fundamentada
em informaes formais prestadas pelo interessado, especicando as condies bsicas a serem atendidas
desde sua instalao at o funcionamento do estabelecimento. A fase preliminar do empreendimento deve
atender requisitos bsicos de localizao, instalao e operao, observando os planos federais, estaduais ou
municipais de uso do solo.
Licena de Instalao (LI): expedida com base no projeto executivo nal que foi aprovado na licena prvia
que autorizou o incio da construo e a implantao da empresa, subordinando-a s condies de exigncias
tcnicas a serem cumpridas antes do incio de sua operao.
Licena de Operao (LO): expedida aps vistoria, teste de operao ou qualquer outro meio tcnico de
vericao do funcionamento dos equipamentos e sistemas de controle de poluio; autoriza a operao do
empreendimento ou de determinada atividade poluidora subordinando sua continuidade ao cumprimento das
condies de concesso da (LI) a da (LO).
Lei de Crimes Ambientais
Lei n. 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, dispe sobre as sanes penais e administrativas derivadas das
condutas, das atividades lesivas ao meio ambiente e da cooperao internacional para a preservao ambiental.
Constatados atravs de percia e comprovada a culpabilidade daqueles que cometerem danos ambientais,
caro sujeitos s sanes civis e penais, aps transitado e julgado o processo, estando sujeita a pessoa jurdica
s seguintes sanes:
penas restritivas de direito, que so: suspenso parcial ou total das atividades; recolhimento domiciliar;
interdio temporria do estabelecimento, obra ou atividade; proibio de estabelecer contratos com o
Poder Pblico, bem como dele obter subsdios, subvenes ou doaes;
prestao de servios comunidade, que consistir em: custeio de programas e de projetos ambientais;
execuo de obras de recuperao de reas degradadas; manuteno de espaos pblicos; contribuies a
entidades ambientais ou culturais pblicas.
Nota: a pessoa jurdica que permitir, facilitar ou ocultar a prtica de crime denido nesta lei poder ter
decretada sua liquidao, quando seu patrimnio, aps considerado instrumento do crime, ser disponibilizado
ao Fundo Penitencirio Nacional.
A responsabilidade civil e criminal do proprietrio do imvel no to-somente por esta condio (permitir,
facilitar ou ocultar a prtica de crime), mas por negligenciar o imvel e possibilitar sua m utilizao, devendo,
portanto, zelar para que sua propriedade no passe a ser de uso nocivo.
224 | 225 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
informaes complementares
226 | 227 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
NDICE REMISSIVO
Acidente de trajeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Agentes biolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 74-77, 81, 82, 98, 121
Agentes ergonmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74-82, 147
Agentes fsicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74, 76, 78-81
Agentes qumicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40, 74-81, 161, 172
ASO ver Atestado de Sade Ocupacional
Atestado de Sade Ocupacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136, 146, 147
Audiometria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 51, 52, 147
Calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 96, 156
Carga de incndio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
CAT ver Comunicao de Acidente de Trabalho
CIPA ver Comisso Interna de Preveno de Acidentes
Comisso Interna de Preveno de Acidentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 68, 199
Comunicao de Acidente do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137, 151, 174, 218, 220
Doena do Trabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 218, 219
Doena Prossional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151, 218, 219
Dosimetria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46, 92
Gs Liqefeito de Petrleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Gesto de SST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 67
GLP ver Gs Liqefeito de Petrleo
IBUTG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Incndio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 43, 67, 85, 156, 158, 160, 204, 212
Laudo Tcnico das Condies Ambientais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86, 174-176
LTCAT ver Laudo Tcnico das Condies Ambientais
Mapa de risco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 73, 74, 82, 84, 85, 103
Norma Regulamentadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 156, 194
NR ver Norma Regulamentadora
PCMSO ver Programa de Controle Mdico e Sade Ocupacional
Perl Prossiogrco Previdencirio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174, 176, 178, 179, 221
PPP ver Perl Prossiogrco Previdencirio
PPRA ver Programa de Preveno de Riscos Ambientais
Preveno e combate a incndios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 156
Programa de Controle Mdico de Sade Ocupacional . . . . . . . . . 67, 86, 136, 149, 161, 174, 201
Programa de Preveno de Riscos Ambientais . . . . . . . . . . . . . . . . 67, 73, 86, 161, 174, 203
Risco biolgico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-77, 81-82, 98, 121, 147
Risco de acidente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 74-82, 104-112, 128, 139-145, 147
Risco ergonmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 46, 74-82, 98, 102, 104-112, 121, 139-145
Risco fsico . . . . . . . . . . . . . 30, 74, 76-78, 81, 89, 106-109, 111-112, 114, 140-145, 147, 177
Risco qumico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 74-81, 96, 103, 106-110, 115, 139-142, 147, 177
Rudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 38, 46, 52, 53, 89, 92, 114, 162, 163, 210
Tipicao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
GLOSSRIO
2,5-hexanodiona Metablito n hexano excretado na urina.
Acetato de etila Solvente orgnico encontrado em tintas e diluentes.
Acetona Solvente orgnico encontrado em tintas e diluentes.
cido hiprico Metablito de tolueno excretado na urina.
cido metil hiprico Metablito dos xilenos excretado na urina.
Acoplamento exvel Aquele confeccionado em material resiliente, ou seja, material plstico para
absoro de ondas de baixa freqncia.
Brigada de incndio Grupo de pessoas treinadas e capacitadas para atuar na preveno, combate a
incndios, abandono de rea e prestao de primeiros socorros.
Combustvel Todo o material que, submetido ao aquecimento por determinado tempo, produz a
queima; pode ser slido, lquido e gasoso.
Creatinina Substncia excretada normalmente pelo organismo atravs da urina. Nas anlises toxicolgicas,
utilizada como fator de correo dos resultados.
Cura por radiao ultra violeta (UV) Converso instantnea de um lquido reativo em um slido,
induzido pela radiao.
CVM (Contrao Voluntria Mxima) fora mxima de contrao muscular que o indivduo pode realizar
voluntariamente.
dB(A) (d-b-a) Indicao do nvel de intensidade sonora medida com instrumento de nvel de presso
sonoro operando no circuito de compresso A.
Design Desenho ou projeto.
228 | 229 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
Dixido de carbono Comumente chamado de gs carbnico, um gs produzido industrialmente pela
combusto do carvo, gs, coque, leo ou outros combustveis carbonados em presena
adequada de oxignio, de forma que se os tenha a oxidao completa do carbono.
Fogo Processo qumico de transformao dos materiais combustveis atravs de reao em cadeia,
liberando energias calorfera e luminosa.
Fungos Organismos heterotrcos ou parasitas cuja nutrio se d por absoro; so tambm conhecidos
como mofos.
Incndio Situao em que o fogo est fora de controle.
Inamvel Materiais que reagem facilmente com o oxignio e produzem rapidamente o fogo; alguns
produtos podem provocar essa reao na temperatura ambiente.
Metablito Que se transforma no organismo.
Metil etil cetona Solvente orgnico encontrado em tintas e diluentes.
N hexano Solvente orgnico encontrado em tintas, diluentes e colas.
Ototxico Substncia que produz efeito lesivo sobre os rgos ou nervos responsveis pela audio ou
pelo equilbrio.
Patognico Aquilo provoca ou pode provocar, direta ou indiretamente, uma doena.
Populao xa grupo de pessoas que permanece regularmente em uma rea ou edicao.
P qumico seco (PQS) Substncia utilizada em extintores de incndio, que tem como agente ps
incombustveis; sua ao extintora se faz eciente pela carncia e oxignio,
bem como pela formao de dixido de carbono e vapor dgua, resultantes da
reao qumica que se desloca.
Rotas de fuga Trajetos preestabelecidos atravs de corredores, escadas, rampas, passagens entre prdios e
sadas, com o objetivo de que as pessoas possam abandonar de forma ordenada e segura
um local que esteja em uma situao de risco iminente.
Sinistro Ocorrncia de prejuzo ou dano em algum bem por incndio ou acidente.
Sublimado Erguido maior altura, engrandecido.
Teste hidrosttico Teste realizado em mangueira, aparelho extintor de incndio, bomba hidrulica e outros
equipamentos para se vericar a presso especicada para cada caso de emprego
operacional.
Tolueno Solvente orgnico encontrado em tintas, diluentes e colas.
Toxicologia Cincia que estuda os efeitos adversos causados pelos agentes qumicos ao interagirem com
organismos vivos.
Xilenos Solvente orgnico encontrado em tintas, diluentes e colas.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. 2002 TLVs e BEIs : limites de
exposio (TLVs) para substncias qumicas e agentes fsicos e ndices biolgicos de exposio (BEIs). Traduo:
Associao Brasileira de Higienistas Ocupacionais. Cincinnati: ACGIH, 2002. 201 p. ISBN: 1-882417-46-1.
ASSOCIAO BRASILEIRA DAS INDSTRIAS GRFICAS (ABIGRAF). Contm informaes sobre a Indstria
grca. Disponvel em: <http://www.abigraf.org.br>. Acesso em: 26 maio 2006.
ASSOCIAO BRASILEIRA PARA O ESTUDO DA OBESIDADE E DA SNDROME METABLICA. Contm
informaes sobre obesidade. Disponvel em: <http://www.abeso.org.br>. Acesso em: 26 maio 2006.
BRASIL. Instruo Normativa n. 99 INSS/DC, de 5 de dezembro de 2003. Estabelece critrios a serem
adotados pelas reas de Benefcios e da Receita Previdenciria. Disponvel em:
<http://www81.dataprev.gov.br/sislex>. Acesso em: 2 fev. 2004.
BRASIL. Ministrio do Trabalho e Emprego. Norma de higiene ocupacional: procedimento tcnico:
avaliao da exposio ocupacional ao rudo. So Paulo: Fundacentro, 2001. 37p.
________. Norma de higiene ocupacional: procedimento tcnico: avaliao da exposio ocupacional ao
calor. So Paulo: Fundacentro, 2002. 46 p.
________. Portaria N. 3311 de 29 de novembro de 1989. Estabelece os princpios norteadores do programa
de desenvolvimento do Sistema Federal de Inspeo do Trabalho e d outras providncias. Disponvel em:
<http://www.mte.gov.br/geral>. Acesso em: 25 maio 2006.
BRASIL. Ministrio da Sade. Bases Estatsticas RAIS/CAGED. Apresenta dados estatsticos de
estabelecimentos e trabalhadores. Disponvel em:
<http://mte.gov.br/Estudiosos Pesquisadores/PDET/Acesso/RaisOnline.asp>. Acesso em: 26 maio 2006.
FATURETO, A. M. Modelo de gesto de segurana para a sobrevivncia empresarial. CIPA Caderno
Informativo de Preveno de Acidentes. So Paulo, n.225, p. 58-79.
MARTINS, S. P. Direito do trabalho. 15 ed. So Paulo: Atlas, 2002. 826 p. Bibliograa: p. 817-826.
ISBN 85-224-3060-2.
230 | 231 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
ORGANIZAO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). International hazard datasheets on occupation:
printer. Disponvel em: <http://www.ilo.org/public/English/protection/safework/cis/products/hdo/printer.htm>.
Acesso em: 26 maio 2006.
PEREIRA JUNIOR, C. Primeiros socorros: aspectos organizacionais. In: Medicina bsica do trabalho. v.4.
Curitiba: Genesis, 1995. p. 543-550.
SERVIO BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE). Classicao das Empresas
por Porte. Disponvel em: <http://www.sebrae.com.br/br/mpe_numeros/empresas.asp>.
Acesso em: 26 maio 2006.
Segurana e medicina do trabalho. 54. ed. So Paulo: Atlas, 2004. (Coleo Manuais de Legislao Atlas).
Inclui bibliograa. Inclui ndice. ISBN 85-224-3700-9.
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Departamento de Hipertenso Arterial. IV Diretrizes Brasileiras
de Hipertenso Arterial. Disponvel em:< http:// publicacoes.cardiol.br/consenso/2004/IV_Diretriz_HA.asp>.
Acesso em: 26 maio 2006.
TRINDADE, L. L. Representaes sociais sobre programas de sade dos trabalhadores em grcas
no municpio de So Paulo. Dissertao (Mestre em Sade Pblica) Faculdade de Sade Pblica,
Universidade de So Paulo, 2003.
UNIVERSIDADE DE CAMPINAS. Instituto de Economia. Estudo da competitividade da indstria brasileira.
UNICAMP: Campinas, 1993. 62 p.
232 | 233 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
BIBLIOGRAFIA
ARAJO, G. M. de. Normas regulamentadoras comentadas: legislao de segurana e sade no trabalho.
3. ed. Rio de Janeiro, 2002. 1232 p.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. NBR 5382: vericao de iluminncia de interiores. Rio
de Janeiro, 1985.
______. NBR 5413: iluminncia de interiores. Rio de Janeiro, 1992.
______. NBR14276: programa de brigada de incndio. Rio de Janeiro, 1999.
ASTETE, M. W.; GIAMPAOLI, E.; ZIDAN, L. N. Riscos fsicos. So Paulo: Fundacentro, 1994. 112 p. Inclui
bibliograa.
BERTONCELLO, L. Efeitos da exposio ocupacional a solventes orgnicos, no sistema auditivo.
Monograa (Especializao em audiologia clnica) Centro de Especializao em Fonoaudiologia Clnica.
Porto Alegre, 1999.
BRASIL. Decreto n. 3298, de 20 de dezembro de 1999. Regulamenta a lei n. 7853, de 24 de outubro de
1989, dispe sobre a Poltica Nacional para a Integrao da pessoa portadora de Decincia, consolida as
normas de proteo, e d outras providncias. Disponvel em: < http://www.cedipod.org.br>. Acesso em:
26 abr. 2006.
BRASIL. Decreto n. 4032, de 26 de novembro de 2001. Altera dispositivos do regulamento da Previdncia
Social, aprovado pelo Decreto n. 3048, de 6 de maio de 1999. Disponvel em:
<http://www.presidencia.gov.br/CCVIL/decreto/2001.htm>. Acesso em: 16 mar. 2006.
BRASIL. Decreto n. 4729, de 9 de junho de 2003. Altera dispositivos do Regulamento da Previdncia Social,
aprovado pelo Decreto n. 3048, de 6 de maio de 1999, e d outras providncias. Disponvel em:
<http://www010.dataprev.gov.br.htm>. Acesso em: 16 mar. 2006.
BRASIL. Lei n. 6019, de 3 de janeiro de 1974. Dispe sobre o Trabalho Temporrio nas Empresas Urbanas, e
d outras Providncias. Disponvel em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6019.htm>. Acesso em:
14 mar. 2006.
BRASIL. Lei n. 7102, de 20 de junho de 1983. Dispe sobre segurana para estabelecimentos nanceiros,
estabelece normas para constituio e funcionamento das empresas particulares que exploram servios de
vigilncia e de transporte de valores e d outras providncias. Disponvel em:
<http://www.sesvesp.com.br/doc/ leis>. Acesso em: 14 mar. 2006.
BRASIL. Lei n. 7853, de 24 de outubro de 1989. Dispe sobre o apoio as pessoas portadoras de decincia,
sua integrao social, sobre a Coordenadoria Nacional para integrao da Pessoa Portadora de Decincia
(CORDE), institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, dene crimes, e d
outras providncias. Disponvel em: <http://www.institutoempregar.org.br/legislao/ federal3.htm >.
Acesso em: 26 abr. 2006.
BRASIL. Lei n. 7855, de 24 de outubro de 1989. Altera a Consolidao das Leis do Trabalho, atualiza os
valores das multas trabalhistas, amplia sua aplicao, institui o Programa de Desenvolvimento do Sistema
Federal de Inspeo do trabalho e d outras providncias. Disponvel em:
<http://www.010.dataprev.gov.br/sislex.htm>. Acesso em: 26 abr. 2006.
BRASIL. Lei n. 8212, de 24 de julho de 1991. Dispe sobre a organizao da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio, e d outras providncias. Disponvel em: <http://www.presidencia.gov.br/ccvil/LEIS/L8212cons.
htm>. Acesso em: 16 mar. 2006.
BRASIL. Lei n. 8213, de 24 de julho de 1991. Dispe sobre os Planos de Benefcios da Previdncia Social e d
outras providncias. Disponvel em: <http://www.cna. org.br/RelaesTrabalho/Previdencia/Lei 8213.htm>.
Acesso em: 16 mar. 2006.
BRASIL. Lei n. 9029, de 13 de abril de 1995. Probe a exigncia de atestados de gravidez e esterilizao, e
outras prticas discriminatrias, para efeitos admissionais ou de permanncia da relao jurdica de trabalho,
e d outras providncias. Disponvel em: <http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1995/9029.htm>
Acesso em: 26 abr. 2006.
BRASIL. Lei n. 9799, de 26 de maio de 1999. Insere na Consolidao das Leis do Trabalho regras sobre o
acesso da mulher ao mercado de trabalho e d outras providncias. Disponvel em:
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/biblioteca virtual>. Acesso em: 26 abr. 2006.
BRASIL. Lei Federal n. 6938/81, Lei de Poltica Nacional do Meio Ambiente de 31 de agosto de 1981.
Disponvel em: < https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ L6938org.htm >. Acesso em: 26 maio 2006.
BRASIL. Lei Federal n. 8069/90, de 13 de julho de 1990. Dispe sobre o Estatuto da Criana e do Adolescente e
d outras providncias. Disponvel em: <http://www. planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8069.htm>.
Acesso em: 8 mar. 2006.
BRASIL. Ministrio da Sade. Doenas relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos para os
servios de sade. Organizao Elizabeth Costa Dias. Braslia, 2001. (Normas e Manuais Tcnicos).
BRASIL. Previdncia Social. Lei n. 6367, de 19 de outubro de 1976. Disponvel em:
< http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1976/6367.htm >. Acesso em: 26 maio 2006.
______. Anurio estatstico da Previdncia Social 2003. Disponvel em:
<http:// www.previdenciasocial.gov.br/AEPS2003/12_01_20_01.asp>. Acesso em: 26 maio 2006.
CANAVEIRA, R. Cronologia (comparada) das artes grcas. Lisboa: [s.n.],2004. Disponvel em:
<http://www.paginagraca.com>. Acesso em: 26 abr. 2006.
CESARONE, M. R. et al. Real epidemiology of varicosi veins and chronic venous diseases: the San Valentino
Vascular Screening Project. Angiology. Glen Head, v.53, n.2, p. 119-130, 2002.
ENCICLOPDIA Abril. So Paulo: Abril Cultural, 1972. v. 4.
ENCICLOPDIA Abril. So Paulo: Abril Cultural, 1972. v 6.
ENCICLOPDIA Barsa. Rio de Janeiro: Encyclopaedia Britannica, 1974. v. 7.
ESPANHA. Ministerio del Trabajo. Instituto Nacional de Prevision. Enciclopedia de medicina, higiene y
seguridad del trabajo. Madrid: Instituto Nacional de Medicina y Seguridad del Trabajo, 1974. 2v.
ISBN 84-351-0249-1.
234 | 235 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FERREIRA JUNIOR, M. PAIR perda auditiva induzida por rudo: bom senso e consenso. So Paulo: VK,
1998. 121 p. Inclui bibliograa.
FERREIRA, A. B. de H. Novo dicionrio Aurlio da lngua portuguesa. 2. ed. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira, 1986. 1838 p.
GERGES, S. N. Y. Rudo: fundamentos e controle. 2. ed. Florianpolis: NR, 2000. 696 p. Inclui bibliograa.
Inclui ndice. ISBN 85-87550-02-0.
GONALVES, E. A. Manual de segurana e sade no trabalho. 2. ed. So Paulo: LTr, 2003. Bibliograa:
p.1451-1454. ISBN 85-361-0444-9.
GRANDE Enciclopdia Larousse Cultural. So Paulo: Larousse, 1995.
GRANDE Enciclopdia Delta Larousse. Rio de Janeiro: Delta, 1978.
KATZ, J. Tratado de audiologia clnica. 3. ed. So Paulo: Manole, 1989. 1127 p.
LIMA, G. C. O grco amador: as origens da moderna tipograa brasileira. Rio de Janeiro: UFRJ, 1997.
MAFFEI, F. H. A. et al. Varicose veins and chronic venous insufciency in Brazil: prevalence among 1755
inhabitants of a country town. International Journal of Epidemiology. Oxford, v. 15, n. 2, p. 210-217, 1986.
MENDES, R. Patologia do trabalho. 2. ed. So Paulo: Atheneu, 2003. 2 v. Inclui bibliograa. Inclui ndice.
ISBN 85-7379-565-4.
NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. Manual of Analytical Methods (NMAM).
4. ed. [S. l.]: NIOSH, 1994.
NERY, D. M. ... [et al.]. CIPA: curso de treinamento. 25. ed. So Paulo: FIESP, [19--]. 160 p. , il. Bibliograa:
p. 159-160.
236 | 237 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
PATNAIK, P. Guia geral: propriedades nocivas das substncias qumicas. Belo Horizonte: Ergo, 2002. 2 v. il.
Inclui bibliograa.
PONZETTO, G. Mapa de riscos ambientais: manual prtico. So Paulo: LTr, 2002.
SALIBA, T. M.; SALIBA, S. C. R. Legislao de segurana, acidente do trabalho e sade do trabalhador.
2. ed. So Paulo: LTr, 2003. ISBN 85-361-0278-0.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho cientco. 22. ed. So Paulo: Cortez, 2002. 335 p. il. Inclui
bibliograa. Inclui ndice. ISBN: 85-249-0050-4.
SIGs: sistemas integrados de gesto da teoria prtica. So Paulo: QSP, 2003.
102 p. Bibliograa: p. 102. (Coleo Risk Tecnologia).
SO PAULO (Estado). Decreto n. 46.076, de 31 de agosto de 2001. Institui o Regulamento de Segurana
contra Incndio das edicaes e reas de risco para os ns da Lei n. 684, de 30 de setembro de 1975 e
estabelece outras providncias. Disponvel em: <http://200.136.89.251/pagina15.html>. Acesso em:
26 maio 2006.
SO PAULO (Estado). Secretaria do Meio ambiente. Guia tcnico ambiental da Indstria Grca.
So Paulo, 2003. 63 p.
SOUZA, M. T. de. Efeitos auditivos provocados pela interao entre rudo e solventes: Uma
abordagem preventiva em audiologia voltada sade do trabalhador. Dissertao (Mestre em Distrbios da
comunicao) Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, 1994.
STELLMAN, J. M. (Ed.). Encyclopaedia of occupational health and safety. 4. ed. Geneva: International
Labor Ofce, 1998. 4v. Inclui ndice. ISBN 92-2-109203-8.
238 | 239 manual de segurana e sade no trabalho Indstria Grfica
FIESP/SESI/SENAI/IRS
Diretoria de Assistncia Mdica e Odontolgica
Coordenao Editorial
Marilia Monti
Augusto Gouva Dourado
Consultoria Tcnica
Bernardo Bedrikow
Reviso Tcnica
Mrio Luiz Fantazzini
Produo
Coordenadoria de Comunicao e Marketing
Elaborao
lvaro Eduardo Horn
Andra Yuriko Miyaoi Magarifuchi
Antonio de Lima
Ayrton Seiji Yamada
Cssia Regina Sanchez
Cludio dos Santos Pivotto
Dorival Abraho de Oliveira
Emilia Maria Bongiovanni Watanabe
Fabiola Incontri M. Brando Lopes Ferriello
Gisele Rocco
Giseli Rodrigues Cardoso
Jos Dias Ferreira
Jos Henrique Setta
Luiz Fernando da Silva
Marcia Marano Moreno
Marina Rein dos S. Viana
Paulo Srgio Alguin
Rosngela Costa Lacerda Vaz
Uilian Pedro da Silva
Ulisses de Medeiros Coelho Jnior
Vera Cristina G. C. Lauand
Wellington Silva Chaves
Reviso de Texto
Tereza Maria Loureno Pereira
Projeto Grco e Diagramao
Shadow Design
Ilustrao
Hamilton Pinto Alves Viana
Tiragem
7.000 exemplares
2006, by SESI-SP
So Paulo, 2006
As referncias deste trabalho podem ser consultadas no
CENTRO DE DOCUMENTAO E INFORMAO CDI
Tel.: (11) 3834-0664 / (11) 3834-9102
e-mail: cdi@sesisp.org.br
sst@sesisp.org.br
M
A
N
U
A
L
D
E
S
E
G
U
R
A
N
A
E
S
A
D
E
N
O
T
R
A
B
A
L
H
O
I
N
D
S
T
R
I
A
G
R
F
I
C
A
M
A
N
U
A
L
D
E
S
E
G
U
R
A
N
A
E
S
A
D
E
N
O
T
R
A
B
A
L
H
O
I
N
D
S
T
R
I
A
G
R
F
I
C
A
Você também pode gostar
- PGR - TJ Comercio Atacadista de Frutas e Legumes LtdaDocumento40 páginasPGR - TJ Comercio Atacadista de Frutas e Legumes LtdaErick Valdevino100% (1)
- Apostila PIC Prof JesueDocumento58 páginasApostila PIC Prof JesueGustavo Mollica50% (2)
- PGR Torneadora Irmãos PaulinosDocumento34 páginasPGR Torneadora Irmãos PaulinosAlvaro S. Arruda100% (1)
- Modelo de Registro de Produção de LotesDocumento4 páginasModelo de Registro de Produção de LotesMaike Reuwsaat100% (1)
- M14 Sim Manual UsuarioDocumento32 páginasM14 Sim Manual UsuarioAderbal Negrão0% (4)
- Portfólio 1-Informática AplicadaDocumento9 páginasPortfólio 1-Informática AplicadaGuilherme Santos da SilvaAinda não há avaliações
- Apostila Do Módulo 9Documento63 páginasApostila Do Módulo 9ProEad JJAinda não há avaliações
- Ppra 2021-2022Documento62 páginasPpra 2021-2022Felipe MedeirosAinda não há avaliações
- PGSSMATR-2014 - Fazenda Boa EsperançaDocumento37 páginasPGSSMATR-2014 - Fazenda Boa EsperançaEngmed EngenhariaAinda não há avaliações
- Higiene OcupacionalDocumento27 páginasHigiene OcupacionalBeatriz Dias MirandaAinda não há avaliações
- 500 Palabras en Varios IdiomasDocumento168 páginas500 Palabras en Varios IdiomasChristian Quiroz100% (1)
- Curso de Mestre GratuitoDocumento13 páginasCurso de Mestre GratuitoGustavo LombaAinda não há avaliações
- Sistema de Gestão Ambiental - Sga Supermercado BonamigoDocumento105 páginasSistema de Gestão Ambiental - Sga Supermercado Bonamigosandra almeidaAinda não há avaliações
- Ppra 2017-2018 - Posto Gameleira Ltda V2Documento62 páginasPpra 2017-2018 - Posto Gameleira Ltda V2GeorgeSantos22100% (1)
- FISPQ - Primer Universal Cinza - Gris - Rev00 - 0132Documento7 páginasFISPQ - Primer Universal Cinza - Gris - Rev00 - 0132Henriques Bahia Ibicarai100% (1)
- PCMSO - DaniloDocumento51 páginasPCMSO - DaniloDaiane Gamarano DaianeAinda não há avaliações
- PGR20.944.076 0001-82 21 30Documento153 páginasPGR20.944.076 0001-82 21 30Rafaela Donida100% (1)
- Álcalis CàusticosDocumento4 páginasÁlcalis CàusticosCicero Fernandes100% (1)
- Relatório Ruido TopDocumento132 páginasRelatório Ruido TopFelipe NaretaAinda não há avaliações
- 1 - Ppra Hotel Pousada - Senso 2019 Rev 0Documento153 páginas1 - Ppra Hotel Pousada - Senso 2019 Rev 0Marçal Chiusoli Tonon100% (1)
- Laudo de Insalubridade - IEDS - 03.06.2022Documento19 páginasLaudo de Insalubridade - IEDS - 03.06.2022William CabralAinda não há avaliações
- Tarefa 1 - 20 PontosDocumento15 páginasTarefa 1 - 20 PontosTatiana Rodegheri82% (11)
- LTCAT EMEI Nair ROSADocumento31 páginasLTCAT EMEI Nair ROSAAdriano Aparecido da Silva100% (1)
- Segurança Com TratorDocumento14 páginasSegurança Com TratorGustavo KonieczniakAinda não há avaliações
- Pae Veneto TransportesDocumento70 páginasPae Veneto TransportesBenicio Gomes DM1Ainda não há avaliações
- PGR - Posto FLorestal 2022 - Rev 01 JR - Texto Base PDFDocumento53 páginasPGR - Posto FLorestal 2022 - Rev 01 JR - Texto Base PDFWedes MontelloAinda não há avaliações
- LTCATDocumento8 páginasLTCATUeslei de Abreu100% (1)
- PGR Labormed 02072021Documento9 páginasPGR Labormed 02072021Canva PanelinhaAinda não há avaliações
- Cms Files 22631 1624900188modelo Oficial PGR MaduDocumento17 páginasCms Files 22631 1624900188modelo Oficial PGR MaduCONVICTAL CGT100% (1)
- LP Nova Engenahria 2023Documento84 páginasLP Nova Engenahria 2023ronaldo engenhariaAinda não há avaliações
- RAP ConcreteiraDocumento78 páginasRAP ConcreteiraMaria Fernanda Rodriguez100% (1)
- PPRA - Clinica - ModêloDocumento13 páginasPPRA - Clinica - ModêloMarcio Alves100% (2)
- 63-Laudo Ceo Santa CruzDocumento31 páginas63-Laudo Ceo Santa CruzThiagoPachecoAinda não há avaliações
- Pmea PDFDocumento12 páginasPmea PDFAnonymous nPK85ZFzAinda não há avaliações
- En 689Documento41 páginasEn 689Camilla PedroAinda não há avaliações
- 02 - Abastecimento No Posto de CombustívelDocumento6 páginas02 - Abastecimento No Posto de CombustívelGustavo BenegasAinda não há avaliações
- Prontuário NR-20 - SENSO - US. JACARE REV 0Documento290 páginasProntuário NR-20 - SENSO - US. JACARE REV 0Marçal Chiusoli TononAinda não há avaliações
- Lavajato Saudade Proergo 2018Documento29 páginasLavajato Saudade Proergo 2018Izabela BaselliAinda não há avaliações
- .PGR 2022ed 2022Documento31 páginas.PGR 2022ed 2022russel Igor100% (1)
- NR 20 - Atmosferas Explosivas 01Documento60 páginasNR 20 - Atmosferas Explosivas 01CPSSTAinda não há avaliações
- Ltcat - Concessionaria BelemDocumento21 páginasLtcat - Concessionaria BelemSilvio Sergio SilvaAinda não há avaliações
- Insalubridade Do CalorDocumento1 páginaInsalubridade Do CalorGenival SilvaAinda não há avaliações
- Fispq Avi Gasolina Avgas PDFDocumento10 páginasFispq Avi Gasolina Avgas PDFWalter Rigolino0% (1)
- Higiene Ocupacional CalorDocumento26 páginasHigiene Ocupacional CalorLUCAS PCPAinda não há avaliações
- Plano de EmergenciaDocumento23 páginasPlano de EmergenciaLenice Bassetto0% (1)
- Onu Produtos Perigosos PDFDocumento28 páginasOnu Produtos Perigosos PDFgeraldo gilAinda não há avaliações
- PPRA Posto AcauanDocumento48 páginasPPRA Posto AcauanVicente de Paula JuniorAinda não há avaliações
- Modelo de PCMSO 2022Documento21 páginasModelo de PCMSO 2022denis100% (1)
- PGR PhysicalDocumento46 páginasPGR PhysicalNeto SilvaAinda não há avaliações
- PGR 2023 16 02 23 JaborandiDocumento18 páginasPGR 2023 16 02 23 JaborandiSergio Luis Teixeira MirandaAinda não há avaliações
- Armazenamento e Revenda de GLP - LiDocumento8 páginasArmazenamento e Revenda de GLP - LiHilton Diego Cavalcante AraujoAinda não há avaliações
- 04 Inventarioderisco ModeloSESI PDFDocumento59 páginas04 Inventarioderisco ModeloSESI PDFpaola_dias_2Ainda não há avaliações
- Anexo Resolução 15 - LAUDO - HUGD PDFDocumento96 páginasAnexo Resolução 15 - LAUDO - HUGD PDFJader PinheiroAinda não há avaliações
- Ltcat AnDocumento11 páginasLtcat Anjose marceloAinda não há avaliações
- Plano de Gerenciamento de RiscosDocumento12 páginasPlano de Gerenciamento de RiscosWilson SilvaAinda não há avaliações
- PGR Top WordDocumento203 páginasPGR Top WordSergio Sampaio100% (2)
- 2022 - 04 - PGR - Corp - LMB - Manutencao Predial - Rev01 - 07.04.2022Documento69 páginas2022 - 04 - PGR - Corp - LMB - Manutencao Predial - Rev01 - 07.04.2022Felipe Felerico100% (1)
- Modelo LTCATDocumento21 páginasModelo LTCATGeicyelle Domingos100% (1)
- Auto Posto Xamã Ltda Ltcat 2007Documento13 páginasAuto Posto Xamã Ltda Ltcat 2007Leticia NunesAinda não há avaliações
- Dimensionamento Da CipaDocumento1 páginaDimensionamento Da CipaIzabella DinizAinda não há avaliações
- PREI - InstalaçõesDocumento83 páginasPREI - Instalaçõesthalita santos alves100% (1)
- Resolução 447-2000Documento2 páginasResolução 447-2000Nayara LageAinda não há avaliações
- Ltcat HealthDocumento19 páginasLtcat HealthTATIANE TATIAinda não há avaliações
- Laudo Ergonômico do Trabalho, Mapeamento dos RiscosNo EverandLaudo Ergonômico do Trabalho, Mapeamento dos RiscosNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Bombas PropulsorasDocumento14 páginasBombas PropulsorasMoisés SantosAinda não há avaliações
- Quinelato PDFDocumento201 páginasQuinelato PDFDiego SantosAinda não há avaliações
- Manual CorteDocumento61 páginasManual CorteSusana AzevedoAinda não há avaliações
- Física-1°Ano-2°Bimestre (Parte 1)Documento12 páginasFísica-1°Ano-2°Bimestre (Parte 1)Marcia CristinaAinda não há avaliações
- Angola'in - Edição Nº 11Documento116 páginasAngola'in - Edição Nº 11Angola'inAinda não há avaliações
- PRA Da UFCD de Língua Inglesa-VendasDocumento2 páginasPRA Da UFCD de Língua Inglesa-VendasAna Moniz SilvaAinda não há avaliações
- Física PPT - BicicletaDocumento18 páginasFísica PPT - BicicletaFísica PPT100% (1)
- Artigo Vedações VerticaisDocumento12 páginasArtigo Vedações Verticaisandersongollub0% (1)
- Brutus - 75 - 75super - 95 PlataformadoDocumento2 páginasBrutus - 75 - 75super - 95 PlataformadoLuan ViniciusAinda não há avaliações
- Case Zara - Just in TimeDocumento13 páginasCase Zara - Just in TimeDouglas SantosAinda não há avaliações
- Fundamentos de Automação IndustrialDocumento4 páginasFundamentos de Automação IndustrialYuri X KennyAinda não há avaliações
- XXI Simpósio Brasileiro de Redes de ComputadoresDocumento71 páginasXXI Simpósio Brasileiro de Redes de ComputadoresRenata CascaesAinda não há avaliações
- 0 - AutomaçãoDocumento46 páginas0 - AutomaçãoJutaí ChavesAinda não há avaliações
- Linguagem MDX: Multidimentional ExpressionsDocumento39 páginasLinguagem MDX: Multidimentional ExpressionsMarcel BalassianoAinda não há avaliações
- Prova Comentada - Engenharia Mecânica - Versão ADocumento17 páginasProva Comentada - Engenharia Mecânica - Versão AAlonso MalherAinda não há avaliações
- Resumo Organizacoes+ExponenciaisDocumento47 páginasResumo Organizacoes+ExponenciaisAmandaAinda não há avaliações
- Deterioracao Da Gasolina Tipo CDocumento5 páginasDeterioracao Da Gasolina Tipo CNelson Jose vuaden juniorAinda não há avaliações
- A13 Musite 14 MusescoreDocumento5 páginasA13 Musite 14 MusescoreEgon Eduardo SAinda não há avaliações
- LapmDocumento1 páginaLapmalissonjungles175694Ainda não há avaliações
- Anuario ABESATADocumento108 páginasAnuario ABESATACassioAinda não há avaliações
- Lista FT MecFlu Cap5 ConsEnergiaDocumento1 páginaLista FT MecFlu Cap5 ConsEnergiaPaulo OliveiraAinda não há avaliações
- ABGE - Manual de Riscos GeológicosDocumento24 páginasABGE - Manual de Riscos GeológicosLucas EspíndolaAinda não há avaliações
- Prancha Vapir ConairDocumento2 páginasPrancha Vapir ConaircarlaAinda não há avaliações
- Guia de Iniciacao Na IVAODocumento15 páginasGuia de Iniciacao Na IVAOpaulo_schneiderAinda não há avaliações