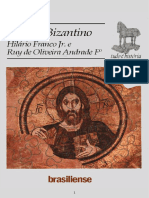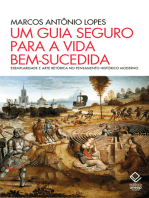Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Filosofia Antiga I e II
Filosofia Antiga I e II
Enviado por
De Sousa GenilsonDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Filosofia Antiga I e II
Filosofia Antiga I e II
Enviado por
De Sousa GenilsonDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GUIA DAS AULAS DE
FILOSOFIA ANTIGA I
E
FILOSOFIA ANTIGA II
FACULDADE DE LETRAS UP
1981 / 2010
JOS AUGUSTO CAIADO RIBEIRO
GRAA
Porto, 2010
1
Nota: "Apontamentos de Filosofia Antiga".
Endereo electrnico: ulisses.us/antiga
2
FILOSOFIA
ANTIGA
Nota: "Apontamentos de Filosofia Antiga".
Endereo electrnico: ulisses.us/antiga
3
SUMRIO
I. INTRODUO ..4
II. FILOSOFIA ANTIGA: UM PROGRAMA ..27
III. ENSAIO DE DESENVOLVIMENTO DE ALGUNS
PONTOS DO PROGRAMA ..60
IV. BIBLIOGRAFIA 165
4
INTRODUO
SOBRE A IMPORTNCIA E O INTERESSE DA
DISCIPLINA DE FILOSOFIA ANTIGA NUM
CURRICULUM DE FILOSOFIA
ALGUNS ASPECTOS DE NATUREZA CIENTFICA E
PEDAGGICA
1. A disciplina de Filosofia Antiga tem-se mantido desde
sempre no primeiro ano dos curricula dos Cursos de Filosofia,
constituindo-se como uma das reas ncora de qualquer plano de
estudos filosficos. O primeiro ano representa assim o lugar
adequado e o tempo propcio a uma iniciao ao estudo das origens
do pensamento filosfico ocidental.
Todavia, isso no significa que a tarefa no se apresente
como de grande complexidade, a qual s ir sendo ultrapassada
atravs da experincia adquirida ao longo de anos de docncia,
concretamente de docncia da cadeira de Filosofia Antiga.
De facto, o ensino da filosofia grega no ensino secundrio
revela-se extremamente deficiente, uma vez que os programas no
o contemplam ou, se o fazem, realizam-no de uma forma
insuficiente porque demasiado ligeira. Assim, ao docente da cadeira
de Filosofia Antiga, hoje mais do que h dcadas atrs, coloca-se a
obrigatoriedade da considerao de uma srie de factores sem os
5
quais os contedos e objectivos fundamentais da disciplina se
perdem e se frustram.
Nesse sentido, ser necessrio sublinhar, por exemplo, que a
emergncia do filosofar no se d num deserto vazio de
acontecimentos, ou seja, necessrio identificar os alunos no s
com o que contemporneo filosofia, mas tambm com o que
est antes da prpria filosofia. Concretamente, impe-se a
apresentao dos factores de ordem histrica, poltica, social,
econmica e cultural que influenciaram e configuraram o perfil do
novo filosofar. Esta digresso que a Filosofia Antiga at certo ponto
se impe, por razes de ordem cientfica e pedaggica, uma vez
que anteriormente este campo se encontrava curricularmente
coberto pela cadeira, entretanto extinta, de Cultura Clssica,
atrasa necessariamente a entrada na Filosofia Antiga
propriamente dita.
Todavia, este atraso no se revelar tempo perdido. Pelo
contrrio, os alunos demonstraro, posteriormente, uma maior
destreza na compreenso e interpretao dos textos, testemunhos
ou fragmentos, revelando, inclusive, uma inesperada agilidade na
descoberta de uma segunda linha informativa, avanando
frequentemente com propostas interpretativas que s podem
acontecer mediante uma reserva de conhecimentos anteriormente
adquiridos.
Alis, atraso uma maneira de dizer, uma forma de ver,
muito mais uma fora de expresso, do que uma firme convico.
De facto, para que a disciplina de Filosofia Antiga no surja aos
alunos como uma pura abstraco solta num universo de
disciplinas que lhes falam de um tempo que lhes muito mais
prximo e familiar, necessrio que as aulas se constituam,
6
tambm, como um certo regresso ao passado, um passado que
rapidamente se revelar como algo de inesperadamente presente.
Esta regresso progressivamente compreensiva na ordem dos
acontecimentos, conduz os alunos at ao ponto, at ao lugar vivido
da filosofia. Esta introduo de uma componente, chame-se-lhe
sensitiva ou afectiva, no interior daquilo que se pretende que sejam
as origens da razo, no afecta nem subverte o rigor, a ordem e a
coerncia lgica na anlise do pensamento dos filsofos. Ao
contrrio, concomitantemente com o conhecimento dos grandes
acontecimentos que determinaro as origens da filosofia, o acesso
peripcia, ao episdio, ao conto, ao dito, ao lugar, ao trao
biogrfico daquilo que, numa primeira anlise, seria considerado
como marginal questo, conduz os alunos, mediante uma certa
razo sentida, anlise metdica e rigorosa do fragmento, do
testemunho, do texto, do conceito ou da theoria, tal como a uma
compreenso mais rpida das mesmas.
Na Filosofia Antiga, as questes, os diferendos que
constantemente ocorrem entre os diferentes intervenientes no
processo filosfico em curso, no podem ser exclusiva e
competentemente resolvidos e compreendidos atravs de uma
nica linha explicativa. necessrio entender que se est perante
uma trama que como tal representa o cruzamento e o conflito de
interesses, de pontos de vista e de interpretaes que compete
anlise rigorosa e interessada esclarecer.
A ttulo exemplificativo:
a) Tales, Anaximandro e Anaxmenes no constituram escola
filosfica nenhuma; Tales, Anaximandro e Anaxmenes no sabiam
propriamente a importncia do que andavam a fazer; Tales,
Anaximandro e Anaxmenes nunca viro a saber onde viro a ser
7
mais tarde colocados.
b) A ruptura profunda empreendida por Aristteles
relativamente a Plato leva-nos a querer ler mais Plato e a
procurar saber mais das razes de Aristteles.
c) A completa descredibilizao da sofstica levada a cabo
pela crtica tenaz e implacvel de Plato, logo seguida pela no
menos demolidora censura do circunspecto Aristteles, no deve
ser passada como se de mais um ponto do programa se tratasse.
altura de dar a palavra aos sofistas, de voltar a ler o testemunho de
Plato, e de fazer as pazes com os sofistas, e de continuar a
admirar Plato, uma vez que o seu pensamento vai surgindo cada
vez mais pujante e claro medida que a reabilitao dos sofistas
vai avanando. primeira vista, poder parecer contraditrio esta
sbita e igual admirao pelo pensamento dos Sofistas e pelo
pensamento de Plato. Mas no . Os alunos descobrem-no
atravs de um conhecimento de causa.
Enfim, a disciplina de Filosofia Antiga , igualmente, um
instrumento precioso na abordagem e compreenso da Histria da
Filosofia passada e futura, ensinando-nos o grau de envolvimento e
a distncia adequada relativamente a batalhas que so e j no so
nossas. Do encontro e da posse dessa desejvel equidistncia
depender a compreenso mais ou menos precisa da prpria
Filosofia Antiga. Ou seja, a Filosofia Antiga , tambm, uma
introduo Histria da Filosofia, uma vez que nos d a percepo
aproximada das circunstncias em que devemos abandonar o
presente para, colocando-nos do lado do passado, melhor o
compreendermos ou, ao contrrio, quando nos devemos aproximar
do presente para melhor entendermos o passado.
8
2. Anteriormente, referia-se o atraso, a demora da entrada em
cena da Filosofia Antiga, decorrente da necessidade de uma
contextualizao prvia emergncia do filosofar. Essa questo
ocorre novamente quando se trata de saber qual o ponto de partida
de um programa de Filosofia Antiga, que peso dever ser atribudo
a cada um desses pontos e em que medida devem ser mais ou
menos aprofundados os contedos desse programa. A resposta
questo no linear. Ainda que a disciplina de Filosofia Antiga se
enquadre num perodo bem determinado e claramente datado da
Histria da Filosofia, o entendimento e a apreciao que se podem
fazer dos diferentes momentos desse perodo to varivel que
consente diferentes pontos de vista sobre a questo.
Assim, poder-se- adiantar ou atrasar a entrada no
programa de Filosofia Antiga conforme o ponto de vista que se
adopte sobre o assunto. Se se considerar que o essencial desse
perodo da Histria da Filosofia Plato e Aristteles, tudo o que
sejam consideraes mais detalhadas sobre os chamados Pr-
Socrticos, Sofistas ou Scrates, ser considerado como uma
demora, um dispersar de tempo que deveria ser inteiramente
consagrado ao estudo das duas grandes referncias do
pensamento filosfico antigo e ocidental.
Ao contrrio, se se considerar que um programa de Filosofia
Antiga nunca poder ignorar algumas das mais originais e
inesperadas aventuras do esprito representadas por toda a linha
pr-socrtica, sofstica e socrtica, sem a qual, alis, a
compreenso segura e consistente do pensamento de Plato e
Aristteles nunca seria inteiramente conseguida, tender a
considerar que uma linha programtica como a inicialmente
referida, representa um falso avano, um salto incorrectamente
9
dimensionado, porque ignora e no preenche uma retaguarda j
profundamente tocada pelo esprito da Filosofia.
3. O programa de uma cadeira algo que pensado e
redigido em funo dos seus destinatrios. No caso vertente, os
alunos. Todavia, se verdade que um programa no pode ser
totalmente condicionado pelos alunos a quem se dirige, no
menos verdade que no deve ser pensado nem criado na pura
ignorncia ou no querer saber do pblico a que se destina, sob
pena de ver a sua efectiva exequibilidade perigosamente
ameaada. Desta maneira, o programa de Filosofia Antiga tem de
contemplar contedos, no caso em anlise, as origens da filosofia e
todo o pensamento filosfico pr-platnico, que, de antemo, sabe
que os alunos desconhecem e cuja compreenso absolutamente
necessria para o entendimento dos perodos subsequentes. No
pedaggica nem cientificamente correcto partir do princpio de que
os alunos sabem aquilo que no sabem ou vo por sua livre
iniciativa tratar de saber aquilo que qualquer docente com alguns
anos de docncia da cadeira sabe que dificilmente e s em casos
muito excepcionais ser levado a cabo.
Ora, esta opo por um programa de banda larga, a qual,
pelas razes anteriormente aduzidas, s em parte pode ser
entendida como inteiramente livre, , sem dvida, a opo pelo
caminho mais difcil, uma vez que impe uma gesto muito rigorosa
do tempo e dos contedos.
De facto, em tese ou de um ponto vista ideal, consideramos
que um aluno obteria uma boa formao em Filosofia Antiga se
tivesse tido tempo de abranger um programa que cobrisse o
extenso perodo que vai das origens da filosofia at s filosofias
10
helensticas inclusive. Ora, a experincia adquirida ao longo de
anos de docncia da cadeira, mostra que se trata de um objectivo
dificilmente alcanvel. No limite, verifica-se que, mesmo com um
criterioso controlo do tempo e dos contedos, no possvel ir mais
alm de Aristteles.
Todavia, no caso em anlise, que se reporta disciplina de
Filosofia Antiga no Curso de Filosofia da FLUP, graas a uma
efectiva prtica interdisciplinar e em virtude de um condicionalismo
muito especfico, esta dificuldade acaba por ser superada. Assim,
no s as filosofias do perodo helenstico como todo o perodo que
conduz progressiva decadncia da Cidade, de parceria com o
aparecimento do Imprio de Alexandre e a consequente
emergncia da civilizao helenstica, factores cujo conhecimento
absolutamente necessrio para a compreenso da essncia e da
evoluo das filosofias desse perodo, acabam por ser
efectivamente ministrados aos alunos do 1 ano de Filosofia. Esta
possibilidade fica-se a dever ao facto de, como anteriormente se
disse, se conseguir uma efectiva prtica interdisciplinar de parceria
com uma coordenao disciplinar horizontal, a qual permite que
esta matria transite para a cadeira de Temas e pocas da
Histria da Cultura, a qual se encontra no II semestre do plano de
estudos dos alunos do 1 ano de Filosofia e que, por coincidncia,
igualmente ministrada pelo docente da disciplina de Filosofia Antiga.
4. Dizamos anteriormente que a cadeira de Filosofia Antiga
ocupa o lugar adequado no tempo certo. De facto, o 1 ano , a
vrios ttulos, um ano decisivo. Trata-se do 1 ano do resto de um
Curso que pode vir a conhecer diferentes desfechos. Ou seja, no
1 ano que se comea a ganhar ou a perder os alunos para a
11
causa. Vrios anos de docncia, sobretudo no ano em anlise, de
parceria com o posterior reencontro com os mesmos alunos no 4
ano, atravs da docncia de outras disciplinas, e ainda graas a um
contacto mais prximo e frequente com os professores do 2 ano,
permitem-nos concluir que o plano de estudos do 1 ano e,
concretamente, o programa de Filosofia Antiga, no desencanta
nem afasta os alunos da prossecuo dos seus estudos. Cremos
que esse facto se fica a dever em larga medida aos contedos de
carcter cientfico e aos mtodos pedaggicos adoptados.
A docncia, ao longo de mais de vinte anos, de diferentes
cadeiras do 1 ano, levam-nos a concluir que, pese embora termos
realizado h vrios anos o antigo estgio pedaggico, o qual era
suposto ensinar o professor a dar aulas, no ter sido com o que
a aprendemos que encontrmos o caminho seguro e o modelo
indicado para a melhor docncia das diferentes cadeiras do 1 ano.
Alis, pode dizer-se que ainda hoje o modelo pedaggico
seguido nas aulas do ensino superior se encontra nos antpodas do
que continua a ser considerado e seguido, ao nvel do secundrio,
como pedagogicamente correcto. Enquanto aqui, diz-se, se
privilegia atravs de diferentes estratgias a participao activa e a
interveno directa dos alunos na abordagem das diferentes
matrias, no superior, o essencial das aulas mantm-se, diz-se, ao
nvel do registo expositivo e magistral do professor, o qual se
assume, pasme-se!, como mero transmissor do saber.
Esta diferena to profunda entre duas prticas pedaggicas
to prximas no tempo, levaria a concluir que, expostos violncia
de um tal choque, o insucesso e a insatisfao dos alunos no
tardariam a manifestar-se, surgindo logo ao longo dos primeiros
meses do 1 ano. Esse desencanto tornar-se-ia, alis,
12
inevitavelmente evidente, inclusive atravs dos inquritos cientfico-
pedaggicos a que periodicamente os alunos so chamados a
responder no mbito de um processo de auto-avaliao do Curso
de Filosofia. Ora, o que os resultados desses inquritos tm
demonstrado precisamente o contrrio. Relativamente s
disciplinas anteriormente referidas e, concretamente, relativamente
Filosofia Antiga, a satisfao e a adeso dos alunos situa-se
muito acima da mdia. Alis, o que os inquritos demonstram o
que qualquer professor com alguns anos de prtica docente deduz
ao fim de algumas aulas. De facto, no havendo qualquer nmero
obrigatrio de presenas nem a vigncia de qualquer regime
disciplinar que vise em concreto o espao e o tempo da aula,
constata-se um nvel constante de assiduidade e a criao
espontnea por parte de professor e alunos das condies
necessrias ao regular funcionamento da aula.
No cremos que o aluno perca qualidades ou competncias
participativas que era suposto ter anteriormente adquirido. Cremos,
ao contrrio, que o aluno descobre muito rapidamente a
necessidade de racionalizar essa participao, de tornar essa
participao mais selectiva, atravs da procura e aprofundamento
de uma pr-compreenso dos dados da questo.
Alis, bastam alguns anos de docncia para mostrarem que a
questo da participao uma coisa extremamente relativa. Assim,
ao longo de uma aula podem revelar-se diferentes cenrios: a) um
afastamento e alheamento surdo dos alunos e a consequente
percepo do professor da existncia de uma barreira fria e
intransponvel; b) muita participao, mas pouca substncia e
consistncia; c) participao centrada na interveno de um ou dois
alunos, a qual se afasta do contexto, desmobilizando
13
inevitavelmente a ateno do resto da turma. d) participao de um
significativo nmero de alunos, estabelecendo-se a partir da, ao
nvel da turma, um efectivo dilogo horizontal. Este o cenrio
ideal, raramente concretizvel, mais dos livros do que das aulas,
mais das teses do que das prticas.
Entretanto, h variadssimos factores que podem induzir a).
Entre outros, a desinspirao momentnea do professor que, por
vezes, pode coincidir com a apresentao de uma parte do
programa de dificuldade mais elevada; a existncia de uma turma
que, no seu conjunto, se apresenta distante, refractria a qualquer
tema, proposta ou estratgia pedaggica; b) e c) so
complementares. Trata-se de participaes de carcter
eminentemente inconsequente e pernicioso para o normal
funcionamento da aula. Por vezes, trata-se de uma situao
delicada para o professor, j que tem de regular e, frequentemente,
suster o fluxo incoerente de intervenes, dado que h
circunstncias em que no se alcana a auto-regulao das
mesmas atravs da livre troca de opinies. Daqui, pode decorrer
ainda uma outra consequncia claramente perversa. que, por
vezes, o professor, na base de uma avaliao incorrecta, tende a
considerar que os melhores alunos so aqueles que participam
muito, ignorando a necessidade de submeter a participao a um
critrio mnimo de oportunidade, de sentido e de qualidade.
Um outro cenrio que frequente e que geralmente
associado de uma forma errada e negativa chamada aula
expositiva, merece ser ainda referido, uma vez que continua a ser,
do nosso ponto de vista, o mais consistente e pedagogicamente
indicado. Uma aula aparentemente expositiva pode revelar-se uma
aula efectivamente participada, dado que a participao envolve
14
diferentes formas de expresso. Um professor experiente d-se
conta dessas diferentes maneiras de estar e participar, atravs da
palavra, do olhar, do gesto e do pensar dos alunos (ou seja, h
casos em que o professor pode acompanhar o pensamento do
aluno).
por isso que se deve dizer que, tal como no se aprende
depressa a medicina, tambm no se aprende depressa a
docncia. O que faz de um professor um bom professor
certamente o saber, o talento e a vocao. Mas tudo isso valer
pouco, porque insuficientemente aproveitado, se no receber o
acrescento e o tempero da experincia adquirida atravs da prtica
continuada da docncia.
claro que o professor continuar a enganar-se, a ver-se
induzido em erro. Mas, se um professor no passou distradamente
pelos anos de docncia, aprende cada vez melhor a ver o facies da
turma, a tomar-lhe o pulso, a interpretar os seus silncios ou a
decifrar o sentido das suas oscilaes. Nesse sentido, o professor,
se quiser, se deixar, pode aprender a apurar cada vez melhor
essa percepo fina das turmas e dos alunos, reduzindo cada vez
mais, ainda que no definitivamente, a inevitvel margem de erro
que inerente especificidade e ao exerccio da sua actividade (e
arte?).
5. O modelo seguido , como j anteriormente foi sugerido, o
da aula terico-prtica. A disciplina de Filosofia Antiga favorece,
inclusivamente, a adopo e a prtica de um modelo que contempla
e associa de uma forma equilibrada a componente terica e a
componente prtica da aula. Existem, concretamente, extensas
partes do programa onde se consegue uma constante alternncia e
15
circulao pelos dois modelos. Todo o extenso perodo referente ao
pensamento pr-platnico representa um bom exemplo dessa
possibilidade.
Assim, o estudo de qualquer filsofo pr-socrtico dever
partir sempre da distribuio pelos alunos, dos seguintes elementos
de consulta: um mapa representativo da geografia da filosofia, uma
vez que a filosofia pr-socrtica se distribui ao longo de uma
extensa rea geogrfica com trs centros de capital importncia: a
Grcia do oriente, a Grcia do continente e a Grcia do ocidente ou
Grande Grcia; uma grelha cronolgica, uma vez que os filsofos
ditos pr-socrticos distribuem-se ao longo de um perodo que vai
do sculo VII a. C. ao sculo V a. C.; uma compilao dos
testemunhos, fragmentos e textos existentes. A partir da, possvel
passar-se em revista datas, vida, obra e pensamento do filsofo em
causa. Depois de uma primeira leitura dos diferentes elementos de
consulta, passa-se fase da marcao do texto. Ou seja, trata-se
de uma segunda aproximao ao fundo do texto, procurando-se
agora proceder a uma triagem, separao, escolha ou escrutnio, de
modo a conseguir uma progressiva ordenao temtica em ordem
ao estabelecimento de um logos do filsofo. Por logos do filsofo
entenda-se o fio condutor, o discurso, a razo (de ser), a estrutura
do seu pensamento.
A partir de agora, possvel olhar o texto como algo
coerentemente articulado e proceder a uma terceira investida na
base de uma anlise diferenciada de cada um dos seus elementos.
Assim, o pensamento do filsofo que, numa primeira leitura corrida,
tinha surgido como algo que, de to fragmentado, parecia no
dispor dos meios necessrios a uma recomposio verosmil, surge
agora dotado de uma clara unidade e coerncia.
16
Esta metodologia igualmente aplicvel ao estudo do
pensamento dos sofistas, atravs de uma compilao dos
testemunhos, fragmentos, passagens mais ou menos extensas dos
dilogos de Plato e referncias directas ou indirectas na obra de
Aristteles. claro que cada sofista um caso e, nessa medida,
no h uma estratgia de aproximao, mas estratgias.
Tomando como exemplo os casos de Protgoras e de
Grgias, diremos que, relativamente ao primeiro, no temos
praticamente nada no que respeita a fragmentos ou passagens
fidedignas e o que existe levanta srias dificuldades de
interpretao. Assim, como bvio, temos de nos socorrer de
testemunhos de terceiros e, neste caso, de uma forma muito
extensa, do testemunho de Plato. Mas ento agora, j no se trata
unicamente de proceder reconstituio e compreenso do
pensamento do sofista; trata-se de, prioritariamente, descortinar o
que se oculta por detrs do testemunho de Plato, encontrar
atravs do dito o que no dito e tentar uma aproximao a
Protgoras exactamente por esse lado no mostrado, oculto.
Igualmente, com Aristteles, ainda que de uma forma no to
intensa, uma vez que ele no exerce uma presso to forte sobre o
sofista, necessrio um redobrar de cuidados interpretativos. No
se trata j de ler por detrs do dito o no dito ou de mostrar o
deliberadamente encoberto. Mas, mesmo assim, h que ler bem a
palavra sria e convicta de Aristteles, para, atravs e alm da
mesma, chegar palavra igualmente sria, convicta e original de
Protgoras.
Ao contrrio, a existncia de um conjunto de passagens de
considervel extenso de algumas obras de Grgias, ir permitir
uma abordagem do pensamento do sofista em moldes bastante
17
diferentes e, cremos, mais seguros. Assim, a aproximao ao
sofista ser feita no s pelo lado dos testemunhos, mas,
essencialmente, pelo centro do seu pensamento. A ttulo de
exemplo, o Tratado Da Natureza ou Acerca do No Ser, tal como o
Elogio de Helena, constituem uma fonte preciosa de informao que
permite uma reconstituio do pensamento do sofista em bases
bem mais seguras do que aquelas que serviram de apoio
recomposio do pensamento de Protgoras.
Por ltimo, refira-se que, j anteriormente, no captulo sobre
Introduo terminologia filosfica, na abordagem do conceito de
Ser, e na sequncia da oposio entre razo trgica e razo
filosfica, a sofstica j havia sido convocada tal como a sua relao
difcil com Plato. Na altura, e em termos genricos, a questo
colocada era seguinte: no haver uma relao estreita entre o
desprezo e a rapidez com que Plato procede expurgao da
tragdia e a violncia de que se reveste o seu combate sem trguas
contra a sofstica? Ou seja, Plato ter-se- dado conta de que, tanto
o pensamento trgico como o pensamento dos sofistas, partilhavam
de um terreno, de um fundo problemtico comum, e mais, de que
ambos seguiam no sentido de que a soluo desse fundo
problemtico comum era insolucionvel. Mas, enquanto a tragdia
se tinha posicionado de maneira a poder ser arrumada no dossier
das artes, ficando imediatamente de lado, isto , do lado das
manifestaes artsticas proibidas, a questo da sofstica parecia de
soluo mais difcil. No sendo possvel ignorar a sofstica, era
necessrio arranjar-lhe um lugar, para, posteriormente, elimin-lo e,
com ele, a prpria sofstica. Ora, a sofstica parecia aspirar ou
mesmo estar segura do seu lugar na filosofia. Plato ter-se-
apercebido, ento, de uma forma clara, da fora e do perigo desta
18
candidatura, uma vez que havia ali filosofar, mau, certo, segundo
o projecto platnico, mas, ainda assim, filosofar
Entretanto, j relativamente a Scrates a situao diferente,
uma vez que a temos de nos socorrer exclusivamente de fontes
indirectas, de testemunhos, concretamente, das fontes
tradicionalmente consideradas (Aristfanes, Plato, Xenofonte e
Aristteles), no sem antes ter de proceder a uma anlise e
discusso rigorosa da validade das mesmas.
Assim, relativamente fonte Aristfanes, a leitura e
interpretao de algumas passagens da Comdia As Nuvens
revela-se duplamente producente. Mostra como, na poca, um
sector extremamente influente da opinio pblica ateniense via a
filosofia, mas ajuda a compreender, tambm, como a srie de
acusaes que impendem sobre Scrates em 399 a. C., j se
encontravam formuladas, no essencial, anos antes, na pea de
Aristfanes. Por outro lado, Scrates funciona como uma primeira
introduo a Plato, uma vez que, para ensaiarmos uma
aproximao ao seu pensamento, temos de ler Plato, e, a partir
da, tentar estabelecer a fronteira exequvel entre o Scrates
histrico, autntico, propriamente socrtico e o Scrates visto,
sonhado, marcadamente platnico.
Em sntese, a tentativa de reconstruo de um pensamento
propriamente socrtico implica, por um lado, a derivao e incurso
por reas no directamente contempladas no programa (Aristfanes
e Xenofonte), ao mesmo tempo que antecipa outras que ho-de vir
(Plato e Aristteles). Assim, quando chegamos a Plato, como
se, de uma certa forma, j l tivssemos estado; e, no momento em
que iniciamos o estudo do seu pensamento, como se, de alguma
maneira, o dossier Scrates no se encontrasse ainda
19
definitivamente encerrado.
Entretanto, relativamente a Plato e a Aristteles, adopta-se
uma estratgia que, numa primeira anlise, poder parecer menos
aconselhvel, seno mesmo pedagogicamente incorrecta.
Tentaremos demonstrar, ao contrrio, com base numa continuada
prtica docente, que se trata de uma metodologia no s
inteiramente defensvel como pedagogicamente indicada.
Concretamente, numa primeira fase, elege-se um conjunto de
temas que, no s do nosso ponto de vista como tradicionalmente,
so considerados pilares fundamentais do pensamento desses
filsofos, seno mesmo de todo o pensamento que atravessa a
Histria da Filosofia. Nomeadamente, a teoria do conhecimento, a
teoria do Ser, a teoria das origens, a teoria poltica e a tica so
temas sempre presentes ao longo de toda a Histria da Filosofia.
Obviamente que, nesta fase, na sequncia da abordagem
dessas temticas, surgem referncias a aspectos muito especficos
das doutrinas de cada um dos filsofos: teoria das ideias,
reminiscncia, teologia, intelecto activo, intelecto passivo, motor
imvel, etc. Trata-se de um primeiro contacto com o pensamento,
mas no ainda com a obra; pretende-se uma aproximao e uma
progressiva identificao com uma determinada linguagem e
terminologia especfica que favorea uma crescente compreenso
do pensamento dos filsofos e que funcione como um primeiro
estmulo para a posterior abordagem das obras.
Ora, geralmente, esta estratgia, neste momento, j
apresenta resultados, uma vez que os alunos comeam a
manifestar uma certa agitao ou curiosidade, um certo querer
saber mais, ou seja, comeam a interrogar-se e a interrogar: que
estatuto atribuir ao mundo das ideias? E ao mundo sensvel? Que
20
tipo de relao/participao se estabelece entre ambos? Como
articular a teoria do conhecimento com a teoria da reminiscncia?
At que ponto h pitagorismo a correr nas veias do platonismo? Em
que bases e a partir de que pressupostos introduz Plato uma teoria
da reminiscncia? Que tipo de relao se estabelece entre o
demiurgo e o mundo sensvel e inteligvel? Como compatibilizar a
crtica de Aristteles teoria das ideias de Plato e consequente
duplicao dos mundos, com a sua concepo de Motor Imvel e
da relao deste com o Mundo? Ou seja, como entender e conciliar
o carcter transcendente e ignorante do Motor Imvel, com a crtica
de Aristteles deriva transcendente de Plato patente no mundo
das ideias? Qual o estatuto do intelecto activo ou agente? Trata-se
da parte imortal da alma racional? Que tipo de relao se pode
estabelecer entre intelecto agente e intelecto paciente? Existe
alguma relao entre a ideia platnica e a forma aristotlica? Por
que razo Plato to severo com a cultura clssica e com as artes
em geral? E que posio adopta Aristteles relativamente mesma
questo? Como que a utopia poltica de A Repblica, ainda que
posteriormente temperada pelas Leis, deve ser considerada como
uma obra de um cidado que vive a Cidade no de fora, mas do
mais fundo dentro, no concebendo, inclusive, outro espao
possvel de civilidade? E como que a extrema razoabilidade de A
Poltica de Aristteles redigida por algum que, no sendo
cidado, sentindo fundo o seu estatuto de estrangeiro, sabe to
bem da Cidade, e que, tal como Plato, no admite outro espao de
civilidade?
Enfim, esto criadas as condies para pr em marcha a fase
seguinte que consiste numa abordagem directa das obras dos
filsofos. Ou seja, conseguiu-se, de uma forma relativamente
21
prxima, um conhecimento dos aspectos e tendncias
fundamentais do pensamento do filsofo. Essa possibilidade ficou a
dever-se abertura ou conquista de um espao de saber que
consente uma determinada mobilidade ou liberdade de escolha das
obras e das respectivas passagens que podero responder s
questes inicialmente suscitadas.
Assim, rapidamente, verifica-se a existncia de um conjunto
de dilogos de Plato que se constituem no s obras de consulta
obrigatria como de consulta recorrente. Ou seja, podemos ter de
abordar determinada parte de um dilogo a propsito de
determinada problemtica e, logo a seguir, sair para entrar num
outro dilogo que toca a mesma temtica; posteriormente, outras
questes podero impor um regresso aos dilogos j consultados,
atravs de outras passagens.
Um s exemplo: A Repblica funciona sempre como um ponto
de partida e um lugar de regresso. A problemtica gnosiolgica, os
nveis do conhecimento, a importncia das diferentes cincias, o
prprio processo do conhecimento, levam-nos a entrar pelo lado
das alegorias do Sol, da Linha Dividida ou da Caverna. Mas remete-
nos, igualmente, para incurses no Mnon, Parmnides, Teeteto,
ou Sofista. E, uma vez que esta abordagem vai suscitar
necessariamente a teoria da reminiscncia, abre-se uma nova
frente que ir incidir no estudo do papel da alma no processo do
conhecimento. Na decorrncia deste processo, verificar-se- que
necessrio ir mais longe e averiguar qual a concepo de alma
defendida por Plato. O estudo desta questo, entretanto, ir fazer
surgir uma outra, que se prende com a compreenso do estatuto do
mito no contexto da sua produo filosfica. Ou seja, nesta altura,
uma srie de dilogos j tero sido pela primeira vez consultados,
22
enquanto outros tero sido objecto de uma segunda ou terceira
leitura. Em concreto, verifica-se que foram convocados, novamente,
o Mnon e a Repblica, enquanto se estabeleceu um primeiro
contacto com, entre outros, o Fdon, o Fedro ou mesmo o Timeu.
Por outro lado, a questo das origens conduz-nos novamente
ao Timeu, mas sugere, igualmente, uma passagem pelo Crtias e,
mais uma vez, um regresso ao Timeu.
A teoria poltica traz-nos de volta Repblica, mas convida,
ao mesmo tempo, a um rpido regresso e consulta do Protgoras
ou do Grgias, entre outros, tal como aconselha a ir mais frente,
consultar O Poltico, e, inclusive, a ir mais alm, at s Leis, para
confirmar que, da parte de Plato, se procedeu a uma certa reviso
tardia de alguns aspectos mais polmicos e dificilmente aceitveis,
defendidos, anteriormente, em A Repblica.
Entretanto, relativamente a Aristteles, ainda que o seu
pensamento e a sua obra signifiquem uma maior estabilidade e
clareza de procedimentos, ou no estivssemos perante o criador
da prosa cientfica e da forma expositiva
1
, no decorre da que,
muito frequentemente, no surja a necessidade de, a propsito de
determinada questo, percorrermos e confrontarmos mais do que
uma obra do filsofo.
Assim, e a ttulo meramente indicativo, se se trata do estudo
do pensamento poltico, obviamente que o mesmo remete
directamente para a Poltica, mas, no dispensa, igualmente, uma
incurso pela Constituio dos Atenienses ou pelas ticas
Nicomachea ou Eudemia.
Se a questo se prende com o esclarecimento do estatuto do
1
Ingemar Dring, Aristteles, Heidelberg, 1966, 99. 19-20, apud M. H. Rocha Pereira,
Estudos de Histria da Cultura Clssica, Lisboa, F.C.G, 1970, p. 378.
23
Motor Imvel, no contexto da filosofia aristotlica, ento
necessrio recorrer leitura da Fsica e da Metafsica e,
posteriormente, proceder a um confronto, anlise e interpretao
das respectivas passagens, nas duas obras.
Por outro lado, a teoria do conhecimento, que remete
directamente para a relao entre intelecto activo e intelecto
passivo, levanta, obrigatoriamente, a questo da concepo
aristotlica de alma. Esta, por sua vez, suscita outras questes que
se prendem com a eventual separabilidade dos intelectos, a
possibilidade da sobrevivncia da alma ou intelecto individual ou,
ainda, a eventual existncia/presena de um intelecto divino. Ora,
todas estas questes impem, necessariamente, uma consulta e
confrontao de diversas passagens de diferentes obras, tais como,
o De Anima, a Metafsica, Parva Naturalia, os Analticos
Posteriores ou, inclusive, a tica Eudemia.
Enfim, evidente que, pese embora a importncia e a
extenso dos contedos abordados, o estudo do pensamento de
Aristteles, atravs da sua obra, no ficou ainda concludo, como,
alis, j antes havia sucedido com Plato. Mas, como vem sendo
salientado ao longo desta rpida digresso, a qual visava,
essencialmente, a apresentao da aplicao prtica de alguns dos
pontos do programa proposto para Filosofia Antiga, trata-se,
simultaneamente, de uma inevitabilidade e de um risco ou opo
ponderada.
De facto, a partir de um ncleo fixo ou central de questes de
abordagem obrigatria, questes que so j em si o resultado de
uma opo de carcter cientfico-pedaggico, decorre o progressivo
aparecimento de uma periferia temtica, a qual remete
necessariamente para a anlise e interpretao de um conjunto de
24
obras que se vm a revelar de consulta no s recorrente como
igualmente obrigatria.
Em rigor, como j se disse, no se poder afirmar,
obviamente, que os alunos realizaram um estudo da obra de Plato
e de Aristteles, na sua totalidade. Mas, na verdade, dever-se-
dizer que a metodologia seguida, atravs de repetidos contactos,
experincias e incurses pelas diferentes obras, permitiu a
aquisio de tcnicas de abordagem, interpretao e
relacionamento com o texto que antes eram desconhecidas. A partir
de agora, elas funcionaro como instrumentos ou meios de
abordagem e de consulta, definitivamente adquiridos, e que
podero ser postos em prtica nas mais variadas circunstncias
com que por certo os alunos se iro defrontar, ao longo dos
prximos anos.
Enfim, os alunos adquiriram um conhecimento razoavelmente
satisfatrio, tanto em extenso como em profundidade, dos temas e
problemas que foram surgindo a partir de um contacto directo e
continuado com o pensamento dos autores propostos.
Progressivamente, foram-se apropriando dos meios e das tcnicas
que lhes permitiro, da em diante, proceder s diferentes
aproximaes que os textos sugerirem e impuserem, ou seja, os
alunos aprenderam como procurar, onde encontrar e como
interpretar.
Reconhea-se, em concluso, que, findo o ano lectivo, se de
entre os diferentes objectivos atingidos, os alunos tiverem adquirido
o gosto pela descoberta, a curiosidade pelo desconhecido, o prazer
da leitura e uma certa destreza na utilizao dos instrumentos que
lhes permitam a concretizao eficaz e efectiva dessas
competncias, deve considerar-se e registar-se (em relatrio de
25
disciplina) que os objectivos essenciais, inicialmente propostos
para a disciplina, foram inteiramente alcanados.
6. Em nota final, afigurara-se, pelas razes anteriormente
apresentadas, como da mxima importncia e como resultado de
uma boa compreenso e correcto procedimento tanto cientfico
como pedaggico, a manuteno da cadeira de Filosofia Antiga,
pelo perodo de dois semestres, no primeiro ano de qualquer plano
de estudos de Filosofia. Dois semestres ser o perodo mnimo
indicado e aceitvel, tanto do ponto de vista pedaggico como do
ponto de vista cientfico. Se, em tese, qualquer futura reestruturao
curricular viesse a reduzir ainda mais este perodo, estaria a
amputar o Curso de Filosofia de um pilar fundador e continuamente
presente e convocado ao longo de todo o Curso. Esta
transversalidade, esta recorrncia, esta presena da Filosofia
Antiga muito para alm do primeiro ano, constantemente testada
e confirmada atravs da sua frequente apario nos programas e
nas aulas de anos subsequentes.
Acresce, ainda, constatar-se uma crescente curiosidade,
interesse e procura, ao longo dos ltimos anos, pelos temas do
pensamento e da cultura clssica, em geral, e da Filosofia Antiga,
em particular.
As muitas e excelentes edies e tradues, em diferentes
lnguas, e, no caso concreto, em portugus, que se tm feito nos
ltimos tempos das mais variadas obras e temas do pensamento
clssico, so um testemunho seguro desse crescente interesse e
procura
2
. A estas iniciativas juntam-se as diferentes publicaes
2
Refira-se, a ttulo meramente indicativo, as monumentais tradues para portugus da liada e
da Odisseia de Frederico Loureno; um consistente plano peridico de tradues de textos
clssicos, levado a cabo pelas Edies 70, e a cargo de eminentes especialistas como, entre
26
peridicas da especialidade, as diversas associaes de prestgio
internacional ligadas directamente investigao e divulgao do
pensamento e da cultura antiga, tal como a presena constante
destes mesmos temas em diferentes revistas de cultura e de
filosofia
3
.
Como nota final a esta introduo, a qual, recorde-se, visava
salientar a importncia e o interesse desta cadeira no Curso de
Filosofia, diremos que, a manuteno da Filosofia Antiga (e, por que
no?, da Cultura Clssica) no plano de estudos do Curso, a
promessa de um continuado gosto pelo filosofar e pela filosofia e a
esperana na permanncia de uma certa ideia, cada vez mais frgil,
de Ocidente. Ocidente das humanidades, dos rostos, dos valores e
dos princpios. Ocidente que, para o melhor e para o pior, de
origem e de fundo eminentemente grego.
outros, a eminente helenista Prof. Maria Helena da Rocha Pereira; a verso completa e
bilingue de a Poltica de Aristteles; a traduo para espanhol da totalidade dos Tratados
Hipocrticos, a cargo de Carlos Garcia Gual; a traduo para francs da monumental obra de
Mrio Untersteiner, I Sofisti, a cargo de Alonso Tordesillas e com um extenso e precioso
prefcio/ensaio do eminente helenista Gilbert Romeyer Dherbey.
3
Apresentar uma relao dessas publicaes no se enquadra no mbito desta introduo.
Todavia, e, mais uma vez, a ttulo meramente exemplificativo, refira-se o peso e a importncia
atribuda aos temas da cultura e do pensamento antigo, em publicaes de associaes de
filosofia de grande prestgio internacional, como o caso da American Philosophical
Association; Centre dtudes sur la Pense Antique Kairos kai Logos; The International
Association for Greek Philosophy; International Plato Society ou Society for Ancient Greek
Philosophy.
27
FILOSOFIA
ANTIGA
PROGRAMA
28
AS ORIGENS DA
FILOSOFIA
29
I
A PERIFERIA DA FILOSOFIA
1. O Ocidente prepara-se a Oriente: o eixo Atenas/Mileto. Os Gregos e as
Grcias
2. A Cidade
3. A Escrita
4. O Direito
5. A Religio
6. A Cultura
II
O INTERIOR DA FILOSOFIA
1. Histria de uma palavra recente (philo-sophia)
2. Um impertinente assdio pelo olhar (episteme/theoretike)
3. Cavalgando a onda do espanto (arche/thaumazein/pathos)
4. O segredo de uma relao tensa e frutuosa (agon/philia)
5. O recuo do candidato (sophos/philosophos)
6. O que fazer com este [no] saber? (theoria/praxis)
30
III
INTRODUO TERMINOLOGIA FILOSFICA
1. Aporia, Euporia, Diaporia
2. A Arche como origem e domnio continuado.
3. Por uma Verdade [aletheia] sem manto.
4. A comunidade Logos/Mythos e a emergncia do conceito de razo.
5. Fundo e sem-fundo ou a questo do Ser [on]. Razo filosfica e Razo trgica.
6. A Physis como estrutura de origem e o conflito de naturezas.
7. O aparecimento da Ideia [eidos] como essencializao da Coisa [eikon].
IV
A PREMNCIA DAS ORIGENS
Conceitos contidos na ideia de Origem
1. Conceito de lugar
2. Conceito de tempo
3. Conceito de processo
As origens e a estrutura psquica do indivduo
1. Maior racionalidade
2. Menor opacidade
3. Maior aco
4. O desejo das origens: desejo, procura e punio
31
As origens e o equilbrio individual e colectivo
1. Dominio da historizao
2. Domnio da ordenao
3. Domnio da aco
32
OS FILSOFOS
PR-
SOCRTICOS
33
I. Nota sobre uma designao imprecisa
II. Nota sobre uma Histria que [ainda] no existe
I. OS MILSIOS
TALES. Um homem de rupturas
1. O local, as datas e a obra
2. A notcia de Plato
3. A notcia de Aristteles
4. A polivalncia de Tales
5. As frases atribudas a Tales.
6. Recomposio do contexto.
7. Tentativa de articulao coerente das frases
8. A importncia de Tales como um pensamento de ruptura
ANAXIMANDRO. Uma physis tutelar
1. O local, as datas e a obra
2. A polivalncia de Anaximandro
O FRAGMENTO DE ANAXIMANDRO:
1. As Fontes
a) Aristteles
b) Teofrasto
c) Simplcio
d) Hiplito
e) Pseudo-Plutarco
34
2. Physis
a) Anlise do conceito
b) Nos pr-socrticos em geral
c) Em Anaximandro
d) A physis e os deuses
3. Arche
a) Anlise do conceito
b) Ocorrncias anteriores
c) Em Anaximandro
4. Apeiron
a) Sentido qualitativo do conceito
b) Sentido quantitativo do conceito
c) Sentido qualitativo e quantitativo do conceito
d) Carcter divino
e) O que o apeiron no :
- imaterial
- determinado
- criado
- intermdio
- mistura
- mortal
f) Porqu o apeiron?
- Aristteles, Fsica, passagem 1): discusso
- Aristteles, Fsica, passagem 2): discusso
- Concluso
35
5. A questo dos mundos inumerveis
a) Coexistentes no tempo: discusso
b) Sucessivos no tempo: discusso
c) Terceira via: discusso
6. O castigo, a retribuio, a injustia e o decreto do Tempo
a) O conflito dos contrrios
b) A constante reposio dos nveis de equilbrio
c) O carcter da falta cometida
d) O carcter arbitral do Tempo como juiz da
viabilidade csmica
e) A polis como inspirao de uma metfora de raiz
legalista
6. Termos poticos
a) A permanncia da influncia do estilo potico
b) A relao frutuosa entre prosa e poesia
c) Transposio para o plano filosfico de um tema de
fundo potico
COSMOGONIA. A ORIGEM DO MUNDO:
1. Origem dos contrrios
a) Aristteles, Fsica, passagem 1): discusso
b) Pseudoplutarco, Stromateis, passagem 2):
discusso
c) Concluso
36
2. Disposio e organizao dos contrrios
a) O processo
b) Os primeiros momentos do Universo
COSMOLOGIA. A ORDEM ACTUAL DO MUNDO:
1. A Terra
a) O processo de formao
b) A forma
c) A estabilidade
d) A centralidade
2. Os corpos celestes
a) O processo de formao
b) A forma
c) A localizao
d) As dimenses
e) Os eclipses
ORIGEM DA VIDA ANIMAL E HUMANA
1. A origem da vida na Terra
2. A origem da vida animal
3. A origem da humanidade
37
ANAXMENES. Uma soluo de compromisso
1. As fontes. O local, as datas e a obra
2. O fragmento de Anaxmenes
a) Tales demasiado concreto
b) Anaximandro demasiado discreto
c) A descoberta de uma terceira via como meio natural: aer
d) Caractersticas e virtualidades do aer como arche
e) Do mais slido ao mais dctil: condensao e rarefaco
f) A akosmia pr-csmica
g) Os primeiros instantes do Universo: o despertar da alma do mundo.
Uma psyche de batimento certo e ritmado.
h) O Mundo como uma machina e como um organismo: o trao
animista
II. PITGORAS E O PITAGORISMO. Uma religio e uma cincia
1. As fontes para o conhecimento de Pitgoras e do Pitagorismo:
a) Plato
b) Aristteles
c) Jmblico
d) Porfrio
e) Herclides Pntico
2. No caminho do Pitgoras histrico. Os locais e as datas. A obra: renncia
escrita
3. A confluncia do trao jnio e do trao italiano no pitagorismo
4. A componente mstico-religiosa do pitagorismo
38
a) Influncias rficas
b) A concepo de alma
5. A relao estreita entre a componente religiosa e a componente cientfica da
Escola Pitagrica.
6. Temas fundamentais da vertente cientfica (-religiosa) da Escola Pitagrica.
III. XENFANES. Poeta e Filsofo.
1. O local, as datas, a obra.
2. A persistncia da expresso potica como veculo do pensamento filosfico.
3. A polmica ligao a Eleia.
4. Um poeta contra os poetas.
5. Um crtico implacvel do saber e das crenas institudas.
6. Alternativas inditas e consistentes teologia tradicional.
7. Avanos e retrocessos no programa cosmolgico. Um ensaio de trabalho de
campo.
8. Introduo da problemtica gnosiolgica: valor e limites do conhecimento.
IV. HERACLITO. O rio e as margens
1. Local, datas e obra.
2. A questo das fontes.
3. Um livro?
39
4. Uma personagem enigmtica e obscura, brilhante e clara.
5. Um crtico contumaz de toda a inteligncia consagrada.
a) Contra os poetas
b) Contra os mdicos
c) Contra os filsofos
d) Purificao da religio tradicional
6. As traves mestras do pensamento filosfico: o logos e os contrrios.
a) O logos em verses aparentemente diferentes
b) O rio e a unidade dos contrrios: a unidade que liberta o devir
c) O deus que arde o mundo e acalenta a medida
7. Cosmologia.
a) O papel central do 4 elemento (fogo) e regresso ao logos
b) O segredo da ordem e do equilbrio
c) O papel purificador e redentor do 4 elemento e regresso a deus
8. A Alma.
a) A relao da alma com o mundo
b) A purificao da alma
c) Alma e eterno retorno
9. Nota final. Heraclitismo : um sistema global, coerente e em circuito fechado.
V. PARMNIDES. A tirania do Ser
1. Local, datas e obra. O passado pitagrico.
2. O Poema de Parmnides
40
a) O estilo
b) As partes
3. O Preldio ou Introduo Alegrica
a) A razo de um estilo: significado da expresso oracular
b) Pesquisa e interpretao dos traos simblicos
c) O Preldio como antecipao de crticas e preparao de defesas.
4. A Via da Verdade
a) Mtodo rigoroso; argumentao densa e concisa
b) Mapa dos trs caminhos: / no / e no
c) A indistino entre existencial e predicativo
d) A premncia do primeiro caminho: estin
e) A impensabilidade do segundo caminho: ouk estin
f) Anncio da Via da Aparncia:
- a aparente viabilidade e a perigosa admissibilidade do
terceiro caminho:estin kai ouk estin
- os eventuais destinatrios da bicefalia:
- hiptese Heraclito: discusso
- hiptese Pitagorismo: discusso
g) A identificao entre Ser e Pensar
5. A Via da Aparncia
a) Uma inverso na ordem dos acontecimentos
b) O carcter didcico-pedaggico da Via da Aparncia
c) A salvao das aparncias na tese W.K.C. Gutrie
41
VI. ZENO. Um discpulo fiel
1. Local, datas, obra, actividades
2. Uma argumentao agnica e dialctica
3. A cultura do para-doxo
4. A defesa intransigente das teses de Parmnides:
- argumentos contra o espao
- argumentos contra a pluralidade
- argumentos contra o movimento
VII. MELISSO. As cedncias necessrias
1. Local, data, obra, actividades
2. A defesa do Ser parmendeo atravs da sua infinitude
3. A defesa do Ser parmendeo atravs da sua incorporeidade
4. O resultado das cedncias de Melisso
VIII. EMPDOCLES. Um projecto global
1. Local, datas, obra, actividades.
2. As obras Acerca da Natureza e Purificaes. A questo:
complementaridade ou incompatibilidade?
3. Anlise da obra Acerca da Natureza.
42
a) Uma pesada herana: Parmnides
b) As concesses ao Ser parmendeo:
- nascer/perecer
- realidade/irrealidade
c) A subverso do Ser parmendeo:
- introduo da pluralidade
- introduo do movimento
- reabilitao dos dados dos sentidos
- as fases do ciclo csmico
- as fases do ciclo csmico e o nosso mundo
- cosmogonia e cosmologia
- as fases da evoluo dos seres vivos
- relao entre as fases do ciclo csmico e as fases da
evoluo dos seres vivos
4. Anlise da obra Purificaes
a) Recuperao de uma linha xamnico-religiosa de matriz
pitagrica
b) As fases da vida da alma
c) O ciclo das transmigraes/reencarnaes
d) Metodologia da purificao e fuga ao ciclo
5. Experincias e teorias extra-curriculares
a) Na rea da fsica: a clepsidra
b) Na rea da fisiologia: o stio do conhecimento
43
IX. ATOMISTAS: LEUCIPO E DEMCRITO. Exclusivamente tomos
1. Leucipo e Demcrito: o local, as datas, as obras:
- a incerteza relativa correcta atribuio das diferentes obras a
cada um dos filsofos.
2. Os atomistas perante Parmnides:
- a subverso do Ser parmendeo
3. A teoria dos tomos:
a) As caractersticas essenciais dos tomos
b) A forma, a posio e a disposio
c) Os tomos e o movimento
d) Os tomos e a formao dos corpos
e) Os tomos e as diferenas qualitativas entre os corpos
f) Os tomos e a alma
4. Cosmogonia e Cosmologia:
a) Os tomos e a formao do mundo
b) A origem e a natureza dos corpos celestes
c) A teoria dos mundos inumerveis
4. Princpios de uma teoria do conhecimento:
a) O ser e a aparncia
5. Teologia:
a) Os deuses e as origens da crena
b) O conhecimento e o futuro da humanidade
44
OS SOFISTAS
E
SCRATES
45
X. ATENAS, SCULO V: UMA POCA DE MUDANA
1. Os novos contextos:
a) Poltico
b) Social
c) Econmico
d) Intelectual
e) Cultural
2. Tragdia, Medicina, Filosofia
a) Caractersticas essncias da razo trgica: o caso
Antgona:
- coro e conscincia cvica
- protagonista e conflito entre passado e presente
- os duplos discursos
b) Caractersticas essenciais da razo mdica: o caso
Hipcrates:
- o significado do primeiro cdigo deontolgico
- a relao mdico/paciente, mdico/doena
- a relao entre sensibilidade e inteligncia
- o conceito de logos
- o conceito de techne mdica
- o conceito de natureza
- o conceito de natureza humana
- o conceito de kairos e o conceito de tyche
46
c) Caractersticas essenciais da razo sofstica:
- o carcter filosfico do pensamento dos sofistas
- os temas fundamentais da reflexo sofstica
- pensadores sem Escola
- um cdigo deontolgico?
- o sentido de uma sofstica de primeira e segunda
gerao
- a influncia da tradio platnico-aristotlica na
transmisso do pensamento dos sofistas
d) Quatro sofistas: Protgoras, Grgias, Trasmaco e
Antifonte
Protgoras:
- Local, datas e obras
- Anlise das Antilogias
- Anlise da Verdade
- Anlise do mito do Protgoras de Plato
- Protgoras no Teeteto: anlise da
interpretao de Plato
- A teoria dos discursos forte e fraco: anlise
da notcia de Aristteles na Retrica
- Concluso
Grgias:
- Local, datas e obras
- Anlise do Tratado Acerca da Natureza ou do
No Ser : defesa do carcter filosfico da obra
47
- Anlise do Elogio de Helena: defesa do carcter
filosfico da obra
- Relao entre as duas obras
- Retrica e Filosofia
- Concluso
Trasmaco:
- Local, datas e obras
- Anlise do testemunho de Plato no Livro I de A
Repblica
- Anlise do fragmento Sobre a Constituio
- Anlise do fragmento Sobre os Deuses
- Concluso: para alm da antilogia; pela
Concrdia
Antifonte:
- Local, datas e obras
- A identidade: a questo antifntica
- A ontologia e cosmologia antifntica a partir
da anlise do testemunho de Aristteles na
Fsica: rhythmos/arrythmiston
- O pensamento poltico: anlise da Verdade.
Natureza e Conveno
- tica e Antropologia: anlise da Concrdia.
Natureza e Conveno. Natureza e
Condio Humana
- Concluso
48
e) Scrates:
- Local, datas
- Fontes para o conhecimento de Scrates:
Aristfanes, Plato, Xenofonte, Aristteles
e escolas socrticas menores
- Anlise e crtica das fontes
- Anlise das fases da evoluo do
pensamento de Scrates: naturalista,
sofista, socrtica
- A condenao de Scrates:
as peas da condenao
anlise e crtica das mesmas
as razes da condenao
- Temas e orientaes filosficas
fundamentais
49
PLATO
E
ARISTTELES
50
XI. PLATO
1. Datas, vida e obra
2. Acontecimentos capitais
3. A obra:
a) Cronologia e critrios de autenticao:
- a componente literria
- a componente filosfica
- a componente lingustica e estilstica
- provas internas e referncias recprocas nos dilogos
b) A transmisso da obra
4. O Dilogo:
a) Formas de desenvolvimento do dilogo:
- dilogo aberto [Teeteto]
- dilogo fechado [Grgias (Clicles)]
- dilogo conclusivo [Timeu]
b) O desfecho do dilogo:
- desfecho socrtico
- desfecho platnico
- o significado do dilogo inconclusivo
51
c) A componente cnica do dilogo:
- a relao do dilogo com o pblico/leitor/ouvinte
- palco, cidade e filosofia
- a evoluo da relao de Plato com Scrates atravs dos Dilogos
5. A relao de Plato com a filosofia antiga:
a) a influncia pitagrica
b) ir alm de Heraclito
c) resolver a aporia parmendea
d) combater a ameaa atomista
e) calar os sofistas
6. reas ou disciplinas nucleares:
a) teoria do conhecimento e teoria das ideias
b) a questo da participao das ideias; participao e separao
c) alma: origem, preexistncia e imortalidade
d) teoria da reminiscncia: alma e conhecimento
e) tica e teoria do conhecimento
f) o Mundo e o Mundo das Ideias: teoria das origens
g) tica e teoria poltica
h) cidade e cultura
7. Dilogos. Leitura, anlise e interpretao:
a) Hpias Menor
b) Hpias Maior
c) Apologia de Scrates
d) Crton
e) Grgias
52
f) Mnon
g) Crtilo
h) Fdon
i) Repblica
j) Parmnides
k) Sofista
l) Timeu
m) Leis
XII. ARISTTELES
1. Datas, vida e obra.
a) Um estrangeiro em Atenas
b) Discpulo de Plato
c) Espusipo, e no Aristteles, sucessor de Plato na direco da Academia
d) A experincia macednica
e) A ruptura com Plato
f) A fundao do Liceu
g) A acusao de impiedade e a sada de Atenas
h) Uma obra extensa e multidisciplinar
i) Um estilo rigoroso e austero
j) A transmisso da obra
l) As tradues de referncia
m) Os estudos de referncia
2. Aristteles e Plato
a) Aristteles perante Plato: caminhos diferentes perante projectos diferentes
b) Aristteles perante Plato: caminhos idnticos perante projectos anlogos
53
3. reas de referncia e disciplinas nucleares
a) Introduo terminologia aristotlica:
- Essncia e Acidente
- Acto e Potncia
- Forma e Matria
- Substncia (ousia) / Substncias (ousiai)
- Ser (to on he on) / Seres (onta)
b) O processo do conhecimento e as funes da alma:
- A experincia:
- a sensao e a experincias das coisas externas
- a conscincia e a experincia das coisas internas
- a matria e a dimenso do individual
- a cincia e a dimenso do geral
- Categorias e descrio
- Teoria das causas e explicao
- A Alma como primeira entelecheia de um corpo
- As funes da alma
- O intelecto paciente ou passivo como receptculo
- O intelecto agente ou activo como actualidade
- O papel da induo e da intuio: intuio indutiva/intuio intelectual
- A Forma e a funo da abstraco
- Nota: o intelecto activo como actualidade, impassibilidade e no mistura a
parte separvel e imortal da razo?
54
c) A teoria do Ser
- O Ser das Matemticas
- O Ser da Fsica
- O Ser da Filosofia
- O Ser como universal analgico ou ser-dos-seres
- O Ser como a substncia eterna, imvel, inextensa e indivisvel
- Os dois sentidos de Ser so opostos e inconciliveis ou relacionam-se e
conciliam-se?
- As teses de Jaeger e de Aubenque
- Maneiras de Ser e maneiras de dizer: o Ser e o logos. O Filsofo e o sofista
d) A teoria do Mundo
O Mundo supralunar:
- incorruptvel
- incriado
- imutvel
- movimento circular, perfeito e eterno
- seres eternos
- o elemento ter
- os astros, as esferas e os motores imveis.
O Mundo sublunar:
- a natureza, a mudana, o lugar, o vazio e o tempo
- os quatro elementos: terra, fogo, ar e gua
- corrupo
- mutabilidade
- indeterminao
- movimento rectilneo: o alto e o baixo; o leve e o pesado
55
- seres sujeitos ao nascer e perecer
e) O Primeiro Motor, a Divindade e o Motor Imvel
- O Motor Imvel no ltimo livro da Fsica (VIII):
- o Primeiro Motor e a origem do movimento
- o movimento: o no movido origem do movido
- o movimento e a teoria das causas
- a causa incausada
- caractersticas do Primeiro Motor: eterno, inextenso, indivisvel
- o tempo e a eternidade
- O Motor Imvel no livro XI da Metafsica:
- o Primeiro Motor e a origem do movimento
- a metfora do amor
- o Motor Imvel e Deus:
- acto puro
- no criador
- pensamento autopensante
- imvel
- transcendente
- causa final do movimento eterno
- O Mundo perante Deus:
- potncia e acto
- movimento eterno
- aspirao eterna
- causa final
f) Teoria Poltica
- Natureza e finalidade do Estado
56
- Crtica doutrina poltica platnica
- tica e Poltica
- Os regimes polticos
- O Bem supremo para a Cidade e para o indivduo
g) Aspectos da tica aristotlica
- tica e Poltica. Phronesis e Politike
- As virtudes do intelecto: sabedoria terica e sabedoria prtica
- Crtica Teoria das Ideias ou das Formas de Plato
- Os desgnios do filsofo e da filosofia: saber e felicidade
- Elogio do J usto Meio
4) Os Trabalhos de Aristteles: leitura, anlise e interpretao.
a) Fsica
b) Metafsica
c) tica Nicomachea
d) Poltica
XIII. INTRODUO S FILOSOFIAS HELENSTICAS
1. A poca Helenstica: nota introdutria
a) O fim da polis como Cidade-Estado.
b) O esvaziamento do papel do cidado.
c) Da polis cosmopolis.
d) Da liberdade liberdade interior.
57
e) A Biblioteca de Alexandria.
f) A aventura do livro: do papiro ao pergaminho; do cdice ao livro.
2. Introduo s Filosofias Helensticas
a) O Estoicismo.
- Os perodos, os representantes e as tendncias.
- Temas centrais da Filosofia Estica:
- A funo da Filosofia.
- As partes da Filosofia.
- Filosofia e sistema.
- Lgica e Teoria do Conhecimento.
- Fsica: o Mundo, Deus, Providncia e Destino. O Homem e a Liberdade
- Moral: a Virtude, as Paixes, o Valor, e o Dever.
b) O Epicurismo.
- As datas, os representantes, as ideias.
- O Epicurismo perante o Estoicismo.
- Temas centrais da Filosofia Epicurista:
- Cannica: relao entre sensao e razo; a
sensao e o critrio de verdade.
- Fsica: os tomos, o vazio e os deuses.
- tica: teoria do desejo e do prazer.
- Teologia, teoria da alma e escatologia.
c) O Cepticismo.
- As fases, os representantes e as tendncias.
- O Cepticismo perante o Estoicismo e o Epicurismo.
- Caractersticas distintivas do Cepticismo, segundo Sexto Emprico.
- O valor e os limites do conhecimento em questo. O critrio de verdade.
- O Cepticismo atravs de alguns conceitos fundamentais:
58
apatia, metriopatia, afasia, epoche, tropo, dilema, ataraxia, fenmeno.
- As perspectivas fundamentais do pirronismo.
- O cepticismo da Nova Academia.
- Os Cpticos Posteriores ou Neopirrnicos. Sexto Emprico.
59
ENSAIO DE
DESENVOLVIMENTO DE
ALGUNS DOS PONTOS
DO PROGRAMA
60
INTRODUO AO
ESTUDO DA FILOSOFIA
ANTIGA
61
I
A PERIFERIA DA FILOSOFIA
NOTA PRVIA: Tal como foi referido anteriormente, o objectivo da
incluso deste captulo, no contexto do programa de Filosofia Antiga, no
pretende ser o tratamento completo e exaustivo de todas as vertentes que cada
um destes pontos necessariamente contempla. Essa tarefa competiria, como se
disse, a uma disciplina de carcter eminentemente histrico-cultural, seno
mesmo Cultura Clssica.
Limitamo-nos, assim, a compensar essas lacunas elegendo unicamente
os temas que, do nosso ponto de vista, podero ter influenciado, de uma forma
mais ou menos prxima, as origens da filosofia.
Em cada um desses pontos, enunciam-se de forma relativamente
detalhada os temas que, a propsito dos mesmos, sero desenvolvidos ao longo
das aulas. No se trata, por conseguinte, de, a partir de cada um desses pontos,
escrever as aulas, mas antes, de apresentar e desenvolver uma srie de tpicos
que a decorrncia das prprias aulas ir sugerindo e determinando. Esta ser,
igualmente, a metodologia que adoptaremos na apresentao dos captulos
subsequentes do programa.
1. O Ocidente prepara-se a Oriente: o eixo Atenas/Mileto. Os Gregos e as Grcias
A diversidade, a diferena e o carcter plural do povo grego: etnias,
dialectos, costumes, tradies e crenas. A exiguidade do espao e a penria de
recursos. A expanso como o gosto, a vertigem e a inevitabilidade da aventura.
A colonizao da costa ocidental da sia Menor e o aparecimento de um mundo
novo de fundo grego. O desdobramento da Grcia: a Grcia antiga (continente)
e a Grcia recente (oriente e ocidente).
Caractersticas gerais da Grcia da sia Menor: a colonizao ou a arte da
seduo/persuaso; viajantes, comerciantes, curiosos e falantes; troca de
experincias e descoberta de outras culturas, crenas e costumes; livre
circulao sugere e estimula livre pensamento e livre expresso; um
progressivo florescimento econmico favorece nveis elevados de bem-estar e
induz emergncia do cio.
62
Caractersticas gerais da Grcia do Ocidente: a Grande Grcia dos
latifndios por oposio Grcia do minifndio; uma grande prosperidade
econmica graas actividade agrcola de preferncia mercantil; religiosidade:
uma relao mais forte e intensa com o sagrado; a emergncia de um misticismo
de carcter mais complexo e profundo; eventual influncia sobre a tendncia
mstico-religiosa do pensamento de Empdocles e das escolas pitagrica e
eletica.
2. A Cidade
As origens da cidade: factores de ordem geogrfica, econmica, social e
cultural; a topografia do terreno como factor natural adjuvante; os movimentos
populacionais; os interesses econmicos coincidentes; a lngua e dialectos
comuns; as crenas e prticas religiosas comuns; o sentimento de pertena,
semelhana, igualdade; a lio de Aristteles.
Da cidade arcaica cidade clssica; conflitos sociais e experincias
polticas; aristocracias, oligarquias, tiranias e tiranias populares; a inveno da
democracia; a cidade como espao e palco privilegiado s aventuras do logos; a
palavra como chave da construo de um novo cosmos social e poltico; as
noes de circularidade, centralidade, equidistncia e imunidade, como
elementos fundamentais para a criao de uma nova conscincia cvica; a
relao entre a organizao fsico-poltica da cidade e a organizao mental do
cidado (polites); similitude entre arquitectura urbana e intelectual; o
desenvolvimento intelectual, poltico, econmico e cultural sob a gide do
regime democrtico; virtudes e erros do regime democrtico; o regime
democrtico como um espao de risco e de oportunidade, de crise, de conflito,
de oposio de argumentos; o domnio absoluto da palavra e da persuaso
(peitho) sobre qualquer outra forma de poder; o confronto de pontos de vista
(theoria) e a necessidade de reflectir para optar.
3. A Escrita
O carcter rudimentar, no literrio, das escritas micnica e cretense.
Caractersticas gerais de uma sociedade sem escrita: a tradio oral; a
mobilizao macia da memria; fixar, reter, armazenar; a lio dos Poemas
63
Homricos; o elevado estatuto social do poeta como o detentor de um saber de
memria feito; o poeta como a fonte e o arquivo da histria e das origens no
escritas; o poeta e a arte de gerir e convocar a memria; a relao estreita entre
poeta, poesia e inspirao divina.
O aparecimento da escrita: adaptao de preferncia a inveno.
Caractersticas gerais de uma sociedade com escrita: a libertao da memria;
mobilizao equitativa das diferentes capacidades intelectuais: reflectir,
discorrer, problematizar, debater pensar; a palavra escrita substitui a palavra
dita: a fixidez, constncia e univocidade transmitidas pela escrita; a escrita
como um factor de democraticidade e igualdade.
4. O Direito
Lei escrita e lei no escrita. Caractersticas gerais de uma sociedade
estruturada na base da lei no escrita: o carcter ambguo e arbitrrio da lei; a
importncia da riqueza e da classe social no controlo e manipulao da lei; os
diferentes nveis da lei no escrita: divina, natural e humana; a permanncia da
lei divina e natural para alm do aparecimento da lei escrita; o conflito e o debate
entre a lei no escrita e a lei escrita, atravs da produo cultural e filosfica; a
contribuio dos poetas trgicos (Esquilo, Sfocles, Eurpides) para o
aprofundamento da conscincia de um conflito entre lei escrita, lei natural e lei
divina.
Caractersticas gerais de uma sociedade estruturada na base da lei
escrita: a universalidade e univocidade da lei; a lei como factor de
proporcionalidade, igualdade e democraticidade; a lei escrita como factor de
conflito/oposio de pontos de vista; o carcter relativo, precrio e temporrio
da lei escrita.
A relao estreita entre direito, tica e poltica; o domnio do direito como
um domnio central de toda a reflexo poltica e filosfica; a relao ntima e
permanente, ao longo de todo o pensamento filosfico grego, entre direito,
poltica e filosofia.
5. A Religio
Caractersticas gerais da religio grega. A relao entre a origem e a
64
pluralidade dos deuses e a origem e pluralidade dos povos de lngua grega. A
humanidade da religio grega: os deuses imagem dos homens; a religio e a
ausncia de um paradigma de natureza tica; a tica e a moral ficam a cargo dos
homens; a problematizao do sagrado no pensamento dos poetas trgicos; o
carcter cvico-poltico da religio grega; a religio popular e a religio da
cidade; a importncia da filosofia no movimento de renovao e purificao da
religio tradicional; a filosofia como a fonte das crticas mais demolidoras
religio tradicional.
6. A Cultura
Os Poemas Homricos como um trao de unio e um vnculo de
identidade entre os gregos; um arquivo histrico que atesta as origens, explica o
passado e justifica o presente; um modelo de alfabetizao e literacia da maior
importncia; fonte das crticas mais violentas religio tradicional e do
movimento de renovao e purificao da religio; a progressiva abertura e
democratizao dos Poemas: de poesia de corte a poesia da cidade.
Os Trabalhos e Dias de Hesodo como um ndice de crise na poca
arcaica; a emergncia de uma nova classe com um novo corpo de valores: a
crise do modelo aristocrtico e o anunciar de uma nova poca. A Teogonia como
uma das primeiras tentativas pr-filosficas no sentido de impor ordem
(cosmos) e atribuir sentido e razoabilidade s origens do mundo; o comeo da
Teogonia (primeiro surgiu o caos) como uma promessa de racionalidade que
no se cumpre.
Os aspectos cosmognicos de raiz propriamente grega e de origem no
grega; possveis influncias das civilizaes dos grandes rios: Egipto e
Mesopotmia.
65
II
O INTERIOR DA FILOSOFIA
NOTA PRVIA: Neste captulo, pretende-se mostrar que, por um lado, a
aventura do filosofar comea logo na prpria palavra que ir definir o resultado
dessa actividade, e que, ao mesmo tempo, essa aventura tem origem num
determinado lugar, num determinado tempo e que acontece de um modo nico e
peculiar. A Grcia, os gregos, a filosofia e o filosofar no so uma abstraco.
quase possvel retraar as linhas que deram forma a esses lugares, a esses
corpos, a esses pensares. De alguma maneira, medida que as linhas vo
dando contorno forma, como se uma parte de ns prprios comeasse a ser
revelada. O Ocidente comea ali.
1. Histria de uma palavra recente (philo-sophia)
Em busca da palavra-chave; a inveno da palavra possvel; philo-sophia
como um neologismo; representao de um saber a meio caminho entre o saber
e o no saber: um saber que sabe que no sabe.
2. Um impertinente assdio pelo olhar (episteme/theoretike)
Um meio de apropriao/pertena (episteme) das coisas atravs de uma
certa forma insistente e impertinente de olhar/contemplar (theoretike); manter
algo sob observao em ordem a desvendar-lhe o ser, o que .
3. Cavalgando a onda do espanto (arche/thaumazein/pathos)
A origem da filosofia, segundo Plato (Teeteto 155d) e Aristteles
(Metafsica A2, 982b 12 sq.); ampliao do horizonte de compreenso, atravs da
interpretao das frases empreendida por Heidegger; arche como origem,
66
controlo e domnio continuado; thaumazein como admirao, assombro,
estranheza; pathos como sofrimento, suportao.
4. O segredo de uma relao tensa e frutuosa (agon/philia)
A origem comum da cidade e da filosofia: a amizade (philia), a
semelhana, a igualdade (isonomia), o confronto, o combate (agon); iguais e
rivais: jogos, teatro, tribunal, poltica, filosofia; o domnio da filosofia: amigos
amigos, verdade parte; o caso Plato/Scrates; o caso Aristtles/Plato.
5. O recuo do candidato (sophos/philosophos)
Uma caracterstica eminentemente grega: do sophos ao philosophos; o
philosophos como candidato ou pretendente sophia; o philosophos como
paradigma de uma nova postura perante o saber.
Sabedoria e filosofia: Oriente e Ocidente; a origem divina e a origem
humana do saber; o saber como revelao e o saber como criao ou
descoberta; o saber revelado impe limites, subordinao e conservao; o
saber como criao ou descoberta ope-se tradio, um trabalho livre de
compromissos ou preconceitos.
6. O que fazer com este [no] saber? (theoria/praxis)
Sabedoria e filosofia. Oriente: filosofia como contemplao/venerao.
Ocidente: filosofia como aco/interveno; criao eminentemente grega: a
filosofia no se limita a interpretar o mundo; intervm no sentido de o corrigir ou
transformar: sete sbios, pr-socrticos, sofistas, Scrates, Plato, Aristteles.
67
III
INTRODUO TERMINOLOGIA FILOSFICA
NOTA PRVIA: No se trata, obviamente, de fazer um vocabulrio
filosfico. Pretende-se, essencialmente, atravs de uma breve referncia a dois,
trs termos filosficos gregos, estimular o interesse dos alunos pela pesquisa
da terminologia filosfica, levando-os a descobrir que no existe, propriamente
falando, uma lngua filosfica, mas um uso filosfico da lngua. Ou seja, os
termos filosficos gregos so, geralmente, anteriores prpria filosofia, j
trazem vida, histria e maturidade. A filosofia como que torna mais madura essa
maturidade. Concretamente, a filosofia infiltra-se e apropria-se da lngua
corrente, explorando, atravs de diferentes processos, todos os seus recursos:
ora utilizando a terminologia corrente, ora empreendendo rupturas, em ordem a
atingir um nvel mais elevado de tecnicidade, ora procedendo a reatribuies de
sentido, ou, em ltima anlise, criando neologismos.
Os termos filosficos gregos contam muito do combate travado entre as
ideias e as palavras. Eles mostram, igualmente, que o filosofar pode no ter sido
um exclusivo dos filsofos tradicionalmente considerados na Histria da
Filosofia. Assim, por exemplo, a respeito do conceito de Ser, e com base em
alguns tpicos sugeridos por uma passagem da Introduo Metafsica de
Heidegger, propomo-nos ir mais alm, indagando o que une e o que separa
razo trgica e razo filosfica, fazendo, por essa via, uma incurso por um
domnio que no geralmente considerado nos programas de Filosofia Antiga.
1. Aporia, Euporia, Diaporia
Os diferentes sentidos de aporia (impasse, impossibilidade, obstculo
permanente ou provisrio, passagem difcil [poros=passagem], sem recursos:
- procura da verdade pelo desbravar de um caminho de obstculos -; euporia
(passagem fcil, pleno de recursos, caminho aberto, o saber ou a iluso de
saber); diaporia (caminho livre de aporia rumo verdade).
68
A ocorrncia e o significado de alguns destes conceitos em autores pr-
socrticos, nos domnios da fsica, da vida prtica e da gnosiologia: Heraclito,
Empdocles, Demcrito, Grgias.
A ocorrncia e o significado de alguns destes conceitos em Plato (e
Scrates), nos domnios fsico, psicolgico e gnosiolgico.
A ocorrncia e o significado de alguns destes conceitos em Aristteles: o
reconhecimento da ignorncia ou no saber atravs do espanto e da aporia; a
aporia como conscincia de oposio e necessidade de escolha entre razes
contrrias (Tpicos VI, 145b); aporia como incerteza, dvida e perplexidade; o
mtodo diaporemtico (Tpicos I,2) como representao da via ou caminho que
conduz aos princpios; a diaporia como processo dialctico e como mtodo de
investigao ou pesquisa; a diaporia resolve a aporia e conduz verdade.
2. A Arche como origem e domnio continuado
Arche como origem, princpio, comeo, soberania, domnio continuado.
Ocorrncias pr e extra-filosficas: em Homero como comeo, origem;
em Pndaro como soberania.
Ocorrncias filosficas: Anaximandro ter sido o primeiro filsofo a
empregar o termo com um sentido tcnico e duplo: origem e domnio
continuado; no pitagorismo poder ter surgido o conceito de archai aritmticas
e geomtricas; com Empdocles as quatro razes ou archai de todas as coisas;
nos atomistas, os tomos ou archai constitutivas de toda a matria; em
Aristteles, o conceito de hyle como princpio de mudana e substrato
indefinido aproxima-se e identifica-se com arche.
3. Por uma Verdade [aletheia] sem manto.
Definio tradicional de verdade. Objeces. A verdade como uma
questo paradoxal: uma presena ausente. Luz, brilho, verdade / trevas,
sombras, ignorncia e erro. A verdade como no-ocultao (aletheia); a verdade
como pudor, decoro, conteno; a verdade como esquecimento/afundamento; a
verdade como encobrimento (Heraclito: a physis gosta de ocultar-se); a
69
verdade como realidade/autenticidade; a verdade como acordo/conformidade; a
verdade como liberdade. Verdade e erro.
4. A comunidade Logos/Mythos e a emergncia do conceito de Razo
Razo calorosamente defendida pela sua frieza: ordem, medida, rigor,
coerncia lgica, explicao, conteno; os poderes da razo: induo,
deduo, regulao, contemplao; natureza da razo: realidade fsica/realidade
transcendente; planos da razo: razo discursiva como discurso interior da
alma consigo prpria (Plato, Sofista 263e); razo intuitiva como captao
directa das essncias; razo como sabedoria e prudncia (Aristteles, tica
Nicomachea).
Regresso aos gregos: a razo como logos; histria de um verbo (legein) e
de um substantivo (logos): colher, reunir, escrutinar, contar / conta,
enumerao, narrao, reflexo, argumentao, proporo, medida; ocorrncias
pr-filosficas do termo logos: liada (com o sentido de narrao), Odisseia (com
o sentido de argumentao); ocorrncias em contexto filosfico com sentido
tcnico e especfico: em Heraclito, como inteligncia universal, discurso,
medida, proporo, manifestao da estrutura racional de todas as coisas; em
Parmnides, com o sentido (preciso?) de razo; em Plato, com o sentido
preciso de razo (Repblica 529d), discurso verdadeiro e analtico; em
Aristteles, como razo, definio, proporo.
Mito e Razo: o mito tem razo e a razo tem mito; semelhanas e diferenas.
Semelhanas: etimologia comum (fala, palavra, discurso, histria); procura de
uma ordem do Mundo; coexistncia e permanncia, no esprito humano, entre
ordem mgica e ordem racional; mitologias da cincia e mitologias da razo.
Diferenas: a razo aberta, fora o ncleo denso do mito; o mito fechado; a
razo um caminho; o mito um fim, o mito sucede ao mito.
A relao dos filsofos pr-socrticos com o pensamento e a explicao
mtica. Os sofistas perante o mito: Protgoras e o mito das origens, no
Protgoras de Plato. O papel central do mito no discurso e no pensamento de
Plato: o significado do mito, as circunstncias da sua convocao e a sua
articulao com um discurso racional. Questo resolvida de uma forma clara,
rpida e incisiva, por Aristteles, na Metafsica.
70
5. Fundo e sem-fundo ou a questo do Ser [on]. Razo trgica e Razo filosfica.
O Ser como um conceito indefinvel pela sua extenso; definio e relao entre
extenso e compreenso; o Ser e a relao entre existncia e consistncia. A
pergunta pelo Ser: por que h algo em vez de nada?; caractersticas da
questo: a mais vasta, a mais profunda, a mais originria.
Regresso aos Gregos: a teoria do Ser [on] na obra de Parmnides,
concretamente, na Via da Verdade; o Ser e a teoria dos eide em Plato; a
questo do Ser abordada em extenso e profundidade, na Metafsica, por
Aristteles.
A relao entre ser e vir a ser / ser e aparncia
4
; ser, aparecer, suposio,
opinio (doxa); a tragdia de dipo Rei
5
: interpretao luz da relao entre ser
e aparncia, verdade (aletheia) e opinio (doxa).
Razo trgica e razo filosfica. O projecto filosfico: defesa de uma
razo dominante, garante de permanncia e ordem; assegura um saber com
estatuto de cientfico; algo acima dos condicionamentos particulares, histricos
ou sociais; o sistema como totalidade racional do real ( estoicismo); o carcter
anti-trgico da filosofia de Plato; a lgica filosfica uma lgica unvoca: de
duas proposies contraditrias, se uma verdadeira, a outra ser
necessariamente falsa.
Caractersticas gerais do pensamento trgico: uma lgica equvoca; a
contradio existe; no h princpio da no-contradio que a anule; no h um
corte radical entre verdadeiro e falso; ambiguidade e pertinncia dos discursos
contraditrios; uma interrogao persistente e sem resposta; a polissemia do
logos: conflito de unilateralidades / conflito de interpretaes; significado de
algumas palavras-chave: pathei mathos (aprender atravs do sofrimento); hybris
(excesso, desmesura; o prprio do humano: o que d fora ao amor e ao dio,
bondade e maldade, a eros e a thanatos); deinos (o terrvel, o maravilhoso
inquietante: expressa a contradio que o homem para si mesmo: um ser
duplo).
4
A partir de uma passagem de Introduo Metafsica, de Heidegger.
5
Idem.
71
IV
A PREMNCIA DAS ORIGENS
NOTA PRVIA: A problemtica das origens ir sendo abordada ao longo
do programa, atravs do pensamento dos filsofos. Neste captulo introdutrio,
pretende-se, essencialmente, sensibilizar a ateno dos alunos para o facto
desta questo ser qualquer coisa de muito peculiar, uma vez que se constitui
como um passado que constantemente convocado pelo presente, ou seja,
trata-se de um compromisso ou vnculo que o presente procura, no sentido de
estabelecer uma aliana ou uma cadeia estabilizadora entre passado, presente e
futuro.
Em sntese, o conhecimento das origens, como a procura de um fundo
amortecedor ou de um princpio seguro e fundador, no propriamente uma
coisa antiga; trata-se, essencialmente, de um trao de natureza eminentemente
humana e, nesse sentido, filosfica.
1. Conceitos contidos na ideia de Origem
Conceito de lugar: o sagrado irrompe num stio inequvoco.
Conceito de tempo: o sagrado acontece num momento preciso.
Conceito de processo: uma lgica interna no modo de desenvolvimento dos
acontecimentos.
2. As origens e a estrutura psquica do indivduo
Maior racionalidade: o mundo passa a ter uma razo de ser.
Menor opacidade: saber mais das origens reduz as zonas de densa opacidade.
Maior aco: o conhecimento das origens representa uma retaguarda segura, a
qual favorece a aco.
72
O desejo das origens: desejo, procura e punio; a vertente cognitiva e a
vertente afectiva na busca das origens.
3. As origens e o equilbrio individual e colectivo
Domnio da historizao: o passado explica o presente e justifica continuar para
o futuro.
Domnio da ordenao: transmite uma viso de um mundo ordenado, fornece
uma cosmo-viso.
Domnio da identidade: a origem o ncleo da conscincia, da identidade
pessoal e do grupo.
73
OS FILSOFOS
PR-SOCRTICOS
74
I. Nota sobre uma designao imprecisa
NOTA PRVIA: No momento em que se inicia o estudo dos filsofos pr-
socrticos, necessrio chamar a ateno dos alunos para o facto de que, sob
esta designao, ocorrem algumas imprecises de carcter histrico e
cronolgico. Efectivamente, a Histria da Filosofia determinou, em funo de
critrios de ordem essencialmente filosfica (e, por isso mesmo, de ordem
vincadamente subjectiva), que a linha de demarcao se colocava em Scrates e
que a Histria da Filosofia Antiga se fazia na base de antes e depois de Scrates.
Daqui, decorre que, sob a designao de pr-socrticos, se albergam uma srie
de pensadores que, de facto, no so pr-socrticos, mas, ao contrrio, so
contemporneos ou posteriores a Scrates. Assim, torna-se necessrio salientar
a escolha deste ponto de demarcao, para, a partir da, tentar encontrar as
causas e as consequncias dessa escolha. Refira-se, a ttulo de exemplo, que,
com base nesta demarcao, podem omitir-se reas de relevante importncia do
pensamento dos filsofos ou, ignorar-se, liminarmente, a sua mera existncia.
Procurar as razes desta atitude , como se disse, tarefa que deve ser levada a
cabo, neste ponto do programa.
II. Nota sobre uma Histria que [ainda] no existe
NOTA PRVIA: Trata-se de uma breve nota para sublinhar que a Filosofia,
nas suas origens, ainda no tem Histria. Ou seja, de um certo ponto de vista,
pode dizer-se que os primeiros filsofos so mesmo livre-pensadores no sentido
em que no tm aquilo de que qualquer pensador posterior jamais se poder
libertar: a necessidade da considerao da Histria da Filosofia e a
inevitabilidade da vinculao a uma srie de factores caracterizados pela
dependncia, necessidade e antecedncia. Mas, ao mesmo tempo, serve a
presente para ir assinalando os lugares e os momentos do pensamento dos
filsofos onde se comea a perscrutar o aparecimento dos primeiros elementos
do grande edifcio que vir a ser a Histria da Filosofia. Em Xenfanes,
possivelmente, em Heraclito sem dvida, em Pamnides, provavelmente, em
Empdocles, certamente, em Plato, implicitamente, em Aristteles, clara e
consistentemente.
75
I
OS MILSIOS
NOTA PRVIA: Os milsios merecem um destaque especial, uma vez que,
para todos os efeitos, so os criadores dessa grande aventura que o
filosofar.
Impe-se recordar os factores de ordem externa, inicialmente estudados,
dado que tero contribudo fortemente para a emergncia desse filosofar.
Convm sublinhar, igualmente, que os milsios tero sido os livre-
pensadores mais livres da Histria da Filosofia, precisamente porque esta
ainda no existia, e, tambm, os mais arrojados porque abriram caminho e
criaram espao num terreno ocupado pela tradio e num universo saturado
de mito.
De entre os trs, o destaque ter de ir para Anaximandro como primus
inter pares: seja porque, no conjunto dos testemunhos e fragmentos, o acaso
quis que chegassem at ns extractos de alguns dos momentos mais brilhantes
do pensamento do filsofo, seja porque o pensamento e a obra de Anaximandro
so, de facto, de um brilhantismo e de uma ousadia sem paralelo.
Entretanto, no se inferir daqui, menor relevo e reconhecimento
relativamente a Tales e Anaxmenes. De facto, Tales , atestadamente, o
primeiro, facto pinturescamente relatado tanto por Plato como por
Aristteles; e Anaxmenes, como o terceiro, merece ser igualmente reavaliado,
uma vez que procede a uma engenhosa sntese das contribuies dos seus
antecessores, sntese muito mais complexa e original do que a verso
geralmente corrente pode deixar pensar.
TALES.
1. O local, as datas e a obra
2. A notcia de Plato
3. A notcia de Aristteles
76
4. A polivalncia de Tales
5. As frases atribudas a Tales.
6. Recomposio do contexto.
7. Tentativa de articulao coerente das frases
8. A importncia de Tales como um pensamento de ruptura
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Anlise e interpretao das duas notcias sobre Tales transmitidas por
Plato e Aristteles.
Constatar que o seu carcter contraditrio apenas aparente e que as
mesmas se completam, no sentido de fornecerem uma determinada imagem do
filsofo.
Tentar estabelecer um vnculo e uma articulao coerente entre as trs
frases atribudas ao milsio.
Aproximar o tema da gua central no pensamento de Tales a
eventuais influncias das civilizaes prximo-orientais dos grandes rios,
concretamente, civilizaes egpcia e mesopotmica.
Sinalizar e interpretar os pontos em que claramente notria a tentativa
de ruptura entre uma lgica mtica e uma racionalidade filosfica.
ANAXIMANDRO.
1. O local, as datas e a obra
2. A polivalncia de Anaximandro
O FRAGMENTO DE ANAXIMANDRO:
3. As Fontes
a) Aristteles
77
b) Teofrasto
c) Simplcio
d) Hiplito
e) Pseudo-Plutarco
4.Physis
a) Anlise do conceito
b) Nos pr-socrticos em geral
c) Em Anaximandro
d) A physis e os deuses
3. Arche
a) Anlise do conceito
b) Ocorrncias anteriores
c) Em Anaximandro
4. Apeiron
a) Sentido qualitativo do conceito
b) Sentido quantitativo do conceito
c) Sentido qualitativo e quantitativo do conceito
d) Carcter divino
e) O que o apeiron no :
- imaterial
- determinado
- criado
- intermdio
- mistura
- mortal
78
f) Porqu o apeiron?
- Aristteles, Fsica, passagem 1): discusso
- Aristteles, Fsica, passagem 2): discusso
- Concluso
5. A questo dos mundos inumerveis
a) Coexistentes no tempo: discusso
b) Sucessivos no tempo: discusso
c) Terceira via: discusso
6. O castigo, a retribuio, a injustia e o decreto do Tempo
a) O conflito dos contrrios
b) A constante reposio dos nveis de equilbrio
c) O carcter da falta cometida
d) O carcter arbitral do Tempo como juiz da viabilidade csmica
e) A polis como inspirao de uma metfora de raiz legalista
7. Termos poticos
a) A permanncia da influncia do estilo potico
b) A relao frutuosa entre prosa e poesia
c) Transposio para o plano filosfico de um tema de fundo potico
COSMOGONIA. A ORIGEM DO MUNDO:
1. Origem dos contrrios
a) Aristteles, Fsica, passagem 1): discusso
b) Pseudoplutarco, Stromateis, passagem 2): discusso
79
c) Concluso
2. Disposio e organizao dos contrrios
a) O processo
b) Os primeiros momentos do Universo
COSMOLOGIA. A ORDEM ACTUAL DO MUNDO:
1. A Terra
a) O processo de formao
b) A forma
c) A estabilidade
d) A centralidade
2. Os corpos celestes
a) O processo de formao
b) A forma
c) A localizao
d) As dimenses
e) Os eclipses
ORIGEM DA VIDA ANIMAL E HUMANA
1. A origem da vida na Terra
2. A origem da vida animal
3. A origem da humanidade
NOTA PRVIA: O estudo do pensamento de Anaximandro ser realizado, em
80
primeira anlise, a partir da apresentao do fragmento que lhe atribudo e da
explorao de toda a informao que o mesmo possa conter. Em diferentes
momentos da anlise, convocar-se- para confronto o testemunho de outras
fontes indirectas. De seguida, e esgotada que esteja a anlise do fragmento,
passar-se- anlise e discusso dos diferentes testemunhos provenientes de
fontes diversas, assinalando-se, a propsito, as divergncias e coincidncias, na
tentativa de restabelecer a unidade e coerncia original do seu pensamento.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Anlise do Fragmento. A physis: como era entendida pelos pr-socrticos
em geral; Anaximandro ter-se- referido a physis? Se o fez, com que sentido? A
physis e os deuses.
A relao entre arche e apeiron: ocorrncias pr-filosficas (Ilada,
Odisseia, Tegnis); em Anaximandro: comeo, origem, princpio, divino
(imortal, imperecvel, eterno, isento de velhice).
O apeiron: etimologia da palavra; em que sentido empregue por
Anaximandro? Hiptese 1) sentido qualitativo, hiptese 2) sentido quantitativo,
hiptese 3) sentido quantitativo e qualitativo. Discusso. O que o apeiron no :
material, mas no a matria das coisas; no um elemento intermdio, no
uma mistura de elementos, no criado, no mortal. Por que optou pelo
apeiron? Hiptese 1) fonte inesgotvel de matria (Aristteles), hiptese 2)
acima e fora dos elementos (Aristteles). Discusso.
Mundos inumerveis? Anlise dos testemunhos antigos (Simplcio, cio,
Ccero); posio dos eruditos: hiptese 1) sucessivos no tempo (Zeller),
hiptese 2) coexistentes no tempo: hiptese 3) nem sucessivos nem
coexistentes: o mundo eterno (Kirk e Raven). Discusso.
() segundo a necessidade (): interpretao do sentido da
passagem.
() pagam castigo e retribuio () injustia () decreto do
tempo () . Interpretao do sentido da passagem: a causa e o tipo de castigo
praticado; o tipo e o montante da retribuio; a causa e o tipo de injustia
praticada; a forma e o tipo de decreto promulgado; o estatuto do Tempo; o
Tempo, o apeiron e a divindade.
() termos um tanto poticos () . Interpretao do sentido da
passagem: prosa e poesia; a antiguidade do estilo potico e o advento recente
81
da prosa via aparecimento da escrita.
A Cosmogonia. A cosmogonia e a origem dos contrrios: hiptese 1)
Aristteles, Fsica: os contrrios libertam-se directamente do apeiron; hiptese
2) Pseudoplutarco, Stromateis: uma massa liberta-se do apeiron. Discusso das
propostas em anlise e fundamentao de uma escolha.
Cosmologia. O processo de formao da Terra e dos corpos celestes. A
Terra e a relao entre centralidade, estabilidade e imunidade. A forma e a
matria dos corpos celestes; uma explicao cientfica dos eclipses; a
quantificao dos graus de grandeza dos diferentes corpos celestes e a tentativa
de matematizao do universo.
A origem da vida na Terra. A distino entre a origem da vida em geral, a
origem da vida animal e a origem da humanidade. A percepo de um longo
perodo de carncia caracterstico da vida humana.
ANAXMENES.
1. As fontes. O local, as datas e a obra
2. O fragmento de Anaxmenes
a) Tales demasiado concreto
b) Anaximandro demasiado discreto
c) A descoberta de uma terceira via como meio natural: aer
d) Caractersticas e virtualidades do aer como arche
e) Do mais slido ao mais dctil: condensao e rarefaco
f) A akosmia pr-csmica
g) Os primeiros instantes do Universo: o despertar da alma do mundo. Uma
psyche de batimento certo e ritmado.
i) O Mundo como uma machina e como um organismo: o trao animista
NOTA PRVIA: Tal como j sucedera anteriormente com Tales e Anaximandro,
aps uma apresentao introdutria, que ter essencialmente em conta o local,
a vida, as datas, a (eventual) obra e a discusso das fontes, apresenta-se de
82
imediato, tal como havia ocorrido com Anaximandro, o nico fragmento
atribudo a Anaxmenes. A anlise do fragmento no dispensa, contudo, a
frequente recorrncia anlise de outros testemunhos indirectos, que
contribuiro para ampliar o horizonte de compreenso do referido fragmento.
Entretanto, pelo que se conhece, ter-se- de dizer que o pensamento
deste milsio no apresentar a fora, o fulgor e os rasgos de rara originalidade
que emergiram claramente da anlise do pensamento do seu antecessor.
Todavia, dever-se- deixar sempre em suspenso a hiptese de que essa
apreciao poder-se- ficar a dever nossa ignorncia relativamente a uma
parte substancial do pensamento de Anaxmenes. Seja como for, dever-se-
sempre sublinhar a sntese criadora conseguida pelo milsio, atravs da
conciliao das propostas dos seus antecessores. Esta sntese criadora, esta
originalidade subtil, conseguida custa da introduo de um fino e impalpvel
elemento e resultante de uma anlise e de um amadurecimento das propostas de
Tales e de Anaximandro, pode ser, igualmente, o primeiro sinal de vida de uma
Histria da Filosofia que h-de vir.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Anaxmenes na confluncia de duas heranas de sentido contrrio: a
herana demasiado concreta e pesada (gua) de Tales e a herana demasiado
discreta e subtil (apeiron) de Anaximandro.
As virtualidades do elemento ar: indefinidamente vasto em extenso;
visvel e experiencivel em determinadas circunstncias; meio termo entre o
leve e o pesado elemento constitutivo dos domnios terrestre e celeste.
Erradicao da imagem presente em Anaximandro do mundo como um
palco de batalha entre contrrios.
Explicao cientfica dos fenmenos de condensao e de rarefaco.
A identificao do ar com a divindade e uma nova concepo do divino; a
eventual identificao do ar com a alma do mundo; a possvel analogia da alma
humana com a alma do mundo.
83
II. PITGORAS E O PITAGORISMO.
1. As fontes para o conhecimento de Pitgoras e do Pitagorismo:
a) Plato
b) Aristteles
c) Jmblico
d) Porfrio
e) Herclides Pntico
2. No caminho do Pitgoras histrico. Os locais e as datas. A obra: renncia
escrita
3. A confluncia do trao jnio e do trao italiano no pitagorismo
4. A componente mstico-religiosa do pitagorismo
a) A Escola. A regra do silncio
b) A concepo de alma. Eventuais influncias gregas e no gregas
c) Orfismo e pitagorismo
d) A relao estreita entre a componente religiosa e a componente cientfica da
Escola Pitagrica.
5.Temas fundamentais da vertente cientfica (-religiosa) da Escola Pitagrica.
a) O monocrdio. Propores e consonncias. Definido/Indefinido.
Limite/Ilimitado
b) Nmeros, coisas e figuras
c) Cosmogonia. Os diferentes momentos da formao do Mundo
d) Cosmologia. A ordem e a harmonia do Mundo
NOTA PRVIA: A incluso do pitagorismo neste ponto do programa, teve
unicamente em conta critrios de ordem cronolgica, ainda que consideremos
igualmente vlida a opo por critrios de ordem geogrfica ou filosfica. Seja
qual for o critrio utilizado, com o pitagorismo verifica-se como que o fim de um
84
ciclo de trao essencialmente fsico, naturalista e (quase) laico, e o advento de
uma nova era marcada por novas orientaes filosficas.
Assim, com Pitgoras (e com Xenfanes) a filosofia alarga a sua rea de
influncia de oriente para ocidente, a partir de um diversificado grupo de
pensadores. Em breve, verificar-se- que esta expanso da filosofia, atravs do
Egeu e do Mediterrneo rumo Grande Grcia, parece trazer consigo novas
sensibilidades, novas tendncias. De uma forma geral, pressente-se no grupo de
filsofos e correntes que se situam a ocidente (pitagorismo, eleatismo,
Empdocles) a presena e o peso de uma componente cientfico-religiosa. Esta
identificao surge de tal forma consistente e indiferenciada, que a tentativa de
separao de uma da outra deriva da incompreenso da sua forte
complementaridade e da unidade e coerncia dessas doutrinas.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
As fontes para o conhecimento do pitagorismo. Discusso. O esoterismo
da Escola e a ausncia de fontes directas.
A geografia do pitagorismo: de Samos para Metaponto; de Metaponto
para Crotona. Razes de carcter poltico- filosfico.
Relao entre o carcter esotrico da Escola e as perspectivas de ordem
filosfica e mstico- religiosa.
As componentes cientfico- filosficas e mstico- religiosas como
elementos de ligao e continuao entre uma tradio jnica e uma tradio
italiana.
Alguns aspectos da componente mstico- religiosa: a questo das
relaes entre orfismo e pitagorismo; possveis influncias xamnicas e hindus.
A imortalidade, a transmigrao e a purificao da alma; o parentesco dos seres
vivos; interdies; a concepo do corpo como priso da alma (sema soma). As
possveis pontes da ligao entre as vertentes mstico- religiosa e cientfico-
filosfica: contemplao (theoria), ordem (cosmos), purificao (katharsis).
Alguns aspectos de carcter cientfico- filosfico: a eventual experincia
com o monocrdio; as propores numricas simples; os nmeros inteiros; os
nmeros quatro e dez; a relao definido/indefinido, limite/ilimitado; a
indiferenciao entre nmeros da aritmtica, pontos da geometria e tomos da
matria. A tbua dos contrrios e o significado dos diferentes pares de opostos.
A cosmogonia a partir da relao entre limite/ilimitado e, na sequncia, a
85
emergncia dos pontos, nmeros e figuras. A cosmologia e a premncia do
nmero dez; o 10 corpo celeste; a harmonia das esferas celestes; os
movimentos de rotao e translao; o inesperado aparecimento de um pr-
heliocentrismo atravs da posio perifrica da Terra e da presena de um fogo
central.
III. XENFANES de Clofon
1. O local, as datas, a obra.
2. A persistncia da expresso potica como veculo do pensamento filosfico.
3. A polmica ligao a Eleia.
4. Um poeta contra os poetas.
5. Um crtico implacvel do saber e das crenas institudas.
6. Alternativas inditas e consistentes teologia tradicional.
7. Avanos e retrocessos no programa cosmolgico.
8. Introduo da problemtica gnosiolgica: valor e limites do conhecimento.
9. Um ensaio de trabalho de campo.
NOTA PRVIA: Xenfanes tem de comum com o pitagorismo o facto de, tal
como Pitgoras, fazer a ponte entre oriente e ocidente. Ou seja, de alguma
maneira, Xenfanes ser, igualmente, responsvel pela abertura da Grande
Grcia filosofia. Mas, as semelhanas acabam aqui. De facto, o primeiro trao
distintivo deste pr-socrtico que ele no se enquadra facilmente em nenhuma
Escola, em nenhuma corrente, em nenhuma tradio sapiencial, eliminada que
seja a hiptese, doxograficamente levantada, mas pouco credvel, da sua ligao
escola eletica.
Xenfanes parece querer continuar a defender para si o estatuto de livre-
86
pensador. Retoma a poesia como principal forma de expresso do seu
pensamento, qual imprime uma forte componente satrica. Por vezes, recorre a
uma estratgia argumentativa que, dir-se-ia, ter servido de inspirao aos
argumentos demolidores de Zeno. Ao criticar de uma forma to implacvel os
deuses e os hbitos da religio tradicional, assim como ao atingir de uma forma
igualmente dura e frontal os grandes poetas e educadores da Grcia, Homero e
Hesodo, acaba por estar na origem de uma nova tendncia que percorre o
mundo grego e que visa uma renovao e purificao da religio tradicional. Por
outro lado, as suas especulaes sobre a physis podero ser o resultado, pelo
menos em alguns casos, de pesquisas ou observaes directas dos fenmenos,
o que, se se confirmasse, constituiria um procedimento sem precedentes no
conjunto dos pr-socrticos. Por ltimo, refira-se que o primeiro a suscitar
aquilo que se poder considerar a futura problemtica do conhecimento,
nomeadamente ao nvel do valor e limites do conhecimento, o que, tal como na
ocorrncia anterior, significa uma preocupao rara ou mesmo indita ao nvel
dos filsofos pr-socrticos.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
A teologia crtica de Xenfanes: leitura, anlise e interpretao dos
fragmentos; a crtica religio tradicional , tambm, uma crtica paideia
tradicional; os grandes poetas-educadores dos gregos em questo: Homero e
Hesodo. A estratgia argumentativa de Xenfanes: recorrendo a um relativismo
sociolgico e cultural, reduz os costumes e as crenas tradicionais ao absurdo;
sublinhar a peculiaridade do procedimento e a sua (eventual) influncia em
filsofos posteriores.
A teologia alternativa e construtiva de Xenfanes: as principais
caractersticas do Deus de Xenfanes: imobilidade versus mobilidade e tradio;
o poder superlativo da viso, audio e pensamento; a relao de Deus com o
Mundo: eventual presena de uma viso de tom naturalista de inspirao
milsia; a permanncia de uma concepo politesta. As posies no
coincidentes dos eruditos sobre o valor das perspectivas teolgicas de
Xenfanes.
Discusso do valor a atribuir a algumas perspectivas de carcter fsico-
cosmolgico de Xenfanes; sinalizao dos pontos de retrocesso relativamente
a avanos anteriores protagonizados pelos milsios. Aspectos inovadores do
87
pensamento fsico-cosmolgico: anlise e interpretao dos testemunhos
relativos a eventuais observaes realizadas por Xenfanes, em Paros, Malta e
Siracusa; estabelecimento de uma eventual relao entre este trabalho de
campo e a afirmao de que o mar est a avanar para terra; destaque dos
aspectos eventualmente inovadores das perspectivas fsico-cosmolgicas de
Xenfanes; referir que esta vertente experimentalista, a ter existido, no veio a
fazer escola. Importncia a conferir s propostas de Xenfanes, caso se viesse a
provar a veracidade das mesmas.
A problemtica do conhecimento: leitura, anlise e interpretao dos
fragmentos 18, 34, 35 e 38; sublinhar o carcter pioneiro da atitude (filosfica) de
Xenfanes; antecipar que esta atitude problematizadora s ter soluo de
continuidade, mais tarde, com Demcrito e os sofistas; descobrir, atravs da
interpretao dos fragmentos, quais as reas do conhecimento visadas por
Xenfanes; assinalar onde termina a postura cptico-relativista e onde comea a
crena nas possibilidades do conhecimento; relacionar esse relativo optimismo
gnosiolgico com as possveis pesquisas de carcter fsico-cosmolgico
levadas a cabo em Paros, Malta e Siracusa.
IV. HERACLITO de feso
1. Local, datas e obra.
2. A questo das fontes.
3. Um livro?
4. Uma personagem enigmtica e obscura, brilhante e clara.
5. Um crtico contumaz de toda a inteligncia consagrada.
a) Contra os poetas
b) Contra os mdicos
c) Contra os filsofos
d) Purificao da religio tradicional
88
6. As traves mestras do pensamento filosfico: o logos e os contrrios.
a) O logos em verses aparentemente diferentes
b) O rio e a unidade dos contrrios: a unidade que liberta o devir
c) O deus que arde o mundo e acalenta a medida
8. Cosmologia.
a) O papel central do 4 elemento (fogo) e regresso ao logos
b) O segredo da ordem e do equilbrio
c) O papel purificador e redentor do 4 elemento e regresso a deus
9. A Alma.
a) A relao da alma com o mundo
b) A purificao da alma
c) Alma e eterno retorno
10. Nota final. Heraclitismo : um sistema global, coerente e em circuito fechado.
NOTA PRVIA: Com Heraclito regressamos sia Menor, mas no,
seguramente, ao modelo especulativo dos milsios. Pode conceder-se, numa
primeira anlise, interpretar o fogo de Heraclito como arche ou physis maneira
dos milsios. Mas depressa se verificar que se trata de algo mais complexo.
No se tratar j e unicamente de formular uma arche ou origem absoluta a
partir da qual as diferentes regies do cosmos comeam a emergir, mas,
essencialmente, compreender e explicar a regularidade e o funcionamento do
cosmos por dentro e, no mesmo passo, comprometer nesse processo o prprio
homem.
Heraclito dos casos em que, por vezes, a biografia se constitui como um
factor de primeira importncia para a compreenso da filosofia. Ele o filsofo
do no, da oposio, do contra: contra a inteligncia filosfica; contra a
sabedoria potica; contra a prtica poltica; contra a techne mdica; enfim,
89
contra o corpo de valores polticos, intelectuais, morais e religiosos socialmente
consagrados. Esta crtica, este desencanto que ele manifesta contra a
inteligncia em geral, como que um testamento ou manifesto futuro. De facto,
a imagem que permaneceu de Heraclito, ao longo da Histria da Filosofia,
muito mais a do filsofo do eterno devir do que da unidade do logos, ou seja, da
superfcie, da espuma, do lado visvel do ser que se oculta na permanncia e
mesmidade. Para Heraclito, de facto, a inteligncia no descola, no ascende
nem sintoniza com o logos, com a Inteligncia Universal e, por isso, no
compreende como o que est em desacordo concorda consigo mesmo, isto ,
como todas as coisas so governadas atravs de tudo.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
As fontes: discusso. Referncia especial ao local, vida e obra, uma
vez que constituem dados determinantes do carcter e da postura cvico-
filosfica do filsofo.
Leitura, anlise e interpretao de uma compilao de diferentes
fragmentos e testemunhos.
Reordenao do material distribudo, segundo uma determinada
sistematizao ou modelo temtico.
Chamada de ateno para o carcter especioso, mas necessrio, de uma
tal reordenao.
Sinalizao, anlise e interpretao dos fragmentos que, pelo seu
contedo, manifestam a presena da ideia de logos, ainda que oculta:
identificao dos conceitos sinnimos (fogo, divindade); identificao e
descrio do contexto em que os mesmos so aplicados; concluir pela
identificao dos trs conceitos, que, todavia, mudam de nome em funo da
rea da realidade abordada.
Leitura, anlise e interpretao dos fragmentos que remetem para a teoria
dos contrrios; relacionar a teoria dos contrrios com o equilbrio e a harmonia
csmica; interpretar e relacionar as passagens em Plato e Aristteles sobre
Heraclito e a metfora do rio, luz da relao entre unidade e teoria dos
contrrios; convocar, novamente, os conceitos de logos, fogo e divindade e
concluir que os contrrios representam diferentes formas de manifestao
daqueles; inferir pela existncia de uma articulao racional entre estes dois
planos da realidade.
90
Leitura, anlise e interpretao dos fragmentos que remetem para a teoria
da alma; distinguir as almas sbias, melhores e ardentes, das almas nscias e
cadentes; descobrir a fundamentao dessa distino; retomar os conceitos de
logos, divindade e fogo e compreender a sua relao com o conceito de alma;
verificar que a alma, em ltima anlise, percorre os diferentes elementos sendo,
simultaneamente, mortal e imortal.
Reconhecer que Heraclito recebe ainda muito de uma tradio jnico-
milsia, mas que, a partir da, a trabalha e desenvolve num sentido
eminentemente indito e original.
Concluir pela forte unidade e coerncia do pensamento de Heraclito.
V. PARMNIDES de Eleia
1. Local, datas e obra. O passado pitagrico.
2. O Poema de Parmnides
a) O estilo
b) As partes
3. O Preldio ou Introduo Alegrica
a) A razo de um estilo: significado da expresso oracular
b) Pesquisa e interpretao dos traos simblicos
c) O Preldio como antecipao de crticas e preparao de defesas.
4. A Via da Verdade
a) Mtodo rigoroso; argumentao densa e concisa
b) Mapa dos trs caminhos: / no / e no
c) A indistino entre existencial e predicativo
d) A premncia do primeiro caminho: estin
e) A impensabilidade do segundo caminho: ouk estin
f) Anncio da Via da Aparncia
91
- a aparente viabilidade e a perigosa admissibilidade do terceiro caminho:estin
kai ouk estin
- os eventuais destinatrios da bicefalia:
- hiptese Heraclito: discusso
- hiptese Pitagorismo: discusso
g) A identificao entre Ser e Pensar
5. A Via da Aparncia
a) Uma inverso na ordem dos acontecimentos
b) O carcter didctico-pedaggico da Via da Aparncia
c) A salvao das aparncias na tese W.K.C. Guthrie
NOTA PRVIA: E a viagem continua. Com Parmnides estamos, de novo, de
partida para o Ocidente Grego, concretamente, Eleia, e, com ele, retomamos o
contacto com uma tradio filosfica ou, pelo menos, com um conjunto de
traos procedimentais que j haviam sido anunciados aquando do nosso
anterior contacto com o pitagorismo.
Parmnides um filsofo difcil. difcil para o professor que tem de o
passar aos alunos de uma forma sria e inteligvel; difcil para os alunos
porque tm de fazer um redobrado esforo de compreenso, uma vez que tm
de compreender Parmnides passando para o lado de onde Parmnides pensa;
difcil para os seus prprios discpulos, uma vez que, para o defenderem, ou
jogam tudo avanando para o campo do adversrio ou, ao contrrio, defendem
cedendo, ainda que essa cedncia tenha o sabor de uma retirada; Parmnides
ainda difcil para Plato que se viu na necessidade de escrever Parmnides e o
Sofista, como meio de contornar dificuldades que ameaavam a viabilidade do
seu projecto filosfico; enfim, Parmnides difcil para Parmnides, dado que o
Parmnides filsofo coloca problemas ao Parmnides histrico impossveis de
contornar.
92
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Leitura, anlise e interpretao de uma compilao dos fragmentos
atribudos a Parmnides. Reordenao do material distribudo segundo uma
determinada sistematizao ou modelo temtico
Leitura, anlise e interpretao da primeira parte da obra de Parmnides -
o Preldio ou Introduo Alegrica: identificao do modo de expresso
utilizado; procura de uma ou mais razes para uma tal opo; o tom mstico-
religioso do Preldio: a razo de uma tal estratgia; o passado pitagrico de
Parmnides e a necessidade da criao de linhas de defesa credveis e
consistentes que protejam da previsvel barragem de crticas pitagricas.
Leitura, anlise e interpretao da segunda parte da obra de Parmnides -
Via da Verdade: identificao das diferentes vias de conhecimento na base do
(estin), no (ouk estin), e no (estin kai ouk estin); precisar o que
Parmnides entende por estin; assinalar a confuso/indiferenciao entre
sentido existencial e sentido predicativo e inferir as dificuldades da
decorrentes; interpretar a combinao das premissas e no como a via por
onde seguem o comum dos mortais, a qual constitui a matria da Via da
Aparncia; descobrir quem pretender Parmnides visar com a expresso
bicfalos: colocao da hiptese Heraclito: discusso atravs da confrontao
dos argumentos pr e contra; concluir pelo afastamento da hiptese Heraclito, a
partir da apresentao de argumentos que sustentam essa excluso. Colocao
da hiptese pitagricos: discusso atravs da confrontao dos argumentos pr
e contra; concluir pela admissibilidade da hiptese pitagricos, a partir da
apresentao de argumentos que sustentam essa possibilidade. Enumerar as
caractersticas do Ser; reconhecer que as mesmas derivam de uma rigorosa
fundamentao levada a cabo por Parmnides; compreender a inevitabilidade da
identificao parmendea entre ser e pensar e descobrir as dificuldades da
decorrentes; antecipar que a questo continua j a seguir, com Grgias de
Leontinos, atravs da sua obra Acerca da Natureza ou Do No Ser.
Leitura, anlise e interpretao da terceira parte da obra de Parmnides
Via da Opinio: enumerao dos pontos essenciais do texto, em ordem a uma
rpida familiarizao com o seu contedo; discusso do valor a atribuir a esta
parte da obra; apresentao e discusso das posies no coincidentes dos
eruditos; colocar a hiptese da inteno deste procedimento estar j presente
no Preldio; reconhecer que, em qualquer circunstncia, h que lhe atribuir um
valor e uma preocupao de carcter didctico-pedaggico; apresentao e
93
anlise circunstanciada da tese de W. K. C. Guthrie da salvao das aparncias.
VI. ZENO de Eleia VII. MELISSO de Samos
1. Local, datas, obra, actividades 1. Local, data, obra, actividades
2. Uma argumentao agnica e dialctica 2. A defesa do Ser parmendeo
atravs da sua infinitude
3. A cultura do para-doxo 3. A defesa do Ser parmendeo
atravs da sua incorporeidade
4. A defesa intransigente do Ser de Parmnides: 4. O resultado das cedncias
de Melisso
- argumentos contra o espao
- argumentos contra a pluralidade
- argumentos contra o movimento
NOTA PRVIA: Provavelmente o tempo e o espao que so dedicados a Zeno e
a Melisso no sero proporcionais importncia dos problemas que levantam e
que legam reflexo filosfico-matemtica futura. De qualquer maneira, em
termos de gesto do programa de Filosofia Antiga, optmos por um tratamento
mais conciso e sucinto destes dois discpulos de Parmnides. Ora, como
discpulos de Parmnides, adoptam estratgias de defesa do mestre de carcter
diametralmente oposto. Zeno no acrescenta, no adiante doutrina; Melisso
adianta. Zeno defende Parmnides jogando o jogo do aversrio, explorando-lhe
os erros e contradies e acabando por derrot-lo no seu prprio terreno;
Melisso tem de defender Parmnides j com os crticos nas amuradas da
doutrina. Assim, parece no lhe restar outra sada seno conceder em alguma
coisa na esperana de salvar a coisa, entenda-se, o Ser de Parmnides. Ter
94
concedido a infinitude finitude e, provavelmente, o incorpreo ao corpreo:
So passos de uma enorme importncia, de cujo alcance nenhuma das teses em
presena se ter dado verdadeiramente conta.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS: (Zeno).
Explicao da estratgia seguida por Zeno para defesa da doutrina de
Parmnides. Apresentao das aporias de Zeno contra o espao (1), a
pluralidade (2) e o movimento (4), na base do equvoco e confuso dos
pitagricos entre pontos da geometria, tomos da matria e unidades da
aritmtica.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS: (Melisso).
Sublinhar o carcter construtivo das propostas de Melisso para defesa do
essencial da doutrina de Parmnides.
Leitura, anlise e interpretao dos fragmentos onde se concede a
infinitude ao Ser de Parmnides.
Leitura, anlise e interpretao da passagem onde se defende o carcter
incorpreo do Ser: apresentao e discusso das dificuldades decorrentes de
uma tal perspectiva.
IX. EMPDOCLES de Agrigento.
1. Local, datas, obra, actividades.
2. As obras Acerca da Natureza e Purificaes. A questo: complementaridade o
ou incompatibilidade?
3. Anlise da obra Acerca da Natureza.
95
a) Uma pesada herana: Parmnides
b) As concesses ao Ser parmendeo:
- nascer/perecer
- realidade/irrealidade
c) A subverso do Ser parmendeo:
- introduo da pluralidade
- introduo do movimento
- reabilitao dos dados dos sentidos
- as fases do ciclo csmico
- as fases do ciclo csmico e o nosso mundo
- cosmogonia e cosmologia
- as fases da evoluo dos seres vivo
- relao entre as fases do ciclo csmico e as fases da evoluo dos seres vivos
4. Anlise da obra Purificaes
a) Recuperao de uma linha xamnico-religiosa de matriz pitagrica
b) As fases da vida da alma
c) O ciclo das transmigraes/reencarnaes
d) Metodologia da purificao e fuga ao ciclo
5. Experincias e teorias extra-curriculares
a) Na rea da fsica: a clepsidra
b) Na rea da fisiologia: o stio do conhecimento
NOTA PRVIA: Poder-se- dizer que depois de Parmnides nada mais ser como
antes. Efectivamente, os pensadores posteriores a Parmnides no podem
ignorar a herana deste, e a herana um Ser uno, imvel, indivisvel e
imperecvel. Doravante, a reintroduo de uma coisa to bvia como o
movimento ou a pluralidade pede fundamentao. Desta maneira, vamos
96
continuar a assistir, seja com Empdocles, Anaxgoras ou os Atomistas, a este
filosofar incessante e original de mentes engenhosas e despertas pela
curiosidade e pelo desafio.
A estratgia de Empdocles poder-se- sumariar atravs dos seguintes
pontos: a) Parmnides tem razo: o-ser--o-ser; b) mas o Ser no uno,
mltiplo; contudo, Parmnides tem razo, porque o mltiplo mantm as
caractersticas do Ser uno de Parmnides; c) alm disso, este mltiplo move-se
como resultado da aco de dois motores de sentido contrrio; d) e, uma vez
que h movimento, h mudana, a qual determina uma sucesso de fases
polares e de transio de um perptuo ciclo csmico. Enfim, a cosmogonia
possvel, a cosmologia igualmente, a origem dos seres idem e o nosso mundo
est a na fase xis do perptuo ciclo csmico. Ou seja, e em concluso,
acabmos de assistir subverso e neutralizao silenciosa do verdadeiro Ser
de Parmnides. Parmnides no fica em paz.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Apresentao das duas obras atribudas a Empdocles: Acerca da
Natureza; Purificaes. Discusso: as duas obras so contraditrias? So
incompatveis? So contraditrias e incompatveis? Ou so contraditrias, mas
no incompatveis? Destaque para a posio de F. M. Cornford: as duas obras
no so contraditrias nem incompatveis.
Leitura, anlise e interpretao de uma compilao de fragmentos da obra
Acerca da Natureza; pensar e interpretar Empdocles na base da sombra de
Parmnides; as razes do ser ou a terra, o fogo, o ar e a gua como meio de
introduo e restabelecimento da pluralidade e da mudana; o Amor e a
Discrdia ou os motores como meio de introduo e restabelecimento do
movimento e da mudana; o ciclo csmico; as fases do ciclo csmico;
identificao do nosso mundo no conjunto das quatro fases; a cosmogonia, a
cosmologia e o nosso mundo na segunda fase do ciclo csmico.
Leitura, anlise e interpretao dos fragmentos relativos evoluo dos
seres vivos; caracterizao de cada uma das quatro fases; h coincidncia entre
as fases do ciclo csmico e as fases da evoluo dos seres vivos?
Apresentao e discusso de uma hiptese de coincidncia entre as duas fases.
Leitura, anlise e interpretao dos fragmentos relativos obra
Purificaes. Identificao de cada uma das fases vida alma; caracterizao das
97
quatro fases da vida da alma; colocao da hiptese de relao entre as fases da
alma, nas Purificaes, e as fases do ciclo csmico, em Acerca da Natureza:
discusso. Concluso: reafirmao da complementaridade existente nas duas
obras de Empdocles; reconhecimento da unidade e coerncia do seu
pensamento.
IX. LEUCIPO de Mileto e DEMCRITO de Abdera.
1. Leucipo e Demcrito: o local, as datas, as obras: a incerteza relativa correcta
atribuio das diferentes obras a cada um dos filsofos.
2. Os atomistas perante Parmnides: a subverso do Ser parmendeo
3. A teoria dos tomos:
a) As caractersticas essenciais dos tomos
b) A forma, a posio e a disposio
c) Os tomos e o movimento
d) Os tomos e a formao dos corpos
e) Os tomos e as diferenas qualitativas entre os corpos
f) Os tomos e a alma
4. Cosmogonia e Cosmologia:
a) Os tomos e a formao do mundo
b) A origem e a natureza dos corpos celestes
c) A teoria dos mundos inumerveis
5. Princpios de uma teoria do conhecimento:
a) O ser e a aparncia
98
6. Teologia:
a) Os deuses e as origens da crena
b) O conhecimento e o futuro da humanidade
NOTA PRVIA: Com os atomistas h como que a assuno de um materialismo
puro e duro. Puro, na medida em que os tomos so inviolveis, sem vazio;
duro, uma vez que os tomos so compactos, pesados, contnuos, indivisveis.
Enfim, puro e duro, porque a realidade matria, nada mais do que matria,
constituda exclusivamente por tomos mais vazio, vazio entendido como
corredores de passagem e movimento de tomos.
A questo do movimento meramente acadmica, tal como a questo da
unidade ou da pluralidade. O movimento eterno porque eterna a existncia
dos tomos ao acaso no vazio. A pluralidade est a, dada pelos tomos em
nmero infinito: compactos, indivisveis, sem vazio, contnuos, contguos,
imperecveis, incriados.
E agora? Ser que a pesada herana de Parmnides fica definitivamente
enterrada? Relativamente, mas no totalmente. De facto, h que reconhecer que
o atomismo reduz a escombros o inabalvel e rotundo Ser parmendeo. Mas
h que reconhecer, igualmente, que os atomistas no procedem remoo
desses escombros. Ou seja, em cada tomo do atomismo, mora o Ser de
Parmnides: indivisvel, imutvel, compacto, imperecvel, incriado.
Por outro lado, h que registar a ausncia de qualquer trao teleolgico,
ou seja, no atomismo o acaso domina sobre o princpio de finalidade. Este
carcter ocasional, contingente do acontecer permite ao atomismo prescindir da
garantia do sagrado, da presena discreta e tutelar da divindade, frequente nos
pr-socrticos anteriores. Daqui resulta que, do ponto de vista cosmolgico, se
possa afirmar que eles foram os primeiros que defenderam de uma forma clara a
existncia de mundos inumerveis coexistentes no tempo; que o nosso mundo
o resultado de uma fortuita aglomerao e arrumao de certa poro de tomos
no vazio; que outros mundos existiro com caractersticas necessariamente
diferentes do nosso.
Esta reduo da realidade a tomos e vazio tem igualmente
consequncias a nvel gnosiolgico. Demcrito estabelece com muita nitidez a
99
distino entre conhecimento de profundidade e conhecimento de superfcie,
entre essncia e aparncia. Todavia, permanece a dvida se essa possibilidade
de conhecimento no coarctada pelos prprios limites do conhecimento.
que, se no fragmento 11, Demcrito d a entender a possibilidade de um
conhecimento autntico em oposio a um conhecimento aparente, no
fragmento 117, ao referir-se verdade, afirma que esta se encontra nas
profundezas, podendo querer sugerir que inacessvel ao homem.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Leitura, anlise e interpretao das passagens (Aristteles, Teofrasto,
Digenes Larcio, Simplcio) relativas teoria dos tomos.
A fragmentao do Ser de Parmnides e, simultaneamente, a manuteno
das caractersticas essenciais do mesmo em cada uma das partculas atmicas.
O restabelecimento da pluralidade e do movimento atravs da introduo
de um nmero infinito de tomos ao acaso no vazio.
A natureza do movimento.
A contextura, o peso, a forma, a posio e a disposio dos tomos.
A composio atmica dos corpos, o vazio e as suas diferenas
especficas.
Os tomos, o fogo, a forma circular e a alma.
O processo de formao do nosso mundo: o isolamento ocasional de um
conjunto de tomos no vazio e o movimento da decorrente; os tomos leves e
os tomos pesados; a formao da Terra e o aparecimento e formao dos
corpos celestes. O nosso mundo e a pluralidade de mundos; a defesa e
justificao dos mundos inumerveis, diferentes e coexistentes no tempo.
A problemtica gnosiolgica: leitura, anlise e interpretao das
passagens (Aristteles, Sexto) e fragmentos (6, 7, 8, 9, 10) relativos teoria
do conhecimento; a questo do valor e dos limites do conhecimento; a razo ou
intelecto como fonte do conhecimento autntico; a sensao como fonte do
conhecimento sensvel ou aparente; os dados dos sentidos como meio para
atingir o conhecimento verdadeiro; a verdadeira essncia das coisas (tomos e
vazio) encontra-se para l da percepo sensvel; a questo que permanece:
ser a razo capaz de alcanar essa essncia?
100
OS SOFISTAS
E
SCRATES
101
X. ATENAS, SCULO V: UMA POCA DE MUDANA
1. Os novos contextos:
a) Poltico
b) Social
c) Econmico
d) Intelectual
e) Cultural
NOTA PRVIA: necessrio trazer o mapa, novamente, e recordar a geografia
da filosofia at agora percorrida: da orla costeira e insular da sia Menor,
banhada pelo Egeu, passando pelo Mediterrneo rumo ao Ocidente, at
Grande Grcia da Siclia e do mar Jnio, da religiosidade e dos latifndios. E
apontar o sbito aparecimento, no continente, de um novo plo de atraco para
onde parecem convergir todos os interesses, atenes e ideias: Atenas,
finalmente.
Graas posio de grande destaque conseguida nas Guerras Prsicas,
Atenas passa a gozar de uma importncia e poder nunca antes conseguidos. O
regime democrtico implanta-se e consolida-se, e o tesouro de Delos financia o
que era suposto no financiar. Mas, graas a esse financiamento que Atenas
segue decidida no aprofundamento dos sistemas poltico e jurdico e na
intensificao das diferentes manifestaes do esprito.
Atenas ainda no sabe que, sob este fervor inovador, vai-se fazendo um
clamor surdo de revolta, anncio de perdio. Tuciddes explicou-o com
preciso: h uma incompatibilidade que retalha, desde o incio, a viabilidade de
Atenas: uma Atenas plenamente democrtica no combina com uma Atenas
exorbitantemente imperialista. E os resultados no se fizeram esperar, Atenas
perdeu tudo: a guerra, a alma, a autonomia, o amor-prprio e aquilo que
Protgoras dizia que nenhuma cidade podia perder sob pena de desaparecer: o
pudor (aidos) e a justia (dike).
102
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar as caractersticas essenciais do regime democrtico ateniense.
Determinar os aspectos essenciais do funcionamento da justia no
regime democrtico ateniense.
Compreender as razes do florescimento econmico ateniense.
Reconhecer as profundas transformaes ocorridas no plano social.
Descobrir at que ponto estes diferentes factores se reflectiram no plano
intelectual e cultural.
2. Tragdia, Medicina, Filosofia
a) Caractersticas essncias da razo trgica: o caso Antigona:
- coro e conscincia cvica
- protagonista e conflito entre passado e presente
- os duplos discursos
NOTA PRVIA: 2. a) Com base na Antgona de Sfocles, relevam-se os temas
frequentemente presentes no pensamento dos poetas trgicos, com vista a
estabelecer uma relao e influncias mtuas entre tragdia e sofstica.
Na tragdia, encontra-se uma problemtica de contedo eminentemente
filosfico que vai reflectir-se, seguramente, no pensamento dos sofistas e que
constituir um dos alvos preferenciais de Plato na sua crtica implacvel nova
paideia, em geral, e tragdia e sofstica, em particular.
Da Antgona destacar-se-, essencialmente, os conflitos ao nvel da
religio, das leis, do poder e das interpretaes; o carcter polissmico das
palavras, a ambiguidade dos discursos e o fechamento e consequente
isolamento dos protagonistas no seu universo de discurso.
103
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Caracterizar o sentido dos discursos enunciados pelos protagonistas.
Identificar os conflitos manifestos e latentes presentes nos discursos em
confronto.
Interpretar o sentido e as oscilaes do coro constatveis ao longo da
pea.
Reconhecer a estreita relao entre a dimenso religiosa, jurdica tica e
poltica.
Descobrir o duplo sentido das palavras e dos discursos. Concluir pela
presena de uma problemtica de carcter eminentemente filosfico.
2. Tragdia, Medicina, Filosofia.
b) Caractersticas essenciais da razo mdica: o caso Hipcrates:
- o significado do primeiro cdigo deontolgico
- a relao mdico/paciente, mdico/doena
- a relao entre sensibilidade e inteligncia
- o conceito de logos
- o conceito de techne mdica
- o conceito de natureza
- o conceito de natureza humana
- o conceito de kairos e o conceito de tyche
NOTA PRVIA: Tal como na rubrica anterior, pretende-se destacar traos
eminentemente caractersticos do pensamento e procedimento mdico,
relacionando-os com traos semelhantes e eventualmente presentes no
pensamento e procedimento dos sofistas.
O Juramento Hipocrtico um texto paradigmtico, seja pelo seu carcter
fundador, seja pela sua antiguidade ou pela sua actualidade. Todavia, sem
pretender proceder a uma anlise exaustiva do escrito, h que salientar alguns
pontos de relevante importncia, sobretudo se se tiver igualmente em conta
outros Tratados como Preceitos, Da Decncia, Da Arte, etc.
a) Ainda que o texto surja geralmente cabea da Coleco Hipocrtica,
deve considerar-se como o primeiro texto da Coleco ou, ao contrrio, como
104
um texto posterior ou relativamente tardio, reflexo de uma longa meditao
sobre a actividade mdica?
b) conferida pessoa, na sua individualidade e diferena, uma radical
centralidade.
c) Afirmao da defesa da vida em qualquer circunstncia, princpio que
no foi inspirado, certamente, pelo pensamento e pelas propostas dos filsofos
em geral.
Outros aspectos ainda a considerar, tendo em conta o conjunto dos
Tratados:
a) A importncia atribuda aos dados dos sentidos (aisthesis) e
experincia sensvel e a organizao dessa informao atravs de um uso
correcto da inteligncia (logismos).
b) O mdico como detentor de um saber (tecnhe), de um saber como
fazer, quando fazer e por que fazer.
c) O mdico como especialista do discurso (logos) persuasivo (peitho) e
fundamentado.
d) Introduo do conceito restrito de natureza(s) humana(s) (physies) em
contraste com o amplo conceito de natureza (physis).
e) Afirmao do homem como individualidade nica, intransmissvel,
irrepetvel.
f) A descoberta do carcter imprevisvel e impondervel prprio da
natureza humana.
g) O conceito de tempo como algo no uniforme, aleatrio, ao longo do
qual surgem ocasies propcias, oportunas (kairos) interveno. A tecnhe
mdica no tem o domnio do tempo, mas estuda-o e, com o tempo, vai
adquirindo a experincia do tempo de entrada, de sada ou de espera.
h) O conceito de tyche como acaso ou imprevisto, que o mdico com a
experincia adquirida atravs do exerccio da arte, pode, em certas
circunstncias, reverter a favor da tecnhe.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Procurar as causas que levam necessidade da criao de um cdigo
deontolgico.
Estabelecer a relao entre sensibilidade (aisthesis) e inteligncia
(logismos) e, consequentemente, inferir o processo de conhecimento da
105
decorrente.
Compreender a necessidade de um domnio cientfico e persuasivo do
logos.
Distinguir tecnhe de episteme.
Descobrir por que razo o mdico privilegia tecnhe relativamente a
episteme.
Avaliar as consequncias decorrentes da distino entre natureza e
natureza humana.
Relacionar o conceito de kairos com o conceito de tyche.
Estabelecer uma relao compreensiva entre tecnhe, kairos e tyche.
Concluir pela especificidade do saber e da prtica mdica.
Procurar eventuais pontos de contacto com o pensamento trgico,
anteriormente analisado.
2. Tragdia, Medicina, Filosofia
c) Caractersticas essenciais da razo sofstica:
- o carcter filosfico do pensamento dos sofistas
- os temas fundamentais da reflexo sofstica
- pensadores sem Escola
- um cdigo deontolgico?
- o sentido de uma sofstica de primeira e segunda gerao
- a influncia da tradio platnico-aristotlica na transmisso do pensamento
dos sofistas
NOTA PRVIA: A questo coloca-se logo no primeiro ponto: o carcter
filosfico do pensamento dos sofistas. De facto, no possvel proceder
abordagem deste assunto sem abrir a discusso ao tipo de estatuto dos
sofistas, na Histria da Filosofia, ou pura e simples recusa de qualquer
estatuto ou presena, na Histria da Filosofia. De um certo ponto de vista, se se
tiver em conta a srie de estudos relativamente recentes sobre este assunto, a
questo parece anacrnica, uma vez que, actualmente, quase consensual a
aceitao dessa presena.
Porm, todos os anos, sempre que se atinge este ponto do programa, o
106
docente v-se confrontado com uma posio peremptria e aparentemente
segura dos alunos relativamente aos sofistas: os sofistas so sofistas, os
filsofos so filsofos, isto , a sofstica uma erva daninha sempre pronta a
contaminar a filosofia. Por outras palavras, os alunos trazem do secundrio uma
srie de lugares comuns que cumpre ao docente desmontar e esclarecer. Na
sequncia da abordagem desta questo, chamar-se- a ateno para o papel
demolidor que a mquina platnico-aristotlica teve na criao deste estado de
descrdito absoluto.
Para alm de um enquadramento histrico-cultural, de uma anlise das
problemticas tratadas e dos mtodos utilizados, colocar-se- a hiptese de ter
surgido algo de semelhante a um cdigo deontolgico ou conjunto de normas
de conduta a observar, no exerccio da actividade sofstica. Chamar-se-o para
discusso os testemunhos de Protgoras, de Grgias e do Annimo de
Jmblico. A questo que se coloca , em sntese, a seguinte: se o mdico
hipocrtico depressa se viu na necessidade de criar um cdigo de
comportamento, no haver textos dos sofistas que sugerem que este, como
mdico das almas, deve observar igualmente um conjunto de normas de
conduta no exerccio da sua actividade?
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Atravs da leitura, anlise e interpretao de alguns fragmentos dos
sofistas e de fontes antigas e recentes, discute-se o carcter filosfico do seu
pensamento. Para a discusso sero chamadas as questes centrais da reflexo
sofstica de modo a contriburem para uma compreenso global do seu
pensamento e a apoiarem uma concluso relativamente questo inicialmente
colocada: ontologia, cosmologia, gnosiologia, filosofia da linguagem,
hermenutica, filosofia da cultura, filosofia social e poltica e tica. igualmente
importante referir alguns aspectos, primeira vista laterais, tais como: ausncia
de Escola; estatuto remuneratrio; estatuto de estrangeiros; docentes
itinerantes; reas cobertas pelo ensino ministrado.
Como anteriormente se disse, dever-se- conjecturar sobre a eventual
presena, entretanto desaparecida, de um cdigo deontolgico ou de conduta.
Por ltimo, indispensvel proceder anlise e avaliao do testemunho
platnico-aristotlico, determinando o peso e o carcter da sua influncia ao
longo da Histria da Filosofia.
107
d) Quatro sofistas: Protgoras, Grgias, Trasmaco e Antifonte
NOTA PRVIA: Esta escolha, de um painel onde figuram outros sofistas
igualmente ilustres no foi feita ao acaso. Por um lado, Protgoras e Grgias so
presenas e referncias constantes e obrigatrias pelo seu passado, pela
ateno que mereceram de Plato (e de Aristteles), pelo muito que se disse e
escreveu sobre ambos e por aquilo que (diz-se) escreveram e disseram.
Trasmaco porque, seguindo uma determinada linha de interpretao,
um caso evidente de maus tratos. Concretamente, se juntarmos o Trasmaco do
Livro I de A Repblica de Plato, qual fera formando um salto pronta a dilacerar
Scrates e os seus indefesos interlocutores (336b), ao Trasmaco dos raros
fragmentos que restam, verificamos que estamos perante notcias no s
contraditrias como incompatveis. Uma anlise cuidada desse material, de
parceria com uma correcta compreenso do contexto intelectual, social e
poltico em que surgem, podero fornecer um bom exemplo da forma como o
pensamento dos sofistas foi tantas vezes deturpado e atraioado.
De facto, o testemunho de Plato, o elo tradicionalmente mais forte, pode
no resistir ao confronto com outros testemunhos e fragmentos do sofista que
podem ajudar a compreender at que ponto forjada a figura e a prestao de
Trasmaco no Livro I de A Repblica.
Relativamente a Antifonte, trata-se de um sofista (?) que tem merecido
especial ateno nas ltimas dcadas. Antifonte vai-se revelando, efectivamente,
um pensador completssimo e de uma rara originalidade. As reas sobre as
quais incide a sua reflexo, viro a constituir, no fundo, o conjunto das
disciplinas filosficas nucleares sempre presentes ao longo da Histria da
Filosofia.
Protgoras:
- Local, datas e obra
- Anlise das Antilogias
108
- Anlise da Verdade
- Anlise do mito de Protgoras no Protgoras de Plato
- Protgoras no Teeteto: anlise da interpretao de Plato da mxima de
Protgoras
- A teoria dos discursos forte e fraco: anlise da notcia de Aristteles na
Retrica
- Concluso
NOTA PRVIA: Relativamente a Protgoras, interessa tentar estabelecer a
cronologia da obra, para, a partir da, refazer o percurso do pensamento. De
igual importncia proceder a uma anlise do testemunho de Plato,
concretamente, no Protgoras e no Teeteto, e de Aristteles, designadamente,
na Retrica e na Metafsica. A partir da recolha e tratamento da informao nas
diferentes fontes, poder ser possvel determinar as perspectivas fundamentais
de Protgoras relativamente a reas que se relacionam com a ontologia, a
gnosiologia, a tica ou a poltica.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar as questes fundamentais levantadas nas Antilogias.
Interpret-las como o resultado da constatao do carcter bipolar,
antilgico, da realidade visvel e invisvel.
Determinar os temas nucleares de A Verdade.
Interpret-los como alternativa construtiva problemtica anteriormente
exposta nas Antilogias.
Concluir pela existncia de uma soluo de continuidade entre as
Antilogias e A Verdade, como momentos de um processo dialctico que
representam duas fases distintas de um processo coerente de pensamento.
Leitura, anlise e interpretao do fragmento Sobre os deuses.
Leitura, anlise e interpretao do fragmento sobre o homem-medida.
Estabelecimento de uma relao coerente e de continuidade entre
ambos.
Problematizao do conceito de homem no fragmento sobre o homem-
medida.
Determinao do alcance atribudo por Plato, na frase em anlise, ao
109
conceito de homem, no dilogo Teeteto.
Estabelecimento de uma ligao entre: a) a tese defendida no homem-
medida; b) a tese do discurso forte (kreiton logos) e do discurso fraco (hetton
logos); c) a tese defendida pelo sofista, atravs do mito de Prometeu, no dilogo
Protgoras de Plato.
Anlise do testemunho de Aristteles, na Retrica, sobre a tese do
discurso forte (kreiton logos) e do discurso fraco (hetton logos): crtica do
mesmo.
Concluir pelo carcter eminentemente filosfico do pensamento de
Protgoras.
Grgias:
- Local, datas e obras
- Anlise do Tratado Acerca da Natureza ou do No Ser : defesa do carcter
filosfico da obra
- Anlise do Elogio de Helena: defesa do carcter filosfico da obra
- Relao entre as duas obras
- Retrica e Filosofia
- Concluso
NOTA PRVIA: Tal como anteriormente com Protgoras, igualmente com
Grgias h que proceder a um realinhamento da obra em ordem a traar uma
linha credvel de pensamento. A ateno incidir, essencialmente, em duas
obras: o Tratado Acerca da Natureza ou Do No Ser e o Elogio de Helena. De
Plato convocar-se- o dilogo Grgias, uma vez que coloca em destaque a
oposio entre sofstica e filosofia, na base da oposio entre discurso retrico
e discurso dialctico, com o objectivo de descredibilizar as teses do sofista. No
mesmo passo, chamar-se- a ateno para o significado da operao levada a
cabo por Plato a determinada altura do dilogo: no momento em que colocando
em cena essa estranha e sinistra personagem, o ignoto Calicles, faz recuar
Grgias para os bastidores do dilogo.
Com a anlise e interpretao do Tratado Acerca da Natureza ou Do No
110
Ser e do Elogio de Helena pretende-se demonstrar a existncia de uma clara
soluo de continuidade entre as duas obras e, sobretudo, que essa soluo de
continuidade significa uma ntida orientao de carcter filosfico, resultante de
uma prvia problematizao de questes que constituem uma rea de constante
reflexo filosfica. Em sntese, concluir-se- que, quer o Tratado Acerca da
Natureza ou Do No Ser quer o Elogio de Helena, no se reduzem a meros
exerccios de retrica de vcua erudio, mas, ao contrrio, so o resultado de
uma reflexo sria que toca reas como a ontologia, a gnosiologia, a tica ou a
filosofia da linguagem.
Por ltimo, do Elogio de Helena poder-se- ainda conjecturar e discutir se
no se encontrar a subjacente um esboo, um ensaio de uma teoria da
conduta, de uma tica do procedimento, em sntese, de um cdigo deontolgico.
Recorde-se, a propsito, que o Elogio de Helena estabelece um paralelismo
entre o mdico e o sofista como mdico das almas, para salientar a pesada
responsabilidade que impende sobre o exerccio de ambas as actividades.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Leitura do Tratado Acerca da Natureza ou Do No Ser: anlise e
interpretao da primeira tese (nada existe); anlise e interpretao da segunda
tese (se algo existe incognoscvel); anlise e interpretao da terceira tese
(ainda que cognoscvel incomunicvel a outrem).
Apresentao e discusso das teses pr e contra o carcter filosfico do
Tratado. Identificao dos eventuais visados no Tratado.
Descobrir a presena da herana parmendea atravs das teses (nada
existe, se algo existe incognoscvel, ainda que cognoscvel incomunicvel a
outrem) anteriormente analisadas.
Concluir pela reduo ao absurdo da identidade parmendea entre Ser,
Palavra e Verdade.
Constatar que a recusa da ontologia no determina a inevitabilidade de
qualquer niilismo radical.
Inferir o papel central que est reservado ao discurso na construo da
realidade que importa e da verdade possvel.
Concluir pelo carcter eminentemente filosfico do Tratado.
Leitura do Elogio de Helena.
Anlise e interpretao da obra: apresentao e discusso das teses pr
111
e contra o carcter filosfico da obra; reconhecer a existncia de uma rigorosa
metodologia argumentativa de fundo eminentemente filosfico.
Estabelecer a relao entre o resultado da reflexo levada a cabo no
Tratado Do No Ser e o papel e o poder atribudo ao discurso no Elogio de
Helena.
Reconhecer a relao e a importncia dos conceitos de pharmakon e de
peitho, respectivamente na medicina e na sofstica.
Estabelecer a relao entre mdico do corpo e mdico da alma.
Colocar a hiptese de, luz do exemplo hipocrtico, se insinuar a
conscincia da necessidade de um cdigo de conduta a que o sofista se deve
vincular, no exerccio da sua actividade
Relacionar os conceitos de logos e de peitho com o conceito de
psicagogia; explicar a justeza do conceito de apate dikaia.
Precisar o sentido do conceito de kairos no pensamento de Grgias.
Concluir, em funo das temticas e problemticas abordadas, pela
presena e um pensamento de carcter eminentemente filosfico, fortemente
relacionado com a viso aportica do mundo presente nos grandes poetas
trgicos.
Trasmaco
- Local, datas e obra
- Anlise do testemunho de Plato no Livro I de A Repblica
- Anlise do fragmento Sobre a Constituio Antigos
- Anlise do fragmento Sobre os Deuses
- Concluso: para alm da antilogia; pela Concrdia
NOTA PRVIA: Como se disse anteriormente, Trasmaco parece ser um caso
evidente de maus tratos. Expliquemo-nos: durante sculos o que contou foi o
Trasmaco do Livro I de A Repblica. Ora, este Trasmaco o testemunho vivo
do estado de degradao e perverso a que a sofstica, no espao de duas
geraes, pde chegar. O que resulta, por conseguinte, de uma leitura directa da
112
prestao do sofista o que Plato queria que resultasse: uma repulsa
terminante das ideias defendidas pelo sofista e do ensino por si ministrado.
Porm, se continuarmos procura de outras fontes para o conhecimento
do pensamento do sofista, vamos encontrar outros escritos onde nos
deparamos com posies que pem claramente em causa o testemunho de A
Repblica. Parece, ento, que no nos resta outra alternativa seno optar por
uma das fontes em confronto, considerando a outra espria. Mas, talvez haja
uma soluo intermdia que acabe por contemplar os testemunhos
aparentemente incompatveis. A soluo consiste ento nos seguintes passos:
enquadrar Trasmaco num contexto de crise geral e aguda das instituies, das
tradies e dos valores; considerar que o comportamento e as posies por si
defendidas, em A Repblica, dificilmente seriam toleradas por qualquer auditrio
ateniense; considerar que as notcias recolhidas alm de A Repblica so
absolutamente credveis e aceitveis (Sobre a Constituio dos Antigos; Sobre
os deuses); considerar que Plato, de facto, no pe na boca de Trasmaco
aquilo que ele no disse; considerar que, todavia, introduz um pequeno-nada,
uma leve toro no discurso do sofista, a qual, efectivamente, ir adulterar todo
o sentido da alocuo. Ou seja, enquanto Trasmaco estaria a reportar a
constatao de uma situao de facto, a qual teria conduzido Atenas ao estado
de crise profunda em que se encontra, Plato parece fazer de conta que no se
deu conta disso, e relata a alocuo do sofista como se se tratasse da defesa de
um estado de direito.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Leitura, anlise e interpretao da interveno de Trasmaco no Livro I de
A Repblica de Plato:
Caracterizar o contexto poltico-cultural em que a mesma ocorre.
Questionar se a forma e o contedo das teses defendidas pelo sofista
seriam tolerados, na altura, por qualquer auditrio ateniense.
Equacionar a hiptese de o discurso de Trasmaco ter sido objecto de
distoro por parte de Plato.
Introduzir, para confronto, outros fragmentos e testemunhos: Sobre os
deuses; Sobre a Constituio dos Antigos.
Reconhecer a presena de uma perspectiva claramente construtiva e,
nesse sentido, diametralmente oposta transmitida por Plato.
113
Colocar a hiptese de Plato confundir deliberadamente uma constatao
de facto com uma defesa de direito.
Concluir pela presena de um pensamento de carcter eminentemente
filosfico e original, afastando-se, inclusive, das orientaes ersticas e
antilgicas de Protgoras e de Grgias.
Antifonte
- Local, datas e obras
- A identidade: a questo antifntica
- A ontologia e cosmologia antifntica a partir da anlise do testemunho de
Aristteles na Fsica: rhythmos/arrythmiston
- O pensamento poltico: anlise da Verdade. Natureza e Conveno
- tica e Antropologia: anlise da Concrdia. Natureza e Conveno. Natureza e
Condio Humana
- Concluso
NOTA PRVIA: Um mistrio e uma dificuldade. O mistrio relaciona-se com o
facto de Antifonte ter escapado ao crivo da crtica platnica. A dificuldade tem a
ver com a identidade de Antifonte, ou seja, remete-nos directamente para a
chamada questo antifntica, a qual consiste no seguinte: o Antifonte retrico
e o Antifonte sofista so uma e a mesma pessoa ou, ao contrrio, so duas
pessoas diferentes? Quais os argumentos invocados em defesa de um Antifonte
retrico versus um Antifonte sofista? Qual a validade dos mesmos? Quais os
argumentos invocados em favor de um Antifonte simultaneamente retrico e
sofista? Qual a validade dos mesmos?
Lanar-se-, entretanto, para a mesa das possibilidades, a hiptese
Antifonte sofista versus retrico, fazendo-se notar que se trata de uma soluo
provisria que s com o decorrer da anlise do pensamento de ambos poder
revelar-se definitiva. Ora, a anlise da obra levar-nos- a concluir que estamos
perante dois homens com orientaes poltico-filosficas diametralmente
opostas. A ateno incidir, ento, sobre as duas obras atribudas ao sofista,
114
Verdade e Concrdia. O resultado do estudo dessas obras revelar um
pensamento claramente filosfico marcado por uma rara originalidade.
De facto, a reflexo levada a cabo por Antifonte leva-o a tocar em
diferentes disciplinas de carcter eminentemente filosfico: ontologia,
cosmologia, gnosiologia, hermenutica, tica e filosofia social e poltica.
Constata-se, igualmente, a existncia de uma terminologia de raiz antifntica,
mesmo que alguns desses termos j faam parte da terminologia filosfica
corrente. Ou seja, frequentemente, na expectativa da criao de uma linguagem
to prxima quanto possvel da ideia, Antifonte procede a um trabalho de
ruptura ou de reatribuio de sentido.
Por outro lado, a coerncia do seu sistema absolutamente notvel: h
como que um sistema de vasos, de ideias, de conceitos comunicantes entre as
diferentes disciplinas abordadas. A problemtica cosmolgica remete para a
problemtica ontolgica, a qual se liga antropolgica que remete para a tica e
para a poltica. A terminologia varia em funo da rea abordada, mas uma
mudana essencialmente ao nvel do significante e no tanto ao nvel do
significado. Por essa razo, possvel circular no interior da obra e do
pensamento de Antifonte, conseguindo-se uma compreenso do sentido e
coerncia do seu pensamento, sem oscilaes nem alteraes bruscas nas
zonas de passagem.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Estabelecer contacto com algumas passagens das Tetralogias de
Antifonte o retrico.
Traar, a partir da, um perfil do homem e do poltico.
Estabelecer um primeiro contacto com passagens previamente
seleccionadas das obras Verdade e Concrdia de Antifonte o sofista.
Proceder, com base nos dados analisados, a uma breve abordagem da
questo antifntica.
Analisar os argumentos pr e contra de cada alternativa.
Identificar as dificuldades resultantes da defesa da tese de um Antifonte
retrico e sofista.
Colocar a hiptese de um Antifonte outro que no o retrico.
Analisar a viabilidade dessa hiptese atravs da leitura, anlise e
interpretao das obras Verdade e Concrdia.
115
Reconhecer a existncia de uma terminologia propriamente antifntica.
Anlise e interpretao da mesma com base, entre outros, nos conceito
de rhythmos/arrythmiston, apeiros, diathesis, dike, ananke, physis, doxa e
homonoia.
Descobrir a estreita relao entre a cosmologia e a ontologia antifntica.
Identificar a relao existente entre a Verdade e a Concrdia e, a partir
da, assinalar a ligao entre as vertentes tica, poltica, antropolgica e as
vertentes cosmolgica e ontolgica. Assinalar a existncia de problemticas at
a no abordadas.
Reconhecer a actualidade das mesmas.
Concluir pela existncia de um pensamento de carcter eminentemente
filosfico de rara originalidade.
e) Scrates:
- Local, datas
- Fontes para o conhecimento de Scrates: Aristfanes, Plato, Xenofonte,
Aristteles e escolas socrticas menores
- Anlise e crtica das fontes
- Anlise das fases da evoluo do pensamento de Scrates: naturalista, sofista,
socrtica
- A condenao de Scrates:
as peas da condenao
anlise e crtica das mesmas
as razes da condenao
- Temas e orientaes filosficas fundamentais
NOTA PRVIA: Era suposto que, de Scrates, de quem se diz que nada disse
porque (de) nada sabia, de nada se soubesse. Ora, Scrates uma presena
permanente, uma referncia constante ao longo da Histria da Filosofia. Mas, a
peculiaridade da questo est no facto de Scrates ser esta presena constante
116
precisamente por, recusando-se a fazer doutrina, nada ter escrito, isto ,
exactamente o contrrio que leva todos os outros filsofos a figurarem na
Histria da Filosofia. O que sabemos de Scrates chega-nos atravs daqueles
que dizem ter ouvido dele ou, nessa impossibilidade, terem sabido dele atravs
de outros.
Assim, a primeira questo a ser colocada, relaciona-se com a anlise e
discusso das fontes para o conhecimento de Scrates. Ora, o testemunho das
fontes no coincidente. Assim, torna-se necessrio proceder a uma avaliao
muito rigorosa do peso e da credibilidade desses testemunhos.
Em As Nuvens, de Aristfanes, Scrates surge como a personagem
principal sobre quem se concentram crticas que, mais tarde, se viro a revelar
de uma eficcia letal. Scrates o representante das novas correntes de ideias
que vm assolando Atenas: as filosofias da natureza e a sofstica. A eficcia
destas crticas confirma-se quando se verifica que, pese embora a comdia
surgir em 423 a. C., em 399 a. C., quando Scrates levado a tribunal, as
acusaes com que se deparar so exactamente aquelas que, anos antes,
surgiam em As Nuvens.
O testemunho de Plato, tal como o de Xenofonte, impe a anlise e
discusso das posies pr e contra defendidas pelos eruditos, relativamente
validade dessas fontes, e poder levar concluso de que se Plato peca por
excesso, Xenofonte peca por defeito.
Aristteles, como defende Magalhes Vilhena, autor de um estudo ainda
hoje de consulta obrigatria, uma fonte sem acesso directo a Scrates e que
se socorre, essencialmente, do testemunho de Plato. Nesse sentido, defende o
Autor, pouco acrescenta.
A referncia s escolas socrticas menores tem um duplo interesse: no
momento em que se toma contacto com as orientaes filosficas de cnicos,
cirenaicos e megricos, verifica-se uma apropriao e explorao de eventuais
perspectivas filosficas de Scrates num sentido que no corresponderia sua
formulao original.
A hiptese de fases na evoluo do pensamento de Scrates visa traar
um percurso intelectual razoavelmente credvel. Uma fase naturalista, uma fase
sofstica e uma fase propriamente socrtica, eis, em sntese, trs momentos que
podero ter representado outras tantas orientaes de carcter filosfico na vida
de Scrates. A abordagem deste assunto remete para a leitura e anlise de
alguns dilogos de Plato, entre os quais, Apologia, Fdon, Hpias Maior e
Hpias Menor.
117
A questo da condenao de Scrates tem de ser estudada com base nas
informaes recolhidas junto de Aristfanes, Plato e Xenofonte e na crtica das
mesmas. Paralelamente, proceder-se- anlise do contexto poltico, social e
cultural, no qual ocorre a condenao.
Por ltimo, propor-se- uma aproximao a uma eventual temtica de
carcter tico-poltico que constituiria o centro de toda a reflexo socrtica.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar as fontes para o conhecimento de Scrates.
Descrever as diferentes imagens de Scrates atravs de cada uma das
fontes.
Analisar os argumentos pr e contra a validade de cada uma das fontes.
Concluir pelo carcter precrio e conjectural da construo de uma
imagem do Scrates histrico na base dos testemunhos existentes.
Identificar as eventuais fases da evoluo do pensamento de Scrates.
Caracterizar cada uma delas na base dos testemunhos disponveis.
Relacionar a ltima fase com os dilogos de juventude de Plato.
Caracterizar a ironia socrtica.
Caracterizar a maiutica socrtica
Analisar o teor das acusaes que determinam a condenao de
Scrates.
Relacionar com a comdia As Nuvens de Aristfanes.
Reconhecer nas posies de carcter tico-poltico defendidas por
Scrates um factor determinante da sua condenao.
Ensaiar o estabelecimento das ideias centrais de uma eventual doutrina
propriamente socrtica, de matriz eminentemente tico-poltica, atravs dos
testemunhos de Plato e de Xenofonte.
118
PLATO
E
ARISTTELES
119
XI. PLATO
1. Local, datas
2. Acontecimentos capitais
3. A obra:
a) Cronologia e critrios de autenticao:
- a componente literria
- a componente filosfica
- a componente lingustica e estilstica
- provas internas e referncias recprocas nos dilogos
b) A transmisso da obra
NOTA PRVIA: Como se referia na Introduo, ao chegar a este ponto do
programa, o docente, em nome do rigor cientfico e da eficcia e transparncia
pedaggica, depara-se com uma srie de dificuldades que no deve ignorar e
que por isso mesmo exigem escolhas claras e inequvocas.
O conhecimento que os alunos trazem do pensamento de Plato
claramente insuficiente, na maior parte das vezes nulo, ou seja, os alunos no
fazem ideia nenhuma do pensamento de Plato. Ora, o objectivo do docente
que os alunos, tendo em conta os vrios condicionamentos existentes limite
temporal, extenso do programa - fiquem a fazer (uma) ideia de Plato.
Melhor, adquiram um conjunto de conhecimentos chave (bases) que lhes
permitam, a partir da, circular pela obra do filsofo com um mnimo de destreza
e de segurana. Ou seja, no se pretende, porque objectivamente inexequvel,
dar a obra de Plato, mas deseja-se que o aluno adquira os conhecimentos e
as competncias necessrias que lhe permitam identificar os grandes temas do
pensamento platnico e saber situar e eleger, sempre que disso necessite, a
obra ou obras onde poder entrar em contacto directo com determinada
problemtica.
Certo de que os alunos colhero vantagens e proveitos desta
metodologia, o docente no deve recear avanar para uma programao que, a
olhos pretensamente mais exigentes, mas certamente menos experientes,
poder parecer enfermar de uma excessiva inclinao secundria ou liceal,
desaconselhvel a alunos do superior. Ora, j se disse, esse risco no se
120
corre, uma vez que os alunos no tm qualquer base anterior ou secundria, e
no cientfica nem pedagogicamente aceitvel que em nome de uma pura
abstraco se julgue poder queimar ou ignorar etapas incontornveis neste
difcil processo de aprendizagem.
Comear por assinalar e conhecer alguns dos momentos da vida de
Plato vai muito alm de um mero procedimento metodolgico que, noutras
circunstncias, visaria preencher to-somente um primeiro ponto de abertura ao
estudo do pensamento e da obra de um filsofo. O encontro com Scrates e o
convvio mantido, at sua morte; as circunstncias que envolveram a
condenao e a morte de Scrates; a vivncia de uma forma extremamente
intensa de uma poca de crise profunda; o fracasso dos regimes democrticos e
a ausncia de alternativas; a fundao da Academia; a odisseia siciliana,
resultado certamente de iluses repetidamente desfeitas, so alguns dos
momentos chave da vida de Plato e que esto na origem de opes e
orientaes decisivas que os seus escritos vm testemunhar.
Uma referncia, ainda que breve, a algumas dificuldades levantadas pela
obra de Plato, parece-nos igualmente necessria, ao mesmo tempo que
funciona como uma advertncia para um requisito a ter em conta sempre que se
pretenda empreender uma investigao especializada e em profundidade do
pensamento e da obra do filsofo. Refiram-se, a propsito, algumas dessas
dificuldades:
1. Estabelecimento de uma cronologia das obras, perante a inexistncia
de um consenso sobre a questo; a tentativa de, pese embora a diviso de
opinies junto dos eruditos, se estabelecer uma cronologia aproximada dos
dilogos a partir da admisso de dois, trs grandes perodos na evoluo do
pensamento de Plato, concretamente, perodo de juventude ou socrtico, de
maturidade ou propriamente platnico e de velhice.
2. Estabelecimento de um critrio seguro de autenticao dos dilogos e
cartas. Excepto a VII, a autenticidade de todas as outras cartas colocada em
causa. Se bem que haja um relativo consenso a respeito dos dilogos
considerados autnticos, surgem, entretanto, outros que so considerados
suspeitos (v.g., Segundo Alcibades, Hiparco) ou mesmo apcrifos (v.g., Ssifo,
Definies). Ora, os critrios de autenticao so de uma enorme fragilidade e,
por essa razo, objecto de discusso e de reservas. Tanto os critrios externos
(atribuio de determinada obra a Plato por Aristteles ou Ccero; referncia a
uma obra no interior de outra obra de Plato), como os critrios internos
(processo estilomtrico; estabelecimento de uma matriz filosfica fixa em
121
Plato), so de uma extrema debilidade, dificultando a existncia de um
consenso tendente a um seguro critrio de autenticao.
3. A estas dificuldades acresce ainda a notcia de Aristteles (Fsica IV,
209b) da existncia de obras no escritas, resultado de um ensino de carcter
esotrico, ministrado no interior da Academia, e que incidiria sobre o tema das
ideias-nmeros.
4. Por ltimo, a questo da transmisso das obras. Referncia aos
diferentes manuscritos de que h conhecimento, edio de Henri Estienne de
1578, que serve de primeira edio para todas as referncias, e breve notcia
sobre as edies actualmente existentes e disponveis para aquisio e consulta
directa, v.g., Oeuvres Compltes de Platon, bilingue, Guillaume Bud, Les Belles
Lettres, 1921-1964; Plato in twelve volumes, W. Heinemann, s/d; Plato, the
dialogues, Loeb Classical Library, s/d.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Assinalar momentos capitais na vida de Plato.
Justificar a importncia do encontro e da posterior relao com Scrates.
Descobrir a influncia de Scrates na vida e na obra de Plato.
Relacionar a condenao e morte de Scrates com orientaes
especficas na vida e no pensamento de Plato.
Relacionar as frequentes viagens Siclia com o crescente desencanto
relativamente ao futuro poltico de Atenas e com a expectativa da concretizao
da utopia.
Concluir que a Siclia seria esse lugar que no existe.
Enumerar as dificuldades que se colocam ao conhecimento da obra de
Plato.
Ensaiar uma cronologia aproximada com base nas cronologias propostas
pelos eruditos.
Descrever os diferentes critrios de autenticao das obras, actualmente
existentes.
Avaliar a consistncia dos mesmos.
Colocar a hiptese da existncia de um ensino estritamente oral, no
interior da Academia.
Reconhecer a dificuldade em conjecturar algo sobre os contedos
ministrados.
122
Conhecer as fontes para o conhecimento da obra de Plato. Tomar
contacto directo com tradues de referncia.
4. O Dilogo:
a) Formas de desenvolvimento do dilogo:
- dilogo aberto [Teeteto]
- dilogo fechado [Grgias (Clicles)]
- dilogo conclusivo [Timeu]
b) O desfecho do dilogo:
- desfecho socrtico
- desfecho platnico
- o significado do dilogo inconclusivo
c) A componente cnica do dilogo:
- a relao do dilogo com o pblico/leitor/ouvinte
- palco, cidade e filosofia
- a evoluo da relao de Plato com Scrates atravs dos Dilogos
NOTA PRVIA: Trata-se de salientar essa forma original e eficaz de expresso
do pensamento filosfico. Procurar aquilo a que poderamos chamar de causas
externas e internas da opo pelo modelo dialgico. Imaginar Atenas como uma
srie de palcos concntricos onde se d a palavra, usa-se da palavra, toma-se a
palavra, na certeza de que palavras no as leva o vento, uma vez que, como diz
Koyr, pressupem a existncia de um destinatrio preciso, concreto, presente,
enfim, um pblico mais ou menos atento, mais ou menos esclarecido. Em ltima
anlise, ns, e ainda aqueles que, depois de ns, ho-de vir a ler Plato.
Os dilogos so um grande teatro? E qual o espanto? A vida em Atenas
no uma representao constante? A Assembleia, o Tribunal, o Teatro, enfim,
a Cidade no so um palco constantemente aberto?
Comparativamente com muitas dessas encenaes, os dilogos de Plato
so representaes de raro apuro cnico de um tempo e de um lugar de
123
figurantes reais com temperamentos diferentes, orientaes polticas contrrias,
perspectivas filosficas incompatveis.
Com Plato, vemos o acontecimento que a chegada de Protgoras a
Atenas. Apercebemo-nos de que, por muito profundas que sejam as
divergncias com o sofista, necessrio dirimi-las com arte e prudncia, uma
vez que, para todos os efeitos, Protgoras no um sofista qualquer; o pblico
sabe-o: Protgoras Protgoras.
Atravs de Plato, experimentamos um certo sobressalto, um
desagradvel calafrio com a chegada abrupta de Clicles ao meio do dilogo, e
compreendemos, no mesmo instante, que Grgias no podia estar mais ali,
porque, para todos os efeitos, Grgias no um sofista qualquer; o pblico
sabe-o: Grgias Grgias.
E o mesmo mal-estar volta a ser sentido, no Livro I de A Repblica,
perante a feroz investida de Trasmaco, esse ldimo representante de uma
sofstica levada s ltimas consequncias.
Mas, tambm, compartilhamos com Plato essa simpatia espontnea,
essa compreenso condescendente, essa vontade de ajudar um Teeteto de boa-
f a ir por bom caminho.
E depois, ainda temos aquele que a alma do dilogo: Scrates, que
nunca est a mais, que sempre uma schole, isto , uma escola, entenda-se, um
prazer; um prazer ouvir contar, ouvir interrogar, ouvir discorrer, enfim, ouvir
bater porta da alma de cada um de ns. essa uma das mensagens e um dos
objectivos do dilogo: no h livro nem aula, por mais profundos ou expositivos
que sejam, que abram as portas do conhecimento. O conhecimento que
verdadeiramente interessa j est l. Scrates aquele que mostra como,
simultaneamente, central e secundrio o papel do mestre, daquele que sabe.
De facto, que outro papel pode caber a um parteiro de almas?
Mas, a anlise do dilogo obriga a ir mais alm. De facto, a sua estrutura e
o seu desenvolvimento no se mantm constantes ao longo do tempo. nesse
sentido que se far referncia aos dilogos de matriz genuinamente socrtica,
aos dilogos de transio e aos dilogos genuinamente platnicos. Ou seja,
chamar-se- a ateno para um progressivo afastamento de Plato relativamente
ao Scrates original e, a partir da, progressiva substituio do dilogo
inconclusivo ou aberto pelo dilogo assertivo ou conclusivo. A este propsito,
far-se- uma breve referncia relao de Plato com Scrates e ao difcil
afastamento, seno mesmo separao, que este sente ter de empreender, em
determinada altura, relativamente ao mestre.
124
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar formas de desenvolvimento do dilogo.
Caracterizar o dilogo aberto.
Caracterizar o dilogo fechado.
Caracterizar o dilogo conclusivo.
Relacionar desfecho socrtico com dilogo aberto e dilogo fechado.
Justificar a razo dessa relao.
Explicar o processo de desenvolvimento do dilogo do perodo socrtico.
Assinalar a presena de uma terceira personagem ausente: o pblico-
leitor-ouvinte.
Descobrir o papel atribudo a essa terceira personagem.
Explicar o significado da concluso inconclusiva constante dos primeiros
dilogos.
Relacionar desfecho platnico com dilogo conclusivo.
Justificar a razo dessa relao.
Caracterizar a componente cnica dos dilogos.
Relacionar com o contexto poltico-cultural de Atenas.
Identificar Scrates como a personagem principal dos dilogos de Plato.
Assinalar as excepes a esta regra.
Procurar as causas de tal ocorrncia.
Seguir a evoluo da relao filosfica de Plato com Scrates atravs da
evoluo do papel de Scrates ao longo dos diferentes dilogos.
Justificar a razo dessa oscilao.
5. A relao de Plato com a filosofia antiga:
a) a influncia pitagrica
b) ir alm de Heraclito
c) resolver a aporia parmendea
d) combater a ameaa atomista
e) calar os sofistas
125
NOTA PRVIA: Este ponto mostra que a Histria da Filosofia j est a funcionar.
H um passado pr-socrtico que Plato no pode ignorar. E no ignora, ainda
que o olhando ora com um misto de apreenso e reserva, ora com uma certa
distanciao e altivez.
A influncia pitagrica inquestionvel. A relao prxima de Plato com
Arquitas de Tarento, as suas frequentes surtidas italianas, a par do testemunho
de Aristteles, na Metafsica, comprovam-no. Mas no s. Uma rpida incurso
pelo pensamento e pela obra de Plato mostram claramente a enorme influncia
pitagrica nas vertentes cientfica e mstico-religiosa. A convocao do Fdon,
do Livro X de A Repblica (mito de Er) ou do Fedro (mito do cocheiro e dos
cavalos), justifica-se. O papel central atribudo s matemticas tal como a
complexa arquitectura do Universo, explicam igualmente uma nova incurso
pelos dilogos A Repblica e um primeiro contacto com o (pitagrico) Timeu (de
Locros).
Plato no ignora Heraclito. Refere-se-lhe de uma forma mais ou menos
directa em diferentes dilogos (v. g., Crtilo,Teeteto). A sua ateno incide
essencialmente numa das componentes do seu pensamento: a teoria do fluir
constante ou do eterno devir, isto , aquela que se relaciona directamente com a
ideia platnica do mundo sensvel, instvel, oscilante, em constante mutao. A
prova da existncia de um plano superior, anterior e exterior ao sujeito
pensante, capaz de conter as ideias ou formas, paradigmas de que todas as
outras coisas derivam, fundamental e pode ter encontrado nesta leitura
incompleta e restrita do pensamento de Heraclito uma poderosa motivao.
Mas, em Parmnides que reside o maior desafio. Plato tem de
solucionar os bloqueamentos resultantes das aporias decorrentes das posies
defendidas por Parmnides, sob pena de a viabilidade do seu prprio projecto
filosfico se ver definitivamente comprometida. Plato tem de reler e
reformular o emprego do verbo ser; tem de reintroduzir ao lado de a
possibilidade de no ; tem de ampliar o horizonte de emprego e de
compreenso das diferentes formas do verbo ser, tentando resguardar,
todavia, e tanto quanto possvel, a imagem de Parmnides, filsofo, essa figura
venervel e terrvel (Teeteto 83e).
Assim, possvel libertar a possibilidade da Teoria da Participao,
introduzir uma terceira categoria ontolgica, a meio caminho entre ser e no
ser, isto , o devir, e ainda seguir no encalo do sofista, apanhando-o,
126
finalmente, em flagrante delito de opinio. Os dilogos Parmnides e o Sofista
so peas indispensveis para a reconstituio do plano de Plato.
Entretanto, e num outro registo, o atomismo radicalmente materialista de
Demcrito surgia como uma ameaa a combater. A negao de qualquer
princpio de carcter teleolgico, a defesa do princpio do acaso e de um
mecanicismo simultaneamente espontneo e derivado das nicas realidades
realmente existentes, os tomos, partculas fsicas slidas, compactas, em
nmero infinito ao acaso no vazio infinito, s inteligveis pela razo, escapando,
por consequncia, impreciso dos dados dos sentidos, constituam propostas
que, a diferentes ttulos, havia que neutralizar.
Por ltimo, os sofistas. Neste ponto do programa, os alunos j se
encontram suficientemente familiarizados com o diferendo que ope Plato aos
sofistas. J entraram em contacto com o Protgoras e com o Teeteto , a respeito
de Protgoras; com o Grgias, a respeito de Grgias; com o Livro I de A
Repblica, a respeito de Trasmaco.
Neste momento, convocar-se- a presena de Hpias Menor, Hpias Maior
e de O Sofista para, em conjunto com os dilogos anteriormente referidos e
analisados, concluir e estabelecer, em definitivo, os termos desta tenso
constante que atravessa toda a obra de Plato. De facto, calar os sofistas parece
ser a expresso adequada. Mas, talvez mais: calar os sofistas e erradicar os
sofistas de um espao que no lhes pertence e que ilegitimamente insistem em
ocupar.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Descobrir a estreita relao existente entre Plato e o pitagorismo.
Enumerar as doutrinas pitagricas que mais influenciaram importantes
orientaes do pensamento de Plato.
Assinalar os dilogos onde essas influncias se encontram patentes.
Analisar e interpretar essas ocorrncias.
Concluir pela presena de um fundo eminentemente pitagrico que se
mantm presente ao longo de toda a obra de Plato.
Descobrir a influncia de Heraclito e do heraclitismo no pensamento de
Plato.
Explicar a dificuldade decorrente da tese do eterno devir.
Assinalar os termos em que Plato contorna essa dificuldade.
127
Analisar e interpretar, nos respectivos dilogos, as passagens que
esclarecem a estratgia de Plato perante Heraclito e os seus mais directos
seguidores.
Compreender a importncia central de Parmnides no pensamento de
Plato.
Assinalar as aporias legadas pelo pensamento de Parmnides.
Explicar de que modo Plato resolve e supera essas dificuldades.
Identificar os dilogos onde levado a cabo esse trabalho.
Analisar e interpretar as respectivas passagens dos mesmos.
Explicar por que razo o atomismo de Demcrito no pode ser aceite e
tem de ser rebatido por Plato.
Procurar as raras passagens, nos dilogos, onde esta questo se
encontra latente.
Retomar o diferendo que ope Plato aos sofistas.
Associar novos dilogos aos anteriormente analisados, em ordem a
estabelecer um quadro mais consistente da oposio de Plato aos sofistas.
Concluir pela permanncia da herana sofista ao longo da obra de Plato,
como presena sempre a erradicar, se bem que sempre presente.
6. reas ou disciplinas nucleares:
a) teoria do conhecimento e teoria das ideias
b) a questo da participao e separao das ideias
c) alma: origem, preexistncia e imortalidade
d) teoria da reminiscncia: alma e conhecimento
e) tica e teoria do conhecimento
f) tica e teoria poltica
g) o Mundo e o Mundo das Ideias: teoria das origens
h) cidade e cultura
128
NOTA PRVIA: Neste ponto do programa, apresentavam-se duas estratgias
possveis: tratar dos grandes temas do pensamento platnico atravs de uma
anlise detalhada dos respectivos dilogos, seguindo e sublinhando as
oscilaes e a evoluo que essas temticas foram conhecendo ao longo da
obra, ou, em alternativa, introduzir de imediato essas diversas disciplinas,
fazendo, sempre que necessrio e possvel, uma regresso na ordem dos
acontecimentos, no sentido de restabelecer um trajecto de pensamento.
Optmos por esta segunda via pelas razes anteriormente expostas, na
Introduo. Ou seja, perante a extenso do programa, a par dos
constrangimentos de ordem temporal, havia que proceder a escolhas claras de
modo a fazer deste programa uma proposta de aprendizagem sria e exequvel.
Por outro lado, os alunos, neste momento, j se encontram razoavelmente
identificados no s com as principais tendncias do pensamento platnico,
mas tambm com uma terminologia que as suporta e justifica. Acresce ainda
que nos parece necessrio levar os alunos a chegarem o mais cedo possvel
concluso de que, pese embora a diversidade de problemticas abordadas por
Plato, h um vnculo, um trao de continuidade, uma coerncia interna patente,
que permite uma ntida articulao entre as diferentes temticas e, assim, a
rpida compreenso da presena de um pensamento marcado por uma evidente
inteligibilidade, mesmo tendo em conta a existncia de algumas dificuldades
ainda no totalmente solucionadas.
Esta metodologia permite que, como foi sugerido, na base da abordagem
de determinada temtica, e sempre mediante a convocao de outros dilogos,
se parta no encalo da sua genealogia e se avance no sentido do seu destino.
Assim, e a ttulo exemplificativo, verifica-se que a teoria do conhecimento
de Plato s funciona na base de dois pilares em torno dos quais se estabelece
e resolve a complexa relao entre dimenso sensvel e dimenso inteligvel. Ou
seja, a teoria do conhecimento essencialmente, mas no exclusivamente,
Teoria das Ideias. Procurar a ideia de ideia em Plato, assim como o estatuto a
conferir ao Mundo das Ideias, ser o prximo passo. Esta abordagem, em breve,
lanar-nos- na complexa questo da teoria da participao e da separao das
ideias. A convocao de o Parmnides e de O Sofista inevitvel. Atravs deles,
veremos como Plato acerta contas com Parmnides e como, no mesmo lance,
introduz a comunicao dos gneros sem os quais a teoria do conhecimento, a
Teoria das Ideias, a participao do sensvel no inteligvel e a clara distino
entre verdade e engano corriam o risco de perder eficcia e credibilidade.
Mas, entretanto, necessrio descortinar que grau de realidade
129
atribudo ao mundo sensvel e que papel lhe destinado no processo do
conhecimento. Porm, falar assim de conhecimento demasiado genrico e
curto, dizer nada ou muito pouco. H diferentes nveis de conhecimento;
necessrio descobri-los, explic-los; compreender de que maneira se alcanam;
preciso, igualmente, identificar as cincias que correspondem a cada um
desses nveis e a importncia do seu papel propedutico na obteno de um
nvel superior de conhecimento. O Mnon, A Repblica e o Teeteto so os
prximos dilogos a serem convocados.
Esta temtica est directamente relacionada com uma outra: alma e teoria
da reminiscncia. Ou seja, a Teoria das Ideias s encontra sentido e
exequibilidade na base de que as Ideias so anteriores e exteriores ao sujeito,
mas tambm que, pese embora essa anterioridade e exterioridade, no so
definitivamente inacessveis ao conhecimento. Concretamente, necessrio
provar por que razo conhecer essencialmente reconhecer e, nesse sentido,
por que razo o conhecimento conhece no o desconhecido, mas o esquecido.
Este processo mostra ainda por que razo vale a pena tratar da alma,
despert-la do adormecimento em que se encontra envolvida: de facto, sem
isso, nunca saberemos nada. Mas h mais vantagens neste trabalho de
estimulao e purificao s possvel, alis, atravs do militar no filosofar:
efectivamente, a alma no interessa s aqui e agora. A sua imortalidade prova
que vale a pena comear a preparar, desde j, um futuro, que s na medida em
que nos prepararmos para ele, nos pertence. No foi Scrates que disse que
filosofar aprender a morrer? Para este processo, entretanto, foram chamados a
depor, entre outros, o Mnon, o Fdon, A Repblica e o Timeu.
Ser ainda necessrio estabelecer e explicar a estreita relao entre tica
e teoria do conhecimento, tica e teoria da alma, tica e teoria poltica e mesmo
entre tica e teoria das origens, uma vez que essa relao se encontra bem
patente no Timeu. Toda a obra de Plato atravessada por este trao tico que
se encontra sempre presente ao longo das diferentes problemticas abordadas.
Todavia, ser igualmente necessrio concluir que, em ltima anlise, se trata de
uma distino com uma carcter eminentemente forado e artificial em termos
de pensamento platnico e mesmo de pensamento grego.
Por outro lado, se h dilogos que incidem preferencialmente sobre a
teoria poltica, no deixa de ser igualmente evidente que essa temtica se
encontra de uma forma, mais ou menos patente, ao longo de toda a obra de
Plato, sugerindo a presena de uma preocupao constante, assim como de
uma esperana e convico, umas vezes mais acentuada, outras vezes mais
130
desencantada, nas virtualidades e viabilidade das propostas avanadas.
Obviamente que, tendo em conta as razes agora aduzidas, uma incurso pela
Repblica e pelas Leis se apresenta como absolutamente necessria.
E, para terminar, uma vez que nos encontramos em A Repblica, na pista
da Constituio ideal para a cidade ideal, ser de chamar a ateno para o lugar
reservado por Plato s diferentes realizaes culturais, melhor dizendo, o que
teria sido do futuro da Cultura Clssica caso A Repblica tivesse passado do
papiro prtica.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Estabelecer a distino entre sensvel e inteligvel.
Definir o estatuto atribudo ao sensvel.
Definir o estatuto atribudo ao inteligvel.
Traar o percurso da Ideia ao longo dos dilogos de Plato.
Descrever o processo gnosiolgico presente no Mnon
Descobrir o que, no Mnon, do ponto de vista gnosiolgico, no se
mostra mas se anuncia.
Analisar o Teeteto na base da relao/oposio entre conhecimento
sensvel e conhecimento inteligvel.
Descobrir o que, no Teeteto, do ponto de vista gnosiolgico, no se
mostra, mas se anuncia.
Analisar e interpretar as alegorias presentes em A Repblica (alegoria do
Sol, da Linha Dividida e da Caverna) numa perspectiva gnosiolgica, tica
e antropolgica.
Assinalar, na sequncia dessa anlise, o papel atribudo s Matemticas e
Dialctica na formao do filsofo.
Explicar as razes da superioridade da Dialctica relativamente s
Matemticas.
Situar, no contexto da Teoria das Ideias, a questo da relao/separao
das Ideias.
Analisar a questo da participao das Ideias, na base da teoria da alma,
e a partir do dilogo Fdon.
Analisar a questo da participao das Ideias, na base da teoria das
origens/cosmologia, e a partir do dilogo Timeu.
Analisar a questo da participao/separao das Ideias, na base da
131
teoria do Ser, e a partir dos dilogos Parmnides e o Sofista.
Assinalar as dificuldades equacionadas, no Parmnides, resultantes da
teoria da participao das Ideias.
Explicar a resposta e a soluo dadas a essas questes, no dilogo O
Sofista.
Descobrir o papel central da alma, nos dilogos de Plato, do ponto de
vista gnosiolgico, ontolgico, antropolgico, tico e escatolgico.
Explicar a teoria da reminiscncia com base nos mitos presentes em o
Mnon (81a-e), Grgias (523a-524a), Fdon (113d-114c), A Repblica
(614b- 621d) e o Fedro (246a-249a; 249c- 250c).
Estabelecer a relao entre alma e conhecimento com base na anlise e
interpretao dos dilogos, v.g., Mnon e Fdon.
Concluir pela presena de uma forte influncia de raiz pitagrica.
Sublinhar o carcter simultaneamente nuclear e transversal da
componente tica ao longo dos dilogos de Plato.
Identificar a ideia de justia em A Repblica.
Associar a ideia de justia realizao da virtude
Descobrir o principal objectivo de As Leis
Explicar a relao de As Leis com A Repblica
6. Dilogos. Leitura, anlise e interpretao:
a) Hpias Menor
b) Hpias Maior
c) Apologia de Scrates
d) Crton
e) Grgias
f) Mnon
g) Crtilo
h) Fdon
i) Repblica
j) Parmnides
k) Sofista
l) Timeu
m) Leis
132
NOTA PRVIA: Do elenco de dilogos acima indicados, muito varivel, de ano
para ano, o nmero daqueles que so analisados. Em qualquer circunstncia, o
objectivo mnimo que se pretende atingir visa sempre a anlise de um conjunto
de dilogos que se situem em diferentes fases da evoluo do pensamento de
Plato. Como j se disse anteriormente, h aqui muita incerteza, seja porque a
cronologia da obra de Plato no um dado consensual, seja porque traar uma
linha de uma (hipottica) evoluo do pensamento de Plato tem muito de
conjectural.
Pesem embora as dificuldades existentes, abordar-se-, pelo menos, um
dilogo de juventude, um dilogo de transio, um dilogo de maturidade e um
dilogo de velhice, concretamente, a Apologia de Scrates, o Grgias, o Fdon e
o Sofista.
As indicaes que a seguir se registam no so mais do que tpicos,
pistas, linhas de uma estratgia de aproximao, de um ensaio de anlise e de
interpretao do pensamento do filsofo, atravs dos seus textos e na base de
um conhecimento que veio sendo progressivamente ampliado e consolidado,
conforme os pontos do programa anteriormente indicados.
Nesta fase, a experincia diz-nos que os alunos se encontram
razoavelmente aptos a empreender essa anlise e interpretao dos dilogos,
uma vez que rapidamente se do conta de uma familiaridade e de um certo
domnio dos assuntos a abordados.
6. Dilogos. Leitura, anlise e interpretao:
c) Apologia de Scrates
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Situar a Apologia no conjunto da obra de Plato.
Equacionar a questo da historicidade/veracidade do testemunho
presente na Apologia; analisar o contedo das posies pr e contra.
Distinguir a posio de Scrates da posio do orador, do poeta e do
poltico.
Descrever a relao estabelecida por Scrates entre filsofo, alma e
133
conhecimento.
Descobrir as razes que levam condenao de Scrates.
d) Crton
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Situar a Apologia no conjunto da obra de Plato.
Descobrir a complementaridade existente entre o Crton e a Apologia.
Equacionar a questo da historicidade/veracidade do testemunho
presente no Crton; analisar a consistncia dos argumentos que atestam
essa historicidade.
Descrever a relao estabelecida por Scrates entre cidade, cidado e lei.
Descobrir, a partir da, as razes que impedem Scrates de optar pela
fuga.
Constatar a relao estabelecida novamente por Scrates entre filsofo,
alma e conhecimento.
Descobrir que a questo subjacente a distino entre o bem e o mal e a
determinao da natureza de cada um deles.
e) Grgias
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Situar o Grgias no conjunto da obra de Plato.
Enquadrar o Grgias no clima de profunda crise social e poltica vivida
em Atenas.
Analisar cada uma das partes do dilogo a partir da interveno dos
interlocutores de Scrates:
1. Grgias e a questo da natureza do justo e do injusto; a retrica
em anlise.
2. Plo e a escolha entre cometer ou sofrer a injustia; a retrica em
anlise.
134
3. Clicles e a superioridade da natureza sobre a conveno;
consequncias decorrentes dessa posio. O significado do mito
introduzido por Scrates: a influncia pitagrica. Caracterizao
da argumentao dialctica de Scrates. A estreita relao entre
tica, retrica e poltica. A relao entre retrica e dialctica. A
superioridade da dialctica relativamente retrica: filsofo e
sofista. O bem, o prazer e a felicidade: filsofo versus sofista.
f) Mnon
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
O Mnon no conjunto da obra de Plato.
Da concluso negativa emergncia de uma doutrina construtiva: Plato
mais alm de Scrates.
A defesa da Teoria da Reminiscncia.
A sua relao com a Teoria das Formas.
A prova do escravo.
A distino entre conhecimento e crena verdadeira.
O Mnon anuncia A Repblica.
h) Fdon
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
O Fdon no conjunto da obra de Plato.
Apresentao e anlise das diversas questes relativas alma.
A associao dos argumentos religioso de fundo pitagrico, fsico-
racional de raiz heracltica e filosfico-racional de matriz socrtico-
platnica.
A relao entre a Alma e as Ideias.
A Alma a Forma da vida (106c).
135
Interpretao do mito de carcter escatolgico.
O elogio do filsofo e do filosofar.
i) Repblica
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Descrever a alegoria do Sol no livro VI.
Descobrir as associaes a estabelecidas.
Explicar as relaes da decorrentes entre sensvel e inteligvel, tica e
conhecimento.
Descrever a alegoria da Linha Dividida no livro VI.
Explicar, atravs dos segmentos da Linha, os diferentes nveis de
conhecimento.
Identificar o ponto de ruptura entre sensvel e inteligvel.
Estabelecer a distino entre dianoia e noesis.
Enumerar as cincias (matemticas, astronomia, harmonia) nucleares
para a formao do filsofo.
Explicar a importncia das cincias matemticas na formao do filsofo.
Descrever a alegoria da Caverna no livro VII.
Relacionar com a alegoria da Linha Dividida.
Identificar na alegoria da Caverna uma relao estreita entre tica,
conhecimento, filsofo e filosofar.
Descrever o mito de Er no livro X.
Identificar influncias de carcter pitagrico.
Descobrir o objectivo que presidiu introduo do mito de Er no ltimo
livro de A Repblica.
Situar a procura da definio de Justia entre os livros I e IV.
Descrever e interpretar a actuao de Trasmaco no livro I.
Descobrir que entre os livros II e IV se conclui que Justia resulta da
concretizao de um conjunto de virtudes.
Descrever e interpretar a utopia do Estado Justo no livro V.
Avaliar a anlise empreendida nos livros VIII e IX das principais formas de
injustia tanto na Cidade quanto na alma.
136
k) Sofista
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Situar o dilogo no conjunto da obra de Plato.
Explicar por que razo plausvel colocar o dilogo no seguimento do
Teeteto.
Identificar e analisar os problemas centrais com que Plato se debate
neste dilogo:
- A impossibilidade de provar que o sofista produz discursos
falsos, falando do que no .
- A necessidade de romper com Parmnides: o no ser, sob
certas condies, possvel.
- A possibilidade e o estatuto do no ser.
- Os gneros. Cinco gneros essenciais: o ser, o movimento, o
repouso, o outro, o mesmo.
- A comunidade e a comunicao dos gneros.
- A possibilidade do discurso. A possibilidade do discurso
falso.
- A teoria das Ideias e a teoria da Participao.
m) Leis
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Compreender As Leis como uma reviso escala humana do paradigma
da perfeio.
Assinalar nos livros II e VII o projecto de educao obrigatria para todos
os cidados.
Registar a evoluo relativamente s propostas de A Repblica.
Salientar, no livro III, o aparecimento da primeira explicao do
aparecimento do Estado, atravs do desenvolvimento das instituies
polticas desde as origens, no livro.
Assinalar, no livro VI, a importncia conferida s leis constitucionais
atravs da apresentao de dois casos opostos: o despotismo e a
137
democracia.
Descobrir, no livro IV, que As Leis se apresentam como um substituto
possvel do governo dos filsofos.
XII. ARISTTELES
1. Datas, vida e obra.
a) Um estrangeiro em Atenas
b) Discpulo de Plato
c) Espusipo, e no Aristteles, sucessor de Plato na direco da Academia
d) A experincia macednica
e) A ruptura com Plato
f) A fundao do Liceu
g) A acusao de impiedade e a sada de Atenas
h) Uma obra extensa e multidisciplinar
i) Um estilo rigoroso e austero
j) A transmisso da obra
l) As tradues de referncia
m) Os estudos de referncia
NOTA PRVIA: Se com Plato se verificava uma ausncia quase total de uma
informao minimamente credvel e consistente que viabilizasse uma
abordagem do pensamento do filsofo, a partir de um conjunto de
conhecimentos anteriormente adquiridos, com Aristteles essa situao ainda
mais grave, uma vez que ainda maior o desconhecimento do seu pensamento.
Assim, na ausncia de bases, no h qualquer alternativa seno comear pelo
princpio.
Aristteles no s o filsofo-que-sucede-a-Plato, no sentido de que,
como seu discpulo, segue Plato. Pelo contrrio, ser necessrio sublinhar
que Aristteles segue-se a Plato, mas no segue Plato. Ou seja, deve referir-
138
se o que une Aristteles a Plato, mesmo que, por vezes, Aristteles parea no
se dar conta disso, mas, sobretudo, h que relevar o que os separa. E, numa
primeira anlise, extempornea e menos reflectida, dir-se-ia que tudo ou quase
tudo os separa. Mas, de facto, e em ltima anlise, surpreender-se- um vnculo
de fundo, algo que nos diz que, ainda que por caminhos diferentes, perseguem
um objectivo comum.
Este assunto funciona, inclusivamente, como uma deixa para recordar
que este o material de que feita a Histria da Filosofia. Se os filsofos
fossem uns meros repetidores dos seus antecessores, nunca l figurariam. Mas,
por outro lado, nunca podero afirmar, maneira de Descartes, uma absoluta
independncia ou no querer saber da Histria da Filosofia anterior, uma vez
que acabam inevitavelmente por ser trados numa esquina qualquer dessa
Histria. Ou seja, o momento oportuno para lembrar aos alunos que, sob os
escombros dos sistemas, emergem sempre os problemas, isto , um ncleo
problemtico residente e resistente, uma insistente mesmidade que a alma que
eternamente anima o filosofar. Enfim, tambm por aqui que se confirma, mais
uma vez, que a Filosofia Antiga antiga relativamente.
Das diversas alneas contempladas neste ponto, refira-se, entre outros, o
estatuto social de Aristteles em Atenas. , para todos os efeitos, um
estrangeiro, e vai senti-lo, porque lhe faro sentir que, de facto, um
estrangeiro.
A sua ligao com Plato, tal como j antes sucedera com a ligao de
Plato a Scrates, um momento crucial na sua vida. a que Aristteles
aprende filosofia e se torna platnico. Mas tambm a partir da que Aristteles
se torna aristotlico e empreende a ruptura com Plato. A forma como ele trata
esta questo est bem longe do procedimento de Plato perante Scrates. Ao
contrrio de Plato, que relativamente a Scrates, afastou-se no se afastando,
Aristteles afasta-se afastando-se, isto , no se esconde, no simula que
continua por este caminho tendo j partido para outro. Aristteles directo,
frontal no ataque ao ncleo duro da teoria platnica. E, a partir da, parte para
uma crtica demolidora, sem contemplaes, pela verdade. Recorde-se que,
amigo de Plato, mas
Igualmente, ao contrrio de Plato, que rumou vrias vezes Siclia na
esperana de fazer do tirano o governante que Atenas j no dava, Aristteles
limitou-se a ir Macednia ensinar o filho de Filipe, Alexandre, a apreciar e a
admirar as coisas raras e boas que eles tinham. Mas estas explicaes vir-lhe-
iam a sair caras. Primeiro, porque Alexandre ter tomado a parte pelo todo e ter
139
pensado que uma Grcia toda junta era melhor do que uma Grcia em partes,
coisa que Aristteles passou a vida a dizer no ser melhor nem praticvel;
depois, porque, pese embora os apoiantes do partido anti-macednico saberem
que essa no era a poltica de Aristteles, no se importaram de o envolver nas
aventuras hegemnicas de Alexandre.
Ora, Aristteles era ateniense, mas s de corao, porque, para os
devidos efeitos, era estrangeiro. Com os anos de Atenas que tinha, ele sabia
qual era o procedimento frequente perante uma persona non grata. Sai e vai
morrer longe, em Calcis, na ilha de Eubeia, em 322 a. C., deixando uma obra
imensa. Imensa em extenso, imensa em temas e problemas (existe, inclusive,
uma compilao intitulada Problemata) que abrangem os mais variados
domnios do saber. De facto, Aristteles parecia interessar-se por tudo, porque
tudo parecia despertar-lhe a curiosidade: botnica, zoologia, cosmologia, fsica,
antropologia, tica, poltica, literatura, poesia.
Enfim, Aristteles , por um lado, o herdeiro directo dessa insacivel
curiosidade e querer saber que marcou essa longa gerao que se havis iniciado
com os outsiders de Mileto, e, por outro, o gnio que antecipa o sbio
renascentista.
Nesta sua permanente tendncia para se distrair com tudo, reside uma
das dificuldades maiores que se colocam elaborao de um programa sobre o
pensamento de Aristteles.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Caracterizar o estatuto social de Aristteles em Atenas.
Analisar a sua relao com Plato.
Explicar as causas e o processo de ruptura com Plato
Indicar o essencial da sua experincia na Macednia.
Avaliar o significado e a importncia da fundao do Liceu.
Assinalar as causas do auto-exlio de Aristteles.
Reconhecer a existncia de uma obra marcada por uma imensa abertura,
curiosidade e querer saber sobre os mais variados domnios da cincia e
da filosofia.
Assinalar, por oposio a Plato, a presena de um estilo conciso,
rigoroso e austero, enfim, de um homem de cincia.
140
Descrever o processo de transmisso da obra.
Indicar as tradues de referncia.
2. Aristteles e Plato
a) Aristteles perante Plato: caminhos diferentes perante projectos diferentes
b) Aristteles perante Plato: caminhos idnticos perante projectos anlogos
NOTA PRVIA: Ainda que primeira vista contraditrias, seno mesmo
incompatveis, estas alneas visam, por um lado, levar os alunos a conclurem
que h matria suficiente para elaborar um elenco de razes que separam
Aristteles de Plato, mas, ao mesmo tempo, sem pr em causa a razo dessas
razes, conclurem que igualmente forte aquilo que os une.
Um dos principais pontos de ruptura prende-se com a teoria das Ideias de
Plato. Aristteles no aceita essa fico, essa redundncia que a duplicao
do mundo num mundo sensvel e num mundo inteligvel. Ao contrrio de Plato,
para quem a tnue sustentabilidade do sensvel deriva de uma ddiva de sentido
do inteligvel, para Aristteles a razo sem experincia vazia, tbua rasa.
Assim, poder-se-ia estabelecer a seguinte relao: enquanto para Plato no h
nada no mundo sensvel que no tenha existido anteriormente no mundo
inteligvel, para Aristteles nada existe na razo que no tenha passado
anteriormente pelos sentidos. Ou seja, a razo privada dessa outra dimenso
no tem matria para trabalhar, horizonte para olhar. Enquanto para Plato as
Ideias j l estavam na sua eternidade, imaterialidade e inextenso, surgindo o
segundo mundo como um escolho incontornvel que o primeiro, na sua imensa
bondade, teria que trabalhar, moldar, contornar, para Aristteles esse l um
delrio, pura fantasia, simples perfrase ou duplicao de palavra.
Provavelmente, um dos factores que mais contriburam para esta
disseno encontra-se na resposta a uma questo que Plato formula e a que
Aristteles no responde porque nem sequer a coloca: a questo das origens.
Plato pergunta pelo processo que conduziu ao Mundo tal como ele
actualmente, ou seja pela fonte inteligvel, anterior e exterior, que lhe conferiu
sentido. Ora, Aristteles no faz isso, uma vez que o Mundo eterno, sempre
existiu assim, na sua imutabilidade, bastando-se a si prprio. Em ltima anlise,
o Mundo, na sua totalidade, potncia aspirando eternamente a acto.
141
Mas, bvio, que, apesar das discordncias, permanece um fundo
comum de convergncias. Um mesmo ideal de sabedoria; a possibilidade de um
conhecimento verdadeiro, universalmente vlido, em contraste com um
conhecimento de carcter estritamente sensvel, condenado incerta opinio,
flutuante, contraditria. Em ltima anlise, a chave dessa possibilidade de um
conhecimento verdadeiro chama-se eidos, ideia para Plato, forma para
Aristteles.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar as questes que levam ruptura de Aristteles com Plato.
Explicar as razes invocadas por Aristteles.
Avaliar a consistncia das razes de Aristteles.
Descobrir que Aristteles, ao contrrio de Plato, no coloca a questo da
origem e actual ordem do Mundo.
Inferir que responder ou no responder a essa questo implica percursos
diferentes com resultados diferentes.
Concluir que se encontra aqui uma das razes da oposio de Aristteles
teoria das Ideias de Plato.
Explicar o diferente entendimento de Plato e de Aristteles,
relativamente s relaes entre sensibilidade e razo.
Antecipar algumas das consequncias da resultantes.
Identificar os pontos de concordncia entre Plato e Aristteles
Concluir que, por detrs de importantes divergncias, permanece um
ncleo essencial de concordncias.
3. reas de referncia e disciplinas nucleares
a) Introduo terminologia aristotlica:
- Essncia e Acidente
- Acto e Potncia
- Forma e Matria
- Substncia (ousia) / Substncias (ousiai)
- Ser (to on he on) / Seres (onta)
142
b) O processo do conhecimento e as funes da alma:
- A experincia:
- a sensao e a experincias das coisas externas
- a conscincia e a experincia das coisas internas
- a matria e a dimenso do individual
- a cincia e a dimenso do geral
- Categorias e descrio
- Teoria das causas e explicao
- A Alma como primeira entelecheia de um corpo
- As funes da alma
- O intelecto paciente ou passivo como receptculo
- O intelecto agente ou activo como actualidade
- O papel da induo e da intuio: intuio indutiva/intuio intelectual
- A Forma e a funo da abstraco
- Nota: o intelecto activo como actualidade, impassibilidade e no mistura a
parte separvel e imortal da razo?
c) A teoria do Ser
- O Ser das Matemticas
- O Ser da Fsica
- O Ser da Filosofia
- O Ser como universal analgico ou ser-dos-seres
- O Ser como a substncia eterna, imvel, inextensa e indivisvel
- Os dois sentidos de Ser so opostos e inconciliveis ou relacionam-se e
conciliam-se?
143
- As teses de Jaeger e de Aubenque
- Maneiras de Ser e maneiras de dizer: o Ser e o logos. O Filsofo e o sofista
d) A teoria do Mundo
O Mundo supralunar:
- incorruptvel
- incriado
- imutvel
- movimento circular, perfeito e eterno
- seres eternos
- o elemento ter
- os astros, as esferas e os motores imveis.
O Mundo sublunar:
- a natureza, a mudana, o lugar, o vazio e o tempo
- os quatro elementos: terra, fogo, ar e gua
- corrupo
- mutabilidade
- indeterminao
- movimento rectilneo: o alto e o baixo; o leve e o pesado
- seres sujeitos ao nascer e perecer
e) O Primeiro Motor, a Divindade e o Motor Imvel
- O Motor Imvel no ltimo livro da Fsica (VIII):
- o Primeiro Motor e a origem do movimento
- o movimento: o no movido origem do movido
- o movimento e a teoria das causas
144
- a causa incausada
- caractersticas do Primeiro Motor: eterno, inextenso, indivisvel, sem
grandeza
- o tempo e a eternidade
- O Motor Imvel no livro XI da Metafsica:
- o Primeiro Motor e a origem do movimento
- a metfora do amor
- o Motor Imvel e Deus:
- acto puro
- no criador
- pensamento autopensante
- imvel
- transcendente
- causa final do movimento eterno
- O Mundo perante Deus:
- potncia e acto
- movimento eterno
- aspirao eterna
- causa final
f) Teoria Poltica
- Natureza e finalidade do Estado
- Crtica doutrina poltica platnica
- tica e Poltica
- Os regimes polticos
- O Bem supremo para a Cidade e para o indivduo
145
g) Aspectos da tica aristotlica
- tica e Poltica. Phronesis e Politike
- As virtudes do intelecto: sabedoria terica e sabedoria prtica
- Crtica Teoria das Ideias ou das Formas de Plato
- Os desgnios do filsofo e da filosofia: saber e felicidade
- Elogio do J usto Meio
NOTA PRVIA: Este extenso ponto 3, desdobrado numa srie de alneas, o
resultado de um trabalho de casa do professor, no sentido de criar uma
estrutura explicativa dos aspectos fundamentais do pensamento de Aristteles,
que conduza os alunos a descobrirem e compreenderem a existncia de uma
articulao e coerncia interna no pensamento do filsofo.
a) A experincia diz-nos que uma referncia, ainda que preambular, a
alguns conceitos chave da terminologia aristotlica, um modo eficaz de
promover um primeiro contacto com o pensamento do filsofo, atravs de um
primeiro domnio de alguns conceitos operativos.
Elegendo, a ttulo de exemplo, o caso da anlise da relao entre essncia
e acidente, verifica-se que a mesma suscita uma srie de pistas que podem,
desde logo, ser exploradas. Justifica uma primeira incurso na Metafsica e a
convocao dos conceitos de substncia e ousia. A essncia como ncleo
substantivo, como aquilo que faz com que uma coisa seja o que e no possa
ser outra coisa qualquer, constitui-se como essncia necessria, como o
verdadeiro objecto da cincia, do saber. Esta essncia forma imanente e
imaterial.
Numa primeira anlise, o acidente, em contraste com a essncia,
anteriormente entendida como ncleo substantivo, poderia ser entendido como
mera periferia adjectiva. Mas Aristteles chama a ateno para a necessidade de
distinguir entre acidentes casuais e acidentes causais. E assim, mais uma vez,
atravs de uma incurso na Metafsica, somos informados de que h acidentes
que ainda que no caiam no ncleo especfico da essncia, no constando,
consequentemente, da definio cientfica, se encontram, apesar disso,
vinculados essncia, causalmente, ou seja, por causa daquilo que ela
essencialmente.
146
Acto e potncia so igualmente conceitos correntes rapidamente
descodificveis pelos alunos. Chamar-se- a ateno, no entanto, para o
contexto, o significado e o objectivo preciso do seu emprego por Aristteles.
Potncia como princpio de movimento e de mudana, mas mudana controlada,
isto , entre os termos de um gnero comum. Potncia, igualmente, como
possesso e privao e, simultaneamente, como possesso de uma privao.
Acto no sentido de termo final para que tende o movimento, entelecheia ou
estado de realizao e completude.
Por outro lado, matria como receptculo, privao, como algo que
deseja forma; e ainda a distino entre matria e matria prima.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Estabelecer a distino entre essncia e acidente.
Definir e exemplificar essncia.
Identificar essncia com objecto da definio cientfica.
Relacionar essncia com forma.
Definir e exemplificar acidente.
Distinguir acidente casual de acidente causal
Definir acidente causal.
Estabelecer a distino entre potncia de acto.
Identificar potncia com privao, possesso, possesso de privao,
princpio de movimento e ponto intermdio entre ser e no ser.
Definir e exemplificar acto.
Identificar acto com entelecheia.
Estabelecer a diferena entre acto e Acto Puro
(Nota: o mesmo procedimento relativamente a matria/forma).
b) Referncia importncia conferida por Aristteles experincia e aos dados
sentidos como factores impulsionadores do processo do conhecimento, sem
prejuzo do estabelecimento de uma clara distino entre o conhecimento do
individual e o conhecimento do universal, entendido este como o verdadeiro
objecto do conhecimento. Com base na Metafsica, referncia s categorias
como processo de descrio de algo sob dez pontos de vista diferentes;
sublinha-se, a propsito, que se trata ainda de um estdio insuficiente de
147
conhecimento, pelo que, alm da descrio, se exige a explicao desse algo, ou
seja, o conhecimento das causas: causa material, formal, eficiente e final; passa-
se caracterizao das mesmas, seja relativamente a objectos animados ou
inanimados. Com base no Tratado Da Alma, caracterizao desta como forma de
um corpo; aluso s crticas dirigidas ao platonismo; a partir da anlise das
funes vegetativa, sensitiva e intelectiva da alma, introduo dos conceitos de
intelecto activo ou agente e de intelecto passivo ou paciente, como factores
fundamentais no processo do conhecimento; anlise da funo do intelecto
passivo como acto de apreenso, como matria sobre a qual ir agir o intelecto
activo; anlise da funo do intelecto activo como impressor de formas ou
como a capacidade de isolar, pela abstraco, as formas da matria.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Salientar o lugar de destaque atribudo sensao e experincia no
processo do conhecimento.
Reconhecer que, pesem embora as diferenas e as crticas dirigidas por
Aristteles a Plato, ambos partilham o mesmo ideal de conhecimento.
Enumerar as categorias.
Explicar a sua funo.
Enunciar as quatro causas.
Explicar a sua funo.
Interpretar o sentido da expresso, segundo a qual, a alma primeira
entelecheia de um corpo.
Enumerar as funes da alma.
Explicar cada uma das funes da alma.
Distinguir, com base na sua funo intelectiva, intelecto paciente e
intelecto agente.
Descrever a funo do intelecto paciente.
Descrever as operaes empreendidas pelo intelecto agente.
Concluir que o conhecimento da forma resulta de relao entre intuio
indutiva, intuio intelectual e abstraco.
Colocar a questo da separabilidade e imortalidade do intelecto agente.
Contactar com a opinio dos eruditos.
Propor uma concluso provisria.
148
c) Atravs de uma incurso pela Metafsica, referncia aos dois sentidos do
conceito de Ser: como Ser dos seres e como Ser que nenhum outro ser e, mais
uma vez, convocao do conceito de Ousia. Concretamente, 1. O Ser como
podendo ser tomado em diversas acepes, mas sempre relativamente a um
termo nico, ou seja, o Ser como um universal analgico, no sentido em que
todos os seres contm Ser, em funo da existncia de um Ser dos seres. 2. O
Ser entendido como substncia eterna, indivisvel, inextensa e imvel e,
consequentemente, independente, separada dos seres sensveis. Nesse sentido,
trata-se de acto puro, perfeio absoluta, actua indirectamente sobre todas as
coisas pela atraco que exerce sobre as mesmas.
Werner Jarger defende que as duas perspectivas apresentadas por
Aristteles representavam duas fases da evoluo do seu pensamento: uma
fase marcada ainda pela forte influncia de Plato, e uma segunda fase j
propriamente aristotlica.
Prxima desta posio, segue a perspectiva de tienne Gilson que
defende que Aristteles reflecte, por um lado, a herana platnica, ao colocar o
Ser na estabilidade e mesmidade de uma dimenso afastada dos entes
individuais, e, por outro lado, a tendncia para afirmar uma posio
propriamente aristotlica que o leva a situar o real no individual concreto.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar o Ser das Matemticas, da Fsica e da Filosofia.
Caracterizar o Ser da Filosofia.
Assinalar os dois sentidos de Ser.
Analisar e interpretar o significado dos mesmos.
Verificar se os dois sentidos so incompatveis ou complementares.
Analisar as posies de alguns eruditos sobre esta matria.
Descobrir a relao entre Ser e logos.
Assinalar, a partir da, a distino empreendida entre logos filosfico e
logos sofstico.
Concluir que o logos filosfico que enuncia o Ser.
d) - e) Neste ponto, chamar-se-, desde j, a ateno dos alunos para o facto de
Aristteles, o crtico intransigente do Plato dos dois mundos, cavar um fosso
149
to fundo entre um mundo supralunar e um mundo sublunar: um mundo
incriado, incorruptvel, imutvel, de movimento eterno, circular e perfeito, versus
um mundo corruptvel, mutvel, sujeito indeterminao, ao nascer e ao
perecer. Relevar-se-, igualmente, o facto de Aristteles falar em esferas a que
os astros se encontram ligados, encontrando-se cada uma delas dotada de um
motor imvel. Ou seja, a questo que se coloca a seguinte: alm de um
primeiro Motor Imvel h outros motores imveis? Qual a sua natureza? Qual a
sua relao com o Primeiro Motor? Motores subordinados, de segunda
importncia?
Este ponto permite-nos partir para a abordagem da tese de Aristteles da
existncia de um Primeiro Motor Imvel. Ser necessrio chamar a ateno para
o facto de o mesmo no ser entendido nem tratado de igual modo na Fsica e na
Metafsica. De facto, poder-se- inclusive adiantar que a questo do Motor
Imvel funciona como que uma ponte entre a Fsica e a Metafsica. Na Fsica, o
Motor Imvel tratado de uma forma to fsica quanto possvel.
essencialmente causa do movimento; movimento eterno, tal como o Primeiro
Motor, e o tempo que, como medida, eterno : erradica-se assim qualquer ideia
de criao ou gnese. Na procura da origem do movimento, e atravs da
sucesso de causas, uma vez que estas no se podem prolongar infinitamente,
chegar-se- a um Primeiro Motor, chame-se-lhe causa incausada. Ora, o que
distingue este Primeiro Motor o seu carcter eterno, imvel e movente. Ou
seja, no h nada que lhe seja anterior que o mova, mas ele, na sua eterna
imobilidade, transmite movimento atravs de algo semelhante a um contacto
dinmico. Em sntese, e como se disse, move sem ser movido.
Na Metafsica, o Motor Imvel identifica-se clara e directamente com
Deus. Separado, absolutamente transcendente, Acto Puro, forma sem matria,
perfeio absoluta que, como tal, s se pode pensar a si prprio: pensamento
auto-pensante. Assim, ignora o mundo e tudo o que no seja ele prprio. No
um Deus fabricante, um demiurgo, imagem do Deus do Timeu de Plato. A
relao de Deus com o Mundo parte agora e cinge-se exclusivamente a uma
relao do Mundo com Deus. o Mundo que pela sua inultrapassvel
imperfeio se dirige eternamente, como que impulsionado pela atraco ou
amor da perfeio, para Deus eternamente inalcanvel. Deus assim a causa
do movimento eterno pela atraco que exerce sobre todas as coisas que
aspiram concretizao desta divina beleza. De notar, para concluir, que esta
transcendncia de Deus como Acto Puro mais radical e inacessvel que a
prpria Ideia de Bem em Plato.
150
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar a existncia de um mundo supralunar e de um mundo
sublunar.
Descrever as caractersticas do mundo supralunar.
Explicar a natureza de alguns dos seus elementos constitutivos.
Assinalar a existncia de uma pluralidade de motores imveis.
Relacionar esse facto com a existncia de um Primeiro Motor Imvel.
Propor uma soluo.
Estabelecer o contraste entre supralunar e sublunar atravs da descrio
de algumas caractersticas do mundo sublunar.
Sublinhar a crtica de Aristteles a Plato e as caractersticas do mundo
supralunar aristotlico.
Analisar o estatuto do Primeiro Motor na Fsica:
Explicar a origem do movimento.
Relacionar o movido com o no movido.
Explicar o imvel atravs da sucesso de movimentos ou causas.
Descobrir de que forma o Motor Imvel transmite o movimento.
Enumerar as caractersticas do Motor Imvel.
Analisar o estatuto do Motor Imvel na Metafsica:
Relacionar o Motor Imvel com Primeiro Motor e Deus.
Explicar a origem do movimento.
Relacionar o movido com o no movido.
Descrever a relao do Mundo com Deus.
Enumerar e explicar as caractersticas da divindade.
Extrair as consequncias dessa revelao
Relacionar o Deus de Aristteles com o Deus de Plato.
Extrair da as necessrias consequncias.
f) Dever-se- chamar a ateno dos alunos para o facto de, no domnio do
pensamento poltico, Aristteles, comparativamente com o que anteriormente se
verificara em A Repblica e mesmo nas Leis, no representar a ruptura, o corte
radical protagonizado por Plato. Nesse sentido, evidente que o pensamento
poltico de Plato , como se viu, um manancial de novas ideias, de propostas
inditas, tocando, inclusive, a utopia. Pelo contrrio, o pensamento poltico de
Aristteles surge-nos como extremamente razovel, pacfico, exequvel,
151
precisamente porque ele se encontra, por a, muito mais prximo de ns.
Procurar-se- esclarecer a convico de Aristteles de que o homem
um animal poltico, associando-a crena de que a polis o lugar mais-que-
perfeito para o acontecimento poltico.
Igualmente, ser de realar a relao estreita e permanente entre tica e
poltica (v. g., a procura do Bem para a cidade e para o indivduo), sublinhando, a
propsito, que a justificao da escravatura dada por Aristteles exige um
enquadramento e contextualizao a que, de seguida, se proceder.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Reconhecer e explicar as claras diferenas existentes entre o pensamento
poltico de Aristteles e o pensamento poltico de Plato.
Descrever, neste domnio, as crticas de Aristteles filosofia poltica de
Plato.
Explicar o sentido da assero, segundo a qual, o homem um animal
poltico.
Explicar a importncia da polis como espao poltico.
Classificar e caracterizar as principais formas de regime poltico.
Concluir pela estreita relao entre tica e poltica.
f) Mais uma vez, sublinhar-se- o papel nuclear da componente tica no
pensamento filosfico grego e, no caso vertente, em Aristteles. Concretamente,
atravs da estreita relao estabelecida entre tica e poltica e, por essa via,
entre phronesis e politike. Proceder-se- a uma anlise detalhada do conceito de
phronesis no pensamento do Estagirita.
Ainda, e mais uma vez, referncia crtica desferida contra a teoria das
Ideias ou dos paradigmas de Bem, Beleza, e outros, de Plato, o que, de alguma
forma, continua a aproximar Aristteles de ns.
Determinao do papel que incumbe ao filsofo, concretamente, compete
ao filsofo procurar o saber e a verdade, mas, igualmente, melhorar os homens
tornando-os mais felizes. No mesmo sentido, ser de prestar especial ateno
ideia de justo meio e defesa que Aristteles faz do mesmo, relacionando-o com
a ideia de justia. A estreita relao entre bem-estar individual e bem-estar geral,
isto , entre indivduo e Estado , igualmente, uma ideia recorrente em
152
Aristteles.
Em concluso, e aps a anlise dos temas fundamentais da tica, dever-
se- salientar a presena de um pensamento caracterizado pela tolerncia, por
um profundo humanismo e por uma especial finura na anlise psicolgica.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Reconhecer o lugar central da vertente tica no pensamento de
Aristteles.
Estabelecer a distino entre phronesis e politike.
Descrever a crtica teoria das Ideias de Plato do lado da componente
tica.
Identificar o papel reservado ao filsofo no campo do saber e dos valores.
Explicar a ideia de justo meio.
Analisar o conceito de justia.
Relacionar justia com amizade.
Concluir pela presena de um esprito tolerante, humanista e sagaz.
4) Os Trabalhos de Aristteles: leitura, anlise e interpretao.
a) Fsica
b) Metafsica
c) tica Nicomachea
d) Poltica
c) tica Nicomachea
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Identificar a natureza da tica.
Assinalar os mtodos de estudo da tica.
Identificar e assinalar as duas virtudes do intelecto: sophia e phronesis.
Distinguir virtudes do intelecto de virtudes de carcter.
Analisar virtude moral.
153
Explicar o conceito de justo meio.
Analisar a relao entre responsabilidade e livre-arbtrio.
Descrever o homem de sabedoria.
Avaliar o papel do legislador e do educador.
Analisar o conceito de justia.
Analisar o conceito de amizade.
Relacionar o conceito de justia com o conceito de amizade.
Explicar por que razo a amizade vai mais longe do que a justia.
Reconhecer a ntima relao entre tica e Poltica, phronesis e politike.
d) Poltica
TPICOS DO MODELO DE ANLISE E DE INTERPRETAO SEGUIDO:
Com base no Livro I:
Descrever a natureza e a finalidade do Estado.
Assinalar os argumentos invocados para a legitimao da escravatura.
Explicar o sentido da expresso o homem um animal poltico.
Identificar a polis como o nico lugar possvel de toda a civilidade.
Com base no Livro II:
Descrever a crtica filosofia poltica platnica defendida em A Repblica
e as Leis.
Com base no Livro III:
Justificar a estreita relao entre tica e Poltica.
Assinalar, mais uma vez, a invocao do espao privilegiado da polis,
como o lugar poltico por excelncia.
Com base no Livro IV:
Descrever o papel da cincia poltica na procura da melhor forma de
regime em absoluto.
Assinalar a classificao e caracterizao das principais formas de
regime poltico.
Com base no Livro VII:
Identificar o Bem supremo para a cidade e para o indivduo.
Sublinhar o elogio da moderao e do justo meio.
Concluir pela defesa do carcter e valor relativo dos diferentes regimes
154
polticos.
XIII. INTRODUO S FILOSOFIAS HELENSTICAS
1. A poca Helenstica: nota introdutria
a) O fim da polis como Cidade-estado.
b) O esvaziamento do papel do cidado.
c) Da polis cosmopolis.
d) Da liberdade liberdade interior.
e) A Biblioteca de Alexandria.
f) A aventura do livro: do papiro ao pergaminho; do cdice ao livro.
NOTA PRVIA: Ainda que se trate de uma introduo, as filosofias helensticas
no podem ser competentemente entendidas sem um prvio enquadramento de
carcter histrico, poltico, social e cultural.
O mero(?) desaparecimento da polis como Cidade-Estado, o nico
formato, alis, que os gregos conheceram e com o qual sempre se identificaram,
tem consequncias devastadoras tanto ao nvel da sua integridade fsica como
psquica, uma vez que , um grego um cidado da polis, um polites, e, como tal,
constitua-se como uma unidade. Unidade entre o filsofo e o poltico, o homem
e o cidado, a teoria e a prtica. O que para ns estranho e at paradoxal, mas
que para o grego absolutamente letal, que a desfragmentao do mundo
grego, sob a gide do Imprio, resulta, como se disse, na imediata e irreparvel
fragmentao do cidado grego, ou seja, como se lhe entrassem pela cidade,
pela casa, pela alma adentro.
claro que as filosofias helensticas e o pensamento grego , a este
propsito, um caso paradigmtico - como resultado interior de algo de fora,
acabam por reflectir este estado de coisas, que as levam, por um lado, a vir para
dentro, isto , a um fechamento, a um recolhimento, e, por outro, a
conceberem uma cidadania sem ptria, onde cada um e todos so cidados de
um mundo sem limites nem fronteiras. As filosofias helensticas vo, em sntese,
reflectir esta tenso, este dilaceramento, apressando-se a apresentar sistemas
155
altamente blindados, prova da dor e do sofrimento, da ignorncia e da
akosmia, do acaso e da contingncia, enfim, prova de uma existncia ao deus-
dar.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar as causas que conduzem ao perodo helenstico.
Avaliar a importncia do fim da polis como Cidade-Estado.
Explicar os reflexos desse acontecimento no polites.
Esclarecer o significado do aparecimento do cosmopolitismo como uma
nova maneira de estar no mundo.
Reconhecer a inevitabilidade de novas orientaes filosficas.
Avaliar a importncia da criao da Biblioteca de Alexandria.
Procurar saber o que a se estudava, descobria, discutia, copiava,
reproduzia, compilava e armazenava.
Traar a histria do livro atravs dos seus materiais.
2. Introduo s Filosofias Helensticas
a) O Estoicismo.
- Os perodos, os representantes e as tendncias.
- Temas centrais da Filosofia Estica:
- A funo da Filosofia.
- As partes da Filosofia.
- Filosofia e sistema.
- Lgica e Teoria do Conhecimento.
- Fsica: o Mundo, Deus, Providncia e Destino. O Homem e a Liberdade.
- Moral: a Virtude, as Paixes, o Valor e o Dever.
156
NOTA PRVIA: O Estoicismo apresenta-se claramente como um sistema, uma
totalidade, e, como totalidade, completo, no sentido em que os esticos
consideravam que o seu sistema devia ser entendido como que um circuito
fechado e que a eventual diviso em partes s se justificava em termos de
ensino. Ou seja, do ponto de vista do estoicismo, o sistema limita-se a reflectir a
concordncia, a simpatia entre as diferentes partes do todo.
A sua forte presena manteve-se desde o sculo III a. C. at ao sculo II d.
C., mas a sua enorme influncia atravessa, pode dizer-se, toda a Histria da
Filosofia. Nesse sentido, antecipam conceitos e problemticas que viro a estar,
mais tarde, no centro dos interesses e especulaes de diferentes disciplinas
filosficas.
A questo que colocam no domnio da linguagem, segundo a qual esta
no incide directamente sobre as coisas que pretende significar, remete para a
questo do exprimvel ou significado e insinua o aparecimento dos conceitos de
significante e de referente. A problemtica do conhecimento central, porque
na base da solidez do mesmo que o sistema pode crescer e consolidar-se,
concretamente, pode viabilizar uma harmonia racional entre o Homem e o
Mundo. Alguns destes conceitos, conceitos de representao e compreenso,
clareza e distino, evidncia e assentimento, iro fazer-se ouvir, mais tarde, nos
momentos decisivos do caminho (methodos) de Descartes.
Um mundo caracterizado pelo determinismo e necessidade, sem lugar
para o acaso ou contingncia, onde tudo acontece segundo uma ordem
determinada e na base de uma razo nica, necessita, urgentemente, da
presena a tempo, a mundo inteiro, de um Deus. Este pantesmo objectiva-se na
figura de Deus como Logos Spermatikos, razo, razo seminal que permeia e
embebe o Mundo de um sentido absoluto, dando-lhe uma ordem, uma razo de
ser nica.
O sbio, o homem verdadeiramente sbio, aquele que sabe que o
passado, o presente e o futuro so o resultado de um encadeamento de causas
racionais e necessrias que asseguram a ordem e a harmonia universal. por
isso que o sbio estico manter a imperturbabilidade (ataraxia), mesmo se
torturado no azeite ardente do touro de Falris, uma vez que o sbio submete-se
sabiamente ao Destino. Ou seja, o sbio estico livre atravs de uma
submisso esclarecida ordem necessria e racional dos acontecimentos.
Enfim, ele sabe aquilo que os outros ainda no sabem e a que, mais tarde,
Leibniz vai chamar de Harmonia pr-estabelecida, no melhor dos mundos
possveis
157
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Enumerar e caracterizar os trs perodos da filosofia estica.
Caracterizar o conceito de Filosofia no estoicismo.
Explicar o conceito de Sistema.
Identificar os temas e conceitos fundamentais da lgica e da teoria do
conhecimento:
- Linguagem e comunicao: significado, significante e
referente.
- O critrio de verdade: representao, compreenso,
evidncia, assentimento.
Relacionar o conceito de Natureza com os conceitos de Ordem,
Necessidade, Razo e Deus.
Concluir pela necessidade de divinizar a Natureza e naturalizar Deus.
Inferir, do anteriormente exposto, um triplo alcance: fsico, metafsico e
tico.
Relacionar o conceito de Divindade com Razo Seminal, Providncia,
Destino, Necessidade e Mundo
Inferir, do anteriormente exposto, um triplo alcance: Natural, Teolgico e
tico.
Associar o conceito de Liberdade aos conceitos de Destino, Necessidade
e imperturbabilidade.
Assinalar a presena de uma tica do dever que resulta da ordem racional
estabelecida.
Explicar o conceito de Valor.
Relacionar Valor, Conhecimento e Dever.
Explicar as razes que podem legitimar o suicdio.
b) O Epicurismo.
- As datas, os representantes, as ideias.
- O Epicurismo perante o Estoicismo.
- Temas centrais da Filosofia Epicurista:
- Cannica: relao entre sensao e razo; a
158
sensao e o critrio de verdade.
- Fsica: os tomos, o vazio e os deuses.
- tica: teoria do desejo e do prazer.
- Teologia, teoria da alma e escatologia.
NOTA PRVIA: a) O Epicurismo visa os mesmos objectivos perseguidos pelo
Estoicismo, s que por vias radicalmente diferentes, sendo certamente, por a,
que encontrar resistncias e mal-entendidos que o Estoicismo nunca
conheceu.
Os dois termos foram naturalmente assimilados pela linguagem corrente
e sabe-se como so diferentes as conotaes que se estabelecem quase que de
imediato. Esprito estico, sinnimo de rigor, austeridade, emulao, conteno,
dever, capacidade de sofrimento; epicurista, hedonista, busca do prazer como
centro de todos os interesses, vida fcil, caracterizada por uma grande
liberalidade, seno mesmo libertinagem (recorde-se que Digenes Larcio relata
as difamaes de que Epicuro teria sido alvo, enquanto o estico Ditimo ter
forjado cinco cartas, de carcter indecoroso, que atribuiu a Epicuro).
Ora, invariavelmente, todos os anos, sempre que partimos para a
abordagem desta temtica, lanamos turma esta questo de uma forma aberta
e simples: sempre que ouvem os termos epicurismo e epicurista, o que que
lhes ocorre de imediato?. Invariavelmente, tambm, as respostas, quando as
h, no andam longe desse quadro condenatrio. Encontramo-nos,
curiosamente, perante uma situao de distoro da informao, muito
semelhante quela anteriormente experimentada com os Sofistas. Assim, mais
uma vez, torna-se necessrio proceder a um reenquadramento desta doutrina,
no contexto da Histria da Filosofia.
b) O epicurismo uma corrente filosfica to sria e consistente quanto o
estoicismo, e a sua influncia ao longo da Histria da Filosofia vai muito alm do
perodo entre o seu aparecimento (sculo II a. C.) e o advento do cristianismo.
Essa influncia vai continuar a fazer-se sentir, muito mais tarde, em filsofos
como Gassendi, Locke, Hume, Bentham ou Stuart Mill.
A gnosiologia, construda na base da preeminncia da sensao sobre
qualquer outra fonte de conhecimento, tal como a relao estabelecida entre
sensao e razo, vai estar, inevitavelmente, na origem de todos os empirismos
e contra-cartesianismos. A tese de que a sensao como que algo de
159
irracional, no sentido em que anterior razo, ou seja, o dado imediatamente
dado e, como tal, credor de uma maior razoabilidade do que outro dado qualquer
do conhecimento, resultando ainda daqui que a razo que aguarda parecer da
sensao, representa uma completa inverso dos dados da questo. Ou seja,
estabelece-se, em definitivo, a sensao como o nico critrio de verdade
efectivamente vlido.
na base da coerncia desta teoria do conhecimento, que possvel
partir para uma viso radicalmente materialista do Mundo, onde tudo se joga e
se justifica pelo acaso, atravs do movimento dos tomos infinitos, no vazio
infinito, no havendo lugar para qualquer princpio de ordem Transcendente ou
Providente. Contudo, no decorre daqui uma terminante negao dos deuses. O
epicurismo reserva-lhes uma zona olmpica ou rea protegida, condomnio
fechado, imune e desconhecedor das dores e padecimentos dos homens. Os
deuses funcionam, essencialmente, como um paradigma de uma existncia feliz,
leve, frugal e imperturbvel, precisamente aquela forma de vida perseguida pelo
sbio e pela comunidade epicurista. Este estado de imperturbabilidade atinge-se
pelo cumprimento de dois imperativos para uma existncia feliz. Referimo-nos,
concretamente, erradicao dos medos, temores e receios que atormentam a
vida dos homens - seja pelo carcter mistrico e sobrenatural de que sempre
aparecem feridos os fenmenos naturais, seja pela angstia perante a
inevitabilidade da morte ou pelo temor relativamente ao destino da alma -, e
criteriosa gesto dos desejos, da qual depende a fruio de um duradouro
estado de prazer.
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar o que aproxima e o que separa o Epicurismo do Estoicismo.
Enumerar as grandes reas do saber sobre as quais incide a reflexo dos
filsofos epicuristas.
Identificar os diferentes planos do conhecimento:
- a sensao
- a antecipao
- a afeco
- a razo
Explicar a relao entre sensao e razo.
Justificar a razo da preeminncia da sensao sobre a razo.
160
Relacionar sensao com critrio de verdade.
Descrever a ideia de natureza atravs das caractersticas dos diferentes
elementos constitutivos do Mundo:
- os tomos e a declinao
- o vazio
- o espao
- os corpos
- o tempo
Identificar o prazer com o Bem.
Explicar as razes que fundamentam esta associao.
Descrever prazeres do corpo e prazeres da alma.
Explicar o significado do conceito de hedonismo.
Organizar uma hierarquia dos desejos.
Distinguir entre desejos naturais e necessrios, desejos naturais no
necessrios e desejos nem naturais nem necessrios.
Descrever as caractersticas dos deuses.
Explicar a relao dos deuses com o Mundo e os homens.
Caracterizar o estatuto da alma.
Explicar a postura do filsofo epicurista perante a morte.
Concluir pela manipulao e distoro do pensamento dos filsofos
epicuristas ao longo dos sculos.
c) O Cepticismo.
- As fases, os representantes e as tendncias.
- O Cepticismo perante o Estoicismo e o Epicurismo.
- Caractersticas distintivas do Cepticismo, segundo Sexto Emprico.
- O valor e os limites do conhecimento em questo. O critrio de verdade.
- O Cepticismo atravs de alguns conceitos fundamentais:
apatia, metriopatia, afasia, epoche, tropo, dilema, ataraxia, fenmeno.
- As perspectivas fundamentais do pirronismo.
- O cepticismo da Nova Academia.
- Os Cpticos Posteriores ou Neopirrnicos. Sexto Emprico.
161
NOTA PRVIA: O cepticismo a ltima das trs grandes correntes filosficas
que atravessaram o perodo helenstico. A sua presena e influncia far-se-
sentir por um longo perodo que vai do sculo IV-III a. C., ao sculo III d.C., ou
seja, o perodo de vida do cepticismo coincide com igual perodo dos outros
dois grandes sistemas filosficos: o estoicismo e o epicurismo.
Entretanto, no pelo facto de uma das consequncias quase imediatas e
inevitveis da reflexo dos filsofos cpticos, se saldar por uma crtica tenaz e
constante s perspectivas fundamentais dos dois outros grandes sistemas, nem
ainda pelo facto de o cepticismo no se constituir propriamente numa Escola,
mas representar essencialmente orientaes seguidas por escolas diferentes,
que deixa de fazer sentido inclui-lo no conjunto das trs grandes orientaes
filosficas desse perodo.
Alis, pesem embora as profundas divergncias, os objectivos centrais
perseguidos so os mesmos: felicidade, tranquilidade, imperturbabilidade. S
que, enquanto o estoicismo e o epicurismo fazem depender a concretizao
desse objectivo da adopo de uma doutrina, o cepticismo defende a posio
contrria: a ataraxia, a imperturbabilidade atinge-se pela recusa de envolvimento
com qualquer doutrina.
O cepticismo critica, essencialmente, o totalitarismo dogmtico,
sobretudo dos esticos, que resulta numa asfixiante tirania da opinio. Opinio
que, como mostram os cpticos, vale-o-que-vale, isto , muito pouco, nada ou
quase nada, uma vez que, na ausncia de um critrio de verdade efectivamente
vlido, no h compreenso, evidncia ou assentimento que lhe valha. O mesmo
para os epicuristas: andam bem, ao apresentarem a razo como um fundo cheio
de nada; menos bem, ao quererem crer nas capacidades teraputicas e
cognitivamente assertivas da sensao. que o conhecimento est confinado,
inevitavelmente, aos estreitos limites do fenomnico, ou seja, o conhecimento
que temos das coisas no o conhecimento da realidade objectiva, em si.
Os cpticos j podem falar na base de alguma histria da filosofia, de
algum passado filosfico. E nessa base que para eles as coisas so-como-so:
o passado filosfico uma soma de esperanas arruinadas, de sistemas
desfeitos, de razes atraioadas. Os cpticos opem a este frenesim da
doutrina, a esta priso do sistema, a este crer acreditar numa verdade,
conteno verbal (afasia), reserva opinativa (epoche), distanciao controlada
(metriopatia).
Enfim, e para concluir, parafraseando Ortega y Gasset, () Hoje, um
grego no conseguiria compreender este emprego do vocbulo porque o que ele
162
chamou de cpticos (skpticoi) eram uns homens terrveis. () O nome revela
que os gregos viam o cptico como a figura mais oposta a esse homem
indolente que se entrega ao no querer saber. Chamavam-lhe o investigador.
Se o filsofo era um homem de extraordinria actividade mental e moral, o
cptico era ainda mais, porque, enquanto aquele se esforava por chegar
verdade, este no se contentava com isso, uma vez que continuava, continuava
pensando, analisando essa verdade at provar que ela era v. A dvida cptica
no um estado de esprito, mas uma aquisio, um resultado a que se chega
em virtude de uma construo to rigorosa quanto a da mais compacta filosofia
dogmtica. [Origen y eplogo de la filosofia (p. 22-23)],
SNTESE E ARTICULAO DE ALGUNS DOS TEMAS ENUNCIADOS:
Identificar e caracterizar os trs grandes perodos do Cepticismo.
Estabelecer a distino entre o Cepticismo e as duas outras grandes
orientaes do pensamento helenstico.
Assinalar e interpretar as caractersticas prprias do Cepticismo, atravs
de uma passagem de Sexto Emprico.
Explicar a posio do Cepticismo relativamente questo do valor e
limites do conhecimento.
Caracterizar a posio do Cepticismo perante o problema do critrio de
verdade.
Estabelecer contacto com o pensamento dos cpticos, atravs da anlise
e interpretao de alguns conceitos fundamentais, resultantes da sua
reflexo filosfica.
Identificar e analisar as questes fundamentais colocadas por Pirro de
lis e pelo seu discpulo Tmon de Fliunte.
Identificar e analisar alguns dos temas abordados por Arcesilau e
Carnadas da Nova Academia:
- A importncia da dialctica.
- A crtica ao dogmatismo estico.
- O critrio de verdade.
- O critrio do provvel e do verosmil.
Identificar e analisar alguns dos temas abordados pelos Cpticos
Posteriores ou Neopirrnicos:
- Crtica aos Neo-acadmicos.
163
- Teoria dos modos ou tropos, segundo Enesidemo.
- Sexto Emprico:
- O critrio de verdade.
- Crtica ideia de causa, ao
silogismo e demonstrao.
- Suspenso do juzo.
- O empirismo sistemtico.
164
BIBLIOGRAFIA
165
INDICAO DE ALGUMAS OBRAS
INSTRUMENTAIS
ADORNO, F., A. CARLINI, F. DECLEVA CAIZZI, M. SERENA FUNGHI, D. MANETTI,
D., M. MANFREDI, F. MONTANARI, - Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Testi e
lessico nei papiri di cultura greca e latina. Parte I: Autori Noti. Vol.1, Firenze, Leo S.
Olschki Editore, MCMLXXXIX.
BAILLY, M.A. - Dictionnaire Grec-Franais, Paris, Hachette, 1950.
BELLARDI, W. Filosofia, grammatica e retorica nel pensiero antico, Roma, K.
Libreria Editrice, 1975.
BENVENISTE, E. - Problmes de linguistique gnrale I, (La notion de rythme),
Paris, Gallimard, 1966.
BROCK, N. - Recherches sur le vocabulaire mdical du grec ancien, Paris,
Klincksieck, 1961.
CLASSEN, CARL JOACHIM - "Bibliographie zur Sophistik", in Elenchos, Rivista di
studi sul pensiero antico, fasc. 1, Anno IV, 1985.
COPENHAVER, BRIAN P. (editor) - Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and
the Latin Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction,
Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Dictionnaire de la Langue Grecque. Histoire des Mots, Paris, ditions Klincksieck,
1980.
COLLI, GIORGIO (ed.) La Sapienza Greca, I testi dei pensatori greci antichi in
edizioni critica con traduzione, introduzione e commento 3 Vols., Milano, Adelphi
Edizioni, 1981-1982.
DIELS, HERMAN UND WALTHER KRANZ ed. - Die Fragmente der Vorsokratiker, V.
I, II, III, Berlin, Weidmann, 1972.
166
DUMONT, JEAN-PAUL - Les Prsocratiques I, II, Paris, Gallimard, 1988.
EASTERLOING, P.E. - The Cambridge Companion to Greek Tragedy (Cambridge
Companions to Literature), Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
FREEMAN, C. E. (ed.) A greek reader for schools, introductions, notes and
vocabularies, Wauconda Illinois, Bolchazy-Carducci Publishers, 1994.
FOURIER, HENRI Les verbes dire en grec ancien, Paris, Librarie C. Klincksiek,
1946.
GEORGIADES, T. - La langue comme rythme, Paris, Ed. Minuit, 1986.
HEIDEGGER, MARTIN Concepts fondamentaux de la philosophie antique trad.
Alain Boutot, Paris , Gallimard, 2003.
KAHN, CHARLES - The Verb "Be" and its sinonyms. The Verb "Be" in Ancient
Greek, Dordrecht/Boston, D. Reidel Publishing Co., 1973.
KNOX, B.M.W.; EASTERLING, P.E. - The Cambridge History of Classical Literature:
Part 3, Philosophy, History and Oratory, Cambridge, Cambridge University Press,
1989.
KNOX, B.M.W.; EASTERLING, P.E. - The Cambridge History of Classical Literature:
Part 2: Greek Drama, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
LARCE, DIOGNE - Vie, Doctrines et Sentences des Philosophes Illustres, V. I, II,
trad., notice et notes par Robert Grenaille, Paris, Garnier/Flammarion, 1965.
LAFRANCE, YVON Mthode et xgese en Histoire de la Philosophie, Paris, Les
Belles Lettres, 1982.
LEVET, J.P. - Le vrai et le faux dans la pense grecque archaque, Paris, Les Belles-
Lettres, 1976.
LIDDELL, H. G. ; SCOTT, H. S. A. A Greek-English Lexicon, Oxford, Clarendon
Press, 1863.
MALINGREY, ANNE-MARIE - Philosophia. tude d'un groupe de mots dans la
litrature grecque, des Prsocratiques au IV sicle aprs J .-C., Paris, Librairie
Klincksieck, 1961.
167
MARKET, OSWALDO La formacon del lenguaje filosfico en Grecia, in Cadernos
de Filosofia IX-X, Lisboa, Ed. Colibri, 2001.
MOMIGLIANO, ARNOLD D. - The Development of Greek Biography, Cambridge,
MA, Harvard University Press, 1993.
MONDOLFO, RODOLFO Problemas e Mtodos de Investigao na Histria da
Filosofia trad., L. Reale Ferrari, S. Paulo, Ed. Mestre Jou, 1969.
PEREIRA, ISIDORO - Dicionrio grego-portugus e portugus-grego, Livraria
Apostolado da Imprensa, Porto, 1961.
PETERS, F. E. Greek philosophical terms. A historical lexicon, New York, New
York University Press, 1967.
PLUTARQUE - Vies, trad. R. Flacelire et mile Chambry, Paris, Les Belles Lettres,
1969.
ROCHA PEREIRA, MARIA HELENA - Hlade, Coimbra, 1971.
SAUVANET, PIERRE - Le Rythme Grec: d'Heraclite Aristote, Paris, P. U. F., 1999.
UNTERSTEINER, MARIO Problemi di filologia filosofica (a cura di L. Sichirollo e
Ventura Ferriolo), Milano, Cisalpino, 1979.
VOGEL, C. J. - Greek Philosophy. A Collection of texts, selected and supplied with
some notes and explanations, V. I, II, III, Leiden, E. J. Brill, 1969.
WILLIAM, JORDAN - Ancient concepts of philosophy, London, Routledge, 1992.
WOODHOUSE, S.C. - English-Greek Dictionary: A Vocabulary of the Attic
Language, London, Routledge, 1972.
AA. VV. Greek Vocabulary (The Joint Association of Classical Teachers Greek
Course), Cambridge, Cambridge University Press, 1980.
168
ALGUNS ESTUDOS SOBRE HISTRIA E
CULTURA GREGA
BRANDO, J. DE SOUZA - Teatro Grego. Tragdia e Comdia, Petrpolis, Editora
Vozes, 2001.
BOLLACK, JEAN - L'OEdipe roi de Sophocle. Le texte et ses interprtations (4
volumes), Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990.
BOLLACK, JEAN - La naissance d'Oedipe, traduction, tudes et commentaires
d'Oedipe roi de Sophocle, Paris, Gallimard, 1995.
BOLLACK, JEAN - La Mort d'Antigone. La Tragdie de Cron, Paris, PUF, 1999.
BONNARD, ANDR - La Tragdie et l'Homme. tudes sur le drame antique,
Neuchatel, Les ditions de la Baconnire, 1951.
BONNARD, ANDR - Civilizao Grega Vol. I-II-III, trad. Jos Saramago, Lisboa,
Editorial Estudios Cor, s/d.
BOARDMAN, J. - The Greek Art, London, Thames and Hudson, 1985.
BOWRA, C.M. - The Greek Experience, London, Weidenfeld and Nicolson, 1957.
BOWRA, C.M. - Landmarks in Greek Literature, London, Weidenfeld and Nicolson,
1966.
BURN, A.R. - The Lyric Age Of Greece, London, Arnold, 1960.
CAPIZZI, ANTONIO - Il tragico in filosofia, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1988.
CASERTANO, GIOVANNI (ed.) I Filosofi e il potere nella societ e nella cultura
antiche, Napoli, Guida Editori, 1988.
CASTORIADIS, CORNELIUS - Ce qui fait la Grce d'Homre Hraclite (Sminaires
1982-83), Paris, ditions du Seuil, 2004.
CHTELET, FRANOIS - Pricls et son sicle, Paris, Ed. Complexe, 1990.
CHIRPAZ, FRANOIS - Le tragique, Paris, P.U.F., 1998.
169
COCHRANE, C.N. - Christianity and Classical Culture, Oxford, Oxford University
Press, 1940.
COHEN, DAVID - Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in
Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
CONCHE, MARCEL - "Devenir Grec", in Revue Philosophique, T. CLXXXVI, Paris, P.
U. F., 1996, pp. 3-22.
CHRISTOPHER, GRILL - Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy: The
Self in Dialogue, Oxford, Clarendon Press, 1996.
CROISET, MAURICE - Histoire de la littrature grecque, Paris, Fontemoing, 1910.
CULIK, JANK - Orpheus trought the Ages, London, Channel Four, 1985.
DTIENNE, MARCEL - Les J ardins d'Adonis, Paris, Gallimard, 1972.
DOVER, K. J. - The Greek Homosexuality, London, Duckworth, 1978.
DUCHEMIN, JACQUELINE Lagon dans la tragdie grecque, Paris, Les Belles
Lettres, 1968.
DUROUX, FRANOISE - "Antigone encore. Les femmes et la loi", in Rue Descartes
I, Paris, ditions Albin Michel, 1991, pp. 179-190.
EASTERLING, P; B. KNOX - The Cambrige History of Classical Literature: I Greek
Literature, Cambridge, CUP, 1985.
EHRENBERG, VICTOR - L'tene di Aristofane, Firenze, La Nuova Italia, 1957.
FLACELIRE, R. - Histoire littraire de la Grce, Paris, Fayard, 1962.
FRAISSE, J.-C. - Philia. La notion d'amiti dans la philosophie antique, Paris, J.Vrin,
1974.
FUENTES, JOAQUN LOMBA - Principios de Filosofa del Arte Griego, Barcelona,
Editorial Anthropos, 1987.
GEORGIADES, T. - La langue comme rythme, Paris, Ed. Minuit, 1986.
GLOTZ, G. - La cit grecque, Paris,d. Albin Michel, 1976.
GOLGHILL, S. - Reading Greek Tragedy, Cambridge, CUP, 1986.
GUAL, CARLOS GARCA - Prometeo: mito y tragedia, Madrid, Libros Hiperon,
170
1995.
FUENTES, JOAQUN LOMBA - Principios de Filosofa del Arte Griego, Barcelona,
Editorial Anthropos, 1987.
HAVELOCK, ERIC - The Liberal Temper in Greek Culture, London, Camelot Press,
1957.
HUYGHE, REN - Sens et Destin de l'Art. De la prhistoire l'art roman, Paris,
Flammarion, 1967.
IAN McAUSLAN & PETER WALCOT (Ed.) - Greek Tragedy, Oxford, Oxford
University Press, 1993.
JABOUILLE, VICTOR Cronologia da Cultura Clssica. Cronologia da Antiguidade
Grega e Romana, Lisboa, Cadernos Universitrios, 1996.
JABOUILLE, VICTOR - "Expresses da morte na mitologia grega", (Clssica.
Boletim de Pedagogia e Cultura), Lisboa, Edies Colibri, 1999.
JAEGER, Werner - Paideia, Lisboa, Editorial Aster, s/d.
JOLIVET, R. - Hellnisme et Christianisme, Paris, J. Vrin, 1955.
KIRK, G.S. (org.) - The Language and Background of Homer: Some Recent Studies
and Controversies, Cambridge, Heffers, 1964.
KITTO, H.D.F. Greek Tragedy. A Literary Study, London, Methuen, 1966.
MANIGLIER - La Culture, Paris, Ed. Ellipses, 2003.
MARROU, H-I - Histoire de l'ducation dans l'Antiquit, I. Le monde grec, Paris, d.
du Seuil, 1948.
MEIER, CHRISTIAN - The Political Art of Greek Tragedy, (Andrew Webber,
translator), Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993.
MIREAUX, MILE - Les pomes homriques et l'histoire grecque Vol. I-II, Paris,
Albin Michel, 1948/1949.
MONDOLFO, RODOLFO En los orgenes de la filosofia de la cultura, Buenos
Aires, Librera Hachette, 1942.
MONDOLFO, RODOLFO Arte, religin y filosofa de los griegos, Buenos Aires,
171
Editorial Columba, 1961.
MONDOLFO, RODOLFO - O Homem na Cultura Antiga, trad. Lus A. Caruso, S.
Paulo, 1968.
MORENO, J.M.;Poblador, A.; Del Rio - Historia de la Educacion, Madrid, 1971.
MOSS, CLAUDE - La Grce archaque d'Homre Eschyle, Paris, Seuil, 1984.
MURRAY, GILBERT - The Rise of the Greek Epic, Oxford, Oxford University Press,
1934.
MURRAY, GILBERT - A History of Ancient Literature, Chicago, Chicago University
Press, 1956.
MYRES, J.L. - Herodotus, Father of History, Oxford, Oxford University Press, 1953.
NAVARRE, O. - Le Thatre Grec, Paris, Payot, 1925.
NOUHAUD, MICHEL - Panorama du Sicle de Pricls, Paris, ditions Seghers,
1970.
NUSSBAUM, MARTHA C. - La fragilidad del bien: fortuna y tica en la tragedia y la
filosofia griega, trad. A. Ballesteros, Madrid, La balsa de la Medusa, 1995.
ONIANS, RICHARD BROXTON - The Origins of European Thought About the Body,
the Mind, the Soul, the World, Time and Fate: New Interpretation of Greek, Roman
and Kindred Evid, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
PAGE, D.L. - History and the Homeric Iliad, Berkeley and Los Angeles, University of
California Press, 1959.
PATTERSON, CYNTHIA - The Family in Greek History, Cambridge, MA, Harvard
University Press, 1998.
POHLENZ, MAX - Die griechische Tragdie, Leipzig, Berlin, Teubner, 1930.
POLLITT, J.J. - Art and Experience in Classical Greece, Cambridge, CUP, 1972.
RACHET, G. - La Tragdie Grecque, Paris, Payot, 1973.
RAMNOUX, CLMENCE - La Nuit et les Enfants de la Nuit, Paris, Flammarion, 1986.
RIBEIRO FERREIRA, J. - Polis, Coimbra 1989.
RIBEIRO FERREIRA, J. - Hlade e Helenos, Coimbra, 1983.
172
ROBERT, FERNAND - La Littrature Grecque, Paris, PUF, 1979.
ROCHA PEREIRA, Maria Helena - Hlade, Coimbra, 1971.
ROCHA PEREIRA, Maria Helena - Concepes Helnicas de Felicidade no Alm,
Coimbra, 1955.
ROCHA PEREIRA, Maria Helena - Estudos de Histria da Cultura Clssica, Vol. I,
Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1988.
ROMILLY, JACQUELINE DE - La Tragdie Grecque, Paris, P.U.F., 1970.
ROMILLY, JACQUELINE DE - Pourquoi la Grce ?, Paris, Editions de Fallois, 1992.
ROMILLY, JACQUELINE DE - Le Temps dans la Tragdie Grecque, Paris, J. Vrin,
1999.
ROUVERT, AGNS - Histoire et imaginaire de la peinture ancienne (Vem. sicle av.
J. C. -Ier.sicle ap. J. C.), Paris, cole Franaise de Rome, Palais Farnse, 1989.
SCHACHERMEYR, F. - Die ltesten Kulturen Griechenlands, Stuttgart,
Kohlhammer, 1955.
SILK, M.S.; STERN, J.P. - Nietzsche on Tragedy, Cambridge, CUP, 1981.
SILK, M. S. (ed.) - Tragedy and the Tragic: Greek Theatre and Beyond, Oxford,
Clarendon Press, 1996.
SOLANA DUESO, J. - Aspasia de Mileto, Testimonios y discursos, Barcelona,
Anthropos, 1994.
STARR, CHESTER G. - The Origins of Greek Civilization, New York, Knopf, 1961.
STARR, CHESTER G. - The Aristocratic Temper of Greek Civilization, Oxford,
Oxford University Press, 1992.
STEINER, GEORGE - The Death of Tragedy, London, Faber, 1961.
TAPLIN, O. - Greek Tragedy in Action, London, Methuen, 1978.
TOYNBEE, ARNOLD J. - The Greeks Heritage, Oxford, Oxford University Press,
1981.
TRD-BOULMER, MONIQUE; SADE, SUZANNE - La littrature grecque d'Homre
Aristote, Paris, PUF, 2004.
173
VERNANT, JEAN-PIERRE - L'individu, la mort, l'amour, Paris, ditions Gallimard,
1989.
VERNANT, JEAN-PIERRE; Naquet, VIDAL - Mythe et tragdie en Grce ancienne,
Paris, Franois Maspero, 1982.
VERNANT, JEAN-PIERRE (direco de) - O Homem Grego, trad. M. J. Vilar de
Figueiredo, Lisboa, Editorial Presena, 1993.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - Fragments sur l'art antique, Paris, Agns Vienot
ditions, 2002.
WEBSTER, T.B.L. - From Mycenae to Homer, London, Methuen, 1958.
ZIMMERMANN, B. (translated by Thomas Marier) Greek tragedy: an Introduction,
Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1991.
AA. VV. - "Des Grecs I, II" in Revue Rue Descartes, Paris, Albin Michel, 1991.
AA. VV. - Eros e Philia na Cultura Grega, (Actas Colquio), Lisboa, Centro de
Estudos Clssicos, 1996.
AA. VV. - Estudos Sobre Antgona, Lisboa, Editorial Inqurito/Universidade, 1999.
174
ALGUNS ESTUDOS SOBRE PENSAMENTO E
PRTICA POLTICA GREGA
ADKINS, ARTHUR W. H. - The Greek Polis, Chicago, University of Chicago Press,
1986.
AMATO, PIERANDREA Antigone e Platone. La biopolitica nel pensiero antico,
Milano, Mimesis, 2006.
ANDREWS, A. - The Greek Tyrants, London, Hutchinson, 1956.
BARKER, ERNEST - Teoria Poltica Grega, trad. S. F. Guarischi Bath, Editora
Universidade de Braslia, Braslia, 1978.
BORDES, J. - Politeia dans la pense grecque jusqu' Aristote, Paris, Les Belles
Lettres, 1982.
AUSTIN, MICHEL; VIDAL-NAQUET, PIERRE - conomie et Socit en Grce
Ancienne, Paris, Libairie Armand Colin, 1972.
CARTLEDGE, PAUL; MILLET, PAUL; TODD, STEPHEN (editors) - Essays in
Athenian Law, Politics and Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1991.
CHTELET, FRANOIS (sous la direction de) - Les Idologies, Paris, Librairie
Hachette, 1978.
CHTELET, FRANOIS - Pricls et son Sicle, Paris, Editions complexe, 1990.
DAVIS, J.K. - Democracy and Classical Greece, Harvard, Harvard University Press,
1993.
DRING, KLAUS - "Die politische Theorie des Protagoras", in The Sophists and
their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
DOUGLAS, M. MACDOWELL - The Law in Classical Athens (Aspects of Greek and
Roman Life), Itaca, Cornell University Press, 1986.
FESTUGIRE, A.J. - Libert et civilisation chez les Grecs, Paris, Gabalda 1947.
175
FINLEY, M. I. - Democracy Ancient and Modern, London, Chatto and Windus, 1973.
FINLEY, M. I. (ed.) - The Legacy of Greece: A new appraisal, Oxford, OUP, 1981.
FINLEY, M.I. - Politics in the Ancient World, Cambridge, Cambridge University
Press, 1983.
FORREST, W. G. - The Emergence of Greek Democracy, London, Weidenfeld, 1966.
FOXHALL, LIN; LEWIS, A.D.E. (ed.) - Greek Law in Its Political Setting:
J ustifications Not J ustice, Oxford, Clarendon Press, 1996.
GAGARIN, MICHAEL; WOODRUFF, PAUL (ed.) Early Greek Political Thought from
Homer to the Sophists, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
GARNER, RICHARD - Law and Society in Classical Athens, London, Routledge
Kegan & Paul, 1987.
GERNET, L. - Droit et Socit dans la Grce Ancienne, Paris, Sirey, 1955.
GERNET, L. - Droit et Institution en Grce Antique, Paris, Flammarion, 1982.
GLOTZ, GUSTAVE - L'ordalie dans la Grce primitive. tude de droit, Paris,
Fontemoing, 1904.
GLOTZ, GUSTAVE - La solidarit de la famille dans le droit criminel en Grce, Paris,
Fontemoing, 1904.
GLOTZ, GUSTAVE - La cit grecque, Paris, Albin Michel, 1968.
GLOTZ, G. - Histria Econmica da Grcia, trad. Vitorino Magalhes Godinho,
Lisboa, Edies Cosmos, 1946.
GROTE, G. - A History of Greece, London, John Murray, 1869.
GLOTZ, G. - La cit grecque, Paris, La Renaissance du Livre, 1928.
GUAL, CARLOS GARCA - Siete sbios y tres ms, Madrid, Alianza Editorial , 1989.
HANSEN, M. H. - The Athenian Assembly, Oxford, Blackwell, 1987.
HARRIS, EDWARD M. - Aeschines and Athenian Democracy, Oxford, Oxford
University Press, 1995.
176
HAVELOCK, ERIC - The Liberal Temper in Greek Culture, London, Camelot Press,
1957.
JONES, A.H.M. - Athenian Democracy, Baltimore, John Hopkins Press, 1986.
JONES, NICHOLAS F. - The Association of Classical Athens: The Response to
Democracy, New York, Oxford University Press, 1999.
KNAUSS, BERNHARD. - La Polis: Individuo y Estado en la Grecia Antigua, trad.
Felipe Gonzalez Vicen, Madrid, Ediciones Aguilar, 1979.
KREMER-MARIETTI, ANGLE - Morale et Politique, Paris, ditions Kim, 1995.
LACKS, ANDRE; SCHOFIELD, MALCOLM (editor) - "Justice and Generosity:
Studies in Hellenistic Social and Political Philosophy" in Proceeding of the Sixth
Symposium Hellenisticum, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
LAMI, GIAN FRANCO Socrate, Platone, Aristotele. Una filosofia della Polis da
Politeia a Politika, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.
LEGROS, ROBERT - L'avnement de la dmocratie, Paris, Grasset et Fasquelle,
1999.
LEWIS, SIAN - News and Society in the Greek Polis, Chapel Hill, University of
Northe Carolina Press, 1996.
LINFORTH, I.M. - Solon the Athenian, Berkeley, University of California, 1919.
LORAUX, PATRICE et NICOLE - "L'Athenaion Politeia avec et sans Athnes.
Esquisse d'un dbat", in Rue Descartes I Paris, ditions Albin Michel, 1991, pp. 57-
79.
LUCA, MORI La giustizia e la forza. Lombra di Platone e la storia della filosofia
politica, Pisa, ETS, 2005.
LUCE, T. J. - The Greek Historians, London, Routledge, 1997.
MACDOWELL, DOUGLAS M. - The Law in Classical Athens (Aspects of Greek and
Roman Life), Cornell University Press, 1986.
MAGALHES-VILHENA, VASCO - Antigos e Modernos: estudos de histria social
das ideias, Lisboa, Livros Horizonte, 1984.
177
MANVILLE, PHILIP BROOK - The Origins of Citizenship in Ancient Athens,
Princeton, Princeton University Press, 1997.
MOREL, PIERRE-MARIE - "Dmocrite. Connaissance et apories" in Revue
Philosophique (Philosophie Grecque), Paris, P.U.F., 1998, pp. 145-163.
MOSS, CLAUDE - As Instituies Gregas, Lisboa, 1985.
MOSS, CLAUDE - Histoire des doctrines politiques en Grce, Paris, PUF, 1969.
MOSS, CLAUDE- La tyrannie dans la Grce antique, Paris, P. U. F., 1989.
MOSS, CLAUDE - Histoire d'une dmocratie: Athnes, Paris, ditions du Seuil,
1971.
MOSS, CLAUDE - Politique et socit en Grce ancienne. Le modle Athenien,
Paris, Aubier, 1995.
MOSS, CLAUDE Ordre et dsordre dans la cit, in La Grce pour penser
lavenir, Paris, LHarmattan, 2000.
OBER, JOSIAH - Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology and
Power People, Princeton, Princeton University Press, 1991
OSTWALD, MARTIN From popular sovereignty to the sovereignty of law : law,
society and politics in fifth-century Athens, Berkeley Los Angeles, California,
University of California Press, 1990.
PENEDOS, lvaro - O Pensamento Poltico de Plato, Porto, 1977.
POMEROY, SARAH - Goddesses, Whores, Wives and Slaves, London, Hale, 1975.
RHODES, P. J. - The Decrees of the Greek States, Oxford, Clarendon Press, 1997.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - "Le statut social d'Aristote Athnes", Revue de
Mtaphysique et de Morale, 3, Paris, 1984, pp. 365-378.
ROMILLY, JACQUELINE - Problmes de la Dmocratie Grecque, Paris, Hermann,
1975.
ROMILLY, JACQUELINE DE - La Grce antique la dcouvert de la libert, Paris,
Editions Fallois, 1989.
SANTOS, JOS TRINDADE - "A natureza e a lei: reflexos de uma polmica em trs
178
textos da Grcia Clssica", in Estudos Sobre Antgona, Lisboa, Editorial
Inqurito/Universidade, 1999, pp. 77-111.
SAXONHOUSE, ARLENE W. - Fear of Diversity: The birth of political science in
ancient greek thought, Chicago, University of Chicago Press, 1992.
SEALEY, RAPHAEL - A History of Greek City States, Berkeley, University of
California Press, 1977.
SEALEY, RAPHAEL - The Athenian Republic: Democracy or the Rule of Law,
Pensylvania State University Press, 1987.
SEALEY, RAPHAEL - Women and Law in Classical Greece, Chapel Hill, University
of North Carolina Press, 1990.
SEALEY, RAPHAEL - The J ustice of the Greeks, University of Michigan Press, 1994.
SINCLAIR, R.K. - Democracy and Participation in Athens, Cambridge, Cambridge
University Press, 1991.
STARR, CHESTER G. - The Aristocratic Temper of Greek Civilization, Oxford,
Oxford University Press, 1992.
STOCKTON, DAVIS L. - The Classical Athenian Democracy, Oxford, Oxford
University Press, 1990.
STRAUSS, BARRY S. - Fathers and Sons in Athens: Ideology and Society in the Era
of the Peloponnesian War, Princeton, Princeton University Press, 1997.
THOMSON, GEORGE - Studies in Ancient Greek Society, London, Lawrence and
Wishart, 1949.
TODD, S.C. - The Shape of Athenian Law, Oxford, Clarendon Press, 1993.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - A Democracia Grega, Lisboa, 1993.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - conomie et Socit en Grce Ancienne, Paris, Armand
Colin, 1999.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - Travail et Esclavage en Grce Ancienne, Paris, ditions
Complexe, 1999.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - Les grecs, les historiens, la dmocratie, Paris, La
179
Dcouverte, 2000.
VIDAL-NAQUET, PIERRE - La dmocratie grecque vue d'ailleurs, Paris,
Flammarion, 2001.
WOODHOUSE, W.J. - Solon the Liberator, Oxford, Oxford University Press, 1938.
ALGUNS ESTUDOS SOBRE MITO E RELIGIO
GREGA
BABUT, DANIEL - La Religion des Philosophes Grecs, Paris, PUF, 1974.
BLOCH, RAYMOND La divination dans lantiquit, Paris , PUF, 1984.
BOLLACK, JEAN - La Grce de personne. Les mots sous le mythe, Paris, Seuil,
1997.
BONNARD, ANDR - Les Dieux de la Grce, Paris, Mermod, 1945.
BREMMER, JAN, N. - The Early Greek Concept of the Soul, Princeton, Princeton
University Press, 1993.
BRISSON, LUC - Introduction la Philosophie du Mythe, T.I, Paris, J. Vrin, 1997.
BURKERT, WALTER; RAFFAN, JOHN - Greek Religion, Harvard, Harvard University
Press, 1987.
BURKERT, WALTER - Creation of the Sacred, Harvard, Harvard University Press,
1996.
BUXTON, RICHARD (ed.) From myth to reason? Studies in the development of
Greek thought, Oxford, Oxford University Press, 1999.
CHRISTOPHER, GILL - Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy: The Self
in Dialogue, Oxford, Clarendon Press, 1996.
CORNFORD, FRANCIS, M. - From Religion to Philosophy. A Study in the Origins of
Western Speculation, London, Arnold, 1912.
180
D'AGOSTINO, FRANCESCO - Bia. Violenza e giustizia nella filosofia e nella
letteratura della grecia antica, Milano, Giuffr Editore, 1983.
DECHARME, P. - La critique des traditions religieuses chez les Grecs, Paris, A.
Picard et fils, 1904.
DECHARME, P. La mythologie de la Grce antique, Paris, Garnier Frres, s/d.
DTIENNE, MARCEL; VERNANT, JEAN-PIERRE - Les Ruses de l'Intelligence: la
mtis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974.
DTIENNE, MARCEL - Dionysos mis la mort, Paris, Gallimard, 1977.
DTIENNE, MARCEL Linvention de la mythologie, Paris, Gallimard, 1992.
DTIENNE, MARCEL Dionysus ciel ouvert, Paris, Hachette, 1998.
DODDS, E.R. - The Greeks and the Irrational, Berkeley, University of California,
1952.
FESTUGIRE, A.J. - tudes de religion grecque et hellenistique, Paris, J. Vrin, 1972.
FORSDYKE, J. - Greece before Homer: Ancient Chronology and Mythology,
London, Parrish, 1956.
FRITZ, GRAF - Griechische Mythologie, Munique/Zurique, Artemis Verlag, 1985.
GERSON, L. P. - Good and greek philosophy: studies in the early history of natural
theology, London, Routledge, 1994.
GRAVES, ROBERT The greek myths, London, Penguin Books, 1960.
GRIMAL, PIERRE La mythologie grecque, Paris, PUF, 1953.
GUTHRIE, W. K. C. The Greeks and their gods, London, Metheun, 1950.
GUTHRIE, W. K. C. Orpheus and the Greek Religion: a study of the orphic
movement, Princeton, Princeton University Press, 1993.
HARRISON, J.E. - Prolegomena to Greek Religion, Cambridge, Cambridge
University Press, 1922.
HARRISON, J.E. - Themis: A Study of the Social Origins of Greek Religion,
Cambridge, Cambridge University Press, 1927.
JAEGER, WERNER - La Teologia de los Primeros Filosofos Griegos, trad. Jos
181
Gaos, Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmica, 1952.
JAEGER, WERNER - Cristianismo Primitivo e Paideia Grega, trad. Artur Moro,
Lisboa, Edies 70, 1991.
JESI, FURIO Mito, Milano, Istituto Editoriale Internazionale, 1973.
KIRK, G.S. - The Nature of Greek Myth, Harmondsworth, Penguin, 1974.
LINFORTH, I.M. - The Arts of Orpheus, Berkeley, University of California, 1941.
MONDOLFO, RODOLFO Arte, religin y filosofa de los griegos, Buenos Aires,
Editorial Columba, 1961.
NILSSON, MARTIN PERSSON - Greek Popular Religion, New York, Columbia
University, 1947.
NILSSON, MARTIN PERSSON Greek Piety, Oxford, Clarendon Press, 1948.
NILSSON, MARTIN PERSSON - A History of Greek Religion, Oxford, Oxford
University Press, 1949.
OTTO, WALTER F. Lesprit de la religion grecque ancienne, Paris, Berg
International, 1995.
OTTO, WALTER F. Dionysus : le myth et le culte, Paris, Gallimard, 1992.
PANIKER, SALVADOR - Filosofa y mstica: una lectura de los griegos, Barcelona,
Editorial Anagrama, 1992.
PARKE, H.W. - A History of the Delphic Oracle, Oxford, Oxford University Press,
1939.
PETTAZZONI, R. - La religion dans la Grce antique, Paris, Payot, 1953.
UNTERSTEINER, MARIO - La fisiologia del mito, Milano, Fratelli Bocca, 1946.
VERNANT, JEAN-PIERRE - Mythe et pense chez les grecs, Paris, Franois
Maspero, 1969.
VERNANT, JEAN-PIERRE - Entre Mythe et Politique, Paris, ditions du Seuil, 1996.
VEYNE, PAUL Les Grecs ont-ils cru leur dieux ?, Paris, ditions du Seuil, 1983.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - Mythe et Socit en Grce
Ancienne, Paris, Maspero, 1974.
182
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - Religion Grecque. Religions
Antiques, Paris, Maspero, 1976.
VIDAL-NAQUET, PIERRE ; VERNANT, JEAN-PIERRE - Mythe et tragdie en Grce
ancienne, Paris, Franois Maspero, 1982.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - La Grce ancienne: du mythe
la raison, Paris, Le Seuil, 1991.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - Le chasseur noir: formes de
penses et formes de socit dans le monde grec, Paris, La Dcouverte, 1991.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - La Grce ancienne: l'espace
et le temps, Paris, Le Seuil, 1991.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - La Grce ancienne: rites de
passage et transgressions, Paris, Le Seuil, 1992.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - Oedipe et ses mythes, Paris,
ditions Complexe, 2001.
YOUNG, D.C. - The Olympic Myth of Greek Amateur Athletics, Chicago, Ares, 1984.
ZEPPI, STELIO - Il pensiero religioso nei presocratici. Alle radici dell'ateismo,
Studium, 2003.
AA. VV. Les dieux de la Grce. La figure du divin au miroir de lesprit grecque,
Paris, Payot-Rivages, 1993.
183
ALGUMAS HISTRIAS DA FILOSOFIA GREGA E
AFINS
ABBAGNANO, NICOLA Historia de la Filosofia, 5 Vols., trad. de Juan Estelrich y
Perez Ballestar, Barcelona, Hora, 1994-1996.
BACCOU, ROBERT Histoire de la science grecque de Thals Socrate, Paris,
Aubier, 1951.
BARNES, JONATHAN - The Presocratics Philosophers, London, Routledge and
Kegan Paul, 1982.
BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy, London, Penguin Books, 1987.
BIGNONE, ETTORE - Studi sul Pensiero Antico, Roma, L'Erma di Bretschneider,
BRHIER, E. Comment je comprends lHistoire de la Philosophie, Paris, PUF, s/d.
BRHHIER, E. - Histoire de la philosophie, t. I, Paris, P.U.F., 1961.
BURNET, J. - Early Greek Philosophy, London, Adam and Charles Black, 1930.
BURNET, J. - Greek Philosophy. Thales to Plato, London, Macmillan and Company
Ld., 1960.
CALLOT, E. Ambiguits et antinomies de lHistoire et de sa Philosophie, Paris,
ditions Marcel Rivire, 1962.
CHTELET, FRANOIS (dir.) Histoire de la Philosophie : ides, doctrines 8 Vols.,
Paris, Hachette, 1972-1973
CHEVALLIER, J. - Histoire de la pense: I. La pense antique, Paris, Plon, 1955.
CLAGETT, MARSHALL Greek science in antiquity, London, Abelard-Schuman,
1957.
COPLESTON, FREDERIK A History of Philosophy 9 Vol., London, Search Press,
1949/1975.
CRESCENZO, LUCIANO DE - Storia della Filosofia Greca. I Presocrati, Milano,
184
Arnold Mondadori Editor, 1983.
DUMONT, JEAN-PAUL - Les Prsocratiques I, II, Paris, Gallimard, 1988.
FARRINGHTON, BENJAMIN Greek Science: its meaning for us, Middlesex,
Penguin Books, 1961.
FARRINGHTON, BENJAMIN Greek Science, Nottingham, Russel Press, 1980.
FONT, PERE LUS (introduccin, adaptacin y edicin) - Historia de la Filosofa y
de la Ciencia. I: Antigedad y Edad Media, trad. Juana Bignozzi, Barcelona,
Editorial Crtica, 1985.
FREEMAN, K. - The Pre-Socratic Philosophers, A Companion to Diels, Fragmente
der Vorsokratiker by K. Freeman, Oxford, 1946.
FREEMAN, K. - Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers, a complete translation of
the Fragmente in Diels, Cambridge, Massachusetts, 1983.
GIGON, OLOF- Las Origenes de la Filosofa Griega, trad. M. Carrin Gtiez, Madrid,
Editorial Gredos, 1980.
GOMPERZ, THEODOR - Greek Thinkers, a History of Ancient Philosophy,
translated by Laurie Magnus, M.A., London, John Murray, Albemarle Sreet, W., s/d.
GORRI, ANTONIO ALEGRE - Historia de la Filosofa Antigua, Barcelona, Editorial
Anthropos, 1988.
GROTE, G. - A History of Greece, London, John Murray, 1869.
GUTHRIE, W.K.C. - A History of Greek Philosophy 6 Vols., Cambridge, Cambridge
University Press, 1962-1981.
HACKNEY, JOHN History of Greek and Roman Philosophy, Philosophical Library,
Incorporated, 1966.
KIRK, G.S.; Raven, J.E. - The Presocratic Philosophers, Cambridge University
Press, Cambridge, 1966.
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. The Presocratic Philosophers,
Cambridge/London/New York, Cambridge University Press, 1985.
LLOYD, G. E. R. Magic, Reason and Experience. Studies in the origins and
185
development of Greek Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
LLOYD, G. E. R. The Revolutions of Wisdon. Studies in the claims and pratice of
Ancient Greek Science, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.
MOMIGLIANO, ARNALDO - Introduzione bibliografica alla storia greca fino a
Socrate, La Nuova Italia, 1975.
MONDOLFO, RODOLFO - O Pensamento Antigo vol. I-II, trad, L. Gomes da Motta, S.
Paulo, Editora Mestre Jou, 1967.
PARAIN (BRICE) (sous la dirction) - Histoire de la Philosophie Vol. I, Paris,
ditions Gallimard, 1969.
PENEDOS, LVARO DOS - Ensaios. Histria da Filosofia. Porto, Rs, 1987.
REALE, GIOVANNI; ANTISERI, DARIO - Il pensiero occidentale dalle origini ad oggi
vol. I, Brescia, Editrice La Scuola, 1985.
REALE, GIOVANNI Storia della filosofia greca e romana 10 vols., Bompiani, 2004.
ROBIN, LON Sur la notion dHistoire de la Philosophie, Paris, Armand Colin,
1963.
ROBIN, LON - La Pense Hellnique des origines a picure: questions de
mthode, de critique et d'histoire, Paris, PUF, 1967.
SCOON, ROBERT Greek Philosophy before Plato, Princeton, Princeton University
Press, 1928.
SOREL, REYNAL Les cosmogonies grcques, Paris, PUF, 1996.
TATON, R. (dir.) Histoire gnrale des sciences. Tome I : la science antique et
mdivale, Paris, PUF, 1966.
TEJERA, V. Rewriting the History of Ancient Greek Philosophy, Westport,
Greewood Press, 1997.
VOGEL, C. J. Greek Philosophy. A collection of texts selected and supplied with
some notes and explanations 3 Vols., Leiden, E. J. Brill, 1963.
ZELLER, EDUARD; MONDOLFO, RODOLFO La filosofia dei Greci nel suo
sviluppo storico 6 Vols., Firenze, La Nuova Itlia, 1951-1961.
186
ZELLER, EDUARD Outlines of the History of Greek Philosophy, Oxford, Taylor
and Francis, 2000.
ZELLER, EDUARD Compendio di storia della filosofia greca con una guida
bibliografica di Rodolfo Mondolfo, Firenze, La Nuova Italia, 2002.
WERNER, CHARLES - La Philosophie Grecque, Paris, Payot, 1972.
ALGUNS ESTUDOS SOBRE FILOSOFIA GREGA
ADKINS, ARTHUR W. H. - Merit and Responsability: A Study in Greek Values,
Oxford, Clarendon Press, 1960.
ADORNO, FRANCESCO - La filosofia antica, ( T. I ) Milano, Feltrinelli, 1991.
ALFIERI, V. E.; UNTERSTEINER, M. (a cura di) - Studi di filosofia greca in onore di
Rodolfo Mondolfo, Bari, 1951.
AUBENQUE, PIERRE - "Le phenomenal et sa tradition", in Rvue des Etudes
Philosophiques, Paris, P. U. F., 1998.
AUBENQUE, PIERRE - Concepts et catgories dans la pense antique, Paris, J.
Vrin, 2000.
BARNES, JONATHAN - The Presocratics Philosophers, London, Routledge and
Kegan Paul, 1982.
BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy, London, Penguin Books, 1987.
BEISTEGUI, MIGUEL and SPARKS, SIMON (edited by) - Philosophy and Tragedy,
London, Routledge, 2000.
BIGNONE, ETTORE - Studi sul Pensiero Antico, Roma, L'Erma di Bretschneider,
1965.
BLANC, MAFALDA - "O itinerrio da ontologia clssica", in Estudos Filosficos
Vol. 1, F.C.S.H. da U.N.L., Lisboa, 1982, pp. 139-168.
BOLLACK, JEAN - "L'homme entre son semblable et le monstre", in L' animal dans
187
l'antiquit, ( sous la dirction de G. Romeyer Dherbey ), Paris, J.Vrin, 1997, pp. 377-
395.
BOLLACK, JEAN - La Grce de personne, Paris, ditions du Seuil, 1977.
BRHIER, mile - tudes de Philosophie Antique, Paris, P.U.F. 1955.
BREMMER, JAN, N. - The Early Greek Concept of the Soul, Princeton, Princeton
University Press, 1993.
BROCHARD, V. - tudes de Philosophie Ancienne et de Philosophie Moderne,
Paris, J. Vrin, 1974.
BRUNSCHVICG, L. - Les ges de l'intelligence, Paris, P.U.F., 1947.
BUXTON, RICHARD (ed.) From myth to reason? Studies in the development of
Greek thought, Oxford, Oxford University Press, 1999.
CAMPS, VICTORIA - tica, Retrica, Poltica, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
CAPIZZI, ANTONIO - Il tragico in filosofia, Roma, Ed. dell'Ateneo, 1988.
CASSIN, BARBARA (sous la direction de) - Le plaisir de parler, Paris, Les ditions
de Minuit, 1968.
CASSIN, BARBARA (dit par) - Positions de la Sophistique, Paris, J. Vrin, 1986.
CASSIN, BARBARA (sous la direction de) - Philosophie, Paris, Les ditions de
Minuit, n. 28, 1990.
CASSIN, BARBARA - Nos Grecs et leurs modernes. Les stratgies contemporaines
d'appropriation de l'Antiquit, Paris, ditions du Seuil, 1992.
CHTELET, FRANOIS - Uma Histria da Razo, trad. M. Serras Pereira, Lisboa
1993.
CHERWITZ, RICHARD A. (edited by) - Rhetoric and Philosophy, Hillsdale, Lawrence
Erlbaum Associates, 1990.
COHEN, DAVID - Law, Sexuality and Society: The Enforcement of Morals in
Classical Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1994.
CHRISTOPHER, GILL - Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy: The Self
in Dialogue, Oxford, Clarendon Press, 1996.
188
COLLI, GIORGIO - La nascita della filosofia, Milano, Adelphi Edizioni, 1975
COLLI, GIORGIO - La Sapienza Greca vols. I-II-III, Milano, Adelphi Edizioni, 1996.
CONCHE, MARCEL - "Devenir Grec", in Revue Philosophique, T. CLXXXVI, Paris, P.
U. F., 1996, pp. 3-22.
CORNFORD, FRANCIS M. - The Laws of Motion in Ancient Thought, Cambridge,
Cambridge University Press, 1931.
CORNFORD, FRANCIS M. - Before and After Socrates, Cambridge, Cambridge
University Press, 1932.
CORNFORD, FRANCIS M. - The Unwritten Philosophy and Other Essays,
Cambridge, Cambridge University Press, 1967.
CORNFORD, FRANCIS M. - Principium Sapientiae, trad. M. M. Rocheta dos Santos,
Lisboa, 1975.
CORNFORD, FRANCIS M. - From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of
Western Speculation, London, Arnold, 1912.
CHRISTOPHER, GRILL - Personality in Greek Epic, Tragedy and Philosophy: The
Self in Dialogue, Oxford, Clarendon Press, 1996.
DAHAN, GILBER; GOULET, RICHARD (dir.) - Allgorie des Potes, Allgorie des
Philosophes, Paris, J. Vrin, 2004.
D'AGOSTINO, FRANCESCO - Bia. Violenza e giustizia nella filosofia e nella
letteratura della grecia antica, Milano, Giuffr Editore, 1983.
DEMONT, PAUL (ed.) - Problmes de la Morale Antique, Amiens, Universit
D'Amiens, Facult des Lettres, 1993.
DTIENNE, MARCEL - Les Matres de vrit dans la Grce archaque, Paris,
Maspero, 1973.
DIHLE, A. - "Die Verschiedenheit der Sitten als Argument ethischer Theorie", in The
Sophists and their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981, pp. 54-64.
DIXSAUT, MONIQUE - "L'analogie intenable", in Rue Descartes I, Paris, ditions
Albin Michel, 1991, pp. 93-120.
189
DODDS, E.R. - Les Grecs et L'Irrationnel, trad. M. Gibson, Paris, Flammarion, 1977.
DODDS, E.R. - The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek
Literature and Belief, Oxorf, Clarendon Press, 1973.
EVERSON, STEPHEN (edited by) - Ethics, Companions to ancient thougt 4,
Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
FARRINGTON, BENJAMIN - Greek Science. Thales to Aristotle V.I, Harmondsworth,
Middlesex, Penguin Books, 1944.
FESTUGIRE, A.J. - Libert et civilisation chez les Grecs, Paris, Gabalda 1947.
FESTUGIRE, A.J. - tudes de Philosophie grecque, Paris, J. Vrin, 1971.
FRAISSE, J.-C. - Philia. La notion d'amiti dans la philosophie antique, Paris, J.Vrin,
1974.
FREDE, M. - Essays in Ancient Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 1987.
FUENTES, JOAQUN LOMBA - Principios de Filosofa del Arte Griego, Barcelona,
Editorial Anthropos, 1987.
GADAMER, HANS-GEORG - El inicio de la filosofa occidental, trad. R. A. Dez, M. C.
Blanco, Barcelona, Ediciones Paidos, 1995.
GADAMER, HANS-GEORG - Verdad y Metodo. Fundamentos de una hermenutica
filosfica, trad. Ana A. Aparicio y Rafael de Agapito, Salamanca, Ediciones
Sgueme, 1977.
GADAMER, HANS-GEORG - Le Problme de la Conscience Historique (dition
tablie par Pierre Fruchon), Paris, Seuil, 1996.
GADAMER, HANS-GEORG - Herana e Futuro da Europa, trad. A. Hall, Lisboa,
Ed.70, 1998.
GADAMER, HANS-GEORG - El inicio de la sabidura, trad. A. Gmez Ramos,
Barcelona, Ediciones Paids Iberica S.A., 2001.
GAGARIN, MICHAEL; WOODRUFF, PAUL - Early Greek Political Thought from
Homer to the Sophists, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
GERNET, L. - Anthropologie de la Grce Antique, Paris, Flammarion, 1982.
190
GERNET, L. - Les grecs sans miracle, Paris, Maspero, 1983.
GERSON, L. P. - Good and greek philosophy: studies in the early history of natural
theology, London, Routledge, 1994.
GIGON, O. - Les Grands Problmes de la Philosophie Antique, Paris, Payot, 1961.
GILSON, E. - L'tre et l'essence, Paris, J.Vrin, 1962.
GUTHRIE W. K. C. Greek Philosophy : an inaugural lecture, Cambridge,
Cambridge University Press, 1953.
HADOT, PIERRE - Exercices spirituels et philosophie antique, Paris, Etudes
augustiniennes, 1987.
HADOT, PIERRE - Qu'est-ce que la philosophie antique?, Paris, Gallimard, 1995.
HADOT, PIERRE - "Remarques sur les notions de phusis et de nature" in tudes de
Philosophie Ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 77-92.
HEGEL, G.W.F. - Leons sur l'Histoire de la Philosophie, Paris, J. Vrin, 1971.
HEIDEGGER, MARTIN - Introduccin a la Metafsica, trad. Emilio Esti, Buenos
Aires, Editorial Nova, 1959.
HEIDEGGER, MARTIN - Concepts fondamentaux de la philosophie antique, trad.
Alain Boutot, Paris, ditions Gallimard, 2003.
ISNARDI PARENTE, MARGHERITA Tchne: momenti del pensiero greco da
Platone a Epicuro, Firenze, La Nuova Italia, 1966.
KENNEDY, GEORGE - The Art of Persuasion in Greece, Princeton, Princeton
University Press, 1963.
KERFERD, G. B. The study of Greek thought: inaugural lecture of the Professor of
Classics delivered at the College, Swansea, University of Wales, 1956.
KERFERD, G. B. Reason as a guide to conduct in Greek thought, Manchester, J.
Rylands Univ. Lib. of Manchester, 1981.
KOYR, A. - From the closed world to the infinite universe, Baltimore, John
Hopkins University Press, 1975.
KRELL, D. F. - Heidegger and Language, (The wave's source: Rhytm in the
191
language of poetry and thought), University of Watwick, Parousia Press, 1982.
LENOBLE, ROBERT - Esquisse d'une histoire de l'ide de Nature, Paris, Albin
Michel, 1969.
LEVET, J. P. - Le vrai et faux dans la pense grecque archaque, Paris, Les Belles
Lettres, 1976.
LLOYD, G.E.R. - Early Greek Science, Thales to Aristotle, London, Chatto and
Windus, 1973.
LLOYD, G.E.R. - Magic, Reason and Experience, Cambridge, Cambridge University
Press, 1979.
MILHAUD, GASTON - Les philosophes-gomtres de la Grce, Paris, Alcan, 1900.
MOLDER, MARIA FILOMENA - "A propsito de Mmesis, in Estudos Filosficos
Vol. 1, F.C.S.H. da U.N.L., Lisboa, 1982, pp. 67-85.
MONDOLFO, RODOLFO - El Genio Helnico, Buenos Aires, Editorial Columba
S.A.C.I., 1960.
MONDOLFO, RODOLFO - O Infinito no Pensamento da Antiguidade Clssica, trad.
Luz Dars, S. Paulo, Editora Mestre Jou, 1968.
MONDOLFO, RODOLFO - O Homem na Cultura Antiga, trad. Luz A. Caruso, S.
Paulo, Editora Mestre Jou, 1968.
MOREAU, J. - L'ide d'univers dans la pense antique, Turim, B. del Giornale di
Metafisica, 1953.
MOTTE, A.; RUTTEN, CHR. (d. par) - Aporia dans la philosophie grecque des
origines Aristote, Louvain-La-Neuve, ditions Peeters, 2001.
NARCY, MICHEL - La Dialectique entre Platon et Aristote, Aix-en-Provence, Cahiers
du Centre d'tudes sur la pense antique kairos kai logos, 1997.
NEUGEBAUER, O. - The Exact Sciences in Antiquity, Oxford, Oxford University
Press, 1951.
NICHOLAS, DENYER - Language, thought and falsehood in ancient greek
philosophy, London, Routledge, 1993.
192
NIETZSCHE, FRIEDRICH - La naissance de la philosophie l'poque de la tragdie
grecque, trad. Genevive Bianquis, Paris, Gallimard, 1985.
NIZAN, PAUL - Les matrialistes de l'antiquit, Paris, Maspero, 1968.
NUSSBAUM, MARTHA C. - La fragilidad del bien: fortuna y tica en la tragedia y la
filosofia griega, trad. A. Ballesteros, Madrid, La balsa de la Medusa, 1995.
O'BRIEN, DENIS - "Comment crire l'histoire de la philosophie? Hraclite et
Empdocle sur l'un et le multiple", in Rue Descartes, Paris, ditions Albin Michel,
1991, pp. 121-138.
ONIANS, RICHARD BROXTON - The Origins of European Thought About the Body,
the Mind, the Soul, the World, Time and Fate: New Interpretation of Greek, Roman
and Kindred Evid, Cambridge, Cambridge University Press, 1988.
ORTEGA Y GASSET, J. - Origen y eplogo de la filosofa, Mxico, Fondo de Cultura
Economica, 1960.
PANIKER, SALVADOR - Filosofa y mstica: una lectura de los griegos, Barcelona,
Editorial Anagrama, 1992.
PENEDOS, lvaro - Ensaios. Histria da Filosofia, Porto, Rs, 1987.
REY, ABEL - La J eunesse de la Science Grecque, Paris, La Renaissance du Livre,
1933.
RIVAUD, A. - Le problme du devenir et la notion de matire dans la philosophie
grecque, depuis les origines jusqu' Thophraste, Paris, 1906.
ROBIN, LON - "Sur La Notion D'Histoire De Philosophie", Bulletin de la Socit
franaise de Philosophie, n 3, Paris, 1936.
ROBIN, LON - La Pense Hellnique. Des Orignes Epicure, Paris, P.U.F., 1967.
ROBIN, LON - La Morale Antique, Paris, P. U. F., 1970.
ROBINSON, JOHN MANSLEY - An Introduction to Early Greek Philosophy, Boston,
Houghton Mifflin, 1968.
ROBINSON, RICHARD Essays in Greek Philosophy, Oxford, Oxford University
Press, 1969.
193
RODIER, GEORGES - tudes de Philosophie Grecque, Paris, J. Vrin, 1969.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - (sous la direction de), L' animal dans l'antiquit,
Paris, J. Vrin, 1997.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - La Parole Archaique, Paris, P.U.F., 1999.
ROMILLY, JACQUELINE DE - La douceur dans la pense grecque, Paris, Les Belles
Lettres, 1979.
ROMILLY, JACQUELINE DE - "La naissance des sciences humaines au V.me
sicle avant J. C.", Paris, Diogne, 1988, pp. 3-17.
ROMILLY, JACQUELINE DE - La construction de la vrit chez Thucidide, Paris,
Julliard, 1990.
ROUVERT, Agns - Histoire et imaginaire de la peinture ancienne (Vem. sicle av.
J . C. -Ier.sicle ap. J . C.), Paris, cole Franaise de Rome, Palais Farnse, 1989.
SAMUEL I JSSELING - Rhtorique et philosophie, Paris, Archives de Philosophie,
1976, pp. 193-210.
SANDYWELL, BARRY - Presocratic Reflexivity: The Construction of Philosophical
Discourse c.600-450BC, London, Routledge, 1996.
SANTOS, JOS TRINDADE - Antes de Scrates, Lisboa, Gradiva, 1992.
SAUVANET, PIERRE - Le Rythme Grec: d'Heraclite Aristote, Paris, P. U. F., 1999.
SCHOTTE, JEAN-CLAUDE - La science des Philosophes. Une histoire critique de la
thorie de la connaissance, Bruxelles, De Boeck Universit, 1998.
SCHRODINGER, ERWIN; PENROSE, ROGER - Nature and the Greeks: And Science
and Humanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
SCHULL, PIERRE-MAXIME - Machinisme et philosophie, Paris, P.U.F., 1947.
SCHUHL, P-M - Essai sur la formation de la pense grecque, Paris, PUF, 1949.
SICHIROLLO, L. - Dialctica, Lisboa, 1980.
SNELL, BRUNO - The Discovery of Mind, Oxford, Oxford University Press, 1953.
STRIKER, GISELA - Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics, Cambridge,
Cambride University Press, 1995.
194
SZAB, RPD - L'aube des mathmatiques grecques, Paris, J. Vrin, 2000.
SZAB, RPD; ERKKA, MAULA - Les dbuts de l'astronomie, de la gographie et
de la trigonomtrie chez les Grecs, Paris, J. Vrin, 1986.
TAYLOR, CHARLES - Philosophy and the Human Sciences. Philosophical Papers
2., New York, Cambridge University Press, 1985.
TRED, MONIQUE - Kairos. L'-propos et l'occasion, Paris, Klincksieck, 2000.
USHER, STEPHEN - Greek Oratory: Tradition and Originality, New York, Oxford
University Press, 1999.
VERNANT, JEAN-PIERRE - Les origines de la pense grecque, PUF, 1981.
VERNANT, JEAN-PIERRE - Mythe et pense chez les grecs, Paris, Franois
Maspero, 1969.
VIANO, CRISTINA (dir.) - L'alchimie et ses racines philsophiques, Paris, J. Vrin,
2004.
VIDAL-NAQUET, PIERRE; VERNANT, JEAN-PIERRE - La Grce ancienne: du mythe
la raison, Paris, Le Seuil, 1991.
VLASTOS, GREGORY - Studies in Greek Philosophy: Socrates, Plato and their
Tradition, Princeton, Princeton University Press, 1995.
VLASTOS, GREGORY - Studies in Greek Philosophy: Presocratics, Princeton,
Princeton University Press, 1997.
VOELKE, ANDR-JEAN - Les rapports avec autrui dans la philosophie grecque:
d'Aristote Pantius, Paris, J. Vrin, 1961.
VOGEL C.J. - Greek Philosophy, a collection of texts with notes and explanations,
Leyde, E.J. Brill, 1953.
VUILLEMIN, JULES - Necessit ou Contingence. L'aporie de Diodore et les
systmes philosophiques, Paris, Les ditions de Minuit, 1997.
ZELLER, E.; MONDOLFO, R. - La filosofia dei Greci nel suo sviluppo storico, 6 Vol.,
Firenze, La Nuova Italia, 1951-1961.
ZEPPI, STELIO - "L'essere e il pensare nella filosofia greca anteriore ai Sofisti e a
195
Socrate" in Filosofia, A. XXXVIII, Fasc. II, Firenze, 1987, pp. 83-97.
WHITE, NICHOLAS - Individual and Conflict in Greek Ethics, Oxford, Oxford
University Press, 2004.
WILLIAM, JORDAN - Ancient concepts of philosophy, London, Routledge, 1992.
AA. VV. - "Des Grecs I - II" in Revue Rue Descartes, Paris, Albin Michel, 1991.
AA.VV. - Gadamer et les Grecs, Paris, J. Vrin, 2005.
196
OS PR-SOCRTICOS
ALGUMAS EDIES DOS FRAGMENTOS DOS
PR-SOCRTICOS
DIELS, HERMAN Doxographi Graeci, Berlin, 1879
DIELS, HERMAN UND WALTHER KRANZ ed. - Die Fragmente der Vorsokratiker, I,
II, III, Berlin, Weidmann, 1972.
DUMONT, JEAN-PAUL Les Prsocratiques I, II, Paris, Gallimard, 1988.
FREEMAN, KATHLEEN - The Pre-Socratic Philosophers. A Companion to Diels,
Fragmente der Vorsokratiker, Oxford, Basil Blackwell, 1946.
FREEMAN, KATHLEEN - Ancilla to the Pre-Socratic Philosophers. A complete
translation of the Fragments in Diels, Fragmente der Vorsokratiker, Cambridge,
Harvard Univerty Press, 1983.
KIRK, G. S.; RAVEN, J. E.; SCHOFIELD, M. - Os Filsofos Pr-Socrticos, trad. C. A.
Louro Fonseca, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1994.
MCKIRAHAN, RICHARD Presocratics Reader: Selected Fragments and
Testemonia, Hackett Publishing Company, Incorporeted, 1996.
TIMPANARO, M. CARDINI I Presocratici. Testimonianze e Frammenti, Bari, Editori
Laterza, 1983.
TIMPANARO, M. CARDINI Pitagorici. Testimonianze e Framenti, 3 vols., Florenza,
La Nuova Itlia, 1958-1964.
197
ALGUNS ESTUDOS SOBRE OS PR-
SOCRTICOS
ALLEN, J. The Worlds of the early greek philosophers, Buffalo, Prometheus
Books, 1979.
AUBENQUE, PIERRE (ed.)- tudes sur Parmnides 2 Vols., Paris, J. Vrin, 1987.
AXELOS, KOSTAS - Hraclite et la philosophie, Paris, ditions de Minuit, 1962.
BAILEY, C. - The Greek Atomists and Epicurus, Oxford, Oxford University Press,
1928.
BARNES, JONATHAN - The Presocratics Philosophers, London, Routledge and
Kegan Paul, 1982.
BARNES, JONATHAN - Early Greek Philosophy, London, Penguin Books, 1987.
BATTISTINI, YVES - Trois Prsocratiques: Hraclite, Parmnide, Empdocle, Paris,
ditions Gallimard, 1968.
BOLLACK, JEAN - Hraclite ou la sparation, Paris, Editions Minuit, 1972.
BOLLACK, JEAN - Empdocle (3 volumes), Paris, Gallimard, 1992.
BRUN, JEAN Hraclite, ou le philosophe de lternel retour, Paris, ditions
Seghers, 1965.
BRUN, JEAN Empdocle, ou le philosophe de lamour et de la haine, Paris,
ditions Seghers, 1966.
BRUN, JEAN Les Prsocratiques, Paris, PUF, 1982.
BURNET, J. - Early Greek Philosophy, London, Adam and Charles Black, 1930.
BUXTON, RICHARD (ed.) From myth to reason? Studies in the development of
Greek thought, Oxford, Oxford University Press, 1999.
198
CAIPIZZI, ANTONIO La Republica cosmica. Appunti per una storia non
peripatetica della nascita della filosofia en Grecia, Roma, Ed. DellAteneo, 1982.
CASERTANO, GIOVANNI I piacere, lamore e la morte nelle dottrine dei
presocratici I, Napoli, Loffredo, 1983.
CASERTANO, GIOVANNI - "Eros divino. Eros umano. Da Omero a Parmenide",
Actas Colquio Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de Estudos
Clssicos, 1995, pp. 25-38.
CASERTANO, GIOVANNI I Presocratici, Milano, Carocci Editore, 2009.
CASSIN, BARBARA - Si Parmnide, P.U.L. - M.S.H., 1980.
CASSIN, BARBARA (prsent, traduit et comment) - Parmnide. Sur la nature ou
sur ltant, Paris, ditions du Seuil, 1998.
CLEVE, F. M. The Giants of Pre-Sophistic Greek Philosophy. An attempt to
reconstruct their thoughts, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1973.
COLLI, GIORGIO La nascita della filosofia, Milano, Adelphi Edizioni, 1975.
CONCHE, MARCEL Parmenide, le Pome Fragments, Paris, P.U.F., 1995.
CORDERO, NESTOR-LUIS - Les deux chemins de Parmnides, dition critique,
traduction, tudes et bibliographie, Paris, J.Vrin, 1997.
CORNFORD, FRANCIS M. - From Religion to Philosophy: A Study in the Origins of
Western Speculation, London, Arnold, 1912.
COULOUBARITSIS, LAMBROS Myth et Philosophie chez Parmnide, Bruxelles,
d. Ousia, 1986.
CRESCENZO, LUCIANO DE - Storia della Filosofia Greca. I Presocrati, Milano,
Arnold Mondadori Editor, 1983.
COUPRIE, DIRK L.; HAHN, ROBERT; NADDAF, GERARD - Anaximander in Context,
New York, State University of New York, 2001.
COUPRIE, DIRK - Anaximander in Context: new studies in the origins of Greek
Philosophy, New York, State University of New York, 2002.
EGGERS LAN, CONRADO Y JULI Los filsofos presocrticos 3 Vols., Madrid,
199
Gredos, 1978.
FURLEY, D. J. - Two Studies in the greek Atomists, Princeton, Princeton University
Press, 1967.
FURLEY, D. J. The Greek Cosmologists, Cambridge, Cambridge University Press,
1987.
GADAMER, HANS-GEORG - Au Commencement de la Philosophie. Pour une
lecture des Prsocratiques, trad. Pierre Fuchon, Paris, ditions du Seuil, 2001.
GADAMER, HANS-GEORG - "Sobre la transmisin de Herclito", in El inicio de la
sabidura, trad. A. Gmez Ramos, Barcelona, Ediciones Paids Ibrica, 2001, pp.
17-30.
GADAMER, HANS-GEORG - "Estudios heraclteos", in El inicio de la sabidura,
trad. A. Gmez Ramos, Barcelona, Ediciones Paids Ibrica, 2001, pp. 31-84.
GADAMER, HANS-GEORG - "El atomismo antiguo", in El inicio de la sabidura,
trad. A. Gmez Ramos, Barcelona, Ediciones Paids Ibrica, 2001, pp. 85- 106.
GOMES, PINHARANDA - Filosofia Grega Pr-Socrtica, Lisboa, Guimares
Editores, 1980.
HADOT, PIERRE - "Remarques sur les notions de phusis et de nature" in tudes de
Philosophie Ancienne, Paris, Les Belles Lettres, 1998, pp. 77-92. *
HAHN, ROBERT - Anaximander and the architects: the contribuitions of Egyptian
and Greek architectural technologies to the origins of Greek Philosophy, New York,
State University of New York, 2001.
HUSSEY, EDWARD The Presocratics, Hackett Publishing Company, 1995.
JAEGER, WERNER La teologia de los primeros filsofos griegos (trad. J. Gaos),
Buenos Aires, Fondo de Cultura Econmica, 1952.
JEAN-FRANOIS PRADEAU (traduction et prsentation) - Hraclite. Citations et
Tmoignages, GF Flammarion, Paris, 2002.
JEANNIRE, ABEL (traduction et commentaire des fragments) - Hraclite, Paris,
ditions Aubier Montaigne, 1985.
200
JEANNIRE, ABEL - Les Prsocratiques, Paris, ditions du Seuil, 1996.
KAHAN, CHARLES H. (editor) - The Art and Thought of Heraclitus. A new
arrangement and translation of the fragments with literary and philosophical
commentary, Cambridge, Cambridge University Press, 1981.
KAHAN, CHARLES H. Anaximander and the Origins of Greek Cosmology, Hackett
Publishing Company, 1994.
KAHAN, CHARLES H. Pythagoras and the Pythagoreans: a brief history, Hackett
Publishing Company, 2001.
KIRK, G. S. (ed.) Heraclitus: the cosmic fragments, Cambridge, Cambridge
University Press, 1975.
LEVET, J. P. - Le vrai et faux dans la pense grecque archaque, Paris, Les Belles
Lettres, 1976.
MATTEI, JEAN-FRANOIS - Pythagore et les Pythagoriciens, Paris, P.U.F., 1996.
MESQUITA, ANTNIO PEDRO - "Sentido e Funo do conceito de Philia em
Heraclito", Actas Colquio Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de
Estudos Clssicos, 1995, pp. 57-70.
MOTT, ANDR De lide de la nature dans la Grce antique, in La Grce pour
penser lavenir, Paris, LHarmattan, 2000.
PALMER, JOHN Parmenides and Presocratic Philosophy, USA, Oxford University
Press, 2010.
PARESCE, ENRICO La giustizia nei presocratici, Soveria Manneli, Rubbettino,
1986.
PENEDOS, LVARO DOS Introduo aos Pr-Socrticos, Porto, Res Editora,
2001..
RAMNOUX, CLMENCE Hraclite ou lhomme entre les choses et les mots, Paris,
Les Belles Lettres, 1968.
ROBB, K. (ed.) Language and Thought in Early Greek Philosophy, Illinois, The
Monist Library of Philosophy, 1983.
201
ROBIN, LON - La Pense Hellnique. Des Orignes Epicure, Paris, P.U.F., 1967.
ROBINSON, JOHN MANSLEY - An Introduction to Early Greek Philosophy, Boston,
Houghton Mifflin, 1968.
ROCHOT, B. - Les travaux de Gassendi sur Epicure et sur l'atomisme, Paris, J. Vrin,
1944.
SANDYWELL, BARRY - Presocratic Reflexivity: The Construction of Philosophical
Dicourse c.600-450BC, London, Routledge, 1996.
SCHRODINGER, ERWIN; PENROSE, ROGER - Nature and the Greeks: And Science
and Humanism, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
SANTOS, J. TRINDADE - Da Natureza. Parmnides, Lisboa, Alda Editores, 1997.
SCOON, ROBERT Greek Philosophy before Plato, Princeton, Princeton University
Press, 1928.
SOLOVINE, MAURICE (trad.) - Dmocrite. Doctrines philosophiques et rflexions
morales, Paris, Alcan, 1928.
SWEENEY, L. Infinity in the Presocratics. A bibliographical and philosophical
study, Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1972.
THOMSON, GEORGE - The First Philosophers, London, Laurence and Wishart,
1955.
TIMOCHENKO, V.E. - "Le Matrialisme de Dmocratic", in La Pense, Paris, n62,
1955.
VERNANT, J.-P. - Les origines de la pense grecque, Paris, PUF, 1981.
VLASTOS, GREGORY (edited by Daniel W. Graham) - Studies in Greek Philosophy.
The Presocratics, Princeton, Princeton University Press, 1996.
VOILQUIN, JEAN (traduction, introduction et notes) - Les Penseurs Grecs Avant
Socrate, Paris, GF Flammarion, 1964.
ZAFIROPULO, JEAN Parmnide, Zenon, Melissos, Paris, Les Belles Lettres, 1950.
ZEPPI, STELIO - Il pensiero religioso nei presocratici. Alle radici dell'ateismo,
Roma, Studium, 2003.
202
ZEPPI, STELIO - "L'essere e il pensare nella filosofia greca anteriore ai Sofisti e a
Socrate" in Filosofia, A. XXXVIII, Fasc. II, Firenze, 1987.
WATERFIELD, ROBIN The first philosophers. The presocratics and the sophists,
Oxford, Oxford University Press, 2000.
A.A.VV. - Lectures des Prsocratiques I, in Revue de Philosophie Ancienne n1,
Bruxelles, ditions OUSIA, 2000.
A.A.VV. - Lectures des Prsocratiques II, in Revue de Philosophie Ancienne n2,
Bruxelles, ditions OUSIA, 2000.
AA. VV. - Les Ecoles Prsocratiques, Paris, Gallimard, 1996.
MEDICINA. MEDICINA HIPOCRTICA
ALGUMAS EDIES DA COLECO
HIPOCRTICA
GUAL, CARLOS GARCA, M D. LARA NAVA, J. A. LPEZ FREZ, B. CABELLOS,
LVAREZ (trad.) - Tratados Hipocrticos, 7 Volumes, Madrid, Editorial Gredos,
1990.
JONES, W. H. S. et al (transl.) Hippocrates. Works (4 Vol.), Heinemann, 1923-1931.
LITTR, E. (ed. et trad. de) - Oeuvres compltes d'Hippocrate (10 Vol.), Paris, J. B.
Baillire, 1839-1861.
203
ALGUNS ESTUDOS SOBRE MEDICINA E
MEDICINA HIPOCRTICA
AMATO, CLOTILDE - La Medicina, Roma, Edizioni Quasar, 1993.
ARMOUR, RICHARD It all started with Hippocrates: a mercifully brief of history of
Medecine, Princeton, McGraw-Hill, 1972.
AYACHE, LAURENT - Hippocrate, Paris, P.U.F., 1992.
AYACHE, LAURENT - "Hippocrate laissait-il la nature agir?", in Actas del VII
Colloque International Hippocratique, Madrid, 1993, pp. 19-35.
AYACHE, LAURENT - "Le problme de la mesure dans la mdecine hippocratique",
in tudes de Philosophie, Aix-en-Provence, 1995.
AYACHE, LAURENT - "Platon et la Mdecine", conferncia proferida in Centre
d'tudes sur la pense antique kairos kai logos , Aix-en-Provence, 1996.
AYACHE, LAURENT - "Le cas de Dmocratic: du diagnostic mdical l'valuation
philosophique", in R. Wittern/P. Pellegrin (ed.), Hippokratische Medizin und antike
Philosophie. Verhandlungen des VIII. International Hippokrates-Kolloquiums in
Kloster Banz / Staffelstein vom 23. bis 28. September 1993, Zrich - New York,
1996.
AYACHE, LAURENT - "L'animal, les hommes et l'ancienne mdecine", in L'Animal
dans L'Antiquit (sous la dirction de Gilbert Romeyer Dherbey), Paris, J. Vrin,
1997.
BAISSETTTE, GASTON - Hippocrate, Paris, Gasset, 1931.
BALINT, MICHAEL The doctor, his paient and the illness, London, Churchill
Levingstone, 2000.
BERNARD, HOERNI - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate nos jours, Paris,
Maloine, 1997.
204
BOURGEY, LOUIS - Observation et Exprience chez les Mdecins de la Collection
Hippocratique, Paris, J. Vrin, 1953.
BUBER, MARTIN - J e et Tu, (trad. G. Bianquis), Paris, Aubier, 1992.
BYL, SIMON (dir.) Hippocrate et sa postrit, in Revue de Philosophie Ancienne
n2, Bruxelles, ditions OUSIA, 2001.
CANT, HERNAN SALINAS - Historia y Filosofa Medica, Mxico, McGraw-Hill
Interamericana, 1998.
CARELLA, MICHAEL JEROME - Matter, Morals and Medicine: The Ancient Greeks
Origins of Science, Ethics and the Medical Profession, American University
Studies. Series V, Philosophy, Peter Lang Publishing, 1990.
CASTIGLIONI, A. - Histoire de la Mdecine, trad. J. Bertrand et F. Gidon, Paris,
Payot, 1931.
DESAUTELS, JACQUES Limage du monde selon Hippocrate, Qbec, Universit
Laval, 1982.
EDELSTEIN, J. E.; EDELSTEIN, L.; FERNGREN, G. - Asclepius: Collection and
Interpretation of the Testemonies, V. I, II, Baltimore, Johns Hopkins University
Press, 1998.
CANGUILLEM, GEORGES - Le normal et le pathologique, Paris, PUF, 1966.
FESTUGIRE, A.J. - Hippocrate, l'Ancienne Mdecine, Paris, Klincksieck, 1948.
FOLSCHEID, D.; MINTIER, B.; MATTI, J.-F. - Philosophie, thique et droit de la
mdecine, Paris, PUF, 1997.
GADAMER, HANS-GEORG - O Mistrio da Sade: o cuidado da sade e a arte da
medicina, trad. Antnio Hall, Lisboa, Ed.70, 1997.
GALIEN - "Des sectes pour les dbutants. Esquisse empirique de l'exprience
mdicale", (trad. P. Pellegrin; C. Dalimier; J. P. Levet), in Traits philosophiques et
logiques, GF, 1998.
GOUREVITCH, DANIELLE (dition prpar par) - Maladie et Maladies: histoire et
conceptualisation. Mlanges en L'Homme de Mirko Grmek, Genve, Librairie Droz
205
S.A., 1992.
GOUREVITCH, DANIELLE Le Triangle Hippocratique dans le Monde Grco-
Roman : le maladie, sa maladie et son mdecin, Paris-Rome, 1984.
GRMEK, MIRKO D. (dition prpare par) - Hippocratica: Actes du Colloque
hippocratique de Paris, (4-9 septembre 1978), Paris, ditions du C.N.R.S, 1980.
GRMEK, MIRKO D.(sous la direction de) - Histoire de la pense mdicale en
Occident I, Antiquit et Moyen ge, trad. M. L. Bardinet Broso, Paris, Seuil, 1995.
GRMEK, MIRKO - Les maladies l'aube de la civilization occidentale, Paris, Payot,
1983.
HOERNI, BERNARD - Histoire de l'examen clinique d'Hippocrate nos jours,
Imother/Malone, Paris, 1996.
HOERNI, B. - thique et dontologie mdicale, Paris, Masson, 2000.
KALOPTHAKES, M. D. An essay on Hippocrates, Scholarly Publishing Office,
University of Michigan, 2005.
KING, HELEN - Greek and Roman medecine, London, Bristol Classic Press, 2201.
KLIPPEL , MAURICE La medicine grecque dans ses rapports avec la philosophie,
Paris ditions Hippocrate, 1937.
KUHSE, HELGA; SINGER, PETER - A Companion to Bioethics, Oxford, Blackwell,
1998.
JASPERS, KARL - O Mdico na Era da Tcnica - trad. Joo T. Proena, Lisboa,
Edies 70, 1998.
JOLY, FRANOIS - Hippocrate, Paris, Gallimard, 1964.
JOLY, ROBERT - "Platon et la mdecine", in Bulletin de l'Association Guillaume
Bud, Lettres d'humanit, 20, Paris, 1961.
JOLY, ROBERT - Hippocrate - mdicine grecque, Paris, Gallimard, 1964.
JOLY, ROBERT - Le niveau de la science hippocratique. Contribuition la
psychologie de l'Histoire des Sciences, Paris, Les Belles Lettres, 1966.
JONAS, HANS - tica, medicina e tcnica, trad. F. A. Cascais, Lisboa, Vega, 1994.
206
JONES, W. H. S. - The Medical Writings of Anonymus Londensis, Cambridge,
Cambridge University Press, 1947.
JOUANNA, JACQUES - Hippocrate et L'cole de Cnide, Paris, Les Belles Lettres,
1974.
JOUANNA, JACQUES - "Hippocrate et la sant", in Cahiers du sminaire de
philosophie de Strasbourg III, Strasbourg, 1988.
JOUANNA, JACQUES - Hippocrate, Paris, Librairie Arthme Fayard, 1992.
LASSERE, F. ; MUDRY, PH. (ed.) - Formes de pense dans la Collection
Hippocratique, Actes du Colloque Hippocratique de Lausanne (1981), Genve,
1983.
LE GOFF, JACQUES Les Maladies ont une Histoire, Paris, ditions du Seuil, 1985.
LICHTENTHAELER, CHARLES - La Mdecine hippocratique I, Lausanne, Gonin
LONGRIGG, JAMES - Greek Rational Medicine. Philosophy and medicine from
Alcmaeon to the Alexandrians, London, Routledge, 1993.
LONGRIGG, JAMES Greek Medecine: from the Heroic to the Hellenistic Age,
London, Dckworth, 1998.
MALHERBE, JEAN-FRANOIS - Pour une thique de la mdecine, Bruxelles, Ciaco,
1990.
MEYER, PHILIPPE; TRIADOU, PATRICK - Leons d'histoire de la pense mdicale,
Paris, ditions Odile/Jacob, 1996.
MOON, ROBERT Hippocrates and his successors in relation to the philosophy of
their time, Ams Pr Publishing, 1940.
PINAULT, JODY RUBIN Hippocratic lives and legends: studies in ancient
medicine, Leiden, Brill, 1992.
PIO ABREU, JOS LUS - Comunicao e Medicina, Coimbra, Editora Virtualidade,
1998.
POHLENZ, W. Hippokrates und die Begrund der Wissenschaftlicheen Medizini,
Berlin, 1938.
207
PORE, JERME - "Mal, souffrance, douleur" in Dictionnaire d'thique et de
philosophie morale, Paris, PUF, 1996.
PORE, JERME - Le mal, homme coupable, homme souffrant, Paris, Armand
Colin, 2000.
RAMEIX, SUZANNE - Fondements philosophiques de lthique mdicale, Paris,
Ellipses, 1996.
SMITH, WESLEY The Hippocratic Tradition, Ithaca/London, Cornell University
Press, 1979.
SOARES, M. L. COUTO (org. e coord.)- Hipcrates e a Arte da Medicina, Lisboa,
Colibri, 1999.
SOUSA, A. TAVARES - Curso de histria da medicina - das origens aos fins do
sculo XVI, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1981.
SOUZA MELO, JOS MARIA de (editor) - A Medicina e a sua Histria, Rio de
Janeiro, Editora de Publicaes Cientficas Ltd., 1989.
TEMKIN, O.; TEMKIN, LILIAN Ancient Medecine, Selected Papers of Ludwig
Edelstein, Baltimore, The John Hopknis University Press, 1987.
TUBIANA, MAURICE - Histoire de la pense mdicale. Les chemins d'Esculape,
Paris, Flammarion, 1995.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "A autodelimitao da medicina hipocrtica no plano
inaugural das cincias humanas" in Revista da F.C.S.H - U.N.L., 11, Lisboa, Edies
Colibri, 1998.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "A arte mdica como cura da doena e recuperao da
sade" in Hipcrates e a Arte da Medicina, Lisboa, Colibri, 1999.
VITRAC, BERNARD - Mdecine et philosophie au temps d'Hippocrate, Saint-Denis,
Press Universitaires de Vincennes, 1989.
VOELKE, A. J. - La philosophie comme thrapie de l'me, Paris, ditions du Cerf,
1993.
208
AA. VV. - Antiquit Classique: D'Hippocrate Alcuin, Limoges, Presses
Universitaires de Limoges, 1985.
AA. VV. - La mdecine grecque, Paris, d. Dacosta, s/d.
SOFISTAS
ALGUMAS EDIES DOS FRAGMENTOS DOS
SOFISTAS
ADORNO, F., A. CARLINI, F. DECLEVA CAIZZI, M. SERENA FUNGHI, D. MANETTI,
D., M. MANFREDI, F. MONTANARI, - Corpus dei papiri filosofici greci e latini. Testi e
lessico nei papiri di cultura greca e latina. Parte I: Autori Noti. Vol.1, Firenze, Leo S.
Olschki Editore, MCMLXXXIX.
BELLIDO, ANTONIO MELLERO (ed.) - Sofistas. Testimonios y Fragmentos,
introduccin, traduccin y notas, Madrid, Editorial Gredos, 1996.
CAPIZZI, ANTONIO - Protagora. Le Testimonianze e i Frammenti. La Vita, le Opere,
il Pensiero e la Fortuna, Firenze, G. C. Sansoni Editore, 1955.
CARDINI, MARIA TIMPANARO Antica Sofistica, in AA. VV., ed., I Presocratici,
Testimonianze e Frammenti, Bari, Editori Laterza, 1983.
DUESO, J. SOLANA (ed.) - PROTGORAS de Abdera. Dissoi Logoi. Textos
relativistas, Madrid, Akal/Clsica, 1996.
DUMONT, J. P. - Les Sophistes. Fragments et Tmoignages, Paris, P. U. F., 1969.
SPRAGUE, ROSAMOND KENT (ed.) - The Older Sophists: A Complete Translation (
by several hands of the Fragments in Die Fragmente der Vorsokratiken edited by
209
Diels-Kranz, with a new edition of Antiphon and of Euthydemus ), Columbia,
University of South Carolina Press, 1990.
UNTERSTEINER, MARIO - Sofisti. Testimonianze e frammenti, Florenza, La Nuova
Italia Editrice, 1961.
VAZ PINTO, MARIA JOS Sofistas. Testemunhos e Fragmentos, Lisboa,
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005.
ALGUNS ESTUDOS SOBRE OS SOFISTAS
BARRET, HAROLD - The Sophists. Rhetoric, Democracy and Plato's Idea of
Sophistry, California, Chandler and Sharp, 1987.
BIGNONE, ETTORE - Studi sul Pensiero Antico, Roma, L'Erma di Bretschneider,
1965
BIZZELL, PATRICIA; HERZBEY, BRUCE - The Rhetorical Tradition: from Classical
Times to the Present, Boston, Bedford Books, 1990.
BOLLACK, JEAN - Les Sophistes dans Athnes au temps de Pricls, Paris,
Ralits, 1965.
CAMPS, VICTORIA - tica, Retrica, Poltica, Madrid, Alianza Editorial, 1990.
CASERTANO, GIOVANNI - Natura e Istituzioni Umane nelle Dotttrine dei Sofisti,
Napoli-Firenze, Il Tripode, 1971.
CASERTANO, GIOVANNI - Il Protagora di Platone: struttura e problematiche,
Napoli, Loffredo Editore, 2004.
CASSIN, BARBARA (sous la direction de) - Le plaisir de parler, Paris, Les ditions
de Minuit, 1968.
CASSIN, BARBARA (ed. par) - Positions de la Sophistique, Paris, J. Vrin, 1986.
CASSIN, BARBARA - L'effet sophistique, Paris, Gallimard, 1995.
210
CASSIN, BARBARA; NARCY, MICHEL - La Dcision du Sens. Le livre "Gamma" de
la "Mtaphysique" d'Aristote. Introduction, texte, traduction et commentaire, Paris,
J. Vrin, 1989.
CHERWITZ, RICHARD A. (ed. by) - Rhetoric and Philosophy, Hillsdale, Lawrence
Erlbaum Associates, 1990.
CLASSEN, CARL JOACHIM - "Aristotle's picture of the Sophists", in The Sophists
and their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
CLASSEN, CARL JOACHIM - Sophistik, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1976.
COBY, PATRICK - Socrates and the Sophistic Enlightement. A commentary on
Plato's Protagoras, London, Bucknell Univerty Press, 1987.
DUPREL, E. - Les Sophistes, Neuchatel, Editions du Griffon, 1948
ERICKSON, KEITH V. - Plato: true and sophistic rhetoric, Amsterdan, Ed. Rodopi,
1979.
GAGARIN, MICHAEL; WOODRUFF, PAUL - Early Greek Political Thought from
Homer to the Sophists, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
GLEASON, MAUD W. - Making Men: Sophists and Self-Presentation in Ancient
Rome, Princeton, Princeton University Press, 1995.
GOMPERZ, H. - Sophistik und Rhetoric, Leipzig/Berlin, 1912.
GUTHRIE, W. K. C. - The Sophists, Cambridge, Cambridge University Press, 1971.
GRAA, JOS A. C. RIBEIRO - J ustia e Concrdia em Protgoras e Plato
(prefcio de Gilbert Romeyer Dherbey), Porto, Porto Editora, 2004.
GRATRY, A. - Les sophistes et la critique, Paris, Douniol et Lecoffre, 1864.
INNES, DOREEN; HINE, HARRY - Ethics and Rhetoric. Classical Essays for Donald
Russel on his Seventhy-Fifth Birthay, Oxford, 1995.
ISNARDI-PARENTE, MARGHERITA - Sofistica e democrazia, Firenze, Sansoni,
1977.
JARRAT, SUSAN C. - Rereading the Sophists. Classical Rhetoric Refigured, Illinois,
211
Southern Illinois University Press, 1991.
JARRETT, JAMES L. - The Educational Theories of the Sophists, New York,
Teachers College Press of Columbia University, 1969.
JESSELING, SAMUEL - "Rhtoric et Philosophie. Platon et les Sophistes, ou la
tradition mtaphysique et la tradition rhtorique", in Archives de Philosophie, T. 39,
C. I, Paris, 1976.
KAHN, CHARLES H. - "The Origins of Social Contract Theory in the fifth Century
B.C.", in The Sophists and their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH,
1981.
KENNEDY, GEORGE - The Art of Persuasion in Greece, Princeton, Princeton
University Press, 1963.
KERFERD, G. B. (edited by) - The Sophists and their legacy, Wiesbaden, Franz
Steiner Verlag GMBH, 1981.
KERFERD, G. B. - "The Future Direction of Sophistic Studies", in The Sophists and
their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
KERFERD, G. B. - The Sophistic Movement, Cambridge, Cambridge University
Press, 1981.
KETCHUM, RICHARD J. - Plato's Refutation of Protagorean Relativism: Theaetetus
170-171, Oxford, Oxford Studies in Greek Philosophy, Vol. X, 1992.
LAMY, BERNARD - La rhtorique ou l'art de parler, Paris, P.U.F., 1998.
LANA, ITALO - Protagora, Torino, Universit di Torino, 1950.
LANZA, DIEGO - Lingua e discorso nell'Atene delle professioni, Napoli, Liguori
Editore, 1979.
LEVI, A.J. - Storia della Sofstica, Napoles, Morano Editore, 1966.
LOENEN, D. - Protagoras and the Greek Community, Amsterdam, N.V. Noord-
Hollandsche Uitgevers Moatschappij, 1940.
MAILLOUX, STEVEN - Rhetoric, sophistry, pragmatism, Cambridge, Cambridge
University Press, 1995.
212
MARBACK, RICHARD; BENSON W. THOMAS (ed.) - Plato's Dream of Sophistry.
Studies in Rhetoric/Comunication, Columbia, University of South Carolina Press,
1999.
MICHELSTAEDTER, CARLO - La persuasione e la rettorica, Milano, Adelphi
Edizioni, 1992.
NARCY, MICHEL - "Le contrat social: d'un mythe moderne l'ancienne
sophistique" in Philosophie, n 28, Paris, Les Editions de Minuit, 1990.
NEUMAN, ALFRED - "Die Problematik des Homo-mensura Satzes", in Sophistik,
herausgegeben von Carl Joachim Classen, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1976.
NOGUEIRA, ADRIANA FREIRE - "A Sofstica e a Educao Ateniense no sculo V
a.C.", (Clssica. Boletim de Pedagogia e Cultura), Lisboa, Edies Colibri, 1999.
PITRA, RGINE - "Les sophistes, nos contemporains", in Revue de Mtaphysique
et de Morale, Paris, Armand Colin, 1972.
POULAKOS, JOHN - Sophistical Rhetoric in Classic Greece, University of Caroline
Press, 1995.
POULAKOS, TAKIS - Speaking for the Polis: Isocrates' Rhetorical Education,
Columbia, University of South Carolina Press, 1997
RAMNOUX, C. - "Nouvelle rhabilitation des Sophistes", in Revue de Mtaphysique
et de Morale, Paris, Armand Colin, 1968.
RANKIN, H. D. - "Ouk Estin Antilegein" in The Sophists and their legacy,
Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
RANKIN, H. D. - Sophists, Socratics and Cynics, London, Croom Helm, 1983.
REDING, JEAN-PAUL - Les fondements philosophiques de la rhtorique chez les
sophistes grecs et chez les sophistes chinois, Berne, Editions Peter Lang SA, 1985.
RIBEIRO GRAA, J.A.C. - "Antifonte e o Movimento Sofista" in separata da Revista
da F.L.U.P., Srie de Filosofia, 2 Srie, Porto, 1994.
ROMEYER DHERBEY, G. - Les Sophistes, Paris, 3e. d., PUF, 1993.
213
ROMEYER DHERBEY, G. - "Platon contre les sophistes", in Filosofia Oggi, Ano X,
n 3, Luglio, 1987.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Protagoras" in Dictionnaire Des Philosophes, Paris,
PUF, 1984.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Antiphon, le Sophiste" in Dictionnaire Des
Philosophes, Paris, PUF, 1984.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Protagoras", in Le Savoir Grec, Paris, Flammarion,
1996.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Cosmologie et Politique chez Antiphon", in Bulletin de
la Socit Franaise de Philosophie, 89 Anne, n 4, Paris, Armand Colin, 1995.
ROMILLY, JACQUELINE DE - "La naissance des sciences humaines au V sicle
avant J.-C." in Diogne, n 144, 1988.
ROMILLY, JACQUELINE DE - Les Grands Sophistes dans l'Athnes de Pricles,
Paris, Ed. de Fallois, 1988.
RUFINO, SALVADOR RUS - "La Sofistica Griega: contexto filosofico e historico" in
Revista Augustiniana, V. 27, n 84, 1986.
SCHIAPPA, EDWARD - Protagoras and Logos. A Study in Greek Philosophy and
Rhetoric, Columbia, University of South Carolina Press, 1991.
SCHIAPPA, EDWARD - The Beginnings of Rhetorical Theory in Classical Greece,
New Haven, Yale University Press, 1999.
SINCLAIR, THOMAS ALAN - "Protagoras and Others. Socrates and his
Opponents", in Sophistik, herausgegeben von Carl Joachim Classen, Darmstadt,
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
TOMS, CALVO MARTNEZ - De los sofistas a Platn: poltica y pensamiento,
Ediciones Pedaggicas, 1995.
TORDESILLAS, ALONSO - "L'instance temporelle dans l'argumentation de la
premire et de la seconde sophistique: la notion de kairs" in Le plaisir de parler,
(sous la direction de Barbara Cassin), Paris, Les ditions de Minuit, 1986.
214
TORDESILLAS, ALONSO - "Kairos Dialectique, Kairos Rhthorique" in
Proceedings of the Symposium Platonicum, Mexico City, 1986..
TRED, M. - Kairos. L'-propos et l'occasion, Paris, Klincksieck, 1992.
UNTERSTEINER, MARIO - I Sofisti, I - II vols., Milan, Lampugnani, 1967.
UNTERSTEINER, MARIO - The Sophists, (translated from the italien by Katheleen
Freeman), New York, Philosophical Library, 1954.
UNTERSTEINER, MARIO - Les Sophistes, I - II vols., prf. G. Romeyer Dherbey,
trad. Alonso Tordesillas, Paris, Librairie J. Vrin, 1993.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "Actualidade da Sofstica" in Filosofia, N 2, Lisboa,
1985.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "Algumas consideraes em torno da razo sofstica"
in Dinmica do Pensar. Homenagem a Oswaldo Market, Lisboa, FLUL,
Departamento de Filosofia, 1991.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "A Medida das Coisas entre o Homem e Deus.
Algumas reflexes sobre o frag.1 de Protgoras" in Revista da F.C.S.H. - U.N.L., 8,
Lisboa, 1995.
VAZ PINTO, MARIA JOS - "A actualidade da razo sofstica na inveno do
presente" in Revista da F.C.S.H - U.N.L., 9, Lisboa, Edies Colibri, 1996.
VAZ PINTO, MARIA JOS - A Doutrina do Logos na Sofstica, Lisboa, Edies
Colibri, 2000.
VAZ PINTO, MARIA JOS A aprendizagem da correco dos nomes como
princpio de toda a educao: consideraes sobre a diairesis de Prdico, in
Edies Colibri, Lisboa, 2001.
VAZ PINTO, MARIA JOS Os diferentes usos dos duplos discursos, in
Cadernos de Filosofia IX-X, Lisboa, Edies Colibri, 2001.
VERDENIUS, W. J. - "Gorgias' Doctrine of Deception", in The Sophists and their
legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
VERSENYI, LAZLO - "Protagoras' Man-Measure Fragment" in Sophistik,
215
herausgegeben von Carl Joachim Classen, Darmstadt, Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, 1976.
VLASTOS, GREGORY - "Protagoras", in Sophistik, herausgegeben von Carl
Joachim Classen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
ZEPPI, STELIO - Protagora e la filosofia del suo tempo, Firenze, 1961.
WORTHINGTON, IAN (edited by) - Persuasion: greek rhetoric in action, London,
Routledge, 1994.
ALGUNS ESTUDOS SOBRE SCRATES
ADORNO, FRANCESCO Introduzione a Socrate, Bari-Roma, Laterza, 2004.
ALEGRE, A. - La sofstica y Scrates, Barcelona, Montesinos, 1986.
ALLEN, R. E. - Socrates and legal obligation, Minneapolis, University of Minnesota
Press, 1999.
BANFI, A (a cura di) Socrate, Garzanti, Milano, 1944.
BAUDART, ANNE Socrate et le socratisme, Paris, Armand Colin, 1999.
BENSON, HUGH H. (ed.) Essays on the philosophy of Scrates, New York, Oxford
University Press, 1992.
BLUM, A. F. Sokrates. The Original and its Image, London, Routledge and Kegan
Paul, 1978.
BONNARD, ANDR Socrate selon Platon, Paris, LAire, 1996.
BRICKHOUSE, C.; SMITH, N. Socrates on Trial, New Jersey, Princeton University
Press, 1990.
BONNARD, ANDR - Socrate selon Platon, Paris, Mermod, 1945.
BRUN, JEAN - Socrate, Paris, P.U.F., 1982.
216
CALLOT, E. La doctrine de Socrate, Paris, Rivire, 1970.
CHROUST, ANTON - HERMANN Socrates man and myth: the two Socratic
apologies of Xenophon, London, Routledge and Kegan Paul, 1957.
CLASSEN, CARL JOACHIM - "The Study of Language amongst
Socrates'Contemporaries", in Sophistik, herausgegeben von Carl Joachim
Classen, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1976.
COBY, PATRICK - Socrates and the Sophistic Enlightement. A commentary on
Plato's Protagoras, London, Bucknell Univerty Press, 1987.
DORION, LOUIS A. Socrate, Paris, PUF, 2004.
FESTUGIRE, A. J. Socrate, Paris, ditions du Fuseau, 1966.
GRIMALDI, NICOLAS Socrate, le sorcier, Paris, PUF, 2004.
GROTE, G. Plato and the other Companions of Sokrates, London, 1865.
GUTHRIE, W. K. C. Socrates, Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
HACK, ROY KENNETH God in Greek Philosophy to the Time of Socrates, New
Jersey, Princeton University Press, 1937.
HUISMAN, DENIS - Socrate, Paris, Flammarion/Pygmalion, 2003.
KRAUT, RICHARD Socrate and the State, New Jersey, Princeton University Press,
1987.
LAMI, GIAN FRANCO Socrate, Platone, Aristotele. Una filosofia della Polis da
Politeia a Politika, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005.
LEO STRAUSS - Socrate et Aristophane, traduction Olivier Sedeyn, Paris, ditions
l'clat, 1993.
MAGALHES-VILHENA, VASCO - O Problema de Scrates. O Scrates Histrico e
o Scrates de Plato, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian, 1984.
MAGALHES-VILHENA, VASCO - Plato e a lenda Socrtica: a idealizao de
Scrates e o utopismo poltico de Plato, Lisboa, Fundao Calouste Gulbenkian,
1998.
MAZEL, JACQUES Socrate, Paris, Fayard, 1994.
217
McPHERRAN, MARK L. - The Religion of Socrates, Pennsylvania, The Pennsylvania
State University Press, 1996.
MONDOLFO, RODOLFO Scrates, Buenos Aires, Editorial Universitaria de
Buenos Aires, 1960.
MONTUORI, M. Socrate. Fisiologio di un mito, Firenze, Sansoni, 1974.
MOSS, CLAUDE - Le Procs de Socrate, Paris, ditions Complexe, 1996.
NEBEL, G. Sokrates, Stuttgart, Klett, 1969.
NEHAMAS, ALEXANDER Virtues of Authenticity: Essays on Plato and Socrates,
New Jersey, Princeton University Press, 1988.
REICHEL, OSWALD Socrates and the Socratic schools, New York, Russel and
Russel, 1962.
ROMANO, GUARDINI Socrate e Platone, Roma, Morcelliana, 2006.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT (sous la dir. de) Socrate et les socratiques, Paris,
J. Vrin, 2001.
SAUVAGE, MICHELINE Socrate et la conscience de lhomme, Paris, ditions du
Seuil, 1965.
STONE, I.F. - The Trial of Socrates, London, Jonatham Cape, 1988.
STRAUSS, LO Socrate et Aristophane (traduction de Olivier Sedeyn), Paris,
Lclat, 1993.
TAYLOR, ALFRED EDWARD - Socrates, Garden City, N.Y., Doubleday, 1954.
TAYLOR, C. C.; BARNES, JONATHAN; HARE, R. M. Greek Philosophers:
Socrates, Plato, Aristotle, Oxford University Press, 2001.
IRWIN, TERENCE Socrates and his contemporaries, New York, Garland
Publishing, 1995.
VALLE, CATHERINE - Hannah Arendet: Socrate et la question du totalitarism,
Paris, Ellipses/Editions Marketing, 1999.
VILLA, DANA Socratic Citizenship, New Jersey, Princeton University Press, 2001
VLASTOS, GREGORY (edited by Daniel W. Graham) - Studies in Greek Philosophy.
218
Socrates, Plato and their tradition, New Jersey, Princeton University Press, 1996.
VLASTOS, GREGORY The philosophy of Socrates: collection of critical essays,
Indiana, University of Notre Dame Press, 1980.
VLASTOS, GREGORY Socratic Studies, New York, Cambridge University Press,
1994.
WOLFF, FRANCIS Socrate, Paris, PUF, 1987.
ZELLER, E. - Scrates y los sofistas, trad. J. Rovira Armengol, Buenos Aires, Ed.
Nova Imp., 1955.
ZEPPI, STELIO - Studi sul pensiero dell'et sofistico-socratica, Roma, Edizione
dell'Ateneo & Bizzarri, 1977.
PLATO
ALGUMAS EDIES DAS OBRAS COMPLETAS
DE PLATO
ALLEN, R. E. - Studies in Plato's Metaphysics, London, Routledge & Kegan Paul,
1965.
BELLUCI, FAGGIONATO FIORELLA Platone. Dai Dialoghi dialettici al Timeo. Dalla
belleza alla conoccenza, Padova, Vincenzo Grasson Editore, 2006.
BURNET, JOHN (ed.) - Platonis Opera 5 vols., Oxford, Oxford Clarendon Press,
1900-1909.
CHAMBRY/BACCOU OEuvres de Platon 8 vols., Paris, Garnier, 1935-1939.
219
CHAMBRY, MILE (texte tabli et trad. par ; introd. A. Dis) Platon. uvres
compltes, Paris, Les Belles Lettres, 1947.
FICINI, MARSILI (translatione) Omnia divini platonis opera, Universidad de
Valencia, obras del siglo XVI, 1995.
HAMILTON, EDITH/CAIRNS, HUNTINGTON (ed.) The Collected Dialogues of Plato,
including the Letters, New York, Pantheon Books, 1961.
PLATO in tewelve volumes - Cambridge, Massachusetts Harvard University Press,
William Heinemann Ltd.
ROBIN, L./MOREAU, J. uvres Compltes de Platon 2 vols., Paris, Gallimard,
1950.
uvres Compltes de Platon Paris, Guillaume Bud, Les Belles Lettres, 1921-
1964.
Platonis Opera, Universidad Valencia, obras del siglo XVI, 1996.
SIVERO, MAURO (ed.) Plato Concordantiae in Platones opera omnia 8 vols.,
Olms, Georg Verlag AG/ Lubrecht and Cramer, Ltd, 1978- 1997.
AA. VV. Plato12 vols., Cambridge, Massachusets, Loeb Classical Library, s/d.
AA. VV. Platone, Opere Complete 9 vols., Bari, Biblioteca Universale Laterza,
2000-2004.
AA. VV. Platon. Oeuvres completes 14 vols., Paris, Collection des Universits de
France, Les Belles Lettres, 1920-1924.
220
ALGUNS ESTUDOS SOBRE PLATO
ALAIN - Ides: Platon, Descartes, Hegel, Paris, Hartmann, 1932.
ALLEN, R. E. (ed.) Studies in Platos Metaphysics, London, Routledge and Kegan
Paul, 1965.
ALLEYNE, SARAH FRANCES Plato and the older Academy, New York, Russel
and Russel, 1962.
ALEXANDRE, M. Lecture de Platon, Paris, Bordas, 1966.
AMATO, PIERANDREA Antigone e Platone. La biopolitica nel pensiero antico,
Milano, Mimesis, 2006.
ANASTAPLO, GEORGE The thinker as artist : from Homer to Plato and Aristotle,
Athens, Ohio University Press, 1997.
ANNAS, JULIA - "Platon, le sceptic", in Revue de Mtaphisique et de Morale, Paris,
Armand Colin, 1990, pp. 267-291.
ANNAS, JULIA - Introduction la Rpublique de Platon, Paris, P.U.F., 1994.
ASHBAUGH, A. - Plato's Theory of Explanation, Albany N.Y., 1988.
AZEVEDO, MARIA TERESA SCHIAPPA DE - "Eros e Hieros Gamos na Repblica e
nas Leis", Actas Colquio Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de
Estudos Clssicos, 1995, pp. 169-176.
BALABAN, ODED Plato and Protagoras: true and relativism in ancient greek
philosophy, Lanhan, Lexington Books, 1999.
BALLARD, EDWARD Socratic ignorance: an essay on platonic self-knowledge,
The Hague, Martinus Nijhoff, 1965.
BARNES, JONATHAN - "Le soleil de Platon vu avec des lunettes analytiques", in
Rue Descartes I, Paris, ditions Albin Michel, 1991, pp. 81-92.
BERNHARDT, JEAN Platon et le matrialisme ancien : la thorie de lme-
harmonie dans la philosophie de Platon, Paris, Payot, 1971.
221
BLACKSON, THOMAS Inquiry, Forms and Substances. A study in Platos
metaphysics and epistemology, Philadelphia, Temple University, 1995.
BOUTOT, ALAIN Heidegger et Platon, Paris, PUF, 1987.
BRAGUE, REMI Du temps chez Platon et Aristote, Paris, Quadrige, 2003.
BRANDWOOD, LEONARD - The Chronology of Plato's Dialogues, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990.
BRISSON, LUC; PRADEAU, JEAN-FRANOIS - Le Vocabulaire de Platon, Paris,
Ellipses, 1998.
BRISSON, LUC - Lectures de Platon, Paris, J. Vrin, 2000.
BRISSON, LUC Platon, les mots et les mythes. Comment et pourquoi Platon
nomma le myth ?, Paris, La Dcouverte, 1982.
BRUN, JEAN - Platon et l'Acadmie, Paris, P.U.F., 1960.
CAMBIANO, GIUSEPPE Platone e le tecniche, Torino, Piccola Biblioteca Einaudi,
1971.
CASERTANO, GIOVANNI - Lterna malattia del discorso: quatro studi su Platone,
Napoli, Liguori, 1991.
CASERTANO, GIOVANNI - Il Protagora di Platone: struttura e problematiche,
Napoli, Loffredo Editore, 2204.
CASTORIADIS, CORNELIUS - Sur le "Politique" de Platon, Paris, ditions du Seuil,
1999.
CATAUDELLA, QUINTINO Platone orale, Milano, L. Internationales, 2009.
CHAPPELL, TIM - The Plato Reader, Edinburgh, Edinburgh University Press Ltd.,
1996.
CHAPPELL, TIM The Plato reader, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1996.
CHERNISS, HAROLD - The Riddle of the Early Academy, New York/London,
Garland Pub., 1980.
CLAY, DISKIN Platonic questions: dialogues with the silent philosopher,
Pennsylvania, Renn State University Press, 2000.
222
COBY, PATRICK - Socrates and the Sophistic Enlightement. A commentary on
Plato's Protagoras, London, Bucknell Univerty Press, 1987.
CORNFORD, F. M. - "Mathematics and Dialectic in the Republic" VI-VII", in Studies
in Plato's Metaphysics, edited by R. E. Allen, London, Routledge & Kegan Paul,
1965.
CORNFORD, F. M. Plato and Parmenides, London, Routledge and Kegan Paul,
1980.
CORNFORD, F. M. Platos Theory of Knowledge, London, Routledge and Kegan
Paul, 1979.
CROMBIE, I. M. - An Examination of Plato's Doctrines I-II, London, Routledge and
Kegan Paul, 1963.
DESCLOS, MARIE-LAUREN Aux marges des dialogues de Platon, Grenoble,
Jerme Millon, 2003.
DESCOMBES, VINCENT - Le Platonisme, Paris, P.U.F., 1971.
DIS, A. - Autour de Platon, I-II vol., Paris, Beauchesne, 1927.
DIS, A. La dfinition de ltre et la nature des Ides dans le Sophiste de Platon,
Paris, J. Vrin, 1963.
DIXSAUT, MONIQUE - Mtamorphoses de la dialectique dans les dialogues de
Platon, Paris, J. Vrin, 2001.
DIXSAUT, MONIQUE (sous la dir. de) Platon : source des prsocratiques, Paris, J.
Vrin, 2001.
DIXSAUT, MONIQUE Platon et la question de la pense, Paris, J. Vrin, 2002.
DIXSAUT, MONIQUE Platon, le dsir de comprendre, Paris, J. Vrin, 2003.
DIXSAUT, MONIQUE Metamorphoses de la dialctique dans les dialogues de
Platon, Paris, J. Vrin, 2002.
DIXSAUT, MONIQUE Le naturel philosophe. Essais sur les dialogues de Platon,
Paris, J. Vrin, 2002.
DROZ, GENEVIVE - Les Mythes Platoniciens, Paris, ditions du Seuil, 1992.
223
DUHEM, PIERRE Sozien ta Phainomena. Sur la notion de thorie physique de
Platon Galile, Paris, J. Vrin, 2004.
EDMOND, MICHEL-PIERRE Le philosophe roi. Platon et la politique, Payot-
Rivages, 2006.
ELIAS, J. A. Platos Defence of Poetry, London, MacMillan Press, 1984.
ERICKSON, KEITH V. - Plato: true and sophistic rhetoric, Amsterdan, Ed. Rodopi,
1979.
FERRARI, G. R. F. City and soul in Platos Republic, Chicago, University of
Chicago Press, 2005.
FICINO, MARSLIO - Commentarium in Convivium Platonis, De Amore, trad. Pierre
Laurens, Paris, Les Belles Lettres, 2002.
FINE, GAIL Plato: metaphysics and epistemology, Oxford, Oxford University
Press, 1999.
FINE, GAIL Plato: ethics, politics, religion and the soul, Oxford, Oxford University
Press, 1999.
FREIRE, ANTNIO - O Pensamento de Plato, Braga, Livraria Cruz, 1967.
FRERE, JEAN Ardeur et Colre.Le thumos selon Platon, Paris, Kim, 2004.
FRIEDLNDER, PAUL - Plato. The Dialogues, London, Routledge & Kegan Paul,
1964.
FRIEDLNDER, PAUL Plato. An Introduction, Princeton University Press, 1973.
FRONTEROTTA, FRANCESCO; LESZL, WALTER (a cura di) Eidos-Idea. Platone,
Aristotele e la tradizione platnica, Academia Verlag, International Plato Studies,
2005.
FRUTIGER, P. Les Mythes de Platon, Paris, Alcan, 1930.
GADAMER, HANS-GEORG - L'Ide du Bien comme enjeu platonico-aristotlicien,
trad. Pascal David et Dominique Saatdjian, Paris, J.Vrin, 1994.
GADAMER, HANS-GEORG - L'thique dialectique de Platon, trad. F. Varan et V. von
Schenck, Paris, Actes Sud, 1994.
224
GADAMER, HANS-GEORG - "Platn y la cosmologa presocrtica" in El inicio de la
sabidura, trad. A. Gmez Ramos, Barcelona, Ediciones Paids Ibrica, 2001, pp.
107-124.
GIANNANTONI, GABRIELE Dialogo socratico e nascita della dialettica nelle
filosofia di Platone, Napoli, Bibliopolis, 2005.
GOLDSCHMIDT, V. Le paradigme dans la dialectique platonicienne, Paris, PUF,
1947.
GOLDSCHMIDT, V. La religion de Platon, Paris, PUF, 1949.
GOLDSCHMIDT, V. Les dialogues de Platon, Paris, J. Vrin, 1951.
GOLDSCHMIDT, V. - Questions platoniciennes, Paris, J. Vrin, 1970.
GOLDSCHMIDT, V. - Platonisme et pense contemporaine, Paris, Aubier, 1970.
GRUBE, G. M. Platos Thought, London, The Athlone Press, 1980.
GUAL, C. GARCA (trad.) - Platn: Mitos, Madrid, Ediciones Siruela, 1998.
GUILLERMIT, LOUIS LEnseignement de Platon I-II, Paris, Lclat, 2001.
HALL, WILLIAM Plato and the individual, Hague, Martinus Nijhoff, 1963.
HAVELOCK ERIC - Preface to Plato, Cambridge MA, Harvard University Press,
1963.
IRWIN, TERENCE - Plato's Ethics, Oxford, Oxford University Press, 1995.
IRWIN, TERENCE Platos metaphysics and epistemology, New York, Garland
Publishing, 1995.
ISNARDI PARENTE, MARGHERITA Studi sullAccademia platonica antica,
Firenze, Olschki, 1979.
JEANNIRE, A. - Lire Platon, Paris, Aubier, 1990.
JEANNIRE, A. - Platon, Paris, ditions du Seuil, 1994.
JESSELING, SAMUEL - "Rhtoric et Philosophie. Platon et les Sophistes, ou la
tradition mtaphysique et la tradition rhtorique", in Archives de Philosophie, T. 39,
C. I, Paris, 1976.
JOLIBERT, Bernard - Platon. L'ascse ducative et l'intrt de l'me, ditions
225
L'Harmattan, Paris, 1994.
JOLY, HENRI - Le renversement platonicien (logos, episteme, polis), Paris, J. Vrin,
1994.
JOLY, ROBERT - "Platon et la mdecine", in Bulletin de l'Association Guillaume
Bud, Lettres d'humanit, 20, Paris, 1961.
KAHN, CHARLES H. Plato and the Socratic Dialogue : The Philosophical Use of a
Literary Form, Cambridge, Cambridge University Press, 1998
KERZBERG, P. - Platon: la justice, Paris, Presses Universitaires du mirail, 2002.
KOYR, ALEXANDRE - Galileu e Plato, trad. J. Trindade Santos, Lisboa, Gradiva
Publicaes, s/d.
KOYR, ALEXANDRE Introduction la lecture de Platon, Paris, Gallimard, 1945.
KRAUT, RICHARD (ed.) - The defense of justice in Plato's Republic, Cambridge,
Cambridge University Press, 1993.
LABORDERIE, J. Le Dialogue platonicien de la maturit, Paris, Les Belles Lettres,
1978.
LACHIEZE-REY, P. - Les Ides morales, sociales et politiques de Platon, Paris, J.
Vrin, 1951.
LAURENT, JRME La Mesure de Ltre Humain selon Platon, Paris, J. Vrin,
2002.
LAURENT, J. Les dieux de Platon, Caen, Presses Universitaires de Caen, 2004.
LEVINSON, RONALD B. In Defence of Plato, Cambridge/Massachusetts, 1953.
LOWES, DCKINSON Plato and his dialogues, Middlesex, Penguin Books, 1947.
LUCA, MORI La giustizia e la forza. Lombra di Platone e la storia della filosofia
politica, Pisa, ETS, 2005.
LUCCIONI, J. La Pense politique de Platon, Paris, PUF, 1958.
MARQUES, ANTNIO - "Sensao e Cincia no Teeteto de Plato", in Estudos
Filosficos Vol. 1, F.C.S.H. da U.N.L., Lisboa, 1982, pp. 33-50.
MATTI, JEAN-FRANOIS Ltranger et le Simulacre, Pris, PUF, 1983.
226
MATTI, JEAN-FRANOIS - Platon et le miroir du mythe, Paris, PUF, 1996.
MILHAUD, G. - Les Philosophes Gomtres de la Grce. Platon et ses
prdcesseurs, Paris, J. Vrin, 1934.
MONIQUE, DIXSAUT ; BRANCACCI, ALDO (dir.) Platon, source des prsocratics,
Paris, J. Vrin, 2002.
MONOSON, S. SARA Platodemocratic entanglements. Athenian and the pratice
of philosophy, New Jersey, Princeton University Press, 2000.
MOREAU, J. La construction de lidalisme platonicien, Paris, Boivin, 1939.
MOREAU, J. Ralisme et idalisme chez Platon, Paris, PUF, 1951.
MOREAU, J. Le Sens du platonisme, Paris, Les Belles Lettres, 1967.
MORROW, G. R.; KAHN, C. - Plato's Cretan City: A Historical Interpretation of the
Laws, Princeton, Princeton University Press, 1993.
MOUSE, LTTIA Platon, Paris, Hachette, 2001.
MOUTSOPOULOS, EVANGHELOS - La Musique dans l'oeuvre de Platon, Paris,
PUF, 1959.
NARCY, MICHEL - La Dialectique entre Platon et Aristote, Aix-en-Provence, Cahiers
du Centre d'tudes sur la pense antique kairos kai logos, 1997.
NEHAMAS, ALEXANDER Virtues of Authenticity : Essays on Plato and Socrates,
New Jersey, Princeton University Press, 1988.
OSTENFELD, E. N. Forms, Matte rand Mind. Three strands in Platos metaphysics,
Dordrecht, Martinus Nijhoff Publishers, 1982.
PARAIN, BRICE Essai sur le logos platonicien, Paris, Gallimard, 1942.
PATER, W. A. Les Topiques dAristote et la Dialectique platonicienne. La
Methodologie et la dfinition, Fribourg (Suisse), ditions St. Paul, 1965.
PATOCHKA, JEAN - Platon et l'Europe (Sminaire prov du semestre d't 1973),
traduction Erika Abrams, Lagrasse, Verdier, 1983.
PELLEGRIN, MARIE-FRDRIQUE - Leon sur le "Mnon" de Platon, Paris, P.U.F.,
1999.
227
PELLETIER, FRANCIS JEFFRY Parmenides, Plato and the Semantics of Not-
Being, Chicago/London, The University of Chicago Press, 1990.
PENEDOS, LVARO - O Pensamento Poltico de Plato, Porto, Publicaes da
FLUP, 1977.
PIEPER, JOSEF - Sobre los mitos platnicos, trad. Claudio Gancho, Barcelona,
Editorial Herder, 1984.
PRADEAU, JEAN-FRANOIS Platon et la cit, Paris, PUF, 1997.
PRADEAU, JEAN-FRANOIS Platon. Les formes intelligibles, Paris, PUF, 2001.
RAVEN, J. E. Platos thought in the making: a study of a development of his
metaphysics, Cambridge, Cambridge University Press, 1965.
REALE, GIOVANNI - Platone. Alla ricerca della sapienza segreta, Milan, Rizzoli,
1998.
RICOUER, PAUL Platon et Aristote, Strasbourg, Centre de Documentation
Universitaire, 1954.
RICOUER, PAUL Etre, Essence et Substance chez Platon et Aristote (Cours
profess lUniversit de Strasbourg en 1953-1954), Strasbourg, Centre de
Documentation Universitaire, 1970.
ROBIN, LON La Thorie platonicienne des ides et des nombres daprs
Aristote, Paris, Alcan, 1908.
ROBIN, LON La Thorie platonicienne de lamour, Paris, Alcan, 1908.
ROBIN, LON - Platon, Paris, Alcan, 1935.
ROBIN, LON - Les rapports de l'tre et de la connaissance d'aprs Platon (Cours
de Sorbonne 1932-1933), Paris, PUF, 1957.
ROBINSON, RICHARD Platos Earlier Dialectic, Oxford, Clarendon Press, 1984.
RODIER, G. Les Mathmatiques et la dialectique dans luvre de Platon, Paris, J.
Vrin, 1926.
ROGUE, CRISTOPHE - Comprendre Platon, Paris, Armand Colin, 2002.
ROLLAND DE RENEVILLE, J. - L'un multiple et l'attribuition chez Platon et les
228
Sophistes, Paris, J. Vrin, 1962.
ROOCHINK, DAVID The Tragedy of Reason, Toward a Platonic Conception of
Logos, New York and London, Routledge, 1990.
ROOCHINK, DAVID - Of Art And Wisdom. Plato's Understanding of Tecnhne, The
Pensylvania State University Press, 1996.
ROSS, DAVID Platos theory of ideas, Oxford, Clarendon Press, 1966.
RYLE, GILBERT Platos progress, Cambridge, Cambridge University Press, 1966.
SANTOS, JOS TRINDADE - "Erro e Verdade nos Dilogos platnicos do 1
perodo: Hipias Menor", in Estudos Filosficos Vol. 1, F.C.S.H. da U.N.L., Lisboa,
1982, pp. 9-31.
SANTOS, JOS TRINDADE - "Philia no Lsis", Actas Colquio Eros e Philia na
Cultura Grega, Lisboa, Centro de Estudos Clssicos, 1995, pp. 151-168.
SAUNDERS, T. J. - "Protagoras and Plato on Punishment" in The Sophists and
their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981.
SCHAERER, R. Dieu, lhomme et la vie daprs Platon, Neuchtel, La Baconnire,
1944.
SCHILLER, F.S.C. - From Plato to Protagoras. Studies in Humanism, Westport,
Greenwood Press, 1970.
SCHUHL, PIERRE-MAXIME - Etudes sur la fabulation platonicienne, Paris, P.U.F.,
1947.
SCHUHL, PIERRE-MAXIME - Platon et l'art de son temps, Paris, P.U.F., 1952.
SCHUHL, PIERRE-MAXIME - L'oeuvre de Platon, Paris, P.U.F., 1954.
SCOLNICOV, SAMUEL Platos Metaphysics of Education, London, New York,
Routledge, 1988.
SPRAGUE, ROSAMOND KENT Platos use of fallacy: a study of Euthidemus and
some other dialogues, London, Routledge and Kegan Paul, 1962.
STEWART, J. The mythes of Plato, New York, Barnes and Noble, 1970.
STRAUSS, LEO - Studies in platonic political philosophy, Chicago, The University
229
of Chicago Press, 1983.
TAYLOR, ALFRED EDWARD - Plato, The Man and his Work, London, Meuthen,
1948.
TAYLOR, ALFRED EDWARD - Plato, London, Meuthen, 1963.
TAYLOR, C. C.; BARNES, JONATHAN; HARE, R. M. Greek Philosophers:
Socrates, Plato, Aristotle, Oxford University Press, 2001.
VERDENIUS, W. J. Mimesis, Platos Doctrine of Artistic Imitation and its Meaning
to us, Leiden, E. J. Brill, 1972.
VICAIRE, P. - Platon critique littraire, Paris, Klincksieck, 1960.
VLASTOS, GREGORY (edited by Daniel W. Graham) - Studies in Greek Philosophy.
Socrates, Plato and their tradition, New Jersey, Princeton University Press, 1996.
WAHL, J. - tude sur le "Parmenide" de Platon, Paris, J. Vrin, 1951.
WEIL, R. Larquologie de Platon, Paris, Klincksleck, 1969.
WERSINGER, ANNE GABRILE Platon et la dysharmonie. Recherches sur la
forme musicale, Paris, J. Vrin, 2002.
AA. VV. Platon et Aristote, Colloque Internationale de Tours, Paris, J. Vrin,
230
ARISTTELES
ALGUMAS EDIES DAS OBRAS DE
ARISTTELES
ARISTTELES - Metafsica, Introduccon, traduccon y notas de Toms Calvo
Martnez, Madrid, Editorial Gredos, 1994.
ARISTTELES - Metafsica, edicin trilingue, trad. Valentn Garca Yebra, Madrid,
Gredos, 1987.
ARISTTELES - La Metafsica, I, II, Traduzione, Introduzione, Commento a cura di
Giovanni Reale, Napoli, Luigi Loffredo Editore, 1968.
ARISTTELES - Retrica - trad. Quintn Racionero, Madrid, Gredos, 1994.
ARISTTELES - Retrica, (v. blingue), traduccin y notas de Arturo E. Ramirez
Trejo, Mxico, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana, 2002.
ARISTTELES - Potica - trad. Eudoro de Sousa, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa
da Moeda, F.C.S.H. Da Universidade Nova de Lisboa, 1986.
ARISTTELES - Organon, 6 vol., traduo e notas de Pinharanda Gomes, Lisboa,
Guimares Editores, 1986.
THOMAS D'AQUIN - Commentaire du Trait de l'me d'Aristote, (introduction,
traduction et notes de Jean-Marie Vernier), Paris, J. Vrin, 1999.
THOMAS AQUINAS - A commentary on Aristotle's De Anima (translated by Robert
Pasnau), New Haven and London, Yale University Press, 1999.
TRICOT, J. - Aristote. Mtaphysic, Paris, J. Vrin, 1962.
ARISTOTE - Physique (I-IV), (verso blingue), texte tabli et traduit par Henry
Carteron, Les Belles Lettres, Paris, 1983.
231
ARISTTELES - Fsica, (verso blingue), traduo y notas de Ute Schmidt
Osmanczik, Mxico, Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum Mexicana,
2001.
ARISTTELES - Poltica (Traduo e Notas A. Campelo Amaral; C. Carvalho
Gomes), Lisboa, Vega, 1998.
ARISTTELES (dir. Antnio Pedro Mesquita) - Obras Completas I, II, III, IV, Lisboa,
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2005.
ARISTOTELE - Metafsica I, II, III (saggio introduttivo, testo grego con traduzione a
fronte e commentario a cura di Giovanni Reale), Milano, Rusconi Libri, 1994.
ARISTOTLE (trad. W. D. Ross) - Metaphysics, I-II, Oxford, Clarendon Press, 1975.
ARISTTELES (trad. D. Patrcio de Azcrate) Obras Completas de Aristteles,
Buenos Aires, Anaconda, 1947.
ARISTOTELES Graecus: Die griechischen manuskripte ds Aristteles, Berlin-New
York, Walter Gruyter, 1976.
AA.VV. Aristotle, 23 vols., Cambridge, Massachusets, Loeb Classical Library, s/d.
AA. VV. Aristotele Opere 11 vols., Bari, Biblioteca Universale Laterza, 1992-2005.
ALGUNS ESTUDOS SOBRE ARISTTELES
ACHARD, MARTIN - pistmologie et pratique de la science chez Aristote. Les
Seconds Analytiques et la dfinition de l'me dans le De Anima, Paris, Klincksieck,
2004.
ANASTAPLO, GEORGE The thinker as artist : from Homer to Plato and Aristotle,
Athens, Ohio University Press, 1997.
ANDO, TAKATURA Aristotles theory of pratical cognition, Hague, Martinus
Nijhoff, 1965
232
ANTON, JOHN PETER - Aristotle's theory of contrariety, London, Routledge and
Kegan Paul, 1957.
AUBENQUE, PIERRE - Le problme de l'tre chez Aristote, Paris, P.U.F., 1962.
AUBENQUE, PIERRE (dir.) tudes sur la Mtaphysique dAristote, Paris, J. Vrin,
1979.
AUBENQUE, PIERRE; TORDESILLAS, ALONSO (eds.)- Aristote Politique. tudes
sur la Politique d'Aristote, Paris, P.U.F., 1993.
BALAUD, JEAN-FRANOIS ; WOLFF, FRANCIS (dir.) Aristote et la pense du
temps, Paris, J. Vrin, 2005.
BARNES, JONATHAN Aristotle, Oxford University Press, 1982.
BARNES, JONATHAN (edited by)- The Cambridge Companion to Aristotle,
Cambrige, Cambridge University Press, 1995.
BARNES, JONATHAN (editor) The Complete Works of Aristotle, 2 vols., Princeton
N.J., Princeton University Press, 1984.
BELLARDI, W. Il linguaggio nella filosofia di Aristotele, Roma, K. Libreria Editrice,
1975.
BENTIVOGLIO, FABIO Aristotele, Metafisica, Scienza, natura e destino delluomo,
Milano, CRT, 2002.
BERTI, ENRICO - Le ragioni di Aristotele, Roma, Laterza, 1989.
BERTI, ENRICO - L'unit del sapere in Aristotele, Padova, CEDAM, 1965.
BERTI, ENRICO - "Les stratgies contemporaines d'interpretation d'Aristote", in
Rue Descartes I, Paris, Albin Michel, 1991.
BODUS, RICHARD - Aristote: la J ustice et la cit, Paris, P.U.F., 1996.
BOURGEY, LOUIS Observation et Exprience chez Aristote, Paris, J. Vrin, 1955.
BRAGUE, REMI Du temps chez Platon et Aristote, Paris, Quadrige, 2003.
BRAGUE, REMI Aristote et la question du monde, Paris, Cerf, 2009.
BRUN, JEAN - Aristote et le Lyce, Paris, P.U.F., 1961.
CASSIN, BARBARA - Aristote et le logos. Contes de la phnomnologie ordinaire,
233
Paris, PUF, 1997.
CAZZULO La vrit della parola. Ricerca sui fondamenti filosofici della metafora
in Aristotele e nei contemporanei, Milano, Jaca, 1987.
CHERNISS, H. - Aristotle's Criticism of Presocratic Philosophy, Baltimore, John
Hopkins Press, 1935.
CHORO, FRANCISCO JOS - "Amor e Prazer em Aristteles", Actas Colquio
Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de Estudos Clssicos, 1995, pp. 185-
196.
CLASSEN, CARL JOACHIM - "Aristotle's picture of the Sophists", in The Sophists
and their legacy, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag GMBH, 1981, pp. 7-25.
DOVER, K. J. Greek Popular Morality in the time of Plato and Aristotle, Oxford,
Basil, Blackwell, 1974.
DUMONT, JEAN-PAUL Introduction la mthode dAristote, Paris, J. Vrin, 1986.
DUMOULIN, BERTRAND Recherches sur le premier Aristote, Paris, J. Vrin, 1981.
EDMOND, MICHEL-PIERRE Aristote. La politique des citoyens et la contingence,
Payot-Rivages, 2000.
ELDERS, LEO Aristotles cosmology, Assen, VanGorcum, 1966.
FIGUEIREDO, MARIA JOS - "Amizade e Cidadania em Aristteles",Actas Colquio
Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de Estudos Clssicos, 1995, pp. 177-
183.
FORTENBAUGHT, WILLIAM WALL Aristotle on emotion: a contribuition to
philosophical psychology, rhetoric, poetics, politics, London, Duckworth, 2003.
FREELAND, CYNTHIA A. (edited by) - Feminist interpretations of Aristotle,
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 1998.
FRONTEROTTA, FRANCESCO; LESZL, WALTER (a cura di) Eidos-Idea. Platone,
Aristotele e la tradizione platnica, Academia Verlag, International Plato Studies,
2005.
GAUTHIER-MUZELLEC - Aristote et la juste mesure, Paris, P.U.F., 1998.
234
GAUTHIER, R. A. La Morale dAristote, Paris, PUF, s/d.
GOLDSCHMIDT, V. Temps physique et Temps tragique chez Aristote, Paris, Vrin,
1982.
GOTTLIEB, PAULA - "Aristotle versus Protagoras on relatives and the objects of
perception", Oxford Studies in Greek Philosophy, Vol. X, Oxford, 1993, p. 119.
HAMELIN, O. - Le Systme d'Aristote, Paris, J. Vrin, 2001.
HINTIKKA, JAAKKO Analyses of Aristotle, Boston, Boston University, 2004.
IRWIN, TERENCE (ed.) Aristotle: metaphysics, epistemology, natural philosophy,
New York, Garland Publishing, 1995.
IRWIN, TERENCE (ed.) Aristotle: substance, form and matter, New York, Garland
Publishing, 1995.
JAEGER, WERNER - Aristteles. Bases para la historia de su desarrollo intelectual,
trad., Jos Gaos, Madrid, Fondo de Cultura Econmica, 1984.
JOHN, J. On Aristotle and Greek Tragedy, New York, Oxford Univ. Press, 1962.
JORI, ALBERTO Aristotele, Milano, Mondadori, 2003.
KRAUT, RICHARD Aristotle: polical philosophy, Oxford, Oxford University Press,
2002.
LABARRIRE, JEAN-LOUIS - Langage, Politique et Movement des Animaux.Etudes
aristotliciennes, Paris, J. Vrin, 2004.
LAMBROS, COULOUBARITSIS - La "Physique" d'Aristote. L'avnement de la
science Physique, Bruxelles, ditions OUSIA, 1997.
LESZL, WALTER Aristotles conception of ontology, Padova, Editrice Antenore,
1975.
LLOYD, G. E. R. Aristotle. The growth and structure of his thought, Cambridge,
Cambridge University Press, 1968.
LLOYD, G. E. R. Aristotelian Explorations, Cambridge, Cambridge. Univ.Pr. 1999.
LUKASIEWICZ, JAN - "Sur le principe de contradiction chez Aristote" in Rue
Descartes I, Paris, ditions Albin Michel, 1991, pp. 9-32.
235
MAIATSKY, MICHAIL Platon, penseur du visuel, Paris, LHarmattan, 2005.
MANSION, SUZANNE Le Jugement dexistence chez Aristote, Paris, J. Vrin, 1976.
MATTEI, JEAN-FRANOIS Platon, Paris, PUF, 2005.
MERLAN, P. Studies in Epicurus and Aristotle, Klassisch Philologische Studien,
22, Wiesbaden, 1960.
MESCH, WALTER - Ontologie und Dialektik bei Aristoteles, Vandenhoeck und
Ruprecht in Gttingen.
MILO, RONALD DIMITRI Aristotle on pratical knowledge and weakness of will,
The Hague, Mouton, 1966.
MOREAU, JOSEPH - Aristote et son cole, Paris, PUF, 1962.
MURALT, ANDR DE Comment dire ltre ? Linvention du discours
mtaphysique chez Aristote, Paris, J. Vrin, 2003.
NARCY, MICHEL - La Dialectique entre Platon et Aristote, Aix-en-Provence, Cahiers
du Centre d'tudes sur la pense antique kairos kai logos, 1997.
NATALI, CARLO - The Wisdon of Aristotle, trad. Gerald Parks, Albany, State
University of New York, 2001.
NOBILE, MAURO La parola e lenigma. Uninterpretazione delletica di Aristotele.
Roma, Carocci Editore, 2002.
PANGLE, LORRAINE SMITH Aristotle and the philosophy of friendship,
Cambridge, Cambridge University Press, 1992.
PATER, W. A. Les Topiques dAristote et la Dialectique platonicienne. La
Methodologie et la dfinition, Fribourg (Suisse), ditions St. Paul, 1965.
PELLEGRIN, PIERRE Le philosophe et les savoirs, Paris, Seuil, 2002.
PHILOLENKO, ALEXIS - Leons Aristotliciennes, Les Belles Lettres, Paris, 2002.
PLETONE, G. Delle differenze fra Platone e Aristotele, Rimini, Raffaeli Ed., 2001.
QUARANTANO, DIANA Causa finale, sostanza, essenza in Aristotele. Saggio
sulla struttura dei processi teologici naturali e sulla funzione del telos, Napoli,
236
Bibliopolis, 2005.
REALE, GIOVANNI - Introduzione a Aristotele, Roma-Bari, Laterza, 1997.
REALE, GIOVANNI - Guida alla lettura della Metafsica di Aristotele, Roma,
Laterza, 1997.
RIBEIRO GRAA, JOS AUGUSTO- Aristteles contra Protgoras, Porto, Revista
da Faculdade de Letras, Srie de Filosofia, Volume XIX, 2002.
RICOUER, PAUL Platon et Aristote, C.D.U., 1954.~
RICOUER, PAUL Etre, Essence et Substance chez Platon et Aristote (Cours
profess lUniversit de Strasbourg en 1953-1954), Centre de Documentation
Universitaire, 1970.
ROBIN, LON - La Thorie platonicienne des ides et des nombres daprs
Aristote, Paris, Alcan, 1908.
ROBIN, LON - Aristote, Paris, PUF, 1944.
RODRIGO, PIERRE - Aristote. L'eidtique et la phnomnologie, Grenoble, ditions
Jrme Millon, 1995.
RODRIGO, PIERRE - Aristote, Paris, Ellipses, 1998.
RODRIGO, PIERRE - Aristote et les choses humaines, Bruxelles, ditions OUSIA,
1998.
ROMEYER DHERBEY, G. - Les Choses Mmes. La pense du rel chez Aristote,
Lausanne, L'Age D'Homme, 1983.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Le discours et le contraire. Notes sur le dbat entre
Aristote et Hraclite au livre Gamma de la Mtaphysique", in Les tudes
Philosophiques, 25, Paris, 1970, pp. 475-497.
ROMEYER DHERBEY, G. - "Le statut social d'Aristote Athnes" in Rvue de
Mtaphysique et de Morale, 3, Armand Colin, Paris, 1984, pp. 365-378.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - "Le bien et l'universel selon Aristote" in Revista
da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Srie de Filosofia, Porto, 1987,
pp. 193-199.
237
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - L'Excellence de la Vie, sur lEthique
Nicomaque et lEthique Eudme dAristote, Paris, J. Vrin, 2002.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT - Lun et lautre dans la cit dAristote in Revue
philosophique, n 2, Paris.
ROMEYER DHERBEY, G. - (sous la direction de), Corps et me. Sur le De Anima
d'Aristote, Paris, J. Vrin, 1996.
ROSS, DAVID Aristotle, London, Metheun, 1966.
RYAN, EUGENE E. Aristotles Theory of Rhetorical Argumentation, Montral,
Bellarmin, 1984.
SCHOLAR, M. - "Aristotle, Metaphysics, Gamma 1010b 1-3" in Mind, 80, 1971.
STEVENS, ANNICK - L'ontologie d'Aristote au carrefour du logique et du rel, Paris,
J. Vrin, 2000.
TAYLOR, C. C.; BARNES, JONATHAN; HARE, R. M. Greek Philosophers:
Socrates, Plato, Aristotle, Oxford University Press, 2001.
TESSITORE, ARISTID (edited by) - Aristotle and Modern Politics, Notre Dame,
Indiana, University of Notre Dama Press, 2002.
TRUEBA, CARMEN - tica y Tragedia en Aristteles, Mxico, Editorial Anthropos,
2004.
VERGNIRES, SOLANGE - Ethique et Politique chez Aristote, Paris, P.U.F., 1995.
VIANNEY, DECARIE - L'object de la mtaphysique selon Aristote, Montral, Institut
d'tudes Mdivales, 1972.
VOELKE, ANDR-JEAN - Les rapports avec autrui dans la philosophie grecque:
d'Aristote Pantius, Paris, J. Vrin, 1961.
AA. VV. Platon et Aristote, Colloque Internationale de Tours, Paris, J. Vrin, 1976.
AA.VV. - Aristote et la Pense du Temps, Paris, J. Vrin, 2004.
AA.VV. - Les Catgories et leur Histoire, Paris, J. Vrin, 2004.
AA.VV. - La philosophie d'Aristote, Paris, P.U.F., 2003.
238
ALGUNS ESTUDOS SOBRE HELENISMO E
FILOSOFIAS HELENSTICAS
ANNAS, JULIA; BARNES, JONATHAN Modes of Scepticism: Anciente Texts and
Modern Interpretations, Cambridge University Press, 1995.
ARRIGHETTI, GRAZIANO (trad.) - Epicuro. Opere, Turim, Einaudi, 1960.
BAILEY, C. Epicurus. The extant remains, Oxford, Clarendon Press, 1926.
BAILEY, C. - The Greek Atomists and Epicurus, Oxford, Oxford University Press,
1928.
BEVAN, E.R. - Stoics and Scepics, Oxford, Oxford University Press, 1913.
BIGNONE, ETTORE - L'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, I-II
vol., Firenze, La Nuova Italia, 1973.
BOLLACK, JEAN - La Lettre d'Epicure, Paris, ditions Minuit, 1971.
BOLLACK, JEAN - La pense du plaisir. Epicure: textes moraux, commentaires,
Paris, ditions Minuit, 1975.
BOLLACK, JEAN tudes sur lpicurisme antique, Villeneuve dAscq, Presses
Universitaires du Septentrion, 1976.
BOLLACK, JEAN - Epicure Pythocls, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1977.
BOLLACK, MAYOTTE - La raison de Lucrce, Paris, ditions de Minuit, 1978.
BRHIER, EMILE ;SCHUHL, P. M. (ed.) Les stociens, Paris, La Pliade, s/d.
BRHIER, EMILE - Chrysippe et l'Ancien Stocisme, Paris, P.U.F., 1951.
BRHIER, EMILE La Thorie des Incorporels dans lAncien Stocisme, Paris, J.
Vrin, 1987.
BOYANC, PIERRE - Epicure, Paris, P.U.F., 1969.
BOYANC, PIERRE Lucrce et lpicurisme, Paris, PUF, 1978.
BRHIER, E. Chrysippe et lancien stocisme, Paris, Les Archives
239
Contemporaines, 1910.
BRIDOUX, A. Le stocisme et son influence, Paris, J. Vrin, 1966.
BROCHARD, VICTOR - "La thorie du plaisir d'aprs Epicure" in Etudes de
philosophie ancienne et de philosophie moderne, Paris, J. Vrin, 1974.
BROCHARD, VICTOR - "La morale d'Epicure" in Etudes de philosophie ancienne et
de philosophie moderne, Paris, J. Vrin, 1974.
BROCHARD, VICTOR Les sceptiques grecques, Paris, J. Vrin, 1986.
BRUN, JEAN - L'picurisme, Paris, P.U.F., 1959.
BRUN, JEAN - Epicure et les picuriens, Paris, P.U.F., 1961.
BRUN, JEAN Les Stociens :textes choisis, Paris, PUF, 1985.
BRUN, JEAN Le Stocisme, Paris, PUF, 1986.
BRUNSCHWIG, JACQUES tudes sur les philosophies Hellenistiques:
Epicurisme, Stoicism, Scepticisme, Paris, PUF, 1995.
CICRON - Las Paradojas de los Estoicos, (v. blingue), introduccin, edicin,
traduccin y notas de Julio Pimentel lvarez, Mxico, Biblioteca Scriptorum
Graecorum et Romanorum Mexicana, 2002.
CLAY, DISKIN Paradosis and survival: three chapters in the history of epicurean
philosophy, University of Michigan Press, 1998.
CONCHE, MARCEL - Lucrce et l'exprience, Paris, Editions Seghers, 1967.
CONCHE, MARCEL (trad.) - Epicure, lettres et maximes, Paris, Edit. de Mgare,
1977.
CONCHE, MARCEL Pyrrhon ou lapparence, Paris, P.U.F. 1994.
COSSUTA, FRDRIC Le Scepticisme, Paris, PUF, 1994.
CRESSON, ANDR picure : sa vie, son uvre avec un expos de sa
philosophie, Paris, PUF, 1958.
DAL PRA, MARIO Lo scetticismo greco, Bari, Laterza, 1981.
DARAKI, MARIA Une religiosit sans Dieu : essai sur les stociens dAthnes et
saint Augustin, Paris, La Dcouverte, 1989.
240
DECLEVA CAIZZI, F. (a cura di) Pirrone testimonianze, Napoli, Bibliopolis, 1981.
DUMONT, JEAN-PAUL Le scepticisme et le phnomne. Essai sur la signification
et les origines du pyrrhonisme, Paris, J. Vrin, 1986.
DUMONT, JEAN-PAUL Les sceptiques grecques. Textes choisis, Paris, PUF,
1989.
DUVERNOY, JEAN Lpicurisme et sa tradition antique, Paris, Bordas, 1990.
FARRINGTON, BENJAMIN - The Faith of Epicurus, London, Weidenfeld and
Nicolson, 1967.
FESTUGIRE, A-J. - Epicure et ses dieux, Paris, P.U.F., 1946.
FRISCHER, BERNARD The sculpted word : epicureanism and philosophical
recruitement in Ancient Greece, Berkeley, The California University Press, 1983.
HOGARTH, D. G. - Philip and Alexander of Macedon, London, John Murray, 1897.
HOVEN, REN Stocisme et stociens face au problme de lau-del, Paris, Les
Belles Lettres, 1971.
GERMAIN, GABRIEL pictte et la spiritualit stocienne, Paris, ditions du Seuil,
1964.
GIANNANTONI, G. (a cura di) Lo scetticismo antico 2 Vols., Napoli, Bibliopolis,
1981.
GIGANTE, MARCELLO Cinismo ed epicureismo, Napoli, Biblioplolis, 1992.
GOLDSCHMIDT, VICTOR - Le systme stocien et l'ide de temps, Paris, J. Vrin,
1969.
GOLDSCHMIDT, VICTOR - La Doctrine d'picure et le Droit, Paris, J. Vrin, 1977.
GOURINAT, J.-B. La dialectique des stociens, Paris, J. Vrin, 2002.
GRILLI, ALBERTO Stoicismo, epicureismo e letteratura, Brescia, Paideia, 1992.
GUAL, CARLOS GARCA - La filosofia helenistica: ticas y sistemas, Madrid,
Cincel, 1986.
GUAL, CARLOS GARCA Epicuro, Madrid, Alianza, 2002.
GUYAU, JEAN-MARIE La Morale dpicure et ses rapports avec les doctrines
241
contemporaines, Paris, Alcan, 1878.
HADOT, ILSETRAUT - Seneca und die griechischrmische Tradition der
Seelenleitung, Berlin, 1969.
HANKINSON, R. J. The sceptics, London, Routledge, 1995.
IRBY, MASSIE Greek science of the Hellenistic era: a sourcebook, London and
New York, Routledge, 2002.
JONES, A.H.M. - The Greek City from Alexander to J ustinian, Oxford, Oxford
University Press, 1937.
JOYAN, E. picure, Paris, Alcan, 1910.
K. ALGRA; J. BARNES; J. MANSFELD (ed.) Cambridge History of Hellenistic
Philosophy, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
KERFERD, G. B. Origins of devil in stoic thought, Manchester, J. Rylands Univ.
Lib. of Manchester, 1978.
LAVIELLE, MILE - Les picuriens, Paris, Bordas, 1969.
LVQUE, PIERRE Le Monde Hellnistique, Paris, Pocket/Agora, 2003.
LLOYD, G.E.R. - Greek Science after Aristotle, London, Chatto and Windus, 1973.
LOGRE, D. - L'anxit de Lucrce, Paris, Janin, 1946.
M. SCHOFIELD; J. BARNES; M. BURYEAT (ed.) Doubt and Dogmatism: Studies
in Hellenistic Epistemology, USA, Oxford University Press, 1980.
MARCELINO, R. DOMINGUEZ El materialismo de Epicuro y Lucrecio, Sevilla,
Univ. Sevilla, 1989.
MARCHAUX, PIERRE (trad.) Les Stociens. Passions et Vertus. Fragments,
Paris, Rivages, 2003.
MARKOVITS, FRANCINE - Marx dans le jardin d'Epicure, Paris, Editions de Minuit,
1974.
MARX, KARL - Diffrence de la philosophie de la nature chez Dmocrite et Epicure,
trad. J. Ponnier, Bordeaux, Duclos, 1970.
MERLAN, P. Studies in Epicurus and Aristotle, Klassisch Philologische Studien,
242
22, Wiesbaden, 1960.
MILLS, STEPHANIE Epicurean Simplicity, Washington DC, Shearwater Books,
2003.
MORE, PAUL ELMER Hellenistic Philosophies, Princeton, Princeton University
Press, 1923.
MOREAU, JOSEPH - Epictte, Paris, Seghers, 1964.
MOREAU, JOSEPH Stocisme, Epicurisme, tradition hellnique, Paris, J. Vrin,
1979.
NUSSBAUM, MARTHA The Therapy of Desire:Theory and Pratice in Hellenistic
Ethics, New Jersey, Princeton University Press, 1996.
OGEREAU, F. Essai sur le systme philosophique des stociens, Paris, Encre
Marine, 2002.
OSLER, J. MARGARET (ed.) Atoms, Pneuma and Tranquility: epicurean and stoic
themes in European thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2005.
OTTO, WALTER F. Epicuro, Sexto Piso, Mxico, 2005.
ISNARDI PARENTE, MARGHERITA Introduzione a lo stoicismo ellenistico, Bari-
Roma, Laterza, 2004.
POHLENZ, MAX - Die Stoa: Geschichte einer geistigen Bewegung, Gtingen, 1978.
PREUSS, PETER Epicurean Ethics: katastematic hedonism, New York, Edwin
Mellen Press Ltd, 1994.
RENAULT, MARCEL picure, Paris, Librairie Paul Delaplane, s/d.
RIST, J. M. Epicurus. An Introduction, Cambridge, Cambridge University Press,
1972.
ROBIN, LON - Pyrrhon et le scepticisme grecque, Paris, PUF, 1944.
ROBIN, LON - La Pense Hellnique des origines picure: questions de
mthode, de critique et d'histoire, Paris, PUF, 1967.
ROCHOT, B. - Les travaux de Gassendi sur Epicure et sur l'atomisme, Paris, J. Vrin,
1944.
243
RODIS-LEWIS, GENEVIVE - Epicure et son cole, Paris, Gallimard, 1975.
ROMEYER DHERBEY, G. Art et Nature chez les Stociens, in La Grce pour
penser lavenir, Paris, LHarmattan, 2000.
ROMEYER DHERBEY, GILBERT (sous la direction de), Les Stociens, Paris, J. Vrin,
2005.
SCHULL, PIERRE-MAXIME (ed.) Les Stociens (textes traduits par E. Brhier),
Paris, Gallimard, 1962.
SNQUE - De la tranquillit de l'me (traduit du latin par Colette Lazam), Paris,
Editions Rivages, 1988.
SEXTUS EMPIRICUS Esquisses Pyrrhoniennes (bilingue), introduction,
traduction et commentaires par Pierre Pellegrin, Paris, ditions du Seuil, 1997.
SEXTUS EMPIRICUS - Contre les Professeurs (bilingue), introduction, glossaire et
index par Pierre Pellegrin; traduction par C. Dalimier, D. et J. Delattre, B. Prez;
sous la direction de Pierre Pellegrin, Paris, ditions du Seuil, 2002.
SHARPLES, R. W. Stoics, Epicureans and Sceptics, New York, Routlldge, 1996.
SCHOFIELD, MALCOM; NUSSBAUM, MARTHA C. - Stoic Idea of the City, Chicago,
University of Chicago Press, 1999.
SOLOVINE, MAURICE (trad.) - Epicure: doctrines et maximes, Paris, Edit. Hermann,
1965.
SPANNEUTT, M. Les Valeurs dans le stocisme, Lille, Presses Universitaires de
Lille, 1993.
STRIKER, GISELA - Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics, Cambridge,
Cambride University Press, 1995.
TARN, W.; GRIFFITH, G.T. - Hellenistic Civilisation, London, University Paperback,
1966.
TOYNBEE, ARNOLD J. - Hellenism: the History of a Civilisation, Oxforf, Oxford
University Press, 1959.
VEYNE, PAUL - "La Medication Interminable" in Snque: De la tranquillit de l'me
244
(traduit du latin par Colette Lazam), Paris, Editions Rivages, 1988, pp. 7-62.
VAZ PINTO, MARIA JOS - " O amor pedaggico na reflexo estica", Actas
Colquio Eros e Philia na Cultura Grega, Lisboa, Centro de Estudos Clssicos,
1995, pp. 197-212.
VOELQUE, ANDRE-JEAN Lide de volont dans le stocisme, Paris, PUF, 1992.
ZELLER, EDUARD The stoics, epicureans and sceptics, New York, Russel and
Russel, 1962.
WITT, N. W. DE Epicurus and his Philosophy, Minneapolis, University Minnesota
Press, 1954.
WOLFF, FRANCIS - Logique de l'lment. Clinamen. Paris, P.U.F., 1981.
AA. VV. Le Stocisme, Revue Internationale de Philosophie n 178, Paris, PUF,
1991.
AA. VV. Stocisme, Presses Universitaires du Septentrion, 2006.
Você também pode gostar
- FRANCO JÚNIOR, Hilário. Império BizantinoDocumento76 páginasFRANCO JÚNIOR, Hilário. Império Bizantinosantos.aurivaldoAinda não há avaliações
- Amizades Que EnsinamDocumento5 páginasAmizades Que EnsinamPedro PamplonaAinda não há avaliações
- Rãs Aristófanes Tradução PortuguesaDocumento185 páginasRãs Aristófanes Tradução PortuguesaMicael SchopenhauerAinda não há avaliações
- Nova IndependenciaDocumento136 páginasNova IndependenciaRafael Pereira0% (2)
- A Conversão de Clóvis IDocumento20 páginasA Conversão de Clóvis IBrunoAinda não há avaliações
- Ludwig FeuerbachDocumento41 páginasLudwig Feuerbachjose mangoniAinda não há avaliações
- A Idealização de Roma e Sua Aceitação Pelos Cristãos - Capítulo VDocumento26 páginasA Idealização de Roma e Sua Aceitação Pelos Cristãos - Capítulo VGustavoPira100% (1)
- A Povoação Das AméricasDocumento15 páginasA Povoação Das AméricasElisa Cazorla100% (1)
- Resenha A Consolação Da Filosofia BóecioDocumento2 páginasResenha A Consolação Da Filosofia Bóeciotulioloppes@100% (3)
- The Intellectual History of Europe Friedrich HeerDocumento4 páginasThe Intellectual History of Europe Friedrich HeerlorenzxetiipleaseAinda não há avaliações
- A Importância Dos Estudos em História AntigaDocumento9 páginasA Importância Dos Estudos em História AntigaNatália Rita de AlmeidaAinda não há avaliações
- Milho GeralDocumento26 páginasMilho Geralarlinda rodrigues100% (1)
- Aclima - WikipédiaDocumento11 páginasAclima - WikipédiaWaldo Moraes-Filho100% (1)
- Pierre Aubenque - A Prudência em AristótelesDocumento353 páginasPierre Aubenque - A Prudência em AristótelesSobriedade Pastoral100% (1)
- Raul Fernandes - Reflexões Sobre o Estudo Da Idade MédiaDocumento7 páginasRaul Fernandes - Reflexões Sobre o Estudo Da Idade MédiaCamila Mota FariasAinda não há avaliações
- Moral e Direito em Santo Tomás de AquinoDocumento76 páginasMoral e Direito em Santo Tomás de AquinothiagoAinda não há avaliações
- Peter Brown - História Da Vida Privada - Antiguidade Tardia - A Igreja PDFDocumento22 páginasPeter Brown - História Da Vida Privada - Antiguidade Tardia - A Igreja PDFAlexandre Arienti RamosAinda não há avaliações
- A Inquisição ProtestanteDocumento3 páginasA Inquisição ProtestanteDauton FigueiredoAinda não há avaliações
- História: Usos Do Passado, Ética e NegacionismosDocumento229 páginasHistória: Usos Do Passado, Ética e NegacionismosEditora Pimenta CulturalAinda não há avaliações
- Pomeranz Cap. 6 - Abolishing The Land Constraint The Americas As A New Kind of PeripheryDocumento20 páginasPomeranz Cap. 6 - Abolishing The Land Constraint The Americas As A New Kind of PeripheryCidaAinda não há avaliações
- Renascimentos Um Ou Muitos, Por Evandro BrasilDocumento13 páginasRenascimentos Um Ou Muitos, Por Evandro BrasilEvandro Brasil100% (2)
- Breve Introducción Al Tomismo - Cornelio FabroDocumento98 páginasBreve Introducción Al Tomismo - Cornelio FabroHenrique CaetanoAinda não há avaliações
- Indice Por Autores - Alexandria CatolicaDocumento71 páginasIndice Por Autores - Alexandria Catolicazc jazz100% (1)
- Qual e o Imperio Romano de Flavio JosefoDocumento108 páginasQual e o Imperio Romano de Flavio JosefoFlávio Gomes100% (1)
- Roma Antiga PDFDocumento20 páginasRoma Antiga PDFJúnior AlmeidaAinda não há avaliações
- Jacob Holzmann Netto - Espiritismo e Marxismo - PENSEDocumento61 páginasJacob Holzmann Netto - Espiritismo e Marxismo - PENSEJosemarpmlAinda não há avaliações
- Biblioteca Particular, Parte IIDocumento81 páginasBiblioteca Particular, Parte IInmrgoncalvesAinda não há avaliações
- A Ilusão AmericanaDocumento279 páginasA Ilusão AmericanaAndrew'Ainda não há avaliações
- Cópia de Roma Antiga - A História Completa Da República Romana, A Ascensão e Queda Do Império Romano e O Império BizantinoDocumento48 páginasCópia de Roma Antiga - A História Completa Da República Romana, A Ascensão e Queda Do Império Romano e O Império BizantinoMikael EngelageAinda não há avaliações
- (JIEAM) A Helenização Do Cristianismo A Partir Da Carta A Digneto (Resumos, 206-207)Documento226 páginas(JIEAM) A Helenização Do Cristianismo A Partir Da Carta A Digneto (Resumos, 206-207)Murilo ModestoAinda não há avaliações
- O Templo Seu Ministéio e Serviço - Alfred EDERSCHEINDocumento174 páginasO Templo Seu Ministéio e Serviço - Alfred EDERSCHEINUlysses Fernandes100% (1)
- História Da Historiografia - ProgramaDocumento11 páginasHistória Da Historiografia - ProgramaGlaydson José da SilvaAinda não há avaliações
- Unidade II - Arte e Literatura Transformando A Política e SociedadeDocumento30 páginasUnidade II - Arte e Literatura Transformando A Política e SociedadeKiyoko HaeaAinda não há avaliações
- Peter Burke RenascimentoDocumento32 páginasPeter Burke RenascimentoWheriston NerisAinda não há avaliações
- Introdução Ao PentateucoDocumento4 páginasIntrodução Ao PentateucoAlexandre Miglioranza100% (1)
- Cruzadas Célle Morrison PDFDocumento80 páginasCruzadas Célle Morrison PDFCIELICODEDORIAinda não há avaliações
- As Repúblicas Da República - História, Cultura Política e Republicanismo - Maria Alice SamaraDocumento432 páginasAs Repúblicas Da República - História, Cultura Política e Republicanismo - Maria Alice SamaraOdete ViolaAinda não há avaliações
- KAUTSKY.a Ditadura Do Proletariado (1918)Documento12 páginasKAUTSKY.a Ditadura Do Proletariado (1918)ViniciusAinda não há avaliações
- GAVIAO Fabio Pires - A Esuqerda Católica e A APDocumento187 páginasGAVIAO Fabio Pires - A Esuqerda Católica e A APIgor RlmbrgAinda não há avaliações
- Democracia, Deus e Terra Contra A Força ComunistaDocumento258 páginasDemocracia, Deus e Terra Contra A Força ComunistaDiná SchmidtAinda não há avaliações
- Tucídides Livro II Oração FúnebreDocumento6 páginasTucídides Livro II Oração FúnebreVictor Vecchione SeguraAinda não há avaliações
- A Primeira República Portuguesa (1910-1926) : Educação, Ruptura e Continuidade, Um Balanço CríticoDocumento32 páginasA Primeira República Portuguesa (1910-1926) : Educação, Ruptura e Continuidade, Um Balanço CríticoSulai DansoAinda não há avaliações
- Maternidade e Escravidão No Rio de Janeiro - Lorena Féres TellesDocumento345 páginasMaternidade e Escravidão No Rio de Janeiro - Lorena Féres TellesBento Chastinet100% (1)
- Maomé e Carlos MagnoDocumento4 páginasMaomé e Carlos MagnoThais Gonçalves100% (1)
- Mídia Sem Máscara - O Erro de NarcisoDocumento2 páginasMídia Sem Máscara - O Erro de NarcisoLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Livros Que Tomam Partido: A Edição Política em Portugal, 1968-80Documento624 páginasLivros Que Tomam Partido: A Edição Política em Portugal, 1968-80Adriana RomeiroAinda não há avaliações
- A Vida Dos CésaresDocumento18 páginasA Vida Dos CésaresHelyomAinda não há avaliações
- A Controvérsia Entre Erasmo e Lutero Marca Rompimento Entre Humanismo e ReformaDocumento34 páginasA Controvérsia Entre Erasmo e Lutero Marca Rompimento Entre Humanismo e ReformaPauloMacedoAinda não há avaliações
- O CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)Documento15 páginasO CHOQUE DAS CIVILIZAÇÕES - As Consequências Desta Ideologia Nas Disputas de Poder No Séc. XXI (2001)nelson duringAinda não há avaliações
- A Mulher Universal: Corpo, Gênero e Pedagogia Da ProsperidadeDocumento231 páginasA Mulher Universal: Corpo, Gênero e Pedagogia Da ProsperidadeJacqueline Moraes TeixeiraAinda não há avaliações
- A Economia AntigaDocumento13 páginasA Economia AntigaExiamoraAinda não há avaliações
- Nos Poroes Da Ditadura Uma Flor PDFDocumento185 páginasNos Poroes Da Ditadura Uma Flor PDFIsabela ChagasAinda não há avaliações
- Idade Média Idade Dos Homens Do Amor e Outros Ensaios Georges DubyDocumento218 páginasIdade Média Idade Dos Homens Do Amor e Outros Ensaios Georges DubyTiffany BeatrizAinda não há avaliações
- John Milton - Martim VasquesDocumento325 páginasJohn Milton - Martim VasquesvieirasantoswilliamAinda não há avaliações
- Mário Ferreira Dos Santos - Crise - Mundo - ModernoDocumento11 páginasMário Ferreira Dos Santos - Crise - Mundo - ModernoluizdecarvalhoAinda não há avaliações
- A Universidade de Paris: a velha Universidade - a nova Universidade a nova sorbonneNo EverandA Universidade de Paris: a velha Universidade - a nova Universidade a nova sorbonneAinda não há avaliações
- Um guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoNo EverandUm guia seguro para a vida bem-sucedida: Exemplaridade e arte retórica no pensamento histórico modernoAinda não há avaliações
- BUTLER, Edward P - Rainha Da Kinesis, Compreendendo HeraDocumento24 páginasBUTLER, Edward P - Rainha Da Kinesis, Compreendendo HeraPedro GuedesAinda não há avaliações
- Cornelius Geoffrey Is Astrology Divination - En.ptDocumento11 páginasCornelius Geoffrey Is Astrology Divination - En.ptPedro GuedesAinda não há avaliações
- O Próspero Socialismo IugoslavoDocumento26 páginasO Próspero Socialismo IugoslavoPedro GuedesAinda não há avaliações
- Sacro Império RomanoDocumento95 páginasSacro Império RomanoPedro GuedesAinda não há avaliações
- 01 Curso de Iniciação À Astrologia TradicionalDocumento87 páginas01 Curso de Iniciação À Astrologia TradicionalPedro Guedes100% (3)
- 02 Curso de Iniciação À Astrologia TradicionalDocumento69 páginas02 Curso de Iniciação À Astrologia TradicionalPedro Guedes100% (2)
- Lista de Obras de Karl MarxDocumento67 páginasLista de Obras de Karl MarxPedro GuedesAinda não há avaliações