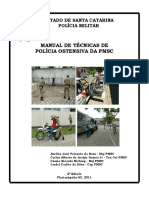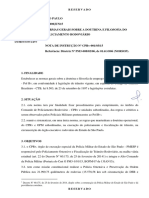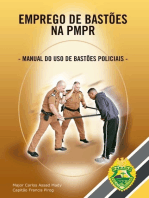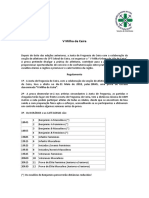Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
M 14 PM Manual Básico de Policiamento Ostensivo
M 14 PM Manual Básico de Policiamento Ostensivo
Enviado por
FábioSantosDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
M 14 PM Manual Básico de Policiamento Ostensivo
M 14 PM Manual Básico de Policiamento Ostensivo
Enviado por
FábioSantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
M-14-PM
Polcia Militar do Estado de So Paulo
MANUAL BSICO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO
DA
POLCIA MILITAR
3 Edio
Tiragem: exemplares
1997
Setor Grfico do CSM/MInt
2
POLCIA MILITAR DO ESTADO DE SO PAULO
COMANDO GERAL
So Paulo, 15 de janeiro de 1997.
DESPACHO N DSist-000/322/97
O Comandante Geral da Polcia Militar do Estado de So Paulo, nos
termos dos Artigos 16 e 43 das I-1-PM, aprova, manda pr em execuo e
autoriza a impresso do Manual Policiail Militar (M-14-PM) MANUAL
BASICO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO DA POLCIA MILITAR, deve
entrar em vigor a contar de sua publicao em Bol G. Fica revogado o M-14-
PM Manual Basico de Policiamento Ostensivo, aprovado pelo Despacho n
Dsist-001/22/93 e publicado no Bol G. N 213/93, de 16Nov93.
CLAUDIONOR LISBOA
Cel PM - Cmt Geral
3
QUADRO DISTRIBUIO-CARGA
1.rgos de Direo
a. Geral
Cmt G ........................................................................................ 01
S Cmt PM................................................................................... 02
Gab Cmt G................................................................................. 02
EM/PM (cada) ............................................................................ 02
Corregedoria PM........................................................................ 10
b. Setorial
Diretorias (cada) ......................................................................... 03
2. rgos de Apoio
OPM de Apoio ao Ensino (cada) ................................................ 10
3. rgos Especiais de Apoio
a. AG ........................................................................................ 02
b. C Com Soc. ............................................................................ 02
c. Centros ................................................................................. 02
4. rgos de Execuo
a. Grandes Comandos (cada(a)................................................. 02
b. CPA/M e CPA/I (cada(a) ........................................................ 03
c. Btl/M e I .................................................................................. 05
5. APM (cada) ............................................................................. 03
6. Consultoria Jurdica................................................................. 01
7. Reserva
a. Na Dsist ................................................................................. 05
8. Para Venda
a. No CSM/MInt .......................................................................... demais
b. Tiragem: ................................................................................ 10.000
(*) observao: Os exemplares da distribuio carga devero ser includos
em carga nos termos do Artigo 57 da I-1-PM (Instrues para as Publica-
es da Polcia Militar).
4
NDICE DOS ASSUNTOS
Captulo l - Introduo .............................................................. 017
Artigo l - Finalidade................................................................... 017
1-2. Objetivos .............................................................................. 017
Artigo II - Conceitos Bsicos.................................................... 017
1-3. Constituio.......................................................................... 017
1-4. Polcia Militar ........................................................................ 018
1-5. Poder de polcia ................................................................... 018
1-6. Segurana pblica................................................................ 018
1-7. Ordem pblica...................................................................... 019
1-8. Preservao da ordem pblica ............................................ 019
1-9. Policiamento ostensivo......................................................... 019
1-10. Polcia ostensiva ................................................................ 019
1-11. Defesa pblica.................................................................... 020
1-12. Ttica policial-militar........................................................... 020
1-13. Tcnica policial-militar ........................................................ 020
1-14. Regio................................................................................ 020
1-15. rea.................................................................................... 020
1-16. Subrea.............................................................................. 020
1-17. Setor................................................................................... 020
1-18. Subsetor ............................................................................. 021
1-19. posto................................................................................... 021
1-20. Itinerrio de patrulhamento ................................................ 021
1-21. Patrulhar............................................................................. 022
1-22. Local de risco..................................................................... 022
1-23. Ocorrncia policial-militar ................................................... 023
1-24. Ao policial-militar ............................................................ 023
1-25. Operao policial-militar..................................................... 023
1-26. Frao elementar ............................................................... 023
1-27. Frao constituda.............................................................. 023
1-28. Sistemas de policiamento .................................................. 023
Artigo III - Caractersticas e Princpios das Atividades Policiais
Militares...................................................................................... 023
1-29. Caractersticas ................................................................... 023
1-30. Princpios............................................................................ 023
Artigo IV - Caractersticas do Policiamento Ostensivo ......... 024
1-31. Ao pblica....................................................................... 024
1-32. Totalidade........................................................................... 024
1-33. Dinmica ............................................................................ 024
1-34. Legalidade.......................................................................... 025
1-35. Ao de presena .............................................................. 025
Artigo V - Princpios de Policiamento Ostensivo................... 025
5
1-36. Universalidade.................................................................... 025
1-37. Responsabilidade territorial................................................ 026
1-38. Continuidade ...................................................................... 026
1-39. Efetividade.......................................................................... 026
1-40. Aplicao............................................................................ 026
1-41. Iseno............................................................................... 027
1-42. Emprego lgico .................................................................. 027
1-43. Antecipao........................................................................ 027
1-44. Profundidade...................................................................... 028
1-45. Unidade de comando......................................................... 028
1-46. Objetivo .............................................................................. 028
Artigo VI - Variveis do Policiamento Ostensivo ................... 028
1-47. Conceituao ..................................................................... 028
1-48. Tipos................................................................................... 028
1-49. Processos .......................................................................... 029
1-50. Modalidades....................................................................... 029
1-51. Circunstncias.................................................................... 029
1-52. Lugar .................................................................................. 030
1-53. Nmero .............................................................................. 030
1-54. Forma................................................................................. 030
1-55. Tempo................................................................................ 030
Artigo VH - Procedimentos Bsicos........................................ 031
1-56. Conceituao ..................................................................... 031
1-57. Requisitos bsicos ............................................................. 031
1-58. Formas de empenho em ocorrncias ................................ 032
1-59. Prevalncia do aspecto preventivo sobre o repressivo na atuao
da Polcia Militar .......................................................................... 036
CAPTULO 2 - Conhecimentos Bsicos.................................. 037
Artigo I - Aspectos Legais ........................................................ 037
2-1. Crime.................................................................................... 037
2-2. Contraveno....................................................................... 037
2-3. Trao distintivo entre crime e contraveno ........................ 037
2-4. Crimes de ao pblica e de ao privada.......................... 037
2-5. Excluso da criminalidade ................................................... 038
Estado de necessidade............................................................... 038
Legtima defesa........................................................................... 038
Estrito cumprimento do dever legal ............................................. 039
Exerccio regular de direito.......................................................... 039
2-6. Imunidades........................................................................... 039
Imunidades diplomticas............................................................. 039
Imunidades parlamentares.......................................................... 040
Atitudes do PM em relao s imunidades................................. 040
2-7. Priso ................................................................................... 040
6
Priso em flagrante delito............................................................ 040
Priso emanada de ordem escrita de autoridade competente ... 040
Priso de funcionrio pblico ...................................................... 040
2-8.Fiana.................................................................................... 041
2-9.Violao de domiclio ............................................................ 041
2-10.Busca e apreenso ............................................................. 043
Busca domiciliar .......................................................................... 044
Busca pessoal ............................................................................. 045
Apreenso em territrio sujeito jurisdio alheia...................... 045
2-11. Abuso de autoridade .......................................................... 045
Atentado liberdade de locomoo............................................ 045
Atentado inviolabilidade do domiclio ....................................... 045
Atentado ao sigilo da correspondncia ....................................... 046
Atentado liberdade de conscincia e de crena e ao livre
exerccio de culto religioso .......................................................... 046
Atentado liberdade de associao e ao direito de reunio
Atentado contra a incolumidade pblica...................................... 046
Conceito de autoridade ............................................................... 046
Sanes....................................................................................... 046
2-12. Violncia arbitrria.............................................................. 047
2-13. Propina............................................................................... 047
2-14. Corrupo........................................................................... 048
2-15. Concusso ......................................................................... 048
2-16. Resistncia......................................................................... 048
2-17. Resistncia priso........................................................... 048
2-18. Agresso............................................................................ 048
2-19. Desobedincia.................................................................... 049
2-20. Desacato............................................................................ 049
2-21. Tentativa de fuga................................................................ 049
2-22. Porte de arma .................................................................... 049
Arma ........................................................................................ 049
Armas proibidas .......................................................................... 050
Armas regulamentares................................................................ 050
Armas de defesa pessoal............................................................ 050
Armas de caa ou de tiro ao alvo................................................ 050
Restries.................................................................................... 050
Cassao da licena ................................................................... 051
Iseno de licena....................................................................... 051
2-23. Uso de algema................................................................... 051
Artigo 11 - Entorpecentes......................................................... 052
2-24. Conceito ............................................................................. 052
2-25. O uso de entorpecentes..................................................... 052
2-26. O comrcio de entorpecentes............................................ 052
2-27. Caracterizao, no aspecto penal, do crime de trfico e uso de
7
entorpecentes.............................................................................. 052
2-28. Ao do PM em ocorrncia de trfico e uso de entorpecentes 053
2-29. Entorpecentes injetveis .................................................... 054
2-30. Efeito das drogas ............................................................... 054
2-31. Drogas usadas com maior freqncia ............................... 054
Artigo III - Local de Crime......................................................... 055
2-32. Conceito ............................................................................. 055
2-33. Preservao do local.......................................................... 055
2-34. Ao policial no local de crime........................................... 056
2-35. Testemunhas ..................................................................... 058
Artigo IV - Socorros de Urgncia............................................. 058
2.36. Conceito ............................................................................. 058
2-37. Aspecto essencial .............................................................. 058
2-38. Objetivo .............................................................................. 059
2-39. Vtima consciente............................................................... 059
2-40. Utilizao de meios disponveis ......................................... 059
2-41. Procedimentos em casos de emergncia.......................... 059
Feridas ........................................................................................ 059
Feridas no trax........................................................................... 060
Feridas no abdmen ................................................................... 060
Feridas nos olhos ........................................................................ 060
Hemorragias externas nos braos ou pernas ............................. 061
Hemorragias difceis de estancar - Torniquetes ......................... 062
Hemorragias no tronco ou na cabea ......................................... 063
Hemorragia nasal ........................................................................ 064
Hemorragias internas .................................................................. 064
Estado de choque........................................................................ 064
Ameaa de desmaio.................................................................... 065
Desmaio ...................................................................................... 066
Convulses.................................................................................. 066
Parada respiratria - respirao artificial..................................... 066
Parada cardaca e respiratria.................................................... 068
Queimaduras............................................................................... 069
Insolaes ................................................................................... 072
Choques eltricos........................................................................ 073
Fraturas ....................................................................................... 074
Luxaes ou fraturas em articulaes ........................................ 074
Envenenamentos......................................................................... 075
Picadas de animais peonhentos: cobras, aranhas, escorpies e
mordidas de animais raivosos........................................................... 076
Partos de urgncia ...................................................................... 077
Afogamento................................................................................. 080
2-42.Vtima inconsciente............................................................. 081
2-43. Transporte de feridos......................................................... 081
8
Transporte de traumatizados da coluna...................................... 082
Os vrios meios de transporte .................................................... 082
Princpios gerais de transporte.................................................... 082
Transporte manual ...................................................................... 082
Retirada de pessoas e animais ................................................... 112
Capturas...................................................................................... 112
Extermnio de insetos.................................................................. 113
2-56. Salvamento em altura ........................................................ 114
Conceito ...................................................................................... 114
Pessoas presas em elevador ...................................................... 114
Pessoas presas em locais elevados ........................................... 115
Retirada de objetos oferecendo perigo ....................................... 115
Tentativa de suicdio e captura de dbil mental .......................... 115
2-57. Salvamento aqutico.......................................................... 116
Inundao.................................................................................... 116
2-58. Salvamento em incndio.................................................... 116
2-59. Acidentes de trnsito.......................................................... 117
Em caso de incndio - procedimentos ........................................ 117
Em caso de salvamento - procedimentos ................................... 117
Artigo VII - Armamento.............................................................. 118
2-60. Revlver ............................................................................. 118
2-61. Conservao do armamento em uso................................. 119
2-62. Limpeza aps o tiro............................................................ 119
2-63. Regras de segurana......................................................... 120
2-64. Medidas de segurana no estande.................................... 120
Artigo VIII - Comunicaes....................................................... 121
2-65. Definies........................................................................... 121
2-66. Normas para uso do microfone.......................................... 122
2-67. Cdigo "Q".......................................................................... 122
2-68. Siglas mais usadas - cdigo "Q" ........................................ 122
2-69. Alfabeto da ONU................................................................ 123
2-70. Algarismos ......................................................................... 123
Artigo IX - Manuteno de Viaturas......................................... 124
2-71. Generalidades.................................................................... 124
2-72. Reabastecimento ............................................................... 124
2-73. Verificao e recompletamento do leo do crter ............. 124
2-74. Recompletamento de gua do sistema de arrefecimento . 124
2-75. Cuidados com os pneumticos.......................................... 124
2-76. Cuidados com as baterias.................................................. 125
2-77. Reparos de emergncia..................................................... 125
2-78. Concluso .......................................................................... 125
CAPTULO 3 - Policiamento Ostensivo Geral......................... 127
Artigo I - Introduo .................................................................. 127
9
3-1. Conceito............................................................................... 127
3-2. Misso.................................................................................. 127
3-3. Apresentao....................................................................... 127
Anlise dos fatores determinantes, componentes e condicionantes 128
3-4. Procedimentos gerais .......................................................... 129
Policiamento a p........................................................................ 129
Policiamento montado................................................................. 130
Policiamento motorizado ............................................................. 130
Policiamento com bicicletas ........................................................ 132
Policiamento em embarcao..................................................... 132
3-5 Posto ..................................................................................... 134
Ponto-base .................................................................................. 134
Carto-programa......................................................................... 134
Boletim de ocorrncia.................................................................. 134
Procedimento no posto ............................................................... 134
Extenso do posto....................................................................... 136
Condies individuais para o servio .......................................... 136
3-6 Generalidades....................................................................... 137
Presena do PM.......................................................................... 137
"Onde e como atuar'.................................................................... 139
Relaes com a comunidade...................................................... 139
Durante o patrulhamento............................................................. 139
Transporte de pessoas na viatura............................................... 140
Procedimento em caso de tiroteio............................................... 140
Artigo II - Tcnicas Usuais........................................................ 142
3-7. Busca pessoal ...................................................................... 142
Busca preliminar.......................................................................... 142
Busca minuciosa ......................................................................... 142
Procedimento do PM na busca preliminar .................................. 142
Procedimento em busca minuciosa ............................................ 143
Recomendaes para quem faz busca pessoal ......................... 145
Busca pessoal em mulheres ....................................................... 145
3-8. Abordagem e vistoria ........................................................... 146
Veculos....................................................................................... 146
Edificaes .................................................................................. 150
Pessoas a p............................................................................... 154
Pessoas na multido................................................................... 155
Pessoas alienadas mentais......................................................... 155
Pessoas alcoolizadas.................................................................. 155
Pessoas drogadas....................................................................... 155
3-9. Cerco.................................................................................... 156
Cerco programado ...................................................................... 156
Cerco ocasional........................................................................... 156
Normas de procedimento durante o cerco.................................. 156
10
3-10. Bloqueio relmpago ........................................................... 159
Disposio das viaturas............................................................... 160
Emprego dos PM no bloqueio ..................................................... 161
Da seleo................................................................................... 161
Da vistoria.................................................................................... 161
Do anotador................................................................................. 161
Da segurana.............................................................................. 161
3-11. Conduo de preso............................................................ 161
Como algemar............................................................................. 161
Conduo de menores ................................................................ 162
Conduo de doentes ................................................................. 163
Conduo de doentes mentais.................................................... 163'
Conduo de brios .................................................................... 163
Entrega de presos ....................................................................... 163
3-12. Perseguio ....................................................................... 163
A p ........................................................................................ 163
Atuao em tiroteio...................................................................... 163
Motorizada................................................................................... 164
3-13. Normas gerais para efetuar priso..................................... 166
Consideraes............................................................................. 166
Conduta do PM............................................................................ 167
Identidade.................................................................................... 168
3-14. Descrio ........................................................................... 168
3-15. Ocorrncias envolvendo integrantes das Foras Armadas,
Polcia Militar e Polcia Civil ............................................... 169
3-16. Ocorrncias policiais em veculos de transporte coletivo
(nibus, trem e metr)........................................................ 170
3-17. Ocorrncias de queda de aeronave................................... 170
3-18. Providncias policiais em crimes contra a pessoa e o
patrimnio .......................................................................... 171
Homicdio..................................................................................... 171
Tentativa de homicdio ................................................................ 171
Suicdio e tentativa de suicdio.................................................... 172
Morte sbita................................................................................. 172
Agresso ..................................................................................... 172
Ameaa (crime de ao privada) ................................................ 172
Desinteligncia ............................................................................ 172
Roubo e furto............................................................................... 172
Artigo 111 - Atividades Sociais e Polticas ............................. 173
3-19. Conceitos ........................................................................... 173
Guerrilha urbana.......................................................................... 173
Aglomerao ............................................................................... 173
Multido....................................................................................... 173
Turba ........................................................................................ 173
11
Manifestao............................................................................... 173
Tumulto ....................................................................................... 173
Distrbio interno ou civil .............................................................. 174
Calamidade pblica..................................................................... 174
Perturbao da ordem pblica .................................................... 174
Terrorismo................................................................................... 174
Sabotagem.................................................................................. 174
3-20. Ao do PM :...................................................................... 174
Coeso e esprito de equipe........................................................ 174
Local com explosivos .................................................................. 174
Vigilncia de pontos vitais ........................................................... 175
3-2 1. Informao ........................................................................ 175
Artigo IV - Recintos Fechados de Freqncia Pblica.......... 175
3-22. Prescries gerais.............................................................. 175
Estabelecimentos de ensino ....................................................... 175
Posto de sade, pronto-socorro, hospital e similares ................. 177
Estaes de embarque e desembarque de passageiros............ 177
Locais interditados....................................................................... 178
Casas de apostas na Loteria Esportiva e Loto............................ 179
Postos de gasolina ...................................................................... 179
Firmas comerciais ou industriais na denominada "Operao
pagamento" ................................................................................. 180
Estabelecimento de freqncia suspeita..................................... 180
Bancos e estabelecimentos financeiros...................................... 182
Artigo V - Diverses Pblicas .................................................. 182
3-23. Prescries gerais.............................................................. 182
3-24. Policiamento em sales de baile........................................ 183
Artigo VI - Policiamento de Praas Desportivas .................... 184
3-25. Conceito de segurana de praa desportiva...................... 184
3-26. Efetivo a ser empregado.................................................... 185
3-27. Planejamento ..................................................................... 186
Dos contatos externos................................................................. 186
Relacionamento........................................................................... 186
Caractersticas prprias das praas desportivas ........................ 187
3-28. Da conduta do pblico........................................................ 187
Dos fatores psicolgicos ............................................................. 187
Reaes do pblico..................................................................... 187
Dos fogos .................................................................................... 187
Armas de fogo e bebidas alcolicas............................................ 188
Conseqncia da euforia............................................................. 188
3-29. Conduta do policiamento.................................................... 188
Locais a serem policiados ........................................................... 188
Prioridades a serem consideradas.............................................. 189
Controle do trnsito ..................................................................... 189
12
Nas bilheterias............................................................................. 190
Nos portes de acesso................................................................ 190
Diante da euforia da assistncia ................................................. 190
Brigas e desordens...................................................................... 190
Diante de crimes e contravenes.............................................. 190
Nos bares .................................................................................... 190
No interior da rea de jogo.......................................................... 190
Diante das invases da rea de jogo.......................................... 191
No controle de tumultos e distrbios ........................................... 191
Em situaes de pnico .............................................................. 191
Em apoio aos organizadores do espetculo ............................... 192
Frente ao delituosa dos guardadores de veculos................ 192
Escolta de rbitros, auxiliares, representantes e delegaes. .... 192
3-30. Limitaes ao do policiamento.................................... 192
Tarefas administrativas prprias da organizao do espetculo 192
No uso de agentes qumicos....................................................... 193
No uso de bombas de efeito moral ............................................. 193
3-31. Disposies gerais ............................................................. 193
Armas ........................................................................................ 193
Garrafas e objetos cortantes....................................................... 193
Objetos e documentos encontrados............................................ 193
Menores de idade........................................................................ 193
Ocorrncias especiais ................................................................. 193
Do armamento da tropa .............................................................. 193
Das comunicaes...................................................................... 193
Artigo VII - Defesa Civil ............................................................. 194
3-32. Consideraes ................................................................... 194
3-33. Ao do PM........................................................................ 194
CAPTULO 4 - Policiamento de Guarda................................... 197
Artigo I - Introduo .................................................................. 197
4-1. Conceito............................................................................... 197
4-2. Apresentao....................................................................... 197
Artigo II - Guarda de Estabelecimentos Penais...................... 198
4-3. Condies gerais.................................................................. 198
Ocorrncias tpicas do servio de guarda externa dos estabele-
cimentos penais .......................................................................... 200
Elementos fundamentais na segurana de estabelecimentos
penais ........................................................................................ 200
4-4. Deveres do PM..................................................................... 200
4-5. Responsabilidade penal ....................................................... 201
Artigo III - Escolta de Presos.................................................... 201
4-6. Normas gerais de escolta .................................................... 201
4-7. Recebimento do preso......................................................... 202
13
4-8. Conduo do preso.............................................................. 203
4-9. Apresentao e entrega do preso........................................ 204
4-10. Locomoo - meios e procedimentos ................................ 205
Por via frrea............................................................................... 205
Por viaturas ................................................................................. 205
Por nibus ................................................................................... 205
Por avio ..................................................................................... 205
Por automvel ............................................................................. 206
4-11. Utilizao de sanitrios ...................................................... 206
4-12. Escolta em velrios ............................................................ 206
4-13. Escolta em hospitais .......................................................... 207
4-14. Deveres dos componentes da escolta............................... 208
Artigo IV - Guarda de Reparties Pblicas ........................... 208
4-15. Condies gerais................................................................ 208
4-16. Mtodos e dispositivos de segurana................................ 209
4-17. Relacionamento com o pblico.......................................... 209
CAPTULO 5 - Policiamento de Trnsito................................. 211
Artigo I - Introduo .................................................................. 211
5-1. Conceito............................................................................... 211
5-2. Apresentao....................................................................... 211
5-3. Misso.................................................................................. 211
5.4. Abrangncias........................................................................ 212
Artigo 11 - Regras Gerais de Execuo .................................. 212
5-5. Policiamento preventivo....................................................... 212
5-6. Princpio de legalidade......................................................... 213
Legalidade das providncias....................................................... 213
Aplicao das penalidades.......................................................... 213
Dvidas quanto caracterizao ................................................ 213
Infraes simultneas ................................................................. 213
Infrao e ilcito penal.................................................................. 213
5-7. Sinalizao........................................................................... 213
Artigo III - Procedimentos Gerais............................................. 214
5-8. Deveres do policial-militar .................................................... 214
Cumprimento das ordens............................................................ 214
Conhecimento do posto de servio............................................. 214
Relacionamento com o pblico ................................................... 214
5-9. Policiamento a p................................................................. 215
Posto de Controle de Trnsito (PCTran)..................................... 215
Posto de Fiscalizao de Trnsito (PFTran) ............................... 217
5-10. Policiamento motorizado.................................................... 217
Em viaturas.................................................................................. 217
Em motocicletas.......................................................................... 218
Artigo IV - Procedimentos Particulares................................... 218
14
5-11. Em terminais de transporte................................................ 218
5-12. Em eventos especiais ........................................................ 219
"Blitz" ........................................................................................ 219
Guinchamento............................................................................. 219
Escoltas....................................................................................... 219
Escolta de dignitrios .................................................................. 219
Escoltas de competies desportivas ......................................... 220
Escoltas de cargas excepcionais ................................................ 221
Consideraes gerais.................................................................. 222
Artigo V - Dos Fatores Adversos Segurana e Circulao222
5-13. Conceito e generalidades................................................... 222
S-14. Fatores adversos mais freqentes .................................... 223
Sinalizao incorreta, insuficiente ou defeituosa......................... 223
Obras ........................................................................................ 223
Cargas na pista ........................................................................... 223
Salincias na pista....................................................................... 224
Veculos quebrados..................................................................... 224
Veculos abandonados................................................................ 224
Queda de fios .............................................................................. 224
Queda de rvores........................................................................ 225
Animais na pista .......................................................................... 225
Incndios ..................................................................................... 225
Desabamentos ............................................................................ 225
Inundaes.................................................................................. 225
Lama ........................................................................................ 225
Artigo VI - Tcnicas Especficas .............................................. 225
5-15. Interceptao e abordagem de condutores ....................... 225
5-16. Fiscalizao de veculos .................................................... 226
Critrios ....................................................................................... 226
Aspectos gerais da fiscalizao .................................................. 227
Particularidades........................................................................... 227
5-17. Verificao de documentos................................................ 228
Critrios ....................................................................................... 228
Documentos obrigatrios ............................................................ 229
Verificao................................................................................... 230
Fotocpias................................................................................... 231
5-18. Fiscalizao da velocidade ................................................ 231
Cronometragem .......................................................................... 231
Controle de velocidade distncia.............................................. 232
Controle atravs de comboio de viatura...................................... 232
Radar ........................................................................................ 233
5-19. Fiscalizao de condutores embriagados.......................... 233
Conceito ...................................................................................... 233
Mtodos de controle de alcoolemia............................................. 233
15
Amparo legal ............................................................................... 233
Providncias................................................................................ 234
Recomendaes bsicas ............................................................ 234
Artigo VII - Da Aplicao de Penalidades................................ 235
5-20. Infrao .............................................................................. 235
5-21. Penalidades........................................................................ 235
5-22. Da apreenso de documentos........................................... 235
5-23. Da remoo do veculo ...................................................... 236
5-24. Da reteno do veculo ...................................................... 236
5-25. Da apreenso do veculo ................................................... 236
5-26. Impedimento ...................................................................... 236
5-27. Recibo e precaues ......................................................... 237
Artigo VIII - Atendimento dos Acidentes de Trnsito ............ 237
5-28. Procedimentos gerais . ...................................................... 237
5-29. Acidentes sem vtimas ....................................................... 238
5-30. Acidentes com vtimas ....................................................... 238
5-31. Acidentes com veculos oficiais ......................................... 240
5-32. Acidentes envolvendo composio ferroviria e metroviria. .240
5-33. Acidentes em recintos fechados de freqncia pblica..... 240
Artigo IX - Aprestos................................................................... 240
5-34. Utilizao............................................................................ 240
Radiotransceptor ......................................................................... 240
Farolete ....................................................................................... 240
Sirene 241
Luz intermitente da viatura .......................................................... 241
Bafmetro.................................................................................... 241
Artigo X - Orientao de Trnsito............................................ 241
5-35. Introduo .......................................................................... 241
5-36. Recomendaes bsicas................................................... 242
CAPTULO 6 - Policiamento Florestal e de Mananciais......... 245
Artigo I - Introduo .................................................................. 245
6- 1. Conceito .............................................................................. 245
6-2. Apresentao....................................................................... 245
6-3. Misses ................................................................................ 246
Artigo II - Peculiaridades do Emprego .................................... 246
6-4. Procedimentos gerais .......................................................... 246
6-5. Procedimentos particulares.................................................. 247
Patrulhamento a p ..................................................................... 247
Patrulhamento montado.............................................................. 248
Patrulhamento motorizado .......................................................... 249
Patrulhamento aqutico............................................................... 249
Patrulhamento areo................................................................... 250
Artigo III - Tcnicas Particulares.............................................. 250
16
6-6. Vistorias para queimadas........................................................... 250
6-7. Abordagem em locais de desmate............................................. 250
6-8. Abordagem em locais de queimadas......................................... 251
6-9. Acampamentos de caadores e pescadores............................. 252
6-10. Indstria, comrcio, consumo e transporte de produtos e/ou
subprodutos florestais ............................................................. 253
6-11. Campanhas educativas............................................................ 253
17
CAPTULO - I
INTRODUO
1.0.- FINALIDADE
1.1 - Este manual consolida, em documento bsico, conceitos e normas es-
senciais uniformidade de procedimentos na execuo do policiamento os-
tensivo fardado.
1.2 - Objetivos
a) Constituir fonte de consulta fundamental para o desenvolvimento do ensino,
da instruo e o desempenho da atividade-fim da Corporao.
b) Estabelecer normas gerais, que no devem ser contrariadas, em desdobra-
mentos, nos manuais especficos de cada tipo de policiamento ostensivo fardado.
c) Estabelecer a integrao de todas as estruturas dedicadas ao Policiamento
Ostensivo, de forma a obter o funcionamento harmnico, pela fixao de uma dou-
trina de atuao na PMESP, facilitando, assim, a elaborao do planejamento, em
seus escales, visando atingir a eficincia, na execuo da atividade-fim.
d) Padronizar procedimentos operacionais comuns aos diversos tipos de polici-
amento ostensivo fardado.
e) Harmonizar o entendimento de termos e expresses, normalmente usadas
no trato dos assuntos relativos s misses policiais-militares.
f) Ressaltar o aspecto preventivo na execuo das atividades policiais militares.
2.0 - CONCEITOS BSICOS
2.1 - Constituio: o conjunto de normas, fixando a estrutura fundamental do
Estado, determinando as funes e competncia de seus rgos principais, estabe-
lecendo os processos de designao dos governantes e declarando os direitos
essenciais das pessoas e suas respectivas garantias. a lei reguladora ou supre-
ma de um pas.
2.2 - Polcia Militar: a Instituio Pblica, organizada com base na hierarquia e
disciplina, incumbida da preservao da ordem pblica e da polcia ostensiva, nos
respectivos Estados, Territrios e no Distrito Federal.
2.3 - Poder de polcia:
a) O poder de polcia, um dos poderes administrativos, a faculdade de que
dispe a administrao pblica para o controle dos direitos e liberdades das pesso-
as, naturais ou jurdicas, inspirado nos ideais do bem COMUM;
b) So atributos do poder de polcia:
1) Discricionariedade: compete ao policial aferir e valorar a atividade policiada,
segundo critrios de convenincia, oportunidade e justia, inclusive quanto san-
o de polcia a ser imposta, tudo nos limites da lei.
2) Auto-executoriedade: o ato de polcia independe de prvia aprovao ou
autorizao do Poder Judicirio para ser concretizado.
18
3) Coercibilidade: o ato de polcia imperativo, admitindo-se o emprego de
fora para concretiz-lo. Entretanto, no pode descambar para o arbtrio, caracteri-
zado pela violncia, pelo excesso.
c) So modos de atuar do poder de polcia:
1) Ordem de polcia: preceito pelo qual o Estado impe limitao s pessoas,
naturais ou jurdicas, para que no se faa aquilo que pode prejudicar o bem co-
mum ou no se deixe de fazer aquilo que poderia evitar prejuzo pblico.
2) Consentimento de polcia: controle prvio feito pelo Estado, compatibilizan-
do o interesse particular com o interesse pblico. Manifesta-se pela licena, vincu-
lada a um direito, ou pela autorizao, discricionria e revogvel a qualquer tempo.
3) Fiscalizao de polcia: a verificao, de ofcio ou provocada, do cumpri-
mento das ordens e consentimentos de polcia. Tem dupla utilidade, a preveno e
a represso das infraes. Quando a fiscalizao de polcia exercida em matria
de ordem pblica, recebe a denominao de policiamento.
4) Sano de Polcia: a interveno punitiva do Estado para reprimir a infra-
o. Tratando-se de ofensa ordem pblica, o constrangimento pessoal, direto e
imediato, na justa medida para restabelec-la.
2.4 - Segurana pblica
a) Estado antidelitual, de valor comunitrio, que resulta da observncia dos
preceitos contidos na legislao penal, podendo resultar das aes policiais preven-
tivas ou repressivas ou ainda da simples ausncia, mesmo que temporria, dos
delitos. A segurana pblica aspecto da ordem pblica e tem nesta seu objeto.
b) A comunidade tem direito e responsabilidade pela segurana pblica, dela
participando, quando adota meios de defesa, que visem a sua segurana fsica e,
tambm, de seu patrimnio.
2.5 - Ordem pblica
a) Situao de tranqilidade e normalidade que o Estado deve assegurar s
instituies e a todos os membros da sociedade, consoante as normas jurdicas
legalmente estabelecidas. A ordem pblica existe quando esto garantidos os direi-
tos individuais, a estabilidade das instituies, o regular funcionamento dos servios
pblicos e a moralidade pblica, afastando-se os prejuzos vida em sociedade,
isto , atos de violncia, de que espcie for, contra as pessoas, bens ou o prprio
Estado.
b) A ordem pblica , sempre, uma noo de valor nacional, composta pelos
seguintes aspectos:
1) Tranqilidade pblica: clima de convivncia pacfica e bem-estar social,
onde reina a normalidade das coisas, isenta de sobressaltos ou aborrecimentos.
a paz pblica na ruas.
2) Salubridade pblica: situao em que se mostram favorveis s condies
de vida.
3) Segurana pblica- vide conceito no item anterior.
2.6 - Preservao da ordem pblica: A preservao da ordem pblica comporta
duas fases: a primeira, em situao de normalidade, quando assegurada median-
te aes preventivas com atitudes dissuasivas e a segunda, em situao de anor-
malidade, estando ofendida a ordem pblica, quando dever ser restabelecida
mediante aes repressivas imediatas, com atitudes de conteno.
19
2.7 - Policiamento ostensivo: So aes de fiscalizao de policia, sobre matria
de ordem pblica, em cujo emprego o homem ou a frao de tropa sejam identifica-
dos de relance, quer pela farda, quer pelo equipamento, armamento ou viatura.
2.8 - Polcia ostensiva
a) Denominao brasileira que evoluiu da expresso "policiamento ostensivo",
ganhando dignidade constitucional com a Carta de 1988 e destinada a preservar a
ordem pblica,
b) A polcia ostensiva apresenta o seguinte perfil:
1) atua preventivamente para assegurar a ordem pblica;
2) atua repressivamente para restabelecer a ordem pblica. No tocante s
infraes penais comuns, limita-se represso imediata, caracterizada no atendi-
mento da ocorrncia, includo o estado de flagrncia;
3) compreende os quatro modos de atuar do poder de polcia;
4) possui investidura militar;
5) exerce as funes de fora policial nos termos da lei;
6) exerce as funes de polcia judiciria militar estadual sobre seus compo-
nentes;
7) integra-se ao sistema de defesa territorial da Nao como fora auxiliar e
reserva do Exrcito.
2.9 - Defesa pblica: o conjunto de atitudes, medidas e aes adotadas para
garantir o cumprimento das leis de modo a evitar, impedir ou eliminar a prtica de
atos que perturbem a ordem pblica.
2.10 - Ttica policial militar: a arte de empregar a tropa em operaes policiais-
militares que visam a assegurar ou restabelecer a ordem pblica.
2.11 - Tcnica policial militar: o conjunto de mtodos e procedimentos usados
para a execuo eficiente das atividades policiais-militares nas aes e operaes
que visem preservao da Ordem Pblica.
2.12 - Regio: o espao fsico atribudo responsabilidade de um Comando
Regional de Polcia Militar (CR/PM), atualmente denominado CPA.
2.13 - rea: o espao fsico atribudo responsabilidade de uma OPM, de esca-
lo Batalho de Polcia Militar (BPM) ou Regimento de Polcia Montada (RPMont).
2.14 - Subrea: o espao fsico, frao de rea, atribudo responsabilidade de
uma OPM, de escalo Companhia PM (Cia PM), ou Esquadro de Polcia Montada
(Esqd P Mont).
2.15 - Setor: o espao fsico, frao de subrea, atribudo responsabilidade de
um Peloto PM (Pel PM).
2.16 - Subsetor: o espao fsico, frao de setor, atribudo responsabilidade de
um Grupo PM (Gp PM).
20
2.17 - Posto
a) Mdulo
1) o espao fsico onde se presume que uma patrulha ou o PM isolado pos-
sa cumprir suas atribuies regulamentares e legais.
2) Para cada processo, modalidade e condio de carga de trabalho o posto
elaborado a um modulo, e havendo necessidade podero vir tantos quantos forem
necessrios.
b) Ponto de estacionamento
1) o local onde a patrulha deve permanecer estacionada desde que no
esteja atendendo ocorrncia policial ou em patrulhamento;
2) So eles:
- PEP: Ponto de Estacionamento Principal e,
- PES: Ponto de Estacionamento Secundrio.
c) Ponto base
o espao fsico que, por ser local de risco, exige a presena da patrulha,
contnua ou temporariamente.
2.18 - Itinerrio de patrulhamento: a sucesso de pontos, de passagem obriga-
tria, sujeitos vigilncia por um homem, uma dupla ou mesmo, maior nmero de
PM.
a) Foras e Servios de Apoio
1) So constitudas por rgos e fraes de alto grau de especializao, desti-
nando-se ao apoio, quando necessrio, s demais foras;
2) So elas:
- Apoio areo;
- Servios de informaes;
- Servios de subsistncia;
- Servios de transportes;
- Servios de guarda interna;
- Servios de assuntos internos;
- Servios de escolta de presos;
- Servios de bombeiros.
b) Foras Tticas
1) So destinadas, principalmente, a emprego, sem que haja vnculao rea
a ser coberta por elas, em misses tticas e eventuais, existam ou no de forma
permanente na Corporao;
2) Constituem reservas dos Comandos incumbindo-lhes a execuo das se-
guintes misses:
- Policiamento de choque;
- Policiamento ostensivo geral;
- Patrulhamento ttico;
- Policiamento de eventos.
c) Foras Tticas Especiais
1) Frao de aes tticas especiais: destina-se ao apoio s Foras de Patru-
lha em casos graves, sendo de estrutura permanente na Capital, podendo ser em-
pregada em todo o Estado;
2) Frao de operaes especiais: destina-se execuo de misses especi-
ais em zonas rurais, particularmente montanhas e reas florestais, visando buscas
21
e capturas, sendo de estrutura permanente na Capital, podendo ser empregada em
todo o Estado.
3) Frao de operaes com ces: destina-se execuo de policiamento com
auxlio de ces.
d) Foras de Patrulhas Territoriais
1) incumbe-lhes desenvolver o patrulhamento voltado para o policiamento
ostensivo em seus processos e modalidades, sob comando nico na rea de res-
ponsabilidade;
2) so ligadas por organizao e doutrina responsabilidade territorial.
e) Foras de Patrulhas Especiais
1) so as que possuem competncia especial em razo da matria sobre a
qual, atuam, desenvolvendo misses especializadas, juntamente com as Foras de
Patrulhas Territoriais, no mesmo espao fsico, porm sob o comando de policia-
mento especializado.
2) So elas:
- Policiamento de trnsito urbano;
- Policiamento florestal e de mananciais;
- Policiamento de trnsito rodovirio;
- Policiamento de guarda.
f) Carto Itinerrio de Patrulhamento (CIP)
a representao grfica dos itinerrios a serem percorridos durante o patru-
lhamento.
2.19 - Patrulhar: exercer atividade mvel de observao, de fiscalizao, de
proteo, de reconhecimento, ou, mesmo, de emprego de fora.
2.20 -Local de risco: todo local que por suas caractersticas apresenta elevada
probabilidade de risco para a ordem pblica, especialmente, ncolumidade das
pessoas e do patrimnio.
2.21 - Ocorrncia policial-militar: todo fato que exige interveno policial-militar,
por intermdio de aes ou operaes.
2.22 - Ao policial-militar: o desempenho isolado de frao elementar ou cons-
tituda, com autonomia para cumprir misses rotineiras de Policiamento Ostensivo.
2.23 - Operao policial-militar: a conjugao de aes, executada por frao
de tropa constituda, que exige planejamento especfico.
2.24 - Frao elementar: o efetivo de at trs PM para emprego coordenado.
2.25 - Frao constituda: o efetivo de tropa com, no mnimo, 1 Gp PM.
2.26 - Sistemas de policiamento:
a) So constitudos pelas subestruturas de patrulhamento da PMESP, especifi-
cadas na forma adiante, que agem sobre rea geogrfica comum:
1) Foras de Patrulhas Territoriais (BPM e CPA da Capital e Interior);
2) Foras de Patrulhas Especiais;
3) Foras Tticas;
22
4) Foras e Servios de Apoio.
3.0 - CARACTERSTICAS E PRINCPIOS DAS ATIVIDADES POLICIAIS-
MILITARES
3.1 - Caractersticas: So aspectos gerais de que se reveste a atividade policial-
militar, definindo-lhe o campo de atuao e as razes de seu desencadeamento.
3.2 - Princpios: So os fundamentos que devem ser considerados no planejamen-
to e na execuo das atividades policiais-militares, visando a eficcia operacional.
4.0 - CARACTERSTICAS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO
4.1 - Ao pblica: O policiamento ostensivo exercido, visando a preservar o
interesse geral de segurana pblica nas comunidades, resguardando o bem co-
mum em sua maior amplitude. No se confunde com zeladoria - atividade de vigi-
lncia particular de bens ou reas -, nem com a segurana pessoal de indivduos
sob ameaa. A eventual atuao, nessas duas situaes, poder ocorrer por conta
das excepcionaldades e no como regra de observncia imperativa.
4.2 - Totalidade: O Policiamento Ostensivo uma atividade essencialmente din-
mica, que tem origem na necessidade comum de segurana da comunidade, permi-
tindo-lhe viver em tranqilidade pblica. desenvolvido sob os aspectos preventivo
e repressivo, consoante seus elementos motivadores, assim considerados os atos
que possam se contrapor ou se contraponham Ordem Pblica. Consolida-se por
uma sucesso de iniciativas de planejamento e execuo ou em razo de clamor
pblico. Deve fazer frente a toda e qualquer ocorrncia, quer por iniciativa prpria,
quer por solicitao, quer em razo de determinao. Em havendo envolvidos (pes-
soas, objetos), quando couber, sero encaminhados aos rgos competentes, ou
estes cientificados para providncias, se no implicar em prejuzo para o incio do
atendimento.
4.3 - Dinmica
a) O desempenho do sistema de policiamento ostensivo ser feito, com priori-
dade, no cumprimento e no aperfeioamento dos planos de rotina, com o fim de
manter continuado o ntimo engajamento da tropa com sua circunscrio, para
obter o conhecimento pormenorizado do terreno e dos hbitos da populao, a fim
de melhor servi-Ia. O esforo feito para manuteno dos efetivos e dos meios na
execuo daqueles planos - que contero o rol de prioridades - pela presena con-
tinuada, objetivando criar e manter na populao a sensao de segurana que
resulta na tranqilidade pblica, objetivo final da manuteno da ordem pblica. As
operaes policiais-militares, destinadas a suprir exigncias no atendidas pelo
policiamento existente em determinados locais, podero ser executadas esporadi-
camente, em carter supletivo, por meio de saturao - concentrao macia de
pessoal e material para fazer frente inquietante situao temporria, sem prejuzo
para o plano de policiamento.
23
b) Toda anlise e trabalho de planejamento administrativo ou operacional de-
vem levar em conta objetivos globais, de forma que conheamos o todo, para ter-
mos eficincia operacional e o mximo de aproveitamento.
c) O policiamento ostensivo no deve ser organizado de maneira rgida e imu-
tvel. Ter de ser flexvel para adaptar-se s situaes anormais atendendo o cla-
mor da comunidade objetivando o pronto e pleno restabelecimento da ordem pbli-
ca.
4.5 - Legalidade
As atividades de policiamento ostensivo desenvolvem-se dentro dos limites que
a lei estabelece. O exerccio do poder de polcia discricionrio, mas no arbitrrio.
Seus parmetros so a prpria Lei, em especial os direitos e garantias fundamen-
tais previstos na Constituio Federal.
H situaes em que o policial-militar atua discricionariamente em defesa da
moralidade pblica e do bem comum, nesses casos seus limites continuam sendo
as garantias constitucionais.
4.6 - Ao de presena
a) a manifestao que d comunidade a sensao de segurana, pela
certeza de cobertura policial-militar. Ao de presena real consiste na presena
fsica do policial-militar, agindo por dissuaso nos locais onde a probabilidade de
ocorrncia seja grande.
Ao de presena potencial a capacidade de o policiamento ostensivo, num
espao de tempo mnimo (tempo de resposta), acorrer a local onde uma ocorrncia
policial-militar iminente ou j se tenha verificado.
b) Entre outras so aes de policiamento ostensivo:
1) verificaes localizadas de pessoas e/ou instalaes;
2) patrulhamento a p e motorizado;
3) investigaes de campo;
4) pronto-socorrismo;
5) fiscalizao das normas de trnsito;
6) colaborao no fluxo de trnsito local;
7) atendimento de acidente de trnsito;
8) segurana escolar;
9) preveno de tumultos.
5.0 - PRINCPIOS DE POLICIAMENTO OSTENSIVO
5.1 - Universalidade
As atividades policiais-militares se desenvolvem para a preservao da ordem
pblica, tomada no seu sentido amplo. A natural, e s vezes imposta, tendncia
especializao, no constitui bice preparao do policial-militar capaz de dar
tratamento adequado aos diversos tipos de ocorrncias. Ao PM, especialmente
preparado para determinado tipo de policiamento, caber a adoo de medidas,
ainda que preliminares, em qualquer ocorrncia policial-militar. O cometimento de
tarefas policiais-militares especficas no desobriga o PM do atendimento de outras
ocorrncias, que presencie ou para o qual seja convocado.
Os atos de polcia ostensiva, exteriorizao do poder de polcia, ocorrem sem-
pre nas formas preventiva ou repressiva, de polcia administrativa ou de polcia
24
judiciria, independentemente da legislao especfica que o policial-militar estiver
aplicando.
5.2 - Responsabilidade territorial: Os elementos em comando, com tropa desdo-
brada no terreno so responsveis, perante o escalo imediatamente superior, pela
preservao da ordem pblica na circunscrio territorial que lhes estiver afeta,
para execuo do policiamento ostensivo. Como dever, compete-lhes a iniciativa de
todas as providncias legais e regulamentares, visando a ajustar os meios que a
Corporao aloca ao cumprimento da misso naquele espao territorial considera-
do.
5.3 - Continuidade: O policiamento ostensivo atividade essencial, de carter
absolutamente operacional, e ser exercido diuturnamente. A satisfao das ne-
cessidades de segurana da comunidade compreende um nvel tal de exigncias,
que deve encontrar resposta na estrutura organizacional, nas rotinas de servio e
na mentalidade do PM.
5.4 - Efetividade: O aproveitamento dos recursos destinados PMESP dever se
realizar de forma a otimiz-los. A busca da eficcia operacional realizar-se- tendo
em vista a eficincia e o constante aprimoramento da produtividade da Corporao.
5.5 - Aplicao
(a) O policiamento ostensivo fardado, por ser uma atividade facilmente identifi-
cada pelo uniforme, exige ateno e atuao ativas de seus executantes, de forma
a proporcionar o desestmulo ao cometimento de atos antisociais, pela atuao
preventiva. A omisso, o desinteresse e a apatia so fatores geradores de descrdi-
to e desconfiana, por parte da comunidade, e revelam falta de preparo individual e
de esprito de corpo.
(b) O policial-militar deve estar o mais prximo possvel da comunidade onde
serve, sabendo das opinies, dos problemas, procurando conhecer a populao
com a qual est em contato.
5.6 - Iseno: No exerccio profissional, o policial-militar, atravs de condiciona-
mento psicolgico, atuar sem demonstrar emoes ou concepes pessoais. No
dever haver preconceitos quanto profisso, nvel social, religio, raa, condio
econmica ou posio poltica das partes envolvidas. Ao PM cabe observar a igual-
dade do cidado quanto ao gozo de seus direitos e cumprimento de seus deveres
perante lei, agindo sempre com imparcialidade e impessoalidade.
5.7 - Emprego lgico
a) A disposio de meios, para execuo do policiamento ostensivo, deve ser o
resultado de julgamento criterioso das necessidades, escalonadas em prioridades
de atendimento, de dosagem do efetivo e do material, compreendendo o uso racio-
nal do que est disponvel, bem como de um conceito de operao bem claro e
definido, consolidado em esquemas exeqveis.
b) Dever a Polcia Militar distribuir seus recursos, de acordo com as necessi-
dades, fazendo com que a comunidade tenha um bom nvel de servios prestados,
evitando-se o atendimento preferencial.
25
c) O policiamento ostensivo sendo empregado de forma integrada e coordena-
da sob um nico Comando proporcionar o emprego racional de recursos humanos
e materiais.
5.8 - Antecipao
a) A fim de ser estabelecido e alcanado o esprito predominantemente preven-
tivo do policiamento ostensivo, devem ser adotadas providncias tticas e tcnicas,
destinadas a minimizar a surpresa, fazendo face ao fenmeno da evoluo da cri-
minalidade, caracterizando, em conseqncia, um clima de segurana na coletivi-
dade.
b) Para que haja sucesso na antecipao faz-se necessria a utilizao de
informaes de natureza administrativa e criminal, pois com base nessas informa-
es ocorrer o planejamento adequado.
5.9 - Profundidade: A cobertura de locais de risco no ocupados e (ou) o reforo a
pessoal empenhado devem ser efetivados ordenadamente, seja pelo judicioso
emprego da reserva, seja pelo remanejamento dos recursos imediatos, ou mesmo,
se necessrio, pelo progressivo e crescente apoio, que assegura o pleno exerccio
da atividade. A superviso e a coordenao, realizadas por oficiais e graduados,
tambm integram este princpio, medida que corrigem distores e elevam o
moral do executante.
5.10 - Unidade de comando: Em eventos especficos, que exijam emprego de
diferentes unidades, a misso melhor cumprida quando se designa um s co-
mandante para a operao, o que possibilita a unidade de esforo pela aplicao
coordenada de todos os meios.
5.11 - Objetivo: O objetivo do policiamento ostensivo assegurar ou restabelecer a
ordem pblica. alcanado por intermdio do desencadeamento de aes e ope-
raes, integradas ou isoladas, com aspectos particulares definidos.
6.0 - VARIVEIS DO POLICIAMENTO OSTENSIVO
6.1 - Conceituao: So os critrios (tipo, processo, modalidade, circunstncia,
lugar, tempo, nmero, forma), que identificam os aspectos principais da execuo
do policiamento ostensivo fardado. (Fig. I-I)
6.2 - Tipos: So qualificadores das aes e operaes de policiamento ostensivo:
6.2.1 - Policiamento ostensivo geral: Tipo de policiamento ostensivo que visa a
satisfazer as necessidades bsicas de segurana, inerentes a qualquer comunida-
de ou a qualquer cidado.
6.2.2 - Policiamento de trnsito urbano ou rodovirio: Tipo especfico de policiamen-
to ostensivo, executado em vias terrestres abertas livre circulao, visando a
disciplinar o pblico no cumprimento e respeito s regras e normas de trnsito,
estabelecidas por rgo competente, de acordo com o Cdigo Nacional de Trnsito
e legislao pertinente.
6.2.3 - Policiamento florestal e de mananciais: Tipo especfico de policiamento os-
tensivo que visa a preservar a fauna, os recursos florestais, as extenses d'gua e
26
mananciais, contra a caa e a pesca ilegais, a derrubada indevida ou a poluio.
Deve ser realizado em cooperao com rgos competentes, federais ou estaduais.
6.2.4 - Policiamento de guarda: Tipo especfico de policiamento ostensivo que visa
guarda de aquartelamentos, segurana externa de estabelecimentos penais e
segurana fsica das sedes dos poderes estaduais e outras reparties pblicas de
importncia, assim como escolta de presos fora dos estabelecimentos penais.
6 3 - Processos: So caracterizados pelos meios de locomoo utilizados, que
podem ser:
1) a p;
2) motorizado,-
3) montado;
4) areo;
5) em embarcao:
6) em bicicleta.
6.4 - Modalidades: So modos peculiares de execuo do policiamento ostensivo:
6.4.1 - Patrulhamento: a atividade mvel de observao, fiscalizao, reconheci-
mento, proteo ou, mesmo, de emprego de fora.
a) Tendo em vista sua ampla utilidade a patrulha tem de ser o centro de aten-
o, no desenvolvimento tecnolgico da Polcia Militar, visando a que o usurio seja
atendido no local onde se encontra.
6.4.2 - Permanncia: a atividade predominantemente esttica, executada pelo
policial militar, isolado ou no, em local de risco ou posto fixo, dentro do mdulo,
preferencialmente contando com possibilidade de comunicao.
6.4.3 - Diligncia: a atividade de busca e apreenso de objetos e (ou) busca e
captura de pessoas em flagrante delito ou mediante mandado judicial.
6.4.4 - Escolta: a atividade de policiamento ostensivo destinada custdia de
pessoas ou bens, em deslocamento.
6.5 - Circunstncias: So condies que dizem respeito freqncia com que se
torna exigido o policiamento ostensivo.
6.5.1 - Ordinrio: o emprego rotineiro de meios operacionais em obedincia a um
plano sistemtico, que contm a escala de prioridades.
6.5.2 - Extraordinrio: o emprego eventual e temporrio de meios operacionais,
face a acontecimento imprevisto, que exige manobra de recursos.
6.5.3 - Especial: o emprego temporrio de meios operacionais, em eventos previ-
sveis que exijam esforo especfico.
6.6 - Lugar: o espao fsico em que se emprega o Policiamento Ostensivo.
6.6.1 - Urbano: o policiamento executado nas reas edificadas e de maior con-
centrao populacional dos municpios.
6.6.2 - Rural: o policiamento executado em reas que se caracterizam pela ocu-
pao extensiva, fora dos limites da rea urbana municipal.
6.7 - Nmero: o efetivo empenhado em uma ao ou operao.
a) Frao elementar:
1 PM
2 PM
27
3 PM
b) Frao constituda:
Gp PM
Pel PM
Cia PM - Esqd
BPM - RPMont
6.8 - Forma: a disposio da tropa no terreno para execuo do Policiamento
Ostensivo.
6.8.1 - Desdobramento: Constitui a distribuio das UOp no terreno, devidamente
articuladas at o nvel Gp PM, com limites de responsabilidades perfeitamente
definidos.
6.8.2 - Escalonamento: o grau de responsabilidade dos sucessivos e distintos
nveis da cadeia de comando, no seu espao fsico.
6.9 - Tempo: a durao de empenho dirio do policial-militar no Policiamento
Ostensivo.
6.9.1 - Jornada: o perodo de tempo, equivalente s 24 horas do dia, em que se
desenvolvem as atividades de Policiamento Ostensivo.
6.9.2 - Turno: a frao da jornada com um perodo de tempo previamente deter-
minado.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 1.1 - variveis do policiamento ostensivo
7.0 - PROCEDIMENTOS BSICOS
7.1 - Conceituao: So Comportamentos padronizados, que proporcionam as
condies bsicas para o pleno exerccio das funes policiais-militares, e, por isso,
refletem o nvel de qualificao profissional do homem e da corporao. Compre-
endem os requisitos bsicos, as formas de empenho em ocorrncias, os fundamen-
tos legais e as tcnicas mais usuais.
7.2 - Requisitos Bsicos
7.2.1 - Conhecimento da misso: O desempenho das funes de policiamento
ostensivo impe como condio essencial para eficincia operacional, o completo
conhecimento da misso, que tem origem no prvio preparo tcnico-profissional,
decorre da qualificao geral e especfica e se completa com o interesse do PM.
7.2.2 - Conhecimento do local de atuao: Compreende o conhecimento de to-
dos os aspectos fsicos do terreno, de interesse policial-militar, assegurando a fami-
liarizao indispensvel ao melhor desempenho operacional.
7.2.3 - Acessibilidade: Deve ser facilitada comunidade, o acesso aos servios da
Polcia Militar seja pelo telefone ou pelo local de estacionamento da patrulha. Tam-
bm devem ser amplamente divulgados os endereos das unidades policiais-
militares.
7.2.4 - Relacionamento: Compreende o estabelecimento de contatos com os inte-
grantes da comunidade, proporcionando a familiarizao com seus hbitos, costu-
mes e rotinas, de forma a assegurar o desejvel nvel de controle policial-militar,
28
para detectar e eliminar as situaes de risco, que alterem ou possam alterar o
ambiente de tranqilidade pblica.
7.2.5 - Postura e compostura: A atitude, compondo a apresentao pessoal e a
correo de maneiras no encaminhamento de qualquer ocorrncia, influi decisiva-
mente na confiabilidade do pblico em relao Corporao e mantm elevado o
posicionamento do PM, facilitando-lhe, em conseqncia, o desempenho operacio-
nal.
7.2.6 - Comportamento na ocorrncia: O carter impessoal e imparcial da ao
policial-militar revela a natureza eminentemente profissional da atuao, em qual-
quer ocorrncia, e requer seja revestida de urbanidade, energia serena, brevidade
compatvel e, sobretudo, iseno.
7.3 - Formas de empenho em ocorrncias
7.3.1 - Averiguao
a) Conceituao
o empenho do PM, visando constatao do grau de tranqilidade desejvel
e (ou) tomada de dados e exame de indcios, que podero conduzir a providn-
cias subseqentes.
b) Destaques
A averiguao normalmente se processa para esclarecimento de comporta-
mento incomum ou inadequado e de alterao na disposio de objetos e instala-
es. Merecem a ateno especial do policial-militar os seguintes eventos, dentre
outros:
- pessoa encostada em carro, altas horas da noite;
- pessoa retirando-se furtivamente por ruas mal iluminadas;
- estabelecimentos comerciais s escuras, quando normalmente permane-
cem iluminados, ou vice-versa;
- aglomerao em torno de pessoa cada na via pblica;
- veculos estacionados de maneira irregular ou abandonados;
- elementos em terrenos baldios;
- elementos rondando escolas, parques infantis etc.
7.3.2 - Advertncia
a) Conceituao
o ato de interpelar o cidado encontrado em conduta inconveniente, buscan-
do a mudana de sua atitude, a fim de evitar o cometimento de contraveno penal
ou crime.
b) Destaques
1) Em sendo a preveno das infraes a principal meta do policiamento os-
tensivo, o policial-militar intervir, advertindo quem se encontre em atitude anti-
social, que possa ser sanada. Advertir no significa ameaar ou proferir lio de
educao moral. A advertncia , antes, uma interpelao feita pelo PM, para que
algum mude de atitude, e compreende apenas:
- dizer que aquilo que o indivduo est fazendo poder constituir-se em con-
traveno penal ou crime;
- solicitar que o advertido adote conduta conveniente.
2) Jamais o PM dever dizer o que pode fazer, como por exemplo: posso
prend-lo por isso", ou "se eu quisesse, poderia prend-lo". Se atacado, mudando o
advertido seu comportamento, o caso ser encerrado; mantendo-se intolerante o
29
admoestado, o PM dever conduzi-lo ao Distrito Policial respectivo. As advertncias
sero feitas em tom de voz compatvel e atitudes profissionais e impessoais. De-
vemos considerar que ningum recebe uma advertncia sem argumentar, alegando
sempre ter razo; a inabilidade do policial-militar poder transformar uma simples
advertncia em ocorrncia mais grave. Em tais tipos de contato, importante a
forma de interpelao, que poder ser realizada da seguinte maneira:
- encaminhar-se ao cidado com naturalidade, sem qualquer gesto ou atitude
que denuncie exaltao de nimo;
- manter a cabea erguida e os membros eretos, refletindo atitude de firmeza;
- no empunhar talo de notificao, caneta ou basto, antes da interpelao,
pois isso demonstra uma conduta preconcebida da parte do policial-militar.
3) Lembrar sempre que firmeza, com serenidade, desencoraja reao. Nada
poder ser alegado contra sua conduta se a mesma for de cortesia e firmeza ao
fazer cumprir a Lei.
7.3.3 - Orientao
a) Conceituao: o ato de prevenir a ocorrncia de delitos atravs do esclare-
cimento ao cidado, sobre as medidas de segurana que o mesmo deve tomar.
b) Destaques
1) Sendo o policial-militar o responsvel pela segurana pblica, deve ser o
principal orientador da comunidade nesse mister. A orientao segura e precisa faz
com que o cidado sinta-se protegido, ou seja, um alvo de ateno por parte do
PM, o que proporciona o desenvolvimento da confiana e do respeito ao servio
executado. A confiana e o respeito, por sua vez, traro ao PM grandes benefcios
na rea das informaes sobre delitos e pessoas, facilitando em muito o seu servi-
o.
2) Os estabelecimentos comerciais de qualquer espcie, merecem ateno
especial do PM, no sentido da orientao quanto s medidas de segurana que
devem ser tomadas. Tambm o cidado comum deve ser observado e orientado,
sempre com correo de atitudes e cortesia sobre as maneiras pelas quais poder
prevenir ou dificultar o arrombamento de sua casa, o furto de sua bolsa, um "assal-
to", o roubo de seu automvel etc.
7.3.4 - Priso
a) Conceituao
o ato de privar da liberdade algum encontrado em flagrante delito ou em
virtude de mandado judicial.
b) Destaques
1) Flagrante delito
- Qualquer do povo poder e as autoridades policiais e seus agentes devero
prender quem:
- est cometendo a infrao penal;
- acaba de comet-la;
- perseguido pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, logo
aps cometer a infrao penal,
- encontrado, logo depois, com instrumentos, objetos ou papis que faam
presumir ser ele o autor da infrao.
2) Mandado Judicial
- a ordem escrita da autoridade competente (juiz de direito) determinando a:
- priso preventiva;
- priso em virtude de pronncia;
30
- priso por efeito de condenao.
- O mandado judicial deve: ser lavrado pelo escrivo e assinado pela autori-
dade que o expede;
- designar a pessoa, que deve ser presa, pelo seu nome, alcunha e sinais
caractersticos;
- mencionar a infrao penal que motivar a priso;
- ser dirigido a quem tiver qualidade para dar-lhe execuo.
c) Precaues
1) A priso pode ser efetuada em qualquer dia e a qualquer hora, desde que
respeitadas as restries relativas inviolabilidade do domiclio.
2) Para efetuar a priso, admissvel que o policial-militar empregue fora
fsica moderada, sempre sem violncia arbitrria ou abuso de poder, nos casos de:
- resistncia;
- agresso;
- tentativa de fuga.
3) necessrio, portanto, que o policial-militar, ao efetuar a priso, adote cau-
telas apropriadas, no se excedendo no emprego de fora, mesmo sendo provoca-
do. Prendendo algum, o policial militar responsvel pela preservao da sua
integridade fsica. A inexistncia de testemunho no impedir que uma priso seja
feita. Em havendo testemunhas, sero relacionadas, preferencialmente, as que
presenciaram os fatos.
4) Diante de anormalidade ou irregularidade que no puder solucionar, a inter-
veno do policial-militar, quer solicitando a presena de seu superior, quer condu-
zindo o cidado delegacia, far-se-, sempre, no sentido de resguardar o interesse
social e evitar mal maior. Em havendo fundadas suspeitas de responsabilidade em
crime ou contraveno, isto , quando os elementos de convico do PM forem
suficientes e necessrios para estabelecer nexo entre o suspeito e um fato ocorrido,
no constitui constrangimento ilegal conduzir algum ao Distrito Policial para escla-
recimento mais amplo dos fatos.
5) com o desenvolvimento do Sistema de Informaes Policiais (SIPO), o poli-
cial-militar poder de imediato, via rdio ou fone, consultar os antecedentes crimi-
nais do detido, especialmente sobre a existncia ou no de mandado de priso
contra ele. Da mesma forma podero ser consultados veculos e armas. Com tais
providncias reduz-se a conduo de pessoas a Distritos Policiais, ao mnimo ne-
cessrio.
7.3.5 - Assistncia
a) Conceituao
todo auxlio essencial ao pblico, prestado pelo policial-militar de forma pre-
liminar, eventual e no compulsria.
b) Destaques
Existem rgos pblicos e particulares incumbidos e especializados em prestar
assistncias diversas. Contudo, h circunstancias que exigem imediato auxlio, a
fim de evitar ou minimizar riscos e danos comunidade; nestes casos, o PM pode
acorrer por iniciativa prpria ou atendendo a solicitaes. A assistncia prestada
no interesse da segurana e do bem-estar pblico e deve contribuir para realar o
conceito da Corporao junto ao pblico externo. Gestos de civilidade e elegncia
repercutem favoravelmente e devem ser praticados, embora no constituam um
dever legal.
7.3.6 - Autuao
31
a) Conceituao
o registro escrito da participao do PM em ocorrncia, retratando aspectos
essenciais, para fins legais e estatsticos, normalmente feito em ficha, talo ou
Boletim de Ocorrncia da Polcia Militar (BO/PM), em se tratanto de infrao penal,
ter sempre em vista o xito da persecuo criminal,
b) Destaques
O PM, ao registrar particularidades de ocorrncia atendida, deve primar pela
imparcialidade, somente mencionando circunstncias relevantes constatadas. No
deve, sob qualquer pretexto, transcrever as verses apresentadas pelas partes
envolvidas ou concluses pessoais apressadas.
7.4 - Prevalncia do aspecto preventivo sobre o repressivo na atuao da Po-
licia Militar
7.4.1 - Considerao fundamental
a) Embora a Corporao possa atuar, em determinadas circunstncias, de
maneira repressiva, a ao da Polcia Militar deve ser essencialmente preventiva,
porque a presena constante e irrepreensvel do PM tem, em termos concretos,
maior influncia no comportamento dos cidados do que o carter intimidativo da
prpria lei.
b) Deve ser dado nfase s aes preventivas, de modo que a patrulha fique
liberada, para policiar o seu modulo, em pelo menos 90% de seu turno. Para que
isso efetivamente ocorra h necessidade de adequar o modulo ao objetivo.
7.4.2 - Aspectos relevantes
a) A atuao, em termos preventivos, da Polcia Militar, importantssima,
porque a simples ao de presena ostensiva, hbil, atenta, apoiada sempre no
exemplo e no esprito de justia, constitui fator de desestmulo prtica de ilcitos
penais e a melhor garantia da respeitabilidade da lei;
b) Em razo de a Polcia Militar atuar de maneira ostensiva, exercendo suas
atribuies vista de todos, utilizando uniforme que a identifica, o PM deve adotar,
permanentemente, elevada conduta moral, quer no exerccio funcional, quer na vida
privada;
c) Na execuo do policiamento ostensivo, o PM deve colocar-se, sempre, em
condies de observar bem e, simultaneamente, ser facilmente visto, com o objeti-
vo de melhor atender, em caso de informaes e auxlio ao pblico, desestimulan-
do, em decorrncia, a prtica de aes anti-sociais ou delituosas.
32
CAPITULO II
Conhecimentos Bsicos
1.0 - ASPECTOS LEGAIS
1.1 - Crime: toda a ao tpica, antijurdica, culpvel e punvel, a que a lei comina
pena de recluso ou de deteno, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulati-
vamente com a pena de multa.
1.2 - Contraveno: a infrao penal a que a lei comina isoladamente pena de
priso simples, ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente.
1.3 - Trao distintivo entre crime e contraveno
a) Das definies anteriores conclu-se que tanto o crime como a contraveno
constituem violao da norma penal e que, segundo a lei brasileira, o trao que os
distingue reside unicamente na cominao. Isto porque ambos - crime e contraven-
o - no diferem no que diz respeito natureza, mas, sim, relativamente gravi-
dade. O crime falta grave, da qual resulta sempre um dano para o cidado, consi-
derado isoladamente, ou para a sociedade a que ele pertence. A contraveno
falta leve, em que existe somente expectativa de, atravs dela, chegar-se a um
resultado danoso.
b) A punio dos atos contravencionais tem aspecto mais preventivo do que
propriamente repressivo, de vez que, ao puni-lo, a lei visa, acima de tudo, a evitar
mal maior. As penas cominadas s contravenes - priso simples, ou muita - so
mais leves do que as impostas aos crimes.
1.4 - Crimes de ao pblica e de ao privada
a) Como regra, a ao penal pblica.
b) Somente quando a lei expressamente declara, ser privativa do ofendido.
c) Quando o crime for de ao privada, constar abaixo do Artigo ou Captulo a
expresso: "S se procede mediante queixa".
d) H ainda a chamada Ao Pblica Condicionada, que depender de uma
representao do ofendido e, em certos casos, de requisio do Ministro da Justia.
Nestes casos, tambm constar a expresso: ."Representao" ou "Requisio",
abaixo do Artigo ou Captulo.
e) Principais crimes de ao privada:
- Atentado ao pudor
- Calnia
- Concorrncia desleal
- Corrupo de menores
- Dano
- Difamao
- Esbulho possessrio
- Estupro
- Injria
- Rapto
- Seduo
f) Nos crimes de ao privada, o PM no pode forar uma situao, que priva-
tiva do ofendido; ele pode orientar a vtima a proceder a queixa ou a representao.
33
Ex.: comum o PM, ao atender a uma ocorrncia de desavena entre marido e
mulher, ao invs de orientar a parte queixosa, agir alm do que a lei lhe permite e,
ao final, acaba por responder em juzo, por violao de domiclio, leses corporais
etc.
1.5 - Excluso de criminalidade
a) No h crime quando o agente pratica o fato:
1) em estado de necessidade;
2) em legtima defesa;
3) em estrito cumprimento do dever legal ou no exerccio regular de direito.
b) Estado de necessidade - considera-se em estado de necessidade quem
pratica o fato para salvar de perigo atual, que no provocou por sua vontade, nem
podia de outro modo evitar, direito prprio ou de outrem, cujo sacrifcio, nas circuns-
tncias, no era razovel exigir-se. No pode alegar estado de necessidade quem
tinha o dever legal de enfrentar o perigo.
c) Legtima defesa - entende-se em legtima defesa quem, usando moderada-
mente os meios necessrios, repele injusta agresso, atual ou iminente, a direito
seu ou de outrem. So requisitos essenciais da legtima defesa:
1) Uso moderado de meios - trata-se da moderao da repulsa ao agressor.
Permite o uso moderado de meios desde a simples defesa at a ofensiva violncia,
tudo dependendo da intensidade da agresso. No se entende em legtima defesa
o cidado que, sendo agredido a bofetes, por uma pessoa fraca, desfecha-lhe um
tiro de revlver.
2) Agresso injusta - aquela sem prvia provocao da vtima, pois se esta a
provocou, no fica caracterizada a agresso injusta.
3) Atualidade ou iminncia da agresso - s podemos empregar os meios
necessrios para nos defender, quando a agresso est sendo praticada ou prestes
a ocorrer; passada a atualidade j ter desaparecido o direito.
4) Direito a defender - este requisito abrange todo o interesse, juridicamente
protegido, do agente que invoca a legtima defesa sua ou de terceiros. Normalmen-
te a vida, a integridade fsica, a propriedade etc.
d) Estrito cumprimento do dever legal - fazer exatamente aquilo que, por fora
de lei, estava obrigado a fazer. Ex.: num pas em que haja pena de morte, o carras-
co que executa o sentenciado no comete crime, pois age no estrito cumprimento
do dever legal.
e) Exerccio regular de direito - fazer aquilo que a lei permite que se faa. Ex.:
o cirurgio que, com um bisturi, corta o abdmen de outra pessoa com a finalidade
de oper-la, estar no exerccio regular de direito, embora tenha praticado leso
corporal.
1.6 - Imunidades
a) Imunidade significa inviolabilidade, iseno de certas pessoas em vista do
cargo ou funo que exercem.
b) H dois tipos de imunidades: Diplomticas ou Absolutas e Parlamentares ou
Relativas.
1.6.1 - Imunidades Diplomticas (absolutas):
a) as Embaixadas (pessoas jurdicas) e os Embaixadores (pessoas fsicas)
gozam de imunidades absolutas; a Embaixada uma extenso do territrio de uma
Nao em outra; qualquer violao pode at mesmo acarretar conflito armado entre
34
os pases; os embaixadores no podem ser presos, nem mesmo em flagrante delito
de crimes inafianveis;
b) gozam de imunidades diplomticas: os soberanos, Chefes de Estado, os
agentes diplomticos, que podem ser Embaixadores, Ministros Plenipotencirios de
Negcios, Legados, Nncios e lnternncios;
c) o pessoal sem carter oficial, pessoas da famlia dos diplomatas ou da fam-
lia dos funcionrios e os empregados estrangeiros, no servio domstico, quando
no exerccio imediato da funo;
d) a inviolabilidade atinge tambm a residncia particular, oficial e bens dos
diplomatas;
e) os condutores de veculos do Corpo Diplomtico (CD), Corpo Consular (CC)
e Organismos Internacionais (IO) no podem ser autuados, em tales de AIIP; ao
cometerem infraes de trnsito, seus veculos no podem ser removidos, retidos
ou apreendidos;
f) quando forem constatadas infraes de condutores de veculos citados, a
irregularidade dever ser objeto de comunicao, na qual conste todas as anota-
es necessrias para uma autuao, bem como outras informaes que forem
julgadas indispensveis, a fim de que se proponha ao rgo de transito as provi-
dncias cabveis.
NOTA: Os Cnsules no gozam de imunidades diplomticas, a menos que
investidos de misses diplomticas especiais.-
1.6.2 - Imunidades Parlamentares (relativas)
a) So asseguradas aos Senadores e Deputados (Federais, em todo o territrio
brasileiro, e Estaduais, no territrio do Estado).
b) Os parlamentares s podem ser presos em flagrante delito nos casos de
crimes inafianveis.
c) Os Vereadores gozam de imunidade parlamentar nos casos de crime de
opinio (injria, difamao etc ... ) quando exercendo atividade parlamentar nos
limites territoriais do seu municpio.
1.6.3 - Os magistrados (Ministros dos Tribunais, Desembargadores e juizes) e os
membros do Ministrio Pblico (Procuradores da Repblica, Procuradores de Justi-
a e Promotores) s podero ser autuados em flagrante delito nos casos de crime
inafianvel.
1.6.4 - Tambm no sero autuados em flagrante delito:
a) os candidatos, mesrios e eleitores, durante as eleies;
b) o motorista, que mesmo tendo causado acidente, socorrer a vtima e no
fugir.
c) Atitudes do PM em relao s Imunidades:
1) Respeitar as imunidades diplomticas, que so absolutas, e parlamentares,
que so relativas;
2) Reconsiderar imediatamente sua atitude, se por acaso ferir a inviolabilidade
pessoal do diplomata ou parlamentar, por desconhecer sua identidade;
3) Em se tratando de flagrante delito, o policial militar deve:
(a) identificar o diplomata ou parlamentar, anotando-lhe o nome, funo, en-
dereo e pas que representa (ou mandato que exerce);
(b) arrolar testemunhas;
(c) comunicar o fato ao Distrito Policial da rea, imediatamente;
(d) preencher o BO/PM. e comunicar o fato, atravs de parte circunstanciada.
35
1.7 - Priso
a) Ningum ser preso seno em flagrante delito ou por ordem escrita e fun-
damentada de autoridade judiciria competente, salvo nos casos de transgresso
militar ou crime propriamente militar, definidos em lei.
b) Portanto temos quatro formas de priso admitidas em nosso direito:
1) priso em flagrante delito;
2) por ordem escrita de autoridade judiciria competente;
3) por transgresso militar - priso administrativa disciplinar de
militar;
4) por crime propriamente militar - priso de militar decretada no curso de IPM.
c) Priso em flagrante delito
1) diz a lei que qualquer pessoa do povo poder prender e tm o direito, e a
autoridade e seus agentes devero e tm o dever de prender quem quer que seja
encontrado em flagrante delito.
2) considera-se em flagrante delito quem:
(a) est cometendo a infrao penal (crime ou contraveno);
(b) acaba de comet-la;
(c) perseguido, logo aps, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer
outra pessoa, em situao que faa presumir ser ele o autor da infrao; e
(d) encontrado, logo aps, com instrumentos, armas, objetos ou papis que
faam presumir ser ele o autor da infrao.
d) priso emanada de ordem escrita de autoridade competente:
1) Por ordem do Juiz Criminal:
(a) priso preventiva (art. 311 e seguintes do CPP);
(b) priso em virtude de sentena condenatria (art. 393, do CPP);
(c) priso em virtude de pronncia (art. 408. 1.", do CPP),
(d) priso no caso de medida de segurana de exlio local (art. 771, 1. I, do
CPP).
2) Priso por ordem do Juiz Cvel:
(a) priso pelo no cumprimento de julgado ou acordo relativo a alimentos
(art. 19 da Lei S.478/68);
(b) priso de depositrio infiel, em caso de dvidas de contrato de alienao
fiduciria;
(c) priso de falido (art. 13, VI, e 151, 3.", da Lei de Falncias);
(d) priso contra depositrio infiel;
(e) priso do sndico (art. 69, S. O, da Lei de Falncias);
(f) priso de trapaceiro e administradores de armazns gerais;
(g) priso por ordem de autoridade administrativa (priso administrativa).
- uma medida cautelar, de carter interno da Administrao. Est prevista
no artigo 319 do CPP.
e) Priso de Funcionrio Pblico
1) Dentro da Repartio, o funcionrio pblico pode ser preso em flagrante
delito, devendo, contudo, ser apresentado ao respectivo chefe, antes de ser condu-
zido.
2) Fora do expediente, ele no goza de privilgios, recomendando-se, entre-
tanto, tratamento condizente com seu cargo.
1.8 - Fiana
36
a) a faculdade dada ao indiciado para permanecer em liberdade, quando
autuado em flagrante, mediante o pagamento de determinada quantia.
b) A autoridade policial poder conceder diretamente a fiana nos casos de
infrao punida com deteno ou priso simples (art. 322 do Cdigo de Processo
Penal).
c) A fiana s poder ser concedida pelo juiz nos casos de infrao punida
com recluso (art. 322, nico, do CPP).
d) Nos crimes cuja pena de recluso seja superior a 2 anos e nas contraven-
es penais de vadiagem e mendicncia no pode ser concedida a fiana.
e) O valor da fiana ser arbitrado pela autoridade que a conceder no limites
previstos nos CPP.
f) Se o ru pobre, o juiz conceder-lhe- liberdade provisria.
g) Cabe ressaltar que o acusado se livra solto independentemente de
fiana, sendo posto em liberdade aps lavrado o auto de priso em flagrante, no
caso de infrao a que no for, isolada, cumulativa ou alternativamente, cominada
pena privativa de liberdade e, tambm, quando a pena privativa de liberdade no
exceder a trs meses (art. 321 do CPP).
h) Em conseqncia, o PM no poder sentir-se desprestigiado, caso um preso
seja liberado, mesmo aps ter sido surpreendido em flagrante delito, porquanto
poder tratar-se de fiana ou a exceo acima.
1.9 - Violao de domiclio
a) A casa asilo inviolvel do indivduo, ningum nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, durante o dia, por determinao judicial.
b) Crime de violao de domiclio - entrar ou permanecer, clandestina ou astu-
ciosamente, ou contra a vontade expressa ou tcita de quem de direito, em casa
alheia ou em suas dependncias,
c) Aumenta-se a pena de um tero, se o fato cometido por funcionrio pbli-
co, fora dos casos legais, ou com inobservncia das formalidades estabelecidas em
lei ou com abuso de poder.
d) A expresso "casa" abrange:
1) qualquer compartimento habitado;
2) aposento ocupado de habitao coletiva;
3) compartimento no aberto ao pblico, onde algum exerce profisso ou
atividade. Ex.: interior do balco de bar, escritrios comerciais, consultrios, etc.
e) A expresso "casa" no compreende:
1) hospedaria, estalagem, ou qualquer outra habitao coletiva, enquanto
aberta, salvo a restrio do n 1.9 d. 2) anterior;
2) taverna, casas de jogos e outras do mesmo gnero;
3) museu, bar, cinema, loja e teatro no so protegidos.
OBS.: A proteo penal, convm lembrar, se estende s dependncias do
domiclio, como jardins, alpendres, garagens, quintais, ptios (art. 150 do Cdigo
Penal, parte final, caput).
f) Casos de entrada em casa alheia.
1) No constitui crime a entrada ou permanncia em casa alheia ou em sua
dependncia:
(a) durante o dia, com observncia das formalidades legais, para efetuar pri-
so ou outra diligncia; - em caso de flagrante delito - estando o policial em perse-
37
guio do criminoso, a menos que a urgncia no permita, explicar ao morador o
motivo da perseguio e solicitar licena para entrar, a fim de prender o criminoso
ou continuar em sua perseguio. Concedida a licena, o policial entrar sem ferir
os preceitos da boa educao, empenhando-se em demonstrar respeito ao lar do
cidado. Se porventura o morador recusar conceder tal permisso, o policial convo-
car duas testemunhas e, sendo dia, entrar fora na casa, arrombando as portas
se preciso; se for noite, providenciar sejam guarnecidas todas as sadas, tornando
a casa interditada at que amanhea, quando ento efetuar a entrada na casa e a
priso do criminoso.
- em caso de mandado de priso - dar conhecimento ao morador da ordem
de priso contida no mandado, e o intimar a entregar o ru. Se houver desobedi-
ncia, o procedimento igual ao do caso anterior.
- em caso de busca domiciliar - as buscas domiciliares so efetuadas durante
o dia, salvo se o morador permitir que se realizem noite. Antes de penetrarem na
residncia, os executores da diligncia chamaro o morador ou quem suas vezes
fizer; depois de se darem a conhecer ou de exibirem o mandado, intim-lo-o a
franquear a entrada. Em caso de desobedincia, sendo dia, arrombaro a porta e
entraro fora.
(b) A qualquer hora do dia ou da noite, quando algum crime est sendo prati-
cado ou na iminncia de o ser;
(c) A iminncia de crime autoriza o policial a entrar em casa alheia e, nesse
caso, no so exigidas as formalidades legais, pois a que se visa evitar o ato
criminoso; entretanto, havendo tempo, dever anunciar a sua entrada.
g) Resumo
1) possvel entrar noite em casa alheia quando:
(a) o morador der o consentimento;
(b) no caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro;
(c) em caso de legtima defesa ou estado de necessidade.
h) Conceito de Noite: deve-se obedecer regra do Cdigo de Processo Civil,
que diz: noite o perodo que vai das 18:00 s 06:00 horas".
1.10 - Busca e apreenso
a) A busca ser domiciliar ou pessoal.
1) Busca domiciliar
(a) Proceder-se- busca domiciliar quando fundadas razes a autorizarem,
para:
- prender criminosos,
- apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; - apreender
instrumentos de falsificao ou de contrafao e objetos falsificados ou contrafeitos;
- apreender armas e munies, instrumentos utilizados na prtica de crime ou
destinados a fins delituosos;
- descobrir objetos necessrios prova de infrao ou defesa do ru;
- apreender cartas, abertas ou no, destinadas ao acusado ou em seu poder,
quando haja suspeita de que o conhecimento do seu contedo possa ser til
elucidao do fato;
- apreender pessoas vtimas de crime;
- colher qualquer elemento de convico.
(b) Necessidade de mandado
38
- ressalvados os casos de flagrante delito, desastre ou prestao de socorro,
a busca domiciliar ser sempre feita durante o dia e mediante mandado judicial. A
dispensa do mandado s ocorrer se o Juiz de Direito realizar a busca pessoalmen-
te.
- o pedido de mandado de busca domiciliar poder ser feito pela prpria Pol-
cia Militar, mediante ofcio direto ao Juiz de Direito da rea, fundamentando-se no
documento as suspeitas existentes, o local e as ps soas envolvidas, mesmo que
por prenome ou caractersticas fsicas, destacando-se ainda o interesse na preser-
vao da ordem pblica. O respectivo Termo de Busca e Apreenso ser lavrado
pela autoridade de polcia ostensiva que comandou a busca, sendo cpia enviada
ao Juiz de Direito. As demais providncias de polcia judiciria sero feitas atravs
do Distrito Policial da rea.
(c) Consideraes gerais
- as buscas domiciliares sero executadas de dia, salvo se o morador con-
sentir que se realizem noite, e, antes de penetrarem na casa, os executores mos-
traro e lero o mandado ao morador, ou a quem o represente, intimando-o, em
seguida, a abrir a porta.
- em caso de desobedincia, ser arrombada a porta, e forada a entrada.
- recalcitrando o morador, ser permitido o emprego de fora contra as coisas
existentes no interior da casa para o descobrimento do que se procura.
- proceder-se- da mesma forma quando ausentes os moradores, devendo,
neste caso, ser intimado a assistir diligncia qualquer vizinho, se houver e estiver
presente.
- se determinada a pessoa ou coisa que se vai procurar, o morador ser
intimado a mostr-la.
- descoberta a pessoa ou coisa que se procura, ser imediatamente apreen-
dida e posta sob custdia dos policiais.
- os executores do mandado devero ser no mnimo dois.
- so exigidas duas testemunhas presenciais.
2) Busca pessoal
(a) aquela levada a efeito na prpria pessoa. A busca pessoal feita no
somente nas vestes ou nos objetos que a pessoa traga consigo (valises, pastas,
etc.), como tambm imediatamente sobre o corpo, quer atravs de investigaes
oculares ou manuais, quer por meios mecnicos, ou at meios radioscpicos, j
que ladras e ladres preferem esconder pequenos objetos, pedras preciosas, ma-
conha, em qualquer esconso natural.
(b) Proceder-se- a busca pessoal quando houver fundada suspeita de que
algum oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nos subitens do 1-10.
a) 1) 6).
(c) Necessidade de mandado
- a busca pessoal independer de mandado, no caso de priso, ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determi-
nada no curso de busca domiciliar.
- como conseqncia, se os policiais, durante a realizao de uma busca
domiciliar, quiserem revistar pessoas que se encontrarem no interior do prdio ou
compartimento onde se realiza a busca, no s podero como devero faz-lo.
(d) Busca pessoal em mulher
- a busca pessoal em mulher ser feita por outra mulher.
3) Apreenso em territrio sujeito a jurisdio alheia
39
Os policiais podero penetrar no territrio de jurisdio alheia, ainda que de
outro Estado, quando, para o fim de apreenso, forem no seguimento de pessoa ou
coisa, devendo apresentar-se competente autoridade local, antes da diligncia ou
aps, conforme a urgncia desta.
1.11 - Abuso de autoridade:
1.11.1 - Constitui abuso de autoridade qualquer:
a) Atentado liberdade de locomoo
1) Toda pessoa tem o direito de locomover-se, transportando-se para onde
desejar, sem limitaes, ressalvados os casos expressos em lei ou por imperiosas
necessidades ditadas pelo Estado;
2) Como exemplo tpico poder-se-ia citar o "trottoir". A infratora s poder ser
presa caso esteja provocando escndalo, portando-se de modo inconveniente,
devendo conseqentemente ser autuada em flagrante delito.
b) Atentado inviolabilidade do domiclio
Neste caso faz-se necessrio atentar para o disposto nos subpargrafos 1-9,
Violao de domiclio, e 1-10, Busca e apreenso.
c) Atentado ao sigilo da correspondncia
Trata-se de garantia constitucional: " inviolvel o sigilo da correspondncia e
das comunicaes telegrficas e telefnicas.
d) Atentado liberdade de conscincia e de crena e ao livre exerccio de culto
religioso
1) plena a liberdade de conscincia e fica assegurado aos crentes o exerc-
cio de cultos religiosos que no contrariem a ordem pblica e os bons costumes.
2) Aquele que embaraa ou impede a liberdade religiosa de um indivduo ataca
um direito.
3) A liberdade de conscincia consiste no direito que o indivduo tem no s de
se filiar religio que entender, como o de no professar religio alguma.
4) A liberdade de conscincia ilimitada, enquanto a liberdade de culto est
sujeita s restries legais.
e) Atentado liberdade de associao e atentado ao direito de reunio.
1) Tanto a liberdade de associao como o direito de reunio esto protegidos
contra os abusos de autoridade desde que os seus fins sejam lcitos e no contrari-
em preceitos de ordem pblica.
2) Em face do direito de reunio (CF, art. 5. O, XVI), cabe polcia registr-la
previamente, de forma a evitar que uma reunio venha a frustrar outra marcada
para o mesmo local e garanti-la mediante policiamento preventivo.
f) Ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formali-
dades legais ou com abuso de poder,
Neste caso faz-se necessrio atentar para o disposto no subpargrafo 1-7,
Priso.
g) Ato lesivo da honra ou do patrimnio de pessoa natural ou jurdica, quando
praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competncia legal.
1) Conceitos a destacar:
(a) honra - conjunto de predicados ou condies da pessoa, que lhe conferem
considerao pessoal e estima prpria.
(b) patrimnio - conjunto de bens que servem a todas as necessidades huma-
nas.
40
2) excesso de poder - ocorre quando a autoridade, embora competente, ultra-
passa os limites de sua atribuio ou se excede no uso de suas faculdades admi-
nistrativas.
h) Atentado contra a incolumidade pblica
1) a violncia abrange desde a mais grave, o homicdio, como a mais leve, as
vias de fato. Pode, ainda, a violncia ser real ou moral. O meio pode no ser fsico,
mas produz o mesmo resultado, como o hipnotismo, narcotizao, emprego de
gases, disparo de armas para o ar, etc.
2) nem toda a violncia praticada pela autoridade dever ser erigida como
abuso de autoridade.
3) alm das causas de excluso de criminalidade, da antijuridcidade, o Cdigo
Penal estatui, de forma precisa:
- "Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistncia a priso em flagran-
te ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o
auxiliarem podero usar dos meios necessrios para defender-se ou para vencer a
resistncia, do que tudo se lavrar auto subscrito tambm por duas testemunhas".
Logo, a violncia legal a que a lei autoriza. A regra tem como finalidade assegurar
a sua prpria eficincia.
1.11.2 - Conceito de autoridade
a) Considera-se autoridade, para os efeitos desta Lei, quem exerce cargo,
emprego ou funo pblica, de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente
ou sem remunerao.
b) Consideraes
1) o exerccio da funo pblica o que caracteriza o funcionrio pblico pe-
rante o direito penal.
2) funcionrio pblico aquele que exerce cargo pblico, ainda que a ttulo de
experincia e precrio.
3) tambm so considerados funcionrios pblicos os serventurios de Justi-
a, os guardas-noturnos, os comissrios de menores, os vereadores, os funcion-
rios de empresa particular incorporada ao Estado, os funcionrios autrquicos.
4) para caracterizar o abuso de autoridade, o abuso h que ser praticado no
exerccio da funo, por funcionrio pblico.
c) Sanes
O abuso de autoridade sujeitar o seu autor a sano penal e administrativa
(perda do cargo).
1.12 - Violncia arbitrria
a) Praticar violncia, no exerccio de funo ou a pretexto de exerc-la.
b) So elementos do delito:
1) A violncia, ou seja, um ato de fora, praticado sem necessidade contra as
pessoas, pouco importando a sua maior ou menor gravidade
2) A qualidade de funcionrio pblico: preciso que as violncias, sejam prati-
cadas no exerccio da funo ou a pretexto de exerc-la;
3) A ausncia de motivo legtimo, o que se verifica quando for intil ou desne-
cessria a violncia empregada. Ex.: o indivduo que, preso regularmente, por haver
praticado um crime, espancado.
41
1.13 - Propina: a gratificao indevida por servios prestados e o policial-militar
no tem o direito de aceitar dinheiro como gratificao por servios prestados no
desempenho da funo, pois pago pelo Estado.
1.14 - Corrupo
a) Chamada, tambm, de suborno, a corrupo pode ser passiva ou ativa.
b) O funcionrio pblico que solicita ou recebe vantagem indevida, em razo de
sua funo, comete corrupo passiva; quem lhe oferece ou promete essa vanta-
gem, comete a corrupo ativa.
c) O PM que recebe dinheiro para relaxar uma priso, comete o crime de cor-
rupo passiva.
d) O PM, sendo tentado em oferta ou promessa de vantagem indevida, dever
dar voz de priso ao inescrupuloso indivduo e conduzi-lo ao Distrito Policial da
rea.
1.15 - Concusso: Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da funo ou antes de assum-la, mas em razo dela, vantagem indevida.
No confundir a concusso com a corrupo. Na concusso h exigncia. Na cor-
rupo passiva, h solicitao ou recebimento de vantagem indevida.
1.16 - Resistncia
a) Opor-se execuo de ato legal, mediante violncia ou ameaa, a funcion-
rio competente para execut-lo ou a quem lhe esteja prestando auxlio.
b) Por violncia se entende fora fsica.
c) Por ameaa se entende a violncia moral.
d) A vtima de crime de resistncia pode ser s o funcionrio (PM) como tam-
bm, a pessoa que o esteja auxiliando (a pedido do PM) voluntariamente.
e) A resistncia passiva no constitui crime e se d quando o preso se recusa a
andar, agarrando-se a postes, portes etc. Ao PM cumpre retir-lo do obstculo
(sem espanc-lo e sem arrast-lo pela via pblica), apresentando-o ao Distrito Poli-
cial da rea,
1.17 - Resistncia priso: Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistn-
cia priso em flagrante ou determinada por autoridade judiciria competente, o
executor e as pessoas que o auxiliarem podero usar dos meios necessrios para
defender-se ou para vencer resistncia, de que se lavrar auto subscrito, tambm,
por duas testemunhas.
1.18 - Agresso: O PM, ao ser agredido por qualquer indivduo, empregar os
meios necessrios para se defender, repelindo a agresso injusta e, em seguida,
adotar as providncias legais complementares junto ao Distrito Policial respectivo.
1.19 - Desobedincia
a) Desobedecer a ordem legal de funcionrio pblico.
1) Na desobedincia, o agente limita-se a no cumprir a ordem legal dada por
funcionrio competente, sem entretanto molest-lo fsica ou moralmente,
2) Se a ordem for ilegal, como na priso arbitrria, por exemplo, no se confi-
gura o delito, isto , a pessoa do povo que se ope a uma priso arbitrria, no
comete o delito de desobedincia nem de resistncia.
42
1.20. Desacato
a) "Desacatar funcionrio pblico no exerccio de funo ou em razo dela".
b) Desacato a ofensa ao prestgio da funo na pessoa do seu titular, faltan-
do-lhe a considerao devida e a obedincia funcional. No deve, entretanto, ser
considerada com esse efeito, a simples impolidez, a indelicadeza, reveladora da
falta de educao, mxima, em se tratando de indivduo ignorante, de condio
social inferior.
c) Expresses de clera, proferidas irrefletidamente no calor de uma discusso,
no sero bastante para caracterizar o crime de desacato. Podem, conforme o
caso, constituir injrias, mas no desacato.
d) Para que o desacato se caracterize necessria a vontade deliberada de
ofender, de afrontar a autoridade de algum. H de ser praticado na presena de
funcionrio, isto , face a face ou achando-se ele presente.
e) O delito em questo somente pode ocorrer quando o funcionrio est no
exerccio da funo ou quando em razo desta, pouco importando o local onde se
encontre.
1.21 - Tentativa de fuga
a) O PM empregar tambm a fora fsica no caso de tentativa de fuga de pre-
so, a fim de evitar essa fuga.
b) O PM usar de um expediente qualquer, tomar um txi etc., para capturar
um preso que foge, mas nunca dever atirar contra quem est desarmado e de
costa.
1.22 - Porte de arma
a) Trazer consigo arma fora de casa ou de dependncia desta, sem autoriza-
o, constitui a contraveno penal de porte ilegal de arma.
b) Arma - na designao geral de arma para os efeitos penais, enquadram-se
tanto as destinadas ofensa ou defesa pessoal, como os instrumentos aciden-
talmente empregados na prtica de crime. As armas para efeito de registro, autori-
zao e porte, so classificadas em: armas proibidas, armas regulamentares, ar-
mas de defesa pessoal, armas de caa ou de tiro ao alvo (esporte).
1) Armas proibidas
(a) as armas de canos ou coronhas desmontveis em vrias partes;
(b) as partes metlicas (tubos redutores) que possam ser empregadas em
armas de importao permitida, aumentando-lhe grandemente o poder mortfero;
(c) as armas de ar comprimido (no compreendidas as de funcionamento por
mola, at calibre de 6 mm);
(d) os silenciadores aplicveis s armas de fogo e destinados a amortecer o
estampido do tiro;
(e) as munies com artifcio ou dispositivos visando a provocar exploso,
incndio etc.
(f) as armas brancas e secretas, exclusivamente utilizadas para a prtica de
crime e fim meramente ofensivo: punhais, facas e canivetes punhais (com lmina
de at 10 centmetros, inclusive); as bengalas, guardas-chuvas ou quaisquer outros
objetos que contenham, em disfarce, espadas, estoques, punhais ou espingardas;
soco ingls ou boxe; a caneta revlver;
(g) as setas, bombas e petardos;
43
(h) os faces em forma de punhais.
2) Armas regulamentares - so as armas de guerra, usadas pela Foras Ar-
madas e as armas destinadas ao servio policial.
3) Armas de defesa pessoal - so aquelas, discriminadas a seguir, que podem
ser registradas e licenciadas para porte:
(a) revlver (at calibre 38, inclusive);
(b) pistolas automticas (tipo "parabellum" at calibre 6,35; as demais at
calibre 7,65);
(c) garruchas (at calibre 380, inclusive).
4) armas de caa ou de tiro ao alvo (esporte) - tambm permitidas para regis-
tro e licenciamento, as armas de caa ou de tiro ao alvo so as seguintes:
(a) espingardas, rifles, carabinas e todas as armas dessa classe, no raiadas,
quaisquer que sejam os sistemas, calibre e modelo;
(b) idem, raiadas, at calibre mximo de 11,17 mm, no podendo tais armas
terem ala de mira com graduao superior a 200 metros, nem espao que se pres-
te a uma ampliao de graduao. (No esto includas as de presso por mola,
que atiram setas ou pequenos gros de chumbo, usadas nos "stands" de tiro, at o
calibre mximo de 6 mm).
(c) Restries
1) No podem possuir, adquirir, comprar, nem conduzir ou transportar armas e
munies de qualquer espcie, sob pena de apreenso:
(a) os menores de 18 anos;
(b) os incapazes e indneos, a juzo da polcia;
(c) os j condenados, em sentena incorrvel, por qualquer prtica de violn-
cia fsica, ou os envolvidos em processo-crime, cujas decises no hajam transita-
do em julgado;
(d) os que, por imprudncia, impercia ou negligncia, houverem dado causa a
qualquer infrao penal, proveniente do mau emprego de arma de fogo.
2) Cassao de autorizao
(a) A cassao da autorizao verificar-se- nos casos de:
- exibio desnecessria da arma;
- usar a arma como ameaa contra qualquer pessoa;
- demonstrar visivelmente que est armado;
- no cumprimento das instrues relativas ao porte de arma.
3) Iseno de autorizao
(a) Podem andar armados, independente de autorizao: - os oficiais das
Foras Armadas, Corpo de Bombeiros e Polcia Militar, uniformizados ou em trajes
civis;
- as praas das mesmas Corporaes, quando em servio, ou mediante or-
dem dos respectivos comandantes;
- os policiais civis e federais, na conformidade de seus regulamentos;
- os vigilantes de empresas autorizadas a executar servios de proteo e
bens imveis e mveis e transporte de valores, quando uniformizados, em servio
ou em trnsito da sede da empresa para o posto de servio e vice-versa.
1.23 - Uso de algema
a) O uso de algema no Estado de So Paulo regulamentado pelo Decreto
19.903/50, sendo permitido:
44
1) para conduzir os delinqentes presos em flagrante delito, desde que ofere-
am resistncia ou tentem a fuga;
2) para conduzir os brios, os viciados e os turbulentos apanhados na pratica
de infrao e que devam ser postos em custdia, desde que seu estado de extrema
exaltao torne indispensvel o emprego de fora;
3) para transportar de uma dependncia para outra presos que, pela sua peri-
culosidade, possam tentar a fuga durante a diligncia, ou tenham tentado ou ofere-
cido resistncia, quando da priso;
b) O abuso do uso da algema, por parte da autoridade ou de seus agentes,
acarretar responsabilidade penal. As dependncias policiais devem manter livro
especial para registro das diligncias em que tenham sido empregadas algemas,
lavrando-se o termo respectivo.
c) Cautelas a adotar:
1) algemar sempre o detido com os braos para trs;
2) quando tiver que conduzir dois detidos, algemar sempre o pulso direito de
um ao direito de outro. Desta forma, dificultar a reao deles, principalmente a de
correr;
3) dar duas voltas na chave, evitando que a algema se abra;
4) no apertar demais a algema no pulso, pois poder provocar escoriaes ou
inchao, pela falta de circulao. Isso dar chance ao delinqente de alegar agres-
so, e o exame de corpo de delito comprovar as leses.
2.0 - ENTORPECENTES
2.1 - Conceito: So substncias capazes de produzir alteraes psquicas seme-
lhantes s determinadas pela embriaguez, e cujo uso tem a propriedade de alterar
gravemente a sade, colocando em risco a integridade fsica, psquica e a prpria
vida do dependente ou viciado.
2.2 - O uso de entorpecentes: Em sendo adquirido o vcio, dificlimo abandon-
lo. O indivduo torna-se dependente, com personalidade fraca, carter debilitado e
sem foras para lutar contra essa forma de escravido. Os dependentes tornam-se
presas fceis e eternas dos que os conduziram desgraa, porque os traficantes
jamais os abandonam.
2.3 - O comrcio de entorpecentes: O trfico de entorpecentes internacional,
sendo que as drogas so guardadas nos chamados "paiis", de onde so levadas
para os locais denominados pelos traficantes de "bocas de fumo". Da vo para as
esquinas, praas etc. O "passador" o elemento de ligao entre os diferentes
pontos e o homem que negocia diretamente com o dependente. Quase sempre
utiliza automvel, o que dificulta a ao da polcia.
2.4 - Caracterizao, no aspecto penal, do crime de trfico e uso de entorpe-
centes
a) Importar ou exportar, preparar, produzir, vender, expor venda ou oferecer,
ainda que gratuitamente, ter em depsito, transportar, trazer consigo, guardar, mi-
nistrar, ou entregar, de qualquer forma, a consumo, substncia entorpecente, ou
45
que determine dependncia fsica ou psquica, sem autorizao ou em desacordo
com determinao legal ou regulamentar.
b) No mesmo crime incorre quem:
1) oferece, fornece, ainda que a ttulo gratuito, transporta, traz consigo ou tem
em depsito ou sob sua guarda, matrias-primas destinadas preparao de en-
torpecentes ou de substncias que determinem dependncia fsica ou psquica;
2) faz ou mantm o cultivo de plantas destinadas preparao de entorpecen-
tes ou que determine dependncia fsica ou psquica;
3) traz consigo, para uso prprio, substncia entorpecente ou que determine
dependncia fsica ou psquica;
4) adquire substncia entorpecente ou que determine dependncia fsica ou
psquica,
5) prescreve (mdico ou dentista) substncia entorpecente, ou que determine
dependncia fsica ou psquica, ou em dose evidentemente maior que a necessria
ou com a infrao do preceito legal ou regulamentar;
6) instiga ou induz algum a usar entorpecentes ou substncia que determine
dependncia fsica ou psquica;
7) utiliza o local de quem tem propriedade, posse, administrao ou vigilncia,
ou consente que outrem dele se utilize, ainda que a ttulo gratuito, para uso ilegal
de entorpecentes ou de substncia que determine dependncia fsica ou psquica;
8) contribui de qualquer forma para incentivar ou difundir o uso de entorpecen-
te ou de substncia que determine dependncia fsica ou psquica.
c) Infratores viciados
Ficam sujeitos a medidas de recuperao em estabelecimentos hospitalares,
pelo tempo necessrio recuperao.
2.5 - Ao do PM em ocorrncia de trfico e uso de entorpecentes
a) Genericamente, o PM deve:
1) averiguar, com cautelas e cuidados especiais, nos locais suspeitos de trfi-
co e uso ilegal de substncias entorpecentes;
2) prender quem faz comrcio clandestino de entorpecentes, ou proporciona
seu uso em desacordo com a Lei, apreendendo a substncia;
3) conduzir preso, ao Distrito Policial da rea respectiva, o viciado, apreenden-
do a substncia;
4) quando possvel pesar em farmcia o entorpecente apreendido, fazendo
constar a quantidade no BO/PM.
b) Aspectos relevantes
1) no fazer comentrios nem fornecer quaisquer dados a rgos de imprensa,
relativos ocorrncia de trfico ou uso de entorpecentes, eis que somente o juiz de
Direito pode quebrar o sigilo em ocorrncias dessa natureza;
2) esforar-se, ao mximo, para arrolar testemunhas o que na prtica, difcil;
3) estar ciente de que o viciado poder ser liberado na Unidade Policial da
rea, pelo Delegado de planto, aps a prestao da fiana.
2.6 - Entorpecentes injetveis
a) Observar os seguintes aspectos:
1) utenslios reveladores: saquinhos de celofane, em que geralmente vem o
entorpecente; uma seringa de injeo ou um conta-gotas e uma agulha; uma colher
46
ou tampa de garrafa (para dissolver o entorpecente); bolinhas de algodo (para
filtrar a substncia);
2) sinais de injeo crnicos; marcas como tatuagens pretas ou azuis, peque-
nas escaras ou cicatrizes compridas junto das veias, especialmente nos antebra-
os, costas das mos e nas solas dos ps; manchas de sangue nas roupas;
3) sintomas de alienao: agitao, nervosismo, bocejos e transpirao exces-
sivos, nariz escorrendo, olhos lacrimejantes, cacoetes, cibras, vmitos e diarria.
2.7 - Efeito das drogas: O efeito de qualquer droga depende, basicamente, de
potncia, da quantidade tomada, da maneira e freqncia do uso.
2.8 - Drogas usadas com maior freqncia
a) Maconha (fumada em cigarros, cachimbos e engolida com a comida).
Efeito: euforia, acelerao do pulso. Altas doses podem levar reduo de
motivao, comportamento impulsivo, angstia, reaes psicticas.
b) Haxixe (fumado, comido),
Efeito: como a maconha, porm cerca de seis vezes mais forte. Tendncia
para alucinao depois de altas doses.
c) Cocana (aspirada ou injetada).
Efeito: hiperatividade, atividades paranicas, possveis convulses,
d) Herona (aspirada, injetada por via subcutnea ou endovenosa).
Efeito: euforia, seguida de sonolncia. Probabilidade de dependncia fsica
com sintomas dolorosos de falta e morte em caso de dose excessiva.
e) LSD (engolidas - cpsulas, lquidos, cubos de acar; injetadas).
Efeito: alucinaes, hilariedade fora do comum, intensa angstia, diminuio
da motivao normal, algumas reaes psicticas prolongadas. Repeties ocasio-
nais das alucinaes mesmo sem tomar novas doses.
f) Anfetaminas, Metanfetaminas (engolidas - tabletes; aspiradas em cristais e
injetadas).
Efeito: vivacidade e agressividade anormais, perda de apetite, atividades para-
nicas, depresso aguda quando o efeito passa e rpido aumento de tolerncia.
g) Barbitricos (engolidos - tabletes ou cpsulas; injetados);
Efeito: indolncia, discernimento imperfeito. Cria dependncia. Perigo de morte
por dose excessiva, especialmente em combinao com o lcool.
h) Tranqilizantes (engolidos - cpsulas).
Efeito: sonolncia, nuseas. Possvel dependncia fsica por doses excessivas
durante um longo perodo de tempo com sintomas de falta, incluindo convulses.
3.0 - LOCAL DE CRIME
3.1 - Conceito
a) Local de crime todo o stio onde tenha ocorrido um evento delituoso, que
necessite ou exija providncias da Polcia, devendo ser preservado pelo policial, que
primeiro comparecer no local, l permanecendo, at a sua liberao pela autoridade
competente.
b) Classificao:
1) INTERNO todo stio que abranja ambiente fechado, estando a salvo de
intempries;
2) EXTERNO todo stio no coberto ou que esteja fora de habitaes.
47
c) Subclassificao:
1) RELACIONADOS so dois ou mais stios interligados que tenham relao
com um mesmo evento delituoso.
2) REA IMEDIATA aquela onde ocorreu o evento delituoso.
3) REA MEDIATA aquela que cobre as adjacncias ou cercanias, de onde
ocorreu o evento delituoso.
3.2 - Preservao do local de crime
a) A preservao do local de crime visa resguardar vestgios que podero ser
relacionados com o suspeito, com o instrumento de crime ou com a forma pela qual
foi perpetrado o evento delituoso.
b) Em princpio, somente o perito criminal ter competncia para recolher os
vestgios, encontrados no local de crime, podendo, porm, por solicitao da autori-
dade competente, o policial-militar recolher no local, armas ou objetos relacionados
com o evento delituoso.
1) O vestgio encontrado no local de crime deve ser preservado, protegido e
resguardado.
2) Em locais externos, os vestgios devero ser protegidos, por qual quer meio
disponvel, para que transeuntes ou a ao do tempo no os prejudiquem.
3) em locais internos, fecha-se o respectivo compartimento, impedindo, dessa
forma, a entrada de quem no esteja devidamente autorizado.
4) na preservao do local de crime o policial-militar empregado dever privar-
se em tecer comentrios sobre o evento delituoso.
5) O PM, empenhado na preservao do local de crime, deve abster-se de
comentar seu ponto de vista pessoal, mesmo que evidente, sobre o fato, sob pena
de comprometer o trabalho policial;
6) O Delegado de Polcia da rea respectiva deve ser acionado de imediato;
7) As primeiras providncias, tomadas no local de crime, permitiro o sucesso
ou o insucesso das investigaes.
3.3 - Ao policial no local de crime:
a) As primeiras providncias, bem como o rpido e correto atendimento, em
locais de crime, contribuiro, sobremaneira, para o sucesso da persecuo criminal,
alm de agilizar a liberao de pessoas e/ou coisas podendo, assim, minimizar o
sofrimento e a angstia das partes envolvidas.
1) A autoridade competente dever ser cientificada, de imediato, sobre o even-
to delituoso.
2) O policial-militar, no local de crime, dever isol-lo, adequadamente, no
permitindo a sua violao. Ato contnuo, dever transmitir o evento delituoso, por
intermdio de breve discrio, contendo:
(a) nome e RE do policial - militar responsvel pela transmisso.
(b) natureza da ocorrncia esclarecendo se de autoria conhecida ou desco-
nhecida;
(c) a localizao correta da ocorrncia do evento delituoso;
(d) esclarecimentos sobre o tipo de local de crime, se interno ou externo,
pblico ou privado, de fcil ou difcil acesso.
3) Quando houver possibilidade em saber sobre as circunstncias em que
ocorreu o evento delituoso, o policial-militar dever exigir prova de identidade das
testemunhas arroladas.
48
4) A descrio do evento delituoso dever sofrer a adequao necessria para
a sua transmisso e, somente aps, dever ser elaborado o Boletim de Ocorrncia
da Polcia - Militar.
5) O local de crime sempre dever ser guarnecido por um policial militar, de
modo que, se houver necessidade de deslocamento da viatura, para eventual per-
seguio ou outra misso ligada ao evento delituoso, dever ser acionada outra
viatura.
b) Ao policial no local de crime contra a pessoa:
1) A vtima dever ser socorrida, com prioridade, sobre as outras providncias;
(a) o policial-militar dever observar detalhes do local, onde ocorreu o evento
delituoso, arrolando testemunhas e, conduzindo, juntamente com a vtima, o seu
autor, para a lavratura do Auto de Priso em Flagrante Delito, pela autoridade com-
petente.
(b) em sendo possvel, o policial-militar, antes de socorrer a vtima, dever
marcar com giz, tinta, tijolo ou outro meio a exata posio em que ela foi encontra-
da;
(c) o policial-militar dever certificar-se sobre o destino dado vtima, quando
essa for socorrida por terceiros, anotando seus dados, bem como de testemunhas
para a confeco do Boletim de Ocorrncia da Polcia Militar.
2) Em sendo vtima fatal:
(a) local de difcil acesso, acionar o Corpo de Bombeiros;
(b) no alterar a posio do cadver, ou seja:
- no revisar os bolsos das vestes;
- no recolher pertences;
- no mexer nos instrumentos do crime, especialmente em armas;
- no mov-lo de sua posio original;
- no tocar nos objetos que esto sob sua guarda;
- no se preocupar com a identificao do cadver.
c) a constatao da realidade da morte dever ser feita por autoridade compe-
tente.
d) observar a aparncia pessoal da vtima, como: - vestes e cabelos em desali-
nho;
- peas de vesturio rasgadas;
- ferimentos externos;
- posio em relao ao solo.
e) Vestgios: Dever ser feito no local do crime um exame minucioso sem, con-
tudo, tocar ou alterar a forma, os elementos materiais existentes. Assim so classi-
ficados:
1) vestgios, propriamente ditos: cadeiras e mesas fora do lugar, papis, cigar-
ros, palitos de fsforo, tecidos, armas ou algum outro instrumento que possa ter
sido utilizado naquele evento delituoso;
2) vestgios, em forma de marcas, que deformam suporte: os encontrados
sobre areia, terra, barro, madeira, solo etc ... ;
3) vestgios, em forma de impresses, que no chegam a deformar suportes:
rastros de tinta ou de qualquer outra substncia, sinais pneumticos em asfalto ou
em via pavimentada, ou, ainda, as impresses digitais visveis;
4) Manchas: substncias incrustadas no solo ou em paredes, sobre imveis e
utenslios, mesmo em forma de crostas que somente os exames laboratoriais pos-
sam identific-las.
49
5) outras substncias como: restos de alimentos, bebidas, medicamentos,
txicos, fezes, urina, terra, areia, cimento e outros de igual importncia.
6) plos humanos ou de animais, caso possam ser diferenciados.
3.5 - Testemunhas
a) Testemunha a pessoa que comparece presena da autoridade para dizer
o que sabe a respeito de determinado fato.
Qualquer pessoa pode servir de testemunha, porm so classificadas conso-
ante suas individualizaes em:
1) Numerrias - prestam compromisso, depondo sob a palavra de
honra e a promessa de dizer a verdade;
2) Informantes - no depem sob compromisso, entre elas se incluem os doen-
tes mentais e os menores de 14 anos;
3) Referidas - so as que, mencionadas nos depoimentos j prestados, so
chamadas a depor sobre o que conhecem do fato; e
4) Instrumentrias - so as que assinam o auto de qualificao e de interroga-
trio dos indiciados, aps ouvirem a leitura da pea.
b) Ao do policial-militar ao arrolar testemunhas:
1) Escolher, preferencialmente, pessoas aparentemente mais idneas, capa-
zes, que saibam algo a respeito da ocorrncia.
2) Anotar nome, atravs do documento de identidade exigido, nmero deste,
residncia e local de trabalho;
3) O PM no deve reter desnecessariamente as testemunhas, ressalvados os
casos de priso em flagrante delito;
4.0 - SOCORROS DE URGNCIA
4.1 - Conceito: So aqueles feitos no paciente, em carter de urgncia, visando a
minimizar as conseqncias dos ferimentos, enquanto se aguarda a chegada da
ambulncia ou se adotam providncias para o socorro especfico.
4.2 - Aspecto essencial: O essencial, no atendimento ao acidentado, a manu-
teno da tranqilidade, transmitindo vtima um sentimento de confiana que, por
si s, s vezes, suficiente para que se aguarde o socorro definitivo.
4.3 - Objetivo: O objetivo fundamental dos primeiros socorros evitar o agrava-
mento das leses. Em conseqncia, o socorrsta dever agir firmemente, porm
com delicadeza, especialmente quando haja necessidade de transportar a vtima de
um local para outro.
4.4 - Vtima consciente: Durante toda a operao de socorro a vtima consciente,
interessante que se converse com a mesma, evitando-se o pnico e obtendo-se
dados a seu respeito e de como ocorreu o acidente, com os quais pode-se avaliar
seu estado, bem como a existncia de dores que indiquem as leses internas ou
fraturas.
4.5 - Utilizao de meios disponveis: Durante a operao de socorro, o PM deve-
r, na medida do possvel, utilizar-se dos meios de que dispe sua volta, solici-
50
tando-os em farmcias, bares ou outros estabelecimentos comerciais, de modo a
aumentar a segurana do socorro prestado.
4.6 - Procedimentos em casos de emergncia
a) Feridas - recomendaes gerais:
1) A idia principal nestes casos a de evitar uma contaminao maior do
local ferido, o que se consegue com uma proteo do mesmo, com gaze, leno ou
qualquer pano limpo.
2) Nunca use materiais que possam aderir ao ferimento, como lenos de pa-
pel, algodo etc. e no procure remover corpos estranhos do ferimento; estes po-
dem estar evitando uma hemorragia externa e nem aplique qualquer medicamento
local (Fig. 2-1 e 2-2).
3) Conduza a vtima, se necessrio, farmcia ou hospital mais prximo, para
o tratamento adequado.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 2-1 - Observe bem a ilustrao para ver como a gaze colocada sobre a ferida.
Veja como o esparadrapo fixado.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 2-2 - Se no momento voc no tiver gaze, use um leno ou qualquer pedao de
pano limpo. Amarre-o no local ferido sem apertar.
b) Feridas no trax
1) preciso verificar se a ferida atingiu os pulmes
2) Quando se ouve o ar entrando, porque a ferida atingiu os
pulmes.
3) Neste caso, proceda da seguinte maneira:
(a) observe a respirao da vtima e espere momento em que terminar a expi-
rao (sada do ar);
(b) neste momento cubra a ferida firmemente com um pano limpo, compressa
ou gaze;
(c) prenda o curativo com uma atadura ou com um cinto;
(d) no faa uma presso forte demais sobre a ferida, para no
prejudicar a respirao normal da vtima (Fig. 2-3).
Erro! Vnculo no vlido.
51
Fig. 2-3 - Feridas no trax
c) Feridas no abdmen
1) Uma ferida no abdmen pode ser perigosa, se houver uma eviscerao (um
rgo ou parte de um rgo saindo pela perfurao) ou se houver um rgo perfu-
rado,
2) Nestes casos, proceda da seguinte maneira:
(a) Coloque uma gaze molhada com gua limpa sobre o ferimento, sem aper-
tar o local.
(b) No faa mais nada. No procure recolocar o rgo na sua posio nor-
mal. S ao mdico cabe tomar qualquer outra providncia.
d) Feridas nos olhos
1) Procure lavar o olho ferido com gua limpa. Vire de lado a cabea da vtima
para que a gua possa escorrer melhor.
2) No tente extrair o corpo estranho se ele estiver entranhado, para no ferir
ainda mais o olho acidentado,
3) Cubra o olho ferido com urna gaze ou pano limpo. Prenda o curativo com
duas tiras de esparadrapo. (Fig. 2-4).
Encaminhe a vtima ao mdico.
4) Encaminhe a vtima ao mdico
Fig. 2-4 - Feridas nos olhos
e) Hemorragias externas nos braos ou nas pernas
1) Deite a vtima;
2) Levante o brao ferido ou a perna ferida; isto diminui o afluxo de
sangue para o local ferido;
3) Coloque sobre a ferida uma gaze ou pano limpo dobrado;
4) Pressione o curativo sobre a ferida para o sangue parar de sair;
5) Coloque um pano ou uma atadura sobre o curativo e amarre o
curativo em torno do brao ou perna feridos;
6) No aperte com mais fora, para no interromper a circulao normal do
sangue;
7) Se a hemorragia no diminuir com essas providncias, faa presso com as
duas mos sobre a artria prxima ferida (na parte anterior do quadril ou na parte
interna do brao). (Fig. 2-5).
52
Fig. 2-5 - Presso sobre as artrias nas hemorragias externas
8) No retire o curativo;
9) Mantenha a vtima deitada, no deixe que ela se movimente;
10) Procure auxlio mdico.
(a) Ateno: - No se deve fazer presso sobre a ferida nos seguintes casos:
- se houver um corpo estranho entranhado na ferida;
- se a ferida for muito extensa.
f) Hemorragias difceis de estancar - torniquetes
1) H hemorragias externas que exigem um tratamento especial;
2) So as hemorragias provocadas por amputaes e as hemorragias muito
fortes, que nenhum dos outros recursos tenha dado resultado. Nesses casos,
preciso fazer um torniquete.
3) Eis o procedimento a adotar:
(a) Use um pano de 5 cm de largura ou mais;
(b) O torniquete deve ser aplicado acima do ferimento, de preferncia em dois
lugares: a parte mdia do brao ou a parte mdia da coxa;
(c) D duas voltas com o pano na parte mdia do brao ou da coxa, conforme
o membro que estiver machucado
(d) D um meio n nas pontas do pano;
(e) Sobre o meio n coloque um pedao de pau, um lpis, urna caneta etc.; d
um n completo, prendendo assim o objeto colocado sobre o meio n;
(f) Aperte o torniquete, girando um pedao de pau, at que a hemorragia es-
tanque. (Fig. 2-6).
Fig. 2-6 - Torniquete
53
(g) Quando a hemorragia estancar, amarre as pontas do pano para trs; caso
as pontas sejam meio curtas, coloque uma outra tira de pano sobre a primeira e
amarre bem;
(h) Ateno: - Os seguintes materiais, muito duros ou muito estreitos, nunca
devem ser usados para fazer um torniquete:
- arame;
- cordo;
- meias de seda;
- cordes de sapatos;
- correias;
- ataduras com menos de 5 cm de largura,
- cintos com menos de 1 cm de largura.
(i) Anote num papel a hora em que foi feito o torniquete;
(j) Prenda este papel na roupa da vtima. Se possvel, coloque no papel tam-
bm o nome e o endereo da vtima (Fig. 2-7),
Fig. 2-7 - No papel preso roupa da vtima deve ser anotada a hora em que foi feito
o torniquete e, se possvel, o nome e endereo da vtima.
1) Ateno: - Providncia Importantssima
- Enquanto voc aguarda a chegada do mdico voc deve afrouxar por alguns
segundos o torniquete, a cada 15 minutos. Se isto no for feito, a vtima poder
perder a perna ou o brao. Se a hemorragia cessar, deixe o torniquete frouxo no
lugar e s reapertar em caso de necessidade.
g) Hemorragias no tronco ou na cabea
1) Procure deitar a vtima;
2) Coloque um apoio sob as suas costas e cabea para que a cabea e tronco
fiquem mais altos que o resto do corpo;
3) Coloque sobre a ferida um curativo de gaze ou um pedao de pano dobra-
do;
4) Pressione o curativo, segurando-o at notar que estancou a hemorragia;
5) Procure evitar que a vtima se movimente.
h) Hemorragia nasal
1) Ponha o paciente sentado com a cabea voltada para trs e aperte-lhe a(s)
narina(s) durante cinco minutos;
2) Coloque um pano molhado em gua gelada sobre o rosto da vtima e deixe-
o por algum tempo,
3) Caso a hemorragia no ceda, coloque um tampo de gaze ou algodo mi-
do por dentro da narina e, se possvel, um saco de gelo sobre o nariz;
4) Evite deixar que a pessoa assoe o nariz e permanea de cabea baixa
54
5) Se tiver necessidade de remoo, esta deve ser feita na posio inicialmen-
te descrita.
i) Hemorragias internas
1) As hemorragias internas acontecem quando h o rompimento dos vasos
dentro do corpo, sem que tenha havido o rompimento da pele,
2) Suspeita-se de hemorragia interna quando houver forte contuso do abd-
men ou trax e/ou a vtima apresentar os seguintes sinais:
(a) escoriaes e/ou equimoses (manchas arroxeadas na pele do abdmen
e/ou trax);
(b) pulsaes fracas e rpidas;
(c) pele fria, plida e mida (suor frio);
(d) inquietao;
(e) fraqueza; e
(f) sede.
3) Estes casos so graves, mas nada h que voc possa fazer;
4) No ministre lquido, mesmo que a vtima se queixe de sede
intensa;
5) Procure imediatamente auxlio mdico.
j) Estado de Choque
1) Estado de choque uma condio que pe a vida em perigo,
ocorrendo quando falta agudamente circulao de sangue para rgos vitais (cre-
bro, corao, rim), por queda sbita de presso arterial. A causa pode ser uma
hemorragia interna, queimaduras ou ferimentos extensos, desidratao avanada,
ataque cardaco, reaes alrgicas ou doenas outras graves desencadeantes.
2) Voc reconhece o estado de choque pelos seguintes sinais:
(a) pulsaes fracas e rpidas;
(b) pele fria e plida;
(c) sensao de frio e fraqueza;
(d) testa suada e inquietao.
3) Para atender a uma vtima em estado de choque, voc deve fazer o seguin-
te:
(a) no movimente a vtima, para no agravar a hemorragia;
(b) coloque a vtima deitada;
(c) levante as pernas da vtima, para que o sangue chegue com
facilidade ao corao;
(d) cubra a vtima com um cobertor, para mant-la aquecida;
(e) afrouxe as roupas;
(f) procure auxlio mdico;
(g) ateno: - nunca d nada para beber a uma vtima em estado de choque.
l) Ameaa de desmaio
1) H casos em que a pessoa percebe que vai desmaiar. Os sintomas de uma
ameaa de desmaio so:
(a) tontura;
(b) frio;
(c) corpo amolecido e sem foras.
2) Nestas condies, voc pode evitar o desmaio, procedendo da
seguinte maneira:
(a) sente a pessoa numa cadeira, com os braos para baixo e as
pernas separadas;
55
(b) abaixe a cabea da pessoa, colocando-a entre as duas pernas da mesma,
com isto aumenta-se a quantidade de sangue que chega ao crebro da pessoa e o
desmaio evitado.
(c) no deixe que a pessoa se levante imediatamente; deixe-a sentada por
algum tempo (fig. 2-8).
Fig. 2-8 - Ameaa de desmaio
m) Desmaio
1) Reconhecemos o desmaio pelos seguintes sinais:
(a) inconscincia;
(b) respirao fraca;
(c) palidez.
2) Para socorrer uma vtima de desmaio, proceda da seguinte maneira:
(a) deite a vtima, coloque sua cabea de lado;
(b) procure desobstruir as vias respiratrias da vtima, retirando
qualquer objeto que esteja impedindo a passagem de ar pela boca e pelo nariz da
vtima;
(c) afrouxe as roupas da vtima, pois as peas de roupas apertadas dificul-
tam a respirao e a circulao;
(d) levante e apoie as pernas da vtima, para que a cabea da mesma fi-
que mais baixa do que o resto do corpo;
(e) se a vtima no se recuperar, apesar de todas essas providncias, pro-
cure auxlio mdico;
(f) depois que a pessoa se recuperar, no deixe que ela se levante imedia-
tamente, ela deve ficar sentada por mais algum tempo, a fim de evitar que o esforo
de levantar produza um novo desmaio.
n) Convulses
1) As convulses podem ser causadas por febre alta ou por uma enfermida-
de mais sria, como a epilepsia.
2) Uma pessoa com convulses apresenta os seguintes sinais:
(a) inconscincia;
56
(b) sacudidas e contraes violentas do corpo.
3) Para proteger a vtima e impedir que ela se machuque, proceda da se-
guinte maneira:
(a) deite a vtima no cho;
(b) afaste tudo o que estiver ao redor da vtima e que possa machuc-la,
como mveis, objetos, pedras etc.;
(c) retire culos, colares e outras coisas que possam quebrar ou machu-
car;
(d) no impea os movimentos da vtima. Proteja sua cabea;
(e) mantenha aberta a boca da vtima, para impedir que ela morda a ln-
gua; para isto, coloque um pano dobrado em sua boca, entre seus dentes. Se voc
no tiver um pano por perto, use outro objeto, mas escolha um objeto que no ve-
nha a machucar a vtima;
(f) a pessoa que est com convulses tem abundante salivao, mas no
pode engolir a saliva, porque est inconsciente. Deite a cabea da vtima de lado e
segure-a nesta posio, para que a saliva possa escoar e no sufocar a vtima;
(g) aps a convulso, a pessoa dorme profundamente. No procure acor-
dar a pessoa; coloque-a na cama ou em algum lugar confortvel e deixe-a dormir.
o) Parada respiratria - Respirao artificial
1) A parada respiratria pode ser devida presena de algum elemento que
esteja obstruindo as vias respiratrias.
2) Antes de mais nada, verifique se existe algum elemento que impea a
passagem do ar pelas vias respiratrias da vtima e remova-o, se ele existir. Muitas
vezes, com esta providncia, a respirao se normaliza imediatamente.
3) Se a parada respiratria persistir, tome as seguintes precaues iniciais:
(a) verifique se a pessoa est sangrando ou vomitando. Nunca se deve a-
plicar respirao artificial a uma pessoa nestas condies.
(b) retire as dentaduras, pontes ou aparelhos dentrios removveis e remo-
va as secrees que porventura existirem dentro da boca.
4) Feito isso, voc pode aplicar a respirao artificial.
5) Proceda da seguinte maneira:
(a) deite a vtima de costas, com os braos estendidos ao longo do corpo,
(b) segure a cabea da vtima, com uma das mos colocadas sobre a testa
e a outra embaixo do queixo;
(c) incline a cabea da vtima para trs;
(d) apoie o pescoo da vtima com uma toalha e mantenha a boca da vti-
ma fechada;
(e) encha os seus pulmes de ar e abra bem a boca da vtima (Fig. 2-9);
(f) coloque a sua boca sobre a da vtima, sem deixar frestas pelas quais o
ar possa escapar, e oclua as narinas com os dedos da mo que est sobre a testa;
(g) sopre o ar para dentro da boca da vtima, com fora suficiente para que
ele possa chegar aos pulmes da mesma. Se soprar com muita fora, o ar vai para
o estmago, podendo provocar vmito ou parada cardaca, pela dissenso aguda
do mesmo (Fig. 2-10);
(h) retire a sua boca e deixe que o ar que voc soprou seja expulso natu-
ralmente dos pulmes da vtima (Fig. 2-11);
(i) repita as etapas de (c) (g). A operao completa, etapas de (c) (g),
deve ser realizada de 12 a 15 vezes por minuto, ou de 20 a 25 vezes por minuto
para crianas e recm-nascidos,
57
(j) no desista e no interrompa o processo caso a respirao no se nor-
malize imediatamente. Algumas vezes pode levar at 1 hora para que haja recupe-
rao;
(I) quando for restabelecida a respirao normal, deite a vtima de lado, pa-
ra evitar que ela se sufoque;
(m) em crianas muito pequenas, voc pode aplicar a respirao Artificial
da mesma forma, porm soprando o ar pelo nariz da vtima. A Respirao artificial
pelo nariz tambm pode ser usada em adultos, caso a Respirao artificial pela
boca no tenha produzido resultados, Observe bem a seqncia das ilustraes:
Fig. 2-9 - Encha seus pulmes de ar.
Abra bem a boca da vitrina.
Fig. 2-10 - Coloque sua boca sobre a da vtima, sem deixar frestas para o ar esca-
par. Sopre ento o ar para que ele chegue aos pulmes da vtima.
Fig. 2-11 - Retire sua boca. Encha novamente seus pulmes de ar. Deixe que o ar
que voc soprou seja expulso naturalmente dos pulmes da vtima. Repita a opera-
o completa.
p) Parada cardaca e respiratria
58
1) Para socorrer uma vtima de parada cardaca e respiratria, voc deve
usar dois recursos de primeiros socorros: a respirao artificial e a massagem car-
daca externa.
2) Para fazer a massagem cardaca externa, proceda da seguinte maneira:
(a) deite a vtima de costas, sobre uma superfcie bem firme. De prefern-
cia, deite-a no cho;
(b) ajoelhe-se ao lado da vtima. Coloque a palma de uma de suas mos
sobre a parte inferior do osso externo da vtima e a outra mo sobre a primeira.
Mantenha seus braos esticados (fig. 2-12);
(c) solte o peito da vtima;
(d) pressione e solte vrias vezes, com o maior intervalo possvel entre ca-
da presso, at que a vtima se recupere.
3) A assistncia deve ser prestada, preferivelmente por duas pessoas: uma
das pessoas faz a massagem cardaca, enquanto a outra aplica a respirao artifi-
cial (fig. 2-13).
4) Para cada 5 compresses cardacas devem ser feitas duas aplicaes da
respirao artificial.
5) Ateno: Em crianas menores de 10 anos, as presses devem ser feitas
com uma das mos, enquanto a outra apia as costas. Nestes casos, as compres-
ses e respiraes devem ser alternadas, de modo a completarem 100 compres-
ses e 20 respiraes por minuto.
6) preciso ter muito cuidado quando a parada cardiorrespiratria for cau-
sada por acidentes ou quando a vtima for uma pessoa idosa. Em tais casos, um
osso fraturado, ou que seja mais frgil, pode perfurar um pulmo e pr em perigo a
vida da vtima.
Fig. 2-12 - Pressione o trax da vtima, aproveitando a fora do seu corpo. Enquan-
to isso, mantenha os braos bem esticados.
59
Fig. 2-13 - A assistncia deve ser prestada, preferivelmente por duas pessoas; uma
das pessoas faz a massagem cardaca, enquanto a outra aplica a respirao artifi-
cial.
q) Queimaduras
1) Classificamos as queimaduras, conforme sua gravidade e suas caracters-
ticas, em queimaduras de 1 ., 2. e 3. graus.
2) Queimadura de 1 grau.
(a) As queimaduras de 1 grau so mais leves.
(b) Uma queimadura de 1 grau se caracteriza por:
- pele avermelhada;
- dor no muito forte no local queimado.
(c) Uma queimadura de 1 grau somente grave no caso em que a rea
queimada muito extensa.
3) Queimaduras de 1 grau pouco extensas.
(a) Neste caso, proceda da seguinte maneira:
- deixe correr gua fria (de uma torneira, chuveiro etc.) sobre a queima-
dura, para aliviar a dor;
- coloque sobre a regio queimada um creme especial para queimadu-
ras ou azeite;
- cubra as regies queimadas com um curativo de gaze.
4) Queimaduras de 1 grau muito extensas.
(a) Estas queimaduras exigem um tratamento especial: - deite a vtima;
- cubra a vtima com lenol limpo molhado em gua fria;
- leve a vtima imediatamente a um hospital.
60
5) Queimaduras de 2 grau.
(a) Uma queimadura de 2 grau se caracteriza por:
- pele avermelhada;
- dores no local queimado;
- formao de bolhas;
(b) s vezes, uma queimadura de 2 grau pode produzir estado de choque.
(c) Para socorrer a vtima, proceda da seguinte maneira:
- deixe correr gua fria sobre a queimadura;
- cubra as regies queimadas com um curativo de gaze molhada;
- no estoure as bolhas;
- no use azeite, cremes ou pomadas;
- faa a vtima ficar deitada, para prevenir o estado de choque;
- procure auxlio mdico.
6) Queimaduras de 3 grau.
(a) As queimaduras de 3 grau so as mais graves e apresentam srios
perigos para a vtima.
(b) Uma queimadura de 3 grau se caracteriza por: - feridas profundas na
pele, atingindo rgos abaixo dela; - dores muito fortes.
(c) Uma queimadura de 3 grau provoca quase sempre o estado de cho-
que.
(d) Para socorrer a vtima, proceda da seguinte maneira:
- mantenha a vtima deitada. Esta posio indicada para tratar a quei-
madura e para evitar ou combater o estado de choque;
- lave bem as mos antes de tratar das queimaduras, para no provocar
infeces;
- corte as roupas que esto perto das regies queimadas. No descole a
roupa que ficou sobre as queimaduras, para no aumentar as feridas;
- cubra as feridas com um curativo grosso de gaze ou um pano limpo,
molhado em gua limpa. No use outro material;
- procure no arrebentar as bolhas nem tocar as feridas, para no pro-
vocar uma infeco;
- procure auxlio mdico.
7) Queimaduras por fogo.
(a) Se a queimadura for causada por fogo e as roupas da vtima
estiverem se incendiando, preciso apagar o fogo. Isto pode ser feito: - jogando
gua sobre as chamas:
- usando o extintor de incndio; (Cuidado! No aponte o extintor para o
rosto da vtima) (fig. 2-14);
- enrolando a vtima num cobertor para abafar as chamas (fig. 2-15);
- rolando a vtima no cho (fig. 2-16).
61
Fig. 2-14 - Uso do extintor de incndio nas queimaduras por fogo.
Fig. 2-15 - Enrolando a vtima num cobertor para abafar as chamas - queimaduras
por fogo.
Fig. 2-16 - Rolando a vtima no cho nas queimaduras por fogo.
8) Queimaduras por substncias qumicas:
(a) retire todas as peas de roupas que estejam impregnadas da substn-
cia qumica que causou a queimadura;
(b) lave demoradamente, com gua fria, todas as feridas, para que no
reste qualquer resduo da substncia qumica. Se a queimadura tiver atingido os
olhos, aja da mesma maneira;
(c) depois de lavar bem a ferida, coloque sobre ela um curativo grosso de
gaze.
9) Queimaduras no trax, abdmen e costas:
(a) jogue gua fria sobre as feridas para acalmar as dores;
(b) remova a vtima para um hospital;
62
(c) ateno: Estes casos so to graves que a vtima deve ser removida,
mesmo que esteja em estado de choque.
r) Insolaes
1) Uma insolao pode apresentar um ou mais dos seguintes sintomas:
(a) tontura;
(b) enjo;
(c) dor de cabea;
(d) pele seca e quente;
(e) rosto avermelhado;
(f) febre alta;
(g) pulso rpido;
(h) respirao difcil;
(i) s vezes, inconscincia e convulses.
2) Em caso de insolao, proceda da seguinte maneira:
(a) chame o mdico com urgncia;
(b) enquanto aguarda a chegada do mdico, coloque a vtima num lugar
com sombra;
(c) molhe o corpo da vtima com gua fria;
(d) deite a pessoa de costas, apoiando a cabea e os ombros para que fi-
quem mais altos que o resto do corpo;
(e) coloque sobre a cabea da vtima, axilas e virilha, uma bolsa de gelo ou
uma toalha com gua gelada para baixar a febre.
s) Choques eltricos
1) Como proceder se a vtima ficar presa corrente eltrica:
(a) no toque na vtima sem antes desligar a corrente eltrica:
(b) voc pode desligar a corrente eltrica;
- desligando a chave geral;
- tirando os fusveis;
- tirando o plug da tomada. (fig. 2-17);
(c) se no for possvel desligar a corrente eltrica, procure afastar a vtima
do condutor, usando uma vara de madeira ou um cabo de vassoura, bem secos
(fig. 2-18);
(d) cuidado! Verifique se seus ps esto secos e se voc no est pisando
em cho molhado, para no levar voc mesmo um choque eltrico.
Figas. 2-17 e 2-18 - Cuidados nos casos de choques eltricos.
63
2) Como socorrer a vtima depois de afast-la do condutor:
(a) deite a vtima;
(b) verifique se ela est respirando. Caso a vtima no esteja respirando,
aplique a respirao artificial;
(c) verifique se houve queimadura. Trate as queimaduras de acordo com o
seu grau.
3) Choque eltrico produzido por corrente de alta tenso:
(a) se o choque eltrico for produzido por corrente de alta tenso (os gran-
des cabos eltricos que existem na rua), impossvel socorrer a vtima antes que
tenha sido desligada a corrente, o que s pode ser feito na Central Eltrica;
(b) em tais casos, voc deve proceder da seguinte maneira: - procure um
telefone e chame a Central Eltrica, a fim de desligar a corrente;
- enquanto a corrente no for desligada, mantenha-se a uma distncia
mnima de 4 metros da vtima. No deixe que ningum se aproxime da vtima e
tente socorr-la.
t) Fraturas
1) As fraturas podem ser fechadas (quando no h rompimento da pele e
expostas (quando a pela perfurada pelo osso quebrado ou por algum objeto que
tenha penetrado e causado a fratura.
2) Fraturas fechadas:
(a) s uma radiografia pode confirmar a existncia de uma fratura, mas
desde que haja suspeita, aja como se realmente existisse uma fratura;
(b) no tente mover o local fraturado ou sob suspeita de fratura, pois isto
poderia causar dores, feridas ou at o rompimento de veias e nervos;
(c) imobilize imediatamente o local fraturado (fig. 2-19),
(d) use duas talas de madeira, papelo etc., e amarre-as com tiras de pano
em torno da fratura.
(e) no caso de fratura do brao, as talas devem cobrir inclusive a mo para
impedir o movimento do pulso. preciso impedir o movimento de qualquer parte do
membro fraturado;
(f) faa uma tipia para impedir os movimentos do cotovelo. Dobre um len-
o em tringulo e prenda-o ao pescoo da vtima. Passe o brao por dentro do
leno;
(g) no caso de fratura da perna, imobilize a mesma com duas talas, que
devem atingir o joelho e o tornozelo, de modo a impedir qualquer movimento destas
articulaes;
h) no caso de uma perna fraturada, no deixe que a vtima tente andar. Se
for necessrio transport-la, use urna maca ou pea ajuda a algum para carreg-
la;
i) caso a fratura tenha provocado a deformao de um membro, tente reco-
locar o membro na posio normal antes de imobiliz-lo. Se encontrar resistncia,
no force, imobilize na posio encontrada.
3) Fraturas expostas
(a) Estanque a hemorragia;
(b) Faa um curativo de gaze ou pano limpo sobre a ferida para evitar a
penetrao de poeira na mesma;
(c) Evite movimentos do membro fraturado; se possvel ponha o brao ou
perna fraturados entre duas talas.
(d) Procure imediatamente auxlio mdico.
64
Fig. 2-19 - tipos de Imobilizao
4) Casos Especiais - fraturas de crnio, coluna, bacia e fmur.
(a) No h nada que voc possa fazer;
(b) No toque na vtima;
(c) Providencie ambulncia imediatamente;
(d) No caso de a vtima se queixar de dor no pescoo ou nas costas e,
principalmente, se referir alteraes de sensibilidade (formigamento, insensibilidade
e/ou dificuldade de movimentao dos braos e dedos das mos, deve-se suspeitar
de leso instvel na coluna cervical. Por outro lado, caso apresente esses mesmos
sintomas nas pernas, suspeitar de leso na coluna traco-lombar.
(e) Se tiver que remover o paciente faa-o com tcnica adequada (com o
mximo cuidado, em maca dura, com a mnima movimentao da vtima), para
evitar o agravamento da leso da medula, que irreversvel. Luxaes ou fraturas
em articulaes (ombro, cotovelo, pulso, joelho e tornozelo)
(f) Imobilize o membro acidentado e conduza ao mdico,
u) Envenenamento
1) Antes de mais nada, procure descobrir a causa do envenenamento.
Se o envenenamento foi causado por um remdio ou por algum produto
qumico, procure o vidro ou a caixa onde ele se encontrava. Caso o envenenamento
tenha sido causado por plantas ou comida, procure saber o que foi.
65
2) Voc dever dizer ao mdico que vai tratar da vtima:
(a) o que causou o envenenamento;
(b) h quanto tempo isto aconteceu;
(c) a quantidade ingerida ou cheirada.
3) Providncias que voc pode tomar, mesmo sem saber a causa do enve-
nenamento:
(a) Faa a vtima beber vrios litros de gua ou leite. Isto vai diluir o vene-
no que est no estmago.
(b) Esta recomendao no se aplica se a vtima estiver inconsciente, ou
se a ingesto ocorreu h uma hora ou mais.
- Voc sabe que no se pode dar nada de beber a uma pessoa que est
inconsciente.
(c) Se a pessoa estiver consciente e tiver ingerido gua ou leite, procure
fazer a pessoa vomitar, para que elimine o veneno.
(d) Voc pode fazer a vtima vomitar, introduzindo uma colher ou o dedo na
garganta da vtima. Faa isto com cuidado, para no machucar a vtima.
(e) Ateno: - No provoque vmito se a vtima estiver inconsciente, ou se
o envenenamento for causado por gasolina, querosene, diluentes de tintas, cidos
ou soda custica.
4) Procedimento se voc souber a causa do envenenamento:
(a) Envenenamento por cidos
- Faa a vtima beber uma destas coisas:
- leite;
- gua com bicarbonato;
- azeite de oliva,
- clara de ovos.
- Estes produtos ajudam a aliviar a irritao do aparelho digestivo.
5) Envenenamento por soda custica
(a) Faa a vtima beber uma soluo de vinagre e suco de limo diludos
em gua;
(b) A seguir, d leite, gua, azeite ou clara de ovos.
v) Picadas de animais peonhentos: cobras, aranhas, escorpies e mordidas
de animais raivosos:
1) importante capturar o animal que picou a vtima, pois a identificao do
animal facilita o tratamento. ( claro que a busca do animal e o atendimento vti-
ma devem ser feito por duas pessoas).
2) Em caso de picadas de cobras, se o atendimento for feito nos primeiros
30 minutos aps o acidente, o veneno ainda pode ser extrado. Isto pode ser feito
por sangramento ou por suco.
3) Procure uma agulha, ou um alfinete ou mesmo um espinho e faa perfu-
raes no muito profundas em torno do local picado.
4) Em seguida, esprema a rea perfurada para que -sangre bastante. Desta
forma, uma parte do veneno sair junto com o sangue.
5) Voc tambm pode extrair o veneno fazendo suco com a boca.
Entretanto, voc s pode fazer isto se no tiver nenhuma leso na boca,
como feridas, aftas ou lceras.
6) No caso de picada de aranha ou escorpio, no faa o sangramento.
7) Em qualquer caso, a vtima deve ser removida imediatamente para um
hospital ou uma farmcia onde possa receber auxlio.
66
8) No deixe que a vtima caminhe, principalmente se a picada foi nos mem-
bros inferiores. Sempre h algum meio de transportar a vtima.
9) Nunca faa um torniquete nem faa cortes. Em determinados tipos de pi-
cadas, um torniquete pode ter conseqncias fatais, pois certos venenos causam
gangrena e outras hemorragias.
10) Aplique o soro polivalente imediatamente, se o tiver em mos, de acordo
com as instrues na bula, e em seguida encaminhe diretamente ao hospital (em
So Paulo, Instituto Butant).
11) Mordidas de animais raivosos:
(a) Qualquer animal pode contrair a raiva e se tornar um transmissor. To-
dos os animais que causaram mordedura devem ser mantidos em observao num
perodo de pelo menos 10 dias. Mesmo vacinados, os animais podem s vezes
contrair doena.
(b) Todas as mordidas de animais devem ser vistas por um mdico.
(c) As vtimas devem ser levadas ao Instituto Pasteur ou outras institui-
es, a fim de serem examinadas pelo especialista.
x) Parto de Urgncia
1) O atendimento de urgncia a um parto resume-se em ajudar a parturiente
a amparar o beb. S o mdico ou as parteiras podem tomar outras providncias.
2)Voc pode fazer o seguinte:
(a) Deite a parturiente. Se no houver uma cama ou um sof por perto,
deite-a no cho forrado com almofadas ou panos;
(b) Faa a parturiente urinar e evacuar, antes que as dores do parto fiquem
muito fortes e os intervalos entre elas fiquem muito curtos;
(c) Quando o intervalo entre as dores for de 2 a 3 minutos, coloque a par-
turiente na posio correta para iniciar o parto;
(d) Lave bem as suas mos para amparar o beb;
(e) Cada vez que a parturiente sentir uma contrao, faa com que ela
prenda a respirao e faa fora para expulsar o beb;
(f) Quando a cabea aparecer, cubra o nus da parturiente com um peda-
o de gaze ou pano limpo; (Fig.2-20).
Fig. 2-20 - Quando a cabea aparecer, cubra o nus da parturiente com gaze ou um
pano limpo.
(g) Enquanto a cabea da criana for saindo, pea parturiente que respi-
re em ritmo bem acelerado (respirao curta e rpida);
(h) No momento em que a cabea do beb sair, ampare a cabea para
que a criana no se machuque (Fig. 2-21);
67
(i) Depois de sair a cabea do beb, o resto do corpo vai sair com facilida-
de e rapidez. No puxe o corpo da criana; voc deve apenas ampar-lo (Fig. 2-
22).
Fig. 2-21 - No puxe o beb. Espere o desenrolar do nascimento. Ao sair, a cabea
do beb faz um pequeno giro.
Fig. 2-22 - Neste momento comeam a sair tambm os ombros e o resto do corpo.
(j) Nos raros casos em que houver dificuldade de sada dos ombros:
(k) Pegue a cabea da criana em suas mos e abaixe-a com muito cuida-
do para um ombro poder sair. Depois levante a cabea do beb um pouco para sair
o outro ombro;
(I) Aps o nascimento, ajude a criana a respirar. Retire a secreo muco-
sa que se acumulou na boca e no nariz do beb, com gaze ou com um pano bem
limpo. No use leno de papel nem algodo;
(m) Se a criana chorar, sinal de que est respirando. Se a criana no
chorar, segure-a firmemente pelas pernas, de cabea para baixo. Isto permitir a
sada de qualquer lquido que esteja impedindo a respirao;
(n) D alguns tapinhas bem delicados nas costas do beb, para ajudar a
respirao;
(o) os bebs nascem cobertos por uma secreo mucosa (como uma
gosma");
(p) Voc deve tirar toda esta secreo que se acumulou na boca e no nariz
do beb. Isto deve ser feito com gaze ou pano bem limpo; (Fig. 2-23).
68
Fig. 2-23 - Retirar a secreo que cobre o beb.
(q) Se tudo isto no der certo, aplique a respirao artificial. Sopre suave-
mente. Lembre-se de que os pulmes do beb so frgeis;
(r) Amarre o cordo umbilical a mais ou menos quatro dedos de distancia
do corpo do beb. Use um barbante ou fita bem fina e limpa;
(s) Faa dois outros ns no cordo, um pouco mais adiante;
(t) Corte o cordo entre o 2. O e o 3. O n; portanto, ficaro dois ns do la-
do da criana. O corte no causar dores criana nem me, (Fig. 2-24).
Fig. 2-24 - Corte o cordo umbilical entre o 2.o e 3.0 n
(u) Coloque o beb deitado de bruos, com a cabea de lado, sobre a bar-
riga da me. Cubra-o para mant-lo aquecido;
(v) Agora, d assistncia me. No tente puxar o cordo umbilical. Ele
sair naturalmente junto com a placenta mais ou menos vinte minutos aps o nas-
cimento;
(w) Se aps a sada da placenta, houver hemorragia forte, tampone a va-
gina com gaze, algodo ou panos limpos;
(x) Comprima com as mos a parte de cima da barriga da me e enfaixe
firmemente;
(y) Recomendaes especiais:
- se o mdico no chegar at o final do parto, transporte a me e a cri-
ana para um hospital. No deixe que a parturiente ande, leve-a deitada;
- no deixe que a me amamente o beb. O primeiro choro no sinal
de fome, apenas vitalidade;
- se ao invs da cabea, o nascimento se iniciar por alguma outra parte
do corpo (braos e pernas) no faa nada. Leve a me imediatamente para o hospi-
tal ou aguarde a chegada do mdico.
z) Afogamento.
1) Antes de mais nada, preciso retirar a vtima da gua;
2) Voc deve agir rapidamente, mas sem precipitao. Verifique se existem
correntezas; verifique tambm o tamanho e o peso da vtima, e se a vtima est
consciente ou inconsciente;
69
3) Se a vtima estiver consciente, provvel que ela esteja desesperada e
em pnico. Voc deve se atirar na gua para salv-la (desde que voc mesmo
saiba nadar, claro ... ), mas deve evitar que a vtima, em desespero, se agarre a
voc;
4) Procure colocar ao alcance da vtima alguma coisa em que ela possa se
agarrar; barcos, pranchas, bias, pedaos de pau, cordas etc.;
5) Se a vtima estiver desacordada, voc deve arrast-la para a margem.
Neste processo, mantenha o rosto da vtima fora da gua;
6) Uma vez alcanada a margem, se a vtima estiver consciente, bastar ge-
ralmente aquec-la e tranqiliz-la;
7) Se a vtima do afogamento estiver inconsciente, provvel que ela esteja
com frio, arroxeada e com a respirao suspensa. Neste caso, preciso reanim-
la;
8) Coloque a vtima deitada de bruos, com a cabea mais baixa do que o
resto do corpo. O trax e o abdmen da vtima devem estar calados com o brao
da vtima;
9) Nesta posio comprimir e descomprimir a base do trax com as mos
abertas, adotando-se a posio dita "posio montada";
10) Se voc conseguir reanimar a vtima desta maneira, vire-a e aplique a
respirao boca a boca;
11) Assim que a vtima estiver melhor, providencie a sua remoo para o
hospital.
4.8 - Vtima inconsciente
a) Diante de uma vtima inconsciente, procederemos da seguinte forma, na se-
qncia:
1) Desobstruir as vias areas, retirando dentaduras, pontes mveis, secre-
es e qualquer tipo de corpo estranho que esteja dificultando a respirao;
2) Posicionar a cabea de forma que fique estendida para trs, impedindo
que a lngua obstrua a garganta;
3) Estancar eventuais hemorragias externas com o mtodo adequado;
4) Palpar o corpo todo, delicadamente, para verificar a existncia de fraturas;
5) No caso do paciente inconsciente no haver referncia da dor. Suspei-
tar-se-, no caso, de fratura, se alguns dos seguintes sinais forem observados:
(a) Posicionamento anmalo do membro;
(b) Inchao localizado no membro ou articulaes;
(c) Crepitao (como quando se esfregam os cabelos entre os dedos sua-
vemente, a palpao do foco da fratura.
6) Imobilizar as fraturas conforme foi descrito anteriormente;
7) Chamar o mdico ou transporte especializado;
8) Se no for possvel atender ao item anterior, transportar o paciente pelo
mtodo da padiola, como descrito adiante neste manual.
4.9 - Transporte de feridos
a) Quem presta primeiros socorros pode ver-se na necessidade de transportar
um ferido ou uma pessoa atingida inesperadamente por enfermidade grave.
b) preciso pesar bem os prs e os contra do transporte de um ferido, Casos
h em que a natureza da leso torna imperioso o transporte, e outros em que pode
70
haver dvida. Se h mdico prximo, ele decidir se a leso pode tratar-se em casa
ou necessrio transportar o paciente para uma instituio mdica.
c) Sempre que possvel, melhor que o transporte seja realizado por pessoal
especializado em ambulncia de hospital, ou outras pessoas orientadas por um
mdico. Ser preciso usar o bom senso para saber o que melhor em cada caso.
Dar-se-o neste captulo algumas noes acerca da maneira de levantar e
transportar os feridos segundo as diversas facilidades existentes. Erguer ou
transportar um traumatizado de maneira incorreta pode, em muitos casos, agravar a
leso. d) Para preparar o ferido para o transporte, deve-se fazer o que explicamos nos
captulos anteriores (exame do ferido, preveno e tratamento do choque etc.).
bvio que preciso descobrir com urgncia, pelo exame do paciente, se alguma
leso requer precaues especiais para o transporte.
e) Transporte de traumatizados de coluna
1) Se for imprescindvel a remoo da vtima com suspeitas de fratura de co-
luna, tomar as seguintes precaues;
(a) O transporte deve ser feito em maca ou padiola duras com a vtima em
decbito dorsal (de barriga para cima);
(b) Os pacientes devem ser transferidos e manipulados com muito cuidado
para se evitar flexo ou extenso excessiva de regies da coluna com suspeita de
leso;
(c) Evite movimentos de virar ou dobrar a coluna, principalmente no mo-
mento de se colocar na maca ou padiola;
(d) No caso de coluna cervical traumatizada, ao transportar a vtima, colo-
que um calo de cada lado da cabea para mant-la imvel.
f) Os vrios meios de transporte
O transporte pode ser manual (quando se transporta o ferido sem ajuda de
aparelho algum), ou por meio de material especial ou improvisado (padiola, cadeira
etc.), ou por meio de veculos, automvel, ambulncia, avio, helicptero, carro etc.
g) Princpios gerais de transporte
1) Para maior proveito do paciente, deve tratar-se de transport-lo na medida
do possvel deitado, de maneira ao mesmo tempo suave e rpida, sendo prefervel,
salvo em casos de extrema urgncia, sacrificar a rapidez em favor da suavidade de
movimentos, ainda que mais lentos. Conseguir ou improvisar uma padiola melhor
que o transporte manual
2) Evitar a pressa indevida e os movimentos desatinados que ela provoca.
Os movimentos sero suaves e lentos. Evitar, na medida do possvel, movimentos
bruscos e solavancos.
3) Se h mais de uma pessoa, uma delas, a mais experiente, ser quem di-
rige, e a outra ficar com o paciente e o atender at que seja posto em mos do
mdico.
4) Se a leso pequena e no incapacita o paciente, pode permitir-se-lhe
que v caminhando, se a distncia curta.
5) Pode ir sentado, o paciente que tem leses leves e no est inconsciente
nem com o estado geral afetado. Quando h dificuldade de respirar, pode, se ne-
cessrio coloc-lo sem-sentado.
6) Em todos os demais casos prefervel que o transporte se faa deitado
h) Transporte manual (Fig. 2-25)
O mtodo de levantamento e transporte de um ferido variar segundo o n-
mero de pessoas que possam ajudar, a fora, ou melhor ainda, a habilidade dos
71
mesmos, o peso e a espcie de leso do paciente. prefervel obter a ajuda de 3
ou 4 pessoas para tornar o transporte o melhor possvel.
i) Levantamento e transporte do ferido, por uma pessoa
1) Sempre que possvel, tratar de conseguir que outra pessoa ajude a levan-
tar e transportar o ferido, pois assim se far com menor esforo e com maior suavi-
dade para o paciente. As circunstncias poderiam, no entanto, obrigar a quem pres-
ta primeiros socorros a atuar s. Em caso de fratura prefervel no tent-lo, a fim
de no agravar o estado do ferido ou no provocar-lhe sofrimentos.
(a) Pessoa consciente:
- colocar-se esquerda do ferido, com o joelho esquerdo apoiado no so-
lo;
- colocar o brao direito debaixo da parte superior do trax e o esquerdo
por baixo dos joelhos;
- pedir ao ferido que se pegue com os braos ao pescoo de quem o le-
vanta;
- por-se em p e transport-lo;
- pode-se levar tambm nas costas, mtodo este menos cansativo.
(b) Pessoa inconsciente
- Varia o procedimento para levant-lo segundo esteja de costas ou de
bruos.
- Enfermo de Costas:
- amarrar ambas as mos com uma "gravata". Passar as mos amarra-
das pelo pescoo de quem auxilia, e levant-lo depois na forma descrita para a
pessoa que esteja na posse dos sentidos.
- Enfermo de bruos:
- ajoelhar-se diante do cado, olhando para sua cabea. Pr os braos
debaixo das axilas do acidentado e levant-lo, at que esteja sobre seus joelhos.
Peg-lo pela cintura e levant-lo, at que esteja em p (ajudando com os joelhos).
Pegar depois, com a mo esquerda, o punho do paciente, e agachar-se, jogando o
paciente para cima do ombro e das costas.
Com o brao direito, pegar o joelho direito do paciente e levantar-se. O
paciente ficar sobre os ombros de quem o socorre. Este, com seu brao e mo
direitos, o pega pelos membros inferior e superior direitos (ver fig 2-25).
- O descrito acima vlido quando se tem absoluta certeza de que:
- a vtima est respirando bem;
- no h qualquer tipo de fratura;
- no h mais ningum por perto para ajudar.
j) Como ajudar a caminhar um acidentado leve
Pr-se do lado do paciente, passar o brao so do mesmo sobre o ombro e suster-
lhe o punho com a mo. Se necessrio, passar o outro brao pela cintura do enfer-
mo para ajud-lo a suster-se e caminhar.
l) Levantamento por duas pessoas (Fig. 2-26).
1) Pessoa inconsciente ou que deve se movimentar pouco:
2) Dois mtodos so aplicveis:
72
73
Fig. 2-25 - Transporte de feridos
a) Pr-se de joelhos, um de um lado e outro do outro e passar cada um
uma das mos debaixo do dorso e a outra por trs dos joelhos, segurando-as de-
baixo do paciente. Para levantar mais prudente que um deles se levante primeiro,
ficando agachado, e em seguida o outro.
b) Outra maneira a seguinte: porem-se ambos os socorristas do mesmo
lado, ajoelhados, passando um deles um brao por trs da cintura e o outro por
baixo da parte alta do dorso, e quem se encontra na extremidade das pernas e das
coxas. Ao comando de quem dirige, por-se-o em p.
c) O transporte poder fazer-se na mesma forma em que est o ferido ao
terminar de levant-lo do cho, podendo utilizar-se qualquer dos procedimentos de
transporte em padiola verdadeira ou improvisada, que mencionaremos a seguir.
m) Transporte por duas pessoas
1) Segundo o estado geral do paciente, este poder ir a p, ajudado por du-
as pessoas, sentado ou semideitado.
Fig. 2-26 - Transporte por duas pessoas
74
(a) A p
- Este mtodo semelhante ao j descrito para o caso de um nico so-
corrista. Neste caso, haver um de cada lado. Caminhar lentamente, marcando
passo com o paciente.
(b) Sentado
- semelhante este transporte ao brinquedo que as crianas chamam
"cadeirinha". Forma-se um assento com trs mos ou com quatro. aplicvel a um
paciente que no possa caminhar, mas sem tendncia a desmaios, e que possa
utilizar um dos braos ou ambos. Se puder usar ambos, fazer-lhe um assento com
trs mos, para que o brao de um dos socorristas fique livre para suster o paciente
do lado ferido.
(c) Cadeira com quatro mos
- Cada um dos socorristas se ajoelha a um lado do paciente sentado,
pede-se-lhe que ponha os braos sobre os ombros dos auxiliares. Passar a seguir
os braos por baixo das coxas do paciente, pegando cada um seu prprio punho
direito, e a seguir, com a mo direita pegar o punho esquerdo do outro auxiliar.
Levantam-se juntos e caminham com "passo desencontrado", comeando quem
est esquerda, com o p esquerdo e quem est direita, com o p direito (Fig. 2-
27).
Fig. 2-27 Fig. 2-28
Fig. 2-27 - Levantamento por duas
Fig. 2-28 - Cadeira com trs mos.
(d) Cadeira com trs mos
- semelhante anterior, salvo em que as mos se entrelaaro na
forma que mostra a gravura, ficando livre o brao de um dos socorristas para pas-
s-lo debaixo dos ombros do paciente. (Fig. 2-28).
(e) Cadeira com duas mos
- Pode-se lev-lo tambm sobre duas mos entrelaadas, que se pas-
sam por baixo das coxas. Passar, cada um, um brao pelas costas do paciente e
pegar o ombro um do outro. O paciente passa os braos pelos ombros de ambos.
(f) Enfermo sem sentidos (transporte semideitado).
- Um dos socorristas se pe entre as pernas do acidentado (ou doente),
pegando-lhe os membros inferiores por baixo dos joelhos, enquanto o outro passa
os braos por baixo das axilas, cruzando as mos por cima do peito do paciente.
Levantam-se juntos e comeam a marcha, um com o p esquerdo e o outro com o
75
direito, para evitar o excessivo balano do paciente. O ajudante mais forte sustenta-
r a cabea e os ombros. No se deve usar este modo de transporte se h fraturas
ou luxaes ou alguma leso grave.
n) Levantamento e transporte com trs pessoas
1) Na falta de padiola, este mtodo um bom substituto dela. No se pode
usar, entretanto, quando h fratura na coluna vertebral ou de membro inferior, a
menos que esteja muito bem imobilizado, e unido ao so, o membro fraturado.
2) Se h um lado lesionado, pr-se do outro. Os trs estaro sobre o mesmo
lado, o mais forte na altura dos quadris, que lhe segue em foras na altura dos
ombros, e o menos forte na altura das pernas e ps. Cada um estar apoiando no
solo o joelho que fica para a extremidade dos ps do ferido.
3) Quem est mais prximo da cabea passar um brao por trs da nuca e
dos ombros e o outro por trs da parte alta das costas. O do meio passar os bra-
os por baixo dos quadris, e o terceiro por baixo dos joelhos e tornozelos. Levant-
lo a seguir at coloc-lo sobre o joelho que no se apia em terra e sust-lo ali
enquanto melhor acomodado. Feito isto, os auxiliares se levantam. Coloc-lo de
lado, com o peito contra o peito de quem est suportando a cabea e o trax. Ca-
minhar, marcando todos passos certos. (Fig. 2-29).
o) Levantamento com seis pessoas
Pode utilizar-se, para levantar um fraturado de coluna vertebral. Colocam-se
trs pessoas de um lado e trs do outro e passam alternadamente as mos por
baixo do paciente, mantendo um joelho em terra. Levantam-se todos a um tempo,
lentamente, tratando para que no se mova o lugar fraturado.
p) Transporte em material especial ou improvisado
1) Transporte em uma cadeira
Fig. 2-29 - Padiola improvisada com cobertor
uma boa maneira de subir ou descer com um paciente por escadas.
conveniente que a cadeira tenha o encosto mais reto possvel. O paciente ser
sentado na cadeira, sendo transportado com um ajudante em cada extremidade da
mesma e um de cada lado, segundo a largura da escada.
2) Padiolas improvisadas
(a) Quando no se pode conseguir uma padiola, com um pouco de enge-
nho pode improvisar-se uma. Algumas das coisas que podem ser usadas, so:
- uma tbua, porta, veneziana, escada, catre. So mais fceis de trans-
portar as descritas a seguir.
76
- com um cobertor - arranjar duas varas compridas e redondas e nelas
enrolar as extremidades do cobertor, at que fique da largura de 60 centmetros.
Fixar a parte enrolada com alfinetes de segurana, ou com cordas que se passaro
por orifcios feitos no cobertor. Muito bom resultado d o mtodo que mostra a figu-
ra abaixo. Se no se conseguem varas, dobrar o cobertor vrias vezes. Neste caso
deve ser levado por trs pessoas de cada lado, para impedir que afunde na parte
mdia (Fig. 2-29).
- com sacos - dois sacos fortes se atravessam por seus lados com duas
varas. (Fig. 2-30).
fig. 2-30 - Padiola improvisada com sacos
- casaco e colete - pr os casacos com as mangas viradas para dentro e
abotoadas. Passar as varas pelas mangas. A parte que corresponde s costas ser
a que formar a face superior da padiola. Pode fazer-se tambm a padiola com um
casaco e um colete, usando a parte correspondente a este para os membros inferi-
ores.
3) Maneira de usar as padiolas improvisadas
Se usa uma tbua, porta, escada ou veneziana, pr por cima cobertores,
palha ou roupa, para que fique mais confortvel. Nas outras, provar a padiola com
uma pessoa s, para ver se resiste ao peso. Ver, adiante, as instrues gerais para
o transporte em padiola.
4) Padiola propriamente dita
a) H muitos e variados modelos. Tm todas em comum o fato de serem
leves, simples e desarmveis. Uma forma muito comum utilizada em hospitais e
sanatrios a de ferro esmaltado ou niquelado, com lona. As pernas e as braadei-
ras so dobrveis.
b) A padiola tipo Furley utilizada na Inglaterra e Estados Unidos. do-
brvel.
5) Maneira de levar a padiola.
a) Segundo o peso do paciente, o nmero de pessoas que podem ajudar e
a distncia a percorrer, a padiola poder ser levada por duas ou quatro pessoas.
Quando so quatro as pessoas, poderia cada urna delas pegar uma das braadei-
ras (do lado de fora), ou podendo dois dos carregadores colocarem-se ao lado da
padiola, pegando uma borda.
b) Para evitar os solavancos que prejudiquem o paciente, prudente se-
guir os conselhos seguintes:
- ao levantar a padiola, faz-lo simultaneamente em ambas as extremi-
dades e de maneira suave.
- caminhar com passo desencontrado (comear a caminhar um com o
p direito e o outro com o esquerdo). Se so quatro os carregadores da padiola,
comearem todos a caminhar com o p que d para a padiola.
77
- quando o terreno plano, levar o paciente com os ps para adiante.
Quando for inclinado, tratar de manter a padiola horizontal. Se cansa lev-lo hori-
zontalmente, em caso de fratura de membro inferior, levar na forma habitual em
subida e em descida com a cabea para adiante, com o propsito de impedir que o
peso do corpo comprima a fratura. No caso de um paciente que se sente bem, para
manter a cabea um pouco mais elevada que o corpo, lev-lo com a cabea para
adiante nas subidas e na forma habitual nas descidas.
- se possvel, evitar passar a padiola atravessando valos, paredes ou
cercas de arame.
q) Transporte em veculo
1) Transporte em carroa
freqente no campo ter que recorrer a este meio de transporte de feridos
ou enfermos. Colocar a padiola verdadeira ou improvisada sobre um colcho ou
utilizar como padiola um estrado de cama com o colcho por cima. Na falta de outra
coisa, colocar palha e o colcho por cima. conveniente que algum v atrs com
o paciente para evitar que se mova com os solavancos da carroa, s vezes inevi-
tveis. A cabea estar para diante.
2) Transporte em caminho
(a) Far-se- na mesma forma que em carroa. mais conveniente que se-
ja um caminho leve, pois tem molas mais suaves. Evitar as freadas bruscas.
prefervel ir devagar.
(b) Para levantar a padiola sobre uma carroa ou caminho, conveniente
que haja pelo menos trs pessoas. Depois de haver-se levantado a padiola at o
nvel do assoalho do caminho, ser mantida por duas pessoas, enquanto outra
sobe para ajudar a p-Ia dentro do veculo. Se h somente duas pessoas, apoiar
uma extremidade da padiola sobre o assoalho e, enquanto uma pessoa sustm a
extremidade livre, a outra sobe ao veculo.
3) Transporte em automvel
(a) Se um automvel de duas portas, colocar a padiola com a parte que
corresponde cabea sobre o assento traseiro, e a parte anterior da padiola sobre
o dianteiro, dobrado. Se h desnvel, compens-lo colocando sobre o assento mais
baixo cobertores ou outra coisa para nivelar. Se custa colocar a padiola, pr primei-
ro a padiola e em seguida o enfermo sobre ela.
(b) Em um automvel comum, ter-se- que colocar o traumatizado sem
padiola, deitado sobre o assento, com as pernas dobradas, para que possa ali ca-
ber. No lugar que corresponde cabea, pr travesseiros, ou melhor ainda, para
que atenda o paciente durante a viagem, alguma pessoa, sobre cujas pernas ele
apoiar a cabea e os ombros. s vezes, o transporte poder fazer-se em um rebo-
que.
4) Transporte em ambulncia
o meio ideal de transporte, pois est provido de padiola, lugar para colocar
um ou dois pacientes e pessoal especializado para efetuar o transporte.
r) Transporte por estrada de ferro
Em um trem comum pode ser necessrio pr paciente sobre uma padiola no
vago destinado ao transporte de mercadorias, se no h vago-dormitrio nem
compartimento em que possa ficar deitado. Em caso de catstrofe ou de guerra
costuma haver composies sanitrias especiais.
s) Transporte em barcos
78
Onde h rios navegveis, um dos mtodos mais suaves de transporte o
fluvial. Tem ele o inconveniente de lentido. Para o embarque e desembarque,
aplicar-se-o os mesmos princpios gerais que j explicamos anteriormente.
t) Transporte por via area
1) Est-se utilizando mais e mais para o transporte de feridos e enfermos
graves, este meio que permite, em poucas horas, levar o paciente aos grandes
centros do pas.
2) Um grande progresso constituem os helicpteros, que permitem atingir as
zonas de outra maneira inacessveis e isoladas, onde um avio comum no encon-
traria lugar para pouso e onde uma ambulncia no teria estrada praticvel. de se
esperar que multiplique o nmero destes aparelhos dedicados a to humanitrio
propsito.
5.0 - RELACIONAMENTO COM O PBLICO
5.1 Fundamentos
a) Todo PM, de servio ou no, um agente de relaes pblicas da Corpora-
o.
b) Qualquer ato praticado considerado como manifestao da instituio a
que pertence.
c) Alm da vida profissional, sua vida particular tem que ser exemplar uma vez
que o PM, normalmente, exerce liderana na comunidade.
5.1 Virtude
a) Absoluto respeito pela vida humana, jamais usando seus conhecimentos,
posto ou instrumentos que lhe so confiados pela sociedade, de forma arbitrria ou
em situaes no amparadas pela lei.
b) O PM no dever, jamais, fazer comentrios desairosos a seus superiores,
pares ou subordinados.
c) A solidariedade no pode induzir o PM a ser conivente com a infrao das
leis em vigor, devendo agir segundo os preceitos regulamentares.
d) Exercer as funes com dignidade e conscincia, observando, na profisso
ou fora dela, as normas prescritas neste manual, pautando seus atos pelos mais
rgidos princpios morais, de modo a se fazer estimado e respeitado na Corporao
ou na parcela da sociedade onde atuar ou conviver.
e) Cultuar a instituio da famlia, em todos os seus aspectos, por ser a clula
mater" da sociedade, tendo em vista que o comportamento particular dos integran-
tes da Corporao refletir sobre o posicionamento da Instituio, perante a opinio
pblica.
f) Pautar a conduta de forma a apresentar-se para o servio em perfeitas condi-
es fsicas, psquicas e mentais, a fim de bem desempenhar as funes.
5.2 Atitude e conduta do PM
a) Manter atitude serena, postura erecta, no gesticulando exageradamente ao
falar. A atitude do PM em servio deve distinguir-se da do mero espectador ou pas-
sante. Deve demonstrar atitude profissional de quem sabe o que faz e est cnscio
de estar fazendo.
79
b) Evitar atitude de patrulha disciplinar ou de patrulha militar em zona ocupada,
afetada, rgida, exageradamente marcial, pois isto o distanciar da populao, ini-
bindo a aproximao daqueles que necessitem.
c) No fumar durante o atendimento ao pblico e atendimento de ocorrncia e,
fora disto, faz-lo com discrio. Tambm no comer frutas ou lanches em vias
pblicas. Se tiver que tomar um lanche, faz-lo em lugar sbrio, de preferncia ao
fundo do estabelecimento.
d) Ser socivel, evitando, entretanto, participar de "rodinhas".
1) O patrulheiro deve integrar-se na vida do seu subsetor, especialmente, no
caso de patrulhas de vias pblicas.
2) Deve conversar com motoristas de txis, gerentes de bancos e de lojas,
bem como com demais freqentadores do subsetor, estabelecendo um relaciona-
mento que lhe permita a coleta constante de informaes.
3) Sua conversa, especialmente com mulheres, deve ser comedida, evitando
a intimidade que possa tolher-lhe qualquer ao futura ou ser mal interpretado.
4) Lembrar-se que toda informao tem sempre valor se analisada e somada
a outras. No deve o patrulheiro fazer segredo ou monoplio das informaes que
recebe, mas transmiti-las ao seu Comandante. Muitas informaes que colha sero
teis aos seus colegas que trabalham em Outros horrios de servios.
5) Muitas vezes a pessoa que est informando nem se apercebe do fato,
portanto o patrulheiro deve ter tato para colher todos os informes possveis, mas
sem despertar-lhe suspeitas.
6) Alm das pessoas j citadas, so excelentes fontes de informaes, pela
atividade que exercem ou pelo tempo ocioso de que dispem:
(a) entregadores de leite, jornais, bebidas e outros;
(b) pessoas que trabalham em bancas de jornais;
(c) vendedores de bilhetes de loteria;
(d) empregados de bares, bilhares;
(e) aposentados;
(f ) engraxates.
e) No trato com o pblico, ser sempre corts, principalmente no atendimento de
ocorrncias, jamais tomando partido, lembrando-se sempre que representa a lei e
no deve transformar-se em parte da ocorrncia.
f) Evitar a permanncia desnecessria dentro de estabelecimentos, entrando
naqueles suspeitos ou incompatveis apenas quando, para o desempenho de fun-
es prprias de patrulheiro (vigilncia, deteno ou averiguaes).
g) Quando abordado pelo rondante ou outro superior hierrquico, de qualquer
posto ou graduao, apresentar-se correta e cortesmente, numa demonstrao
pblica de disciplina consciente. Nada impressiona mais o pblico do que conhecer
no "seu patrulheiro", um PM disciplinado.
5.3 Ritual de abordagem
a). Envolve cinco pontos fundamentais, a saber:
1) Cumprimento
(a) Compete ao PM "quebrar o gelo", cumprimentando o usurio:
- Bom dia, cidado;
- Boa tarde, senhora;
- Boa noite, cavalheiro.
(b) A seguir, o PM esclarece os motivos da abordagem.
80
2) Tom de voz
Adequado e moderado - no adianta "gritar" ou "falar grosso" para se fa-
zer ouvir, nem para impressionar e muito menos para reprimir. Uma frase aparen-
temente normal pode ser ofensiva, dependendo da tonalidade de voz empregada.
Uma voz spera machuca os ouvidos. Lembre-se: a maioria dos atritos so devidos
unicamente a uma tonalidade de voz inadequada.
3) Linguagem
Falar com correo. Existe o chavo "fale a linguagem de seu interlocu-
tor", o qual at certo ponto vlido para ns, porm no nos dado descer em
demasia. O PM deve desenvolver uma linguagem dentro dos padres da Polcia
Militar; para isso precisa ler muito e com freqncia.
4) Gestos
Os gestos dizem bastante, at mais do que s vezes pretendemos dizer.
preciso cuidado com os gestos. Ao abordar um infrator, devemos eliminar as
gesticulaes. H PM que tm o hbito de levar a mo ao coldre quando conver-
sam com as pessoas, gesto este que pode ser explorado maldosamente. Outros
apontam com o dedo ao dar uma informao e podem atingir a face de algum que
esteja passando. Muitos outros gestos desagradveis, os quais depem contra a
pessoa do PM, poderiam ser citados, porm o importante corrigir-se desses ges-
tos.
5) Atitude
Deve ser condizente com a formao policial-militar. Atentar para a pos-
tura. No se encostar na porta do veculo ou apoiar-se em suas laterais. Tomar uma
posio elegante, capaz de impressionar por si s. Estabelea um paralelo mental
entre a continncia e a abordagem. Por exemplo, se o militar faz a continncia
parado, atentando apenas para o gesto e para a durao, o que acontece? - A
saudao fica ridcula, sendo notrio, a qualquer leigo, que algo est errado. Porm
se toma a posio de sentido, atentando para a atitude, qualquer um percebe sua
formao e respeito. Na abordagem ocorre a mesma coisa; pela atitude do PM,
primeira vista, o infrator j sabe com quem fala. importante lembrar, ainda uma
vez mais, que a primeira impresso a que fica, que facilita ou que complica o
relacionamento entre pessoas. Tome uma atitude que demonstre atuao e no
medo.
5.4 Procedimentos diversos
a) Para com oficiais e praas da reserva ou reformados - No s o respeito exi-
gido pelas normas regulamentaras, mas o apreo que merece quem, com galhardia
e entusiasmo, nos legou um passado de glrias, do qual hoje nos orgulhamos.
b) Para com oficiais e praas da ativa - Colaborar com todos, no s prestando
servios profissionais, bem como solidarizando-se em dificuldades particulares que
estejam ao seu alcance minimizar.
c) Com oficiais e praas das Foras Armadas - O relacionamento ser sempre
em termos corteses e de alta camaradagem.
d) Com oficiais e praas das Polcias Militares de outros Estados e Territrios -
O relacionamento ser afvel, devendo empenhar-se ao mximo, quando visitado,
para demonstrar hospitalidade e respeito s co-irms.
e) Com infratores - Aplicar a punio sem dio, no considerando a infrao
cometida como desrespeito pessoa do PM.
81
f ) Com senhoras - O relacionamento ser feito sempre em termos cavalheires-
cos.
g) Com idosos e crianas - Alm de tratamento carinhoso, por representarem a
futura e passada gerao, ambos recebero atendimento especial por parte do PM
por serem extremamente vulnerveis aos perigos que a sociedade oferece.
h) Com a imprensa - No solicitar, provocar ou sugerir publicidade que importe
promoo pessoal ("vedetismo") de seus merecimentos ou atividades profissionais.
Quando solicitado pela imprensa, transmitir, apenas, dados gerais e concretos
sobre a ocorrncia, sem dar entrevista, no emitindo opinio pessoal, orientando,
polidamente, para que procure o rgo responsvel de sua Unidade ou da Corpora-
o.
i) Com membros das diversas carreiras da Polcia Civil - O relacionamento ser
feito em termos de respeito e de colaborao mtuos.
j) Em caso de dificuldade no atendimento de ocorrncia, por interferncia de
terceiros (integrantes da Corporao, da Polcia Civil, polticos e membros de outros
rgos pblicos), solicitar a presena de seu Comandante imediato.
5.5 Uso da viatura
a) A viatura mais visvel do que o prprio PM que a conduz, portanto alta-
mente representativa da Organizao, devendo ser dirigida com total observncia
das regras de circulao de trnsito, servindo, em conseqncia, de exemplo aos
demais usurios da via.
b) A viatura, quando utilizada na ronda normal, nas vias de grande movimento,
obedecer a velocidade do trnsito, posicionando-se direita da via para facilitar o
estacionamento, quando se defrontar com problemas. Nas vias de pouco trfego, o
deslocamento ser em velocidade reduzida, sem prejudicar os demais usurios,
facilitando a observao dos patrulheiros.
c) O uso da sirene e o equipamento da sinalizao luminosa ("giroflex" ou "pis-
ca-pisca") ser restrito aos deslocamentos de emergncia ou sinalizao.
5.6 Atividades de representao
a) Funeral
1) Identificar os parentes prximos do falecido, apresentando condolncias
em seu prprio nome ou de quem esteja representando.
2) Evitar as aglomeraes, gestos ou quaisquer outros atos que
chamem a ateno. Agir com discrio.
b) Casamento - apresentar-se da melhor forma possvel, fazendo uso modera-
do de bebidas alcolicas.
c) Solenidades religiosas - agir, com todo respeito e discrio; eis que o fato de
estar fardado far com que todos percebam sua presena.
d) Filmagens - aja com naturalidade e, no caso de ser solicitado previamente
para faz-lo, instruir o interessado para que obtenha autorizao dos escales
superiores.
6.0 - PROCEDIMENTOS EM INCNDIO E SALVAMENTO
6.1 Providncias antes da chegada dos bombeiros
a) Verificar e salvar vtimas;
82
b) Combater o incndio;
c) Isolar o local;
d) Levantar dados, sobre vtimas, o que est queimando, onde est o fo-
go,entradas e acessos, para preparar a chegada dos bombeiros.
6.2 Providncias aps a chegada dos bombeiros
a) Prestar informaes ao "socorro de bombeiro";
b) Isolar a rea, no permitindo a entrada de curiosos, imprensa e outros ele-
mentos, a no ser bombeiros;
c) S atuar em situaes de combate a incndio e salvamento, quando solicita-
do pelo CCB (oficial em comando da operao), procurando ater-se, principalmen-
te, s aes de policiamento, evitando saques, furtos, depredaes, pungas etc.;
d) Carrear ao posto de comando da operao, os integrantes da imprensa e au-
toridades que tentarem adentrar a rea isolada;
e) Deixar livres (automveis e pessoas) as principais vias de acesso ao local
sinistrado, passagem de carros de bombeiro;
f) Desviar o trnsito;
g) Outras misses determinadas pelo seu chefe imediato ou na falta
deste, pelo CCB.
6.3 Como chamar o bombeiro
a). Ao chamar o bombeiro, o PM deve fornecer os seguintes dados:
1) nome;
2) local da ocorrncia (rua, av., pontos de referncia);
3) o que est ocorrendo (fogo, salvamento etc);
4) nmero do telefone usado;
5) no caso de orelho, dar o cdigo do mesmo, existente na parte inferior la-
teral;
6) permanecer junto ao telefone (se no for orelho) desligado, para O CCB
confirmar a chamada;
7) na confirmao, informar da gravidade da ocorrncia.
6.4 Preveno e combate a incndio
1) Os elementos que compem o fogo so quatro: combustvel, comburente,
calor e reao em cadeia.
(a) Esse quarto elemento, tambm denominado transformao em cadeia,
vai formar o quadrado ou tetraedro do fogo, substituindo o antigo tringulo do fogo
(Fig. 2-31).
(b) Para que haja fogo, necessitamos reunir o combustvel, que atingindo
seus pontos de fulgor e combusto, gera gases inflamveis, os quais misturados
com um comburente (geralmente o Oxignio contido no ar), necessita apenas de
uma fonte de calor (uma fasca eltrica, uma chama ou um superaquecimento) para
inflamar e comear a reao em cadeia.
83
Fig. 2-31 - O tetraedro ou quadrado do fogo, substituindo o antigo tringulo.
2) Vejamos agora elemento por elemento, suas caractersticas e sua funo
no fenmeno qumico do fogo:
(a) Combustvel o elemento que alimenta o fogo e que serve de campo
para sua propagao.
- Onde houver combustvel, o fogo caminhar por ele, aumentando ou
diminuindo sua faixa de ao.
- Os Combustveis podem ser: slidos, lquidos e gasosos, sendo ne-
cessrio que os slidos e lquidos sejam, primeiramente, transformados pela ao
do calor em gases, a fim de se combinarem com o comburente e formar dessa
maneira uma substncia inflamvel.
(b) Comburente o elemento ativador do fogo; ele d vida s chamas.
- O fogo, em ambiente rico de comburente (Oxignio) ter suas chamas
intensas, desprender mais luz e gerar maior quantidade de calor.
- O comburente mais comum o Oxignio que est contido no ar atmos-
frico, numa porcentagem da ordem de 21%; portanto o elemento do fogo que
est contido em quase todos os ambientes.
- Quando o Oxignio est numa porcentagem abaixo de 13%, no have-
r chama, somente brasa.
- Sem o comburente no poder haver fogo.
(c) Calor o elemento que d incio ao fogo; ele que faz o fogo se pro-
pagar pelo combustvel.
- Como j dissemos em nossa definio de fogo, os materiais necessi-
tam, primeiramente, ser aquecidos at gerar gases que, combinando-se com um
comburente (Oxignio), formam uma mistura inflamvel, a qual, submetida a uma
temperatura maior, inflamar-se-, gerando maior quantidade de calor que vai aque-
cendo novas partculas do combustvel e, inflamando-as de uma forma contnua e
progressiva, vai gerando maior calor.
- Esse processo contnuo e progressivo o que chamamos de "Reao
em Cadeia".
(d) Reao Em Cadeia: os combustveis, aps iniciarem a combusto, ge-
ram mais calor; esse calor provocar o desprendimento de mais gases ou vapores
combustveis, desenvolvendo uma transformao em cadeia ou reao em cadeia
que, em resumo, o produto de uma transformao gerando outra transformao.
84
b). Mtodos de Extino do Fogo
1) Partindo do princpio de que para haver fogo necessrio o combustvel,
o comburente e o calor, que formando o tringulo do fogo, ou agora modernamente
o quadrado ou tetraedro do fogo, quando j se admite a reao em cadeia, para
ns extinguirmos o fogo basta retirar um desses elementos.
(a) Com a retirada de um dos elementos do fogo, temos os seguintes m-
todos de extino: retirada do material, abafamento, resfriamento e qumica.
2) Extino por retirada do material: quando retiramos o combustvel, evita-
mos que o fogo seja alimentado e tenha um campo de propagao.
Exemplos: aceiro feito para apagar fogo em mato; quando fechamos o registro
de gs, o fogo do queimador se apagar por falta de combustvel.
3) Extino por retirada do comburente: quando retiramos o comburente
chamamos mtodo de extino por abafamento, e consiste em evitar que o Oxig-
nio contido no ar se misture com os gases gerados pelo combustvel e forme uma
mistura inflamvel. Exemplo: Se colocarmos um copo emborcado de modo que o
Oxignio no penetre no seu interior e tivermos uma vela acesa dentro do copo,
notaremos que, aps alguns segundos, quando o fogo consumir todo o Oxignio do
interior do copo, o fogo apagar-se- por falta de comburente.
4) Extino por retirada do calor: quando retiramos o calor do fogo, at que o
combustvel no gere mais gases ou vapores e se apague, dizemos que extingui-
mos o fogo pelo mtodo de resfriamento.
5) Extino qumica: quando fazemos a interrupo da reao em cadeia.
(a) Esse mtodo consiste no seguinte: o combustvel, sob a ao do calor,
gera gases ou vapores que, ao se combinarem com o comburente, formam uma
mistura inflamvel.
(b) Quando lanamos determinados agentes extintores ao fogo, suas mo-
lculas se desassociam pela ao do calor e combinam com a mistura inflamvel
(gs ou vapor mais comburente), formando outra mistura no inflamvel.
c) Propagao do fogo
1) O fogo se propaga por contato direto da chama sobre os materiais com-
bustveis ou pelo deslocamento de partculas incandescentes que se desprendem
de outros materiais j em combusto e pela ao do calor.
2) O calor uma forma de energia produzida pela combusto, ou originada
do atrito dos corpos. Ele se propaga por trs processos de transmisso:
(a) Conduo: quando o calor se transmite de molcula a molcula ou de
corpo a corpo.
- Para que haja transmisso por conduo ou contato, necessrio que
os corpos estejam juntos. Exemplos: se colocarmos a ponta de uma barra de ferro
sobre o fogo, aps algum tempo podemos verificar que a outra ponta no exposta
ao do fogo estar aquecida.
- Nesse caso, o calor se transmitiu de molcula a molcula at atingir a
outra extremidade da barra de ferro.
- Se colocarmos um fardo de algodo junto a uma chapa de ferro e, na
outra face da chapa, a chama de maarico, em breve notaremos que a parte do
fardo de algodo encostada na barra de ferro estar tambm aquecida. (Fig. 2-32).
85
fig. 2-32 - Transmisso de calor por Conduo.
(b) Conveco: quando o calor se transmite atravs de uma massa de ar
aquecida que se desloca do local em chamas, levando para outros locais quantida-
de de calor suficiente para que os materiais combustveis desses locais atinjam seu
ponto de combusto, originando outro foco de fogo. Exemplo de transmisso do
calor por conveco: o ar quente projetado pelo secador de cabelos.
- Nesse caso, quando o ar aspirado pela ventoinha do motor do seca-
dor, passa antes pelas resistncias aquecidas projetando ar quente sobre os cabe-
los.
- O mesmo acontece quando num incndio localizado nos andares bai-
xos (ou poro) de um prdio, os gases aquecidos sobem pelas aberturas verticais
e, atingindo combustveis dos locais elevados do prdio, iro provocar outros focos
de incndios (Fig. 2-33).
Fig. 2-33 - Transmisso do calor por Conveco.
86
(c) Irradiao: quando o calor se transmite por ondas; nesse caso, o calor
se transmite atravs do espao, sem utilizar qualquer meio material.
- Por comparao a estes ltimos, se diz que o foco calorfico "irradia"
calor, e o calor se manifesta ento como sendo irradiado.
- O calor irradiado se compara com a luz por todas as propriedades,
com exceo de que a luz vista a olho nu e o calor irradiado no percebido pela
vista.
- Exemplo tpico de transmisso do calor por irradiao o caso do calor
solar para o nosso planeta (Fig. 2-34).
Fig. 2.34 - Transmisso do calor por Irradiao
d) Classes de incndio
1) Quanto ao material que se queima, podemos dizer que h uma diviso
clssica, onde encontramos trs tipos de incndio que so: "A", "B" e ,,c,,.
(a) Classe "A": fogos em slidos de maneira geral queimam em superfcies
e profundidade.
- Aps a queima deixam resduos e o efeito de "resfriamento" pela gua
ou solues contendo gua, primordial para sua extino. Exemplos: madeira,
papel, tecidos etc.
(b) Classe "B": fogos em lquidos combustveis ou inflamveis queimam
somente em superfcie, no deixam resduos depois da queima e o efeito de "aba-
famento" e "rompimento da cadeia inica" so essenciais para sua extino.
(c) Classe "C": fogos em materiais energizados (geralmente equipamentos
eltricos) onde a extino s pode ser realizada com agente extintor no condutor
de eletricidade, para o operador no receber uma descarga eltrica.
2) Atualmente, se admite uma quarta classe de incndio, CLASSE em que
os estudiosos do assunto ainda no chegaram a uma concluso, pois enquanto
alguns autores consideram como sendo fogo em metais pirofricos, como magn-
sio, antimnio, etc, que necessitam de agentes extintores especiais, outros a consi-
deram como fogo em produtos qumicos e, outros, ainda, incndios especiais, tais
como: veculos, avies, material radioativo etc.
e) Agentes extintores
87
1) So todas as substncias capazes de interromper uma combusto, quer
por resfriamento, abafamento ou extino qumica, utilizando, inclusive, simultane-
amente esses processos; os principais agentes extintores so:
(a) gua: cuja ao de extino o resfriamento, podendo ser empregada
tanto no estado lquido como no gasoso.
- No estado lquido sob a forma de jato compacto, chuveiro e neblina.
- Nas formas de jato compacto e chuveiro, sua ao de extino so-
mente o resfriamento.
- Na forma de neblina, sua ao de resfriamento e abafamento.
- A gua no estado gasoso aplicada em forma de vapor.
- A gua condutora de corrente eltrica.
(b) Espuma: agente extintor cuja ao de extino de abafamen-
to(principal) e resfriamento (secundria); por utilizar razovel quantidade de gua
na sua formao, conduz corrente eltrica.
- A espuma pode ser obtida atravs de uma reao qumica de sulfato
de alumnio com bicarbonato de sdio e mais um agente estabilizador de espuma.
- Esse tipo de espuma se chama espuma qumica.
- Por um processo de batimento de uma mistura de gua com um agen-
te espumante (extrato) e aspirao simultnea de ar atmosfrico em um
- No estado lquido sob a forma de jato compacto, chuveiro e neblina.
- Nas formas de jato compacto e chuveiro, sua ao de esguicho pr-
prio, temos tambm a formao de espuma mecnica, que pode ser de baixa, m-
dia e alta expanso.
(c) Gases inertes: tais como o anidrido carbnico ou gs carbnico (C02),
nitrognio e hidrocarbonetos halogenados, no conduzem corrente eltrica, so
incompatveis, mais pesados que o ar e extinguem o fogo por abafamento ou rom-
pimento da cadeia inica.
(d) Ps qumicos: tais como bicarbonato de sdio, sulfato de alumnio, gra-
fite, ps especiais prprios para o fogo em magnsio, sdio e potssio.
- Estes ps qumicos geralmente atuam por abafamento e rompimento
da cadeia inica e no so condutores de eletricidade.
(e) Lquidos volteis: so agentes extintores atualmente em desuso, devi-
do a problemas de toxidez, formao de gases venenosos e corroso quando em
seu emprego.
- Os mais conhecidos so o tetracloreto de carbono, o brometo de metila
e clorobromometano.
- Entretanto, so ainda utilizados na aviao, devido ao pequeno peso e
volume do aparelho extintor; atuam por abafamento (principal) e resfriamento (se-
cundrio).
(f) Outros agentes: Alm dos elementos j citados, podemos considerar
como agentes extintores, terra, areia, cal, talco etc.
f). Tipos de extintores
1) Os tipos de extintores mais conhecidos so:
(a) Qumicos:
- de espuma; e
- carga lquida.
(b) Pressurizados:
- dixido de carbono (C02);
- de p qumico seco; e
- de gua;
88
- de lquidos vaporizantes (compostos halogenados);
- tetracloreto de carbono;
- brometo de metila;
- clorobromometana; e
- outros.
g). Aplicaes dos diversos tipos de extintores:
1) Os extintores de espuma so indicados para extinguir princpios de incn-
dios da classe "A" (madeira, papis, tecidos, algodo etc.) quando em pequenos
focos e "B" (lquidos inflamveis ou combustveis, graxas e leos).
(a) No devem ser usados em equipamentos eltricos energizados, metais
pirofricos incandescentes e incndios em lcool, teres, acetona e bissulfeto de
carbono, estes ltimos, por dissolverem a espuma.
(b) Podem ser usados tambm em extino de substncias betuminosas
(asfalto etc.).
2) Os extintores de carga lquida so indicados unicamente para extinguir
princpios de incndios em combustveis comuns (classe "A"), tais como: madeiras,
papis, tecidos etc., onde so necessrias as aes de resfriamento e umidificao;
no so recomendados para as demais classes de incndio.
3) Os extintores de dixido de carbono (C02) so indicados principalmente
para incndios em equipamentos eltricos (classe "C"), pelo fato de no serem
condutores de eletricidade e em produtos lquidos (classe "B").
(a) Podem ser empregados tambm em equipamentos ou aparelhamentos
de alto valor, nos quais os outros extintores possam causar estragos irreparveis.
(b) Entretanto, no so indicados para uso em equipamentos sensveis s
bruscas mudanas de temperatura.
(c) So particularmente eficientes em incndios, em numerosos lquidos in-
flamveis, que dissolvem a espuma.
(d) Devido formao de uma nuvem de descarga, podem ser facilmente
empregados nos incndios em escapamento de gases.
(e) No so indicados em incndios de materiais comuns (classe "A") por
no possurem efeito umidificante e no devem ser empregados em materiais livres
ou soltos, devido a sua ao de sopro.
(f) So particularmente indicados para extino de incndios em equipa-
mentos eltricos delicados e em centros de computao.
4) Os extintores de p qumico seco so indicados para extino de fogo em
lquidos inflamveis (classe "B") e em equipamentos eltricos energizados (classe
"C").
(a) Podem ser empregados em incndios superficiais classe "A", desde
que se disponha de outros agentes extintores com ao umidificante para comple-
tar a extino do fogo em profundidade.
(b) Podem ser usados em incndios, em graxas, leos e em substncias
betuminosas (asfalto etc.).
- Nestes ltimos, por no causarem efeito de ebulio violenta sobre a
superfcie dos mesmos.
(c) No so recomendados para metais pirofricos em geral, exceto se
contiverem p indicado para incndios dessa classe.
5) Os extintores de gua so indicados para extino de incndios em mate-
riais comuns (classe "A").
89
No devem ser usados nas demais classes, principalmente na classe "C",
tendo em vista que podero conduzir corrente eltrica, pondo em perigo a vida do
operador.
6) Os extintores de lquidos vaporizantes, de um modo geral, so recomen-
dados para extino de pequenos focos em equipamentos eltricos, veculos a
motor; so largamente utilizados para a proteo de motores de aeronaves, devido
ao seu pequeno peso e volume.
(a) Podem ser usados em princpios de incndio em lquidos inflamveis
ou combustveis comuns, mas no so recomendados, devido a sua limitada capa-
cidade extintora, quando comparados com outros tipos mais adequados para esses
casos.
(b) Tambm no so indicados para uso sobre equipamentos de
preciso e sobre sistemas eltricos delicados, tendo em vista que os vapores pro-
duzidos podem danificar esse tipo de equipamento.
h). Manejo dos diversos tipos de extintores
1) O extintor de espuma funciona por inverso, isto , necessita ser virado
com fundo para cima, para que as solues contidas em seu interior se misturem,
dando incio reao.
(a) Em caso de incndio deve ser feito o seguinte: - conduza o extintor at
o local das chamas, em p, na vertical, seguro pela tampa tipo volante;
- a seguir, com o esguicho fixo voltado para as chamas, inverta o apare-
lho com o auxlio da ala situada em sua base; e
- dirija o jato para a base do fogo, movendo lentamente o aparelho para
que todos os focos de fogo sejam atingidos (dirija o jato contra um anteparo, quan-
do se tratar de fogo em recipiente contendo lquido inflamvel ou combustvel).
(b) Alguns extintores de espuma, de fabricao mais antiga, possuem
mangueira com um esguicho que facilita alcanar os focos de fogo com maior segu-
rana.
(c) O extintor de espuma irreversvel, pois aps iniciada a reao no
pode mais ser interrompida, devendo o extintor ser usado at o seu esgotamento
total.
2) O extintor de carga lquida tem manejo idntico ao de espuma.
3) O extintor de dixido de carbono manejado do seguinte modo:
(a) conduza o extintor de C02 at o local das chamas, seguro pela ala de
transporte;
(b) coloque o aparelho no cho e retire a trava de segurana;
(c) retire o difusor do suporte;
(d) suspenda-o novamente pela ala e pressione o dispositivo de aciona-
mento, dirigindo o jato para a base do fogo, movimentando o difusor.
4) O extintor de p qumico seco, funciona do seguinte modo:
(a) Tipo presso injetada:
- conduza o extintor at o local das chamas, usando para isso a ala de
transporte e observando a direo do vento que dever lhe ser favorvel para maior
eficincia na extino;
- coloque o aparelho no cho e abra a vlvula do cilindro de gs, para
pressurizar o recipiente;
- suspenda-o novamente pela ala e empunhe a pistola difusora;
- acione o gatilho da pistola e dirija o jato para o fogo, movimentando a
pistola para cobrir toda a rea atingida.
b) Tipo presso interna:
90
- conduza o extintor at o local das chamas pela ala ou cabo para
transporte, observando a direo do vento;
- coloque o extintor no cho e retire a trava de segurana;
- suspenda-o novamente pela ala ou cabo e empunhe a pistola difuso-
ra;
- acione o dispositivo de descarga e dirija o jato para o fogo, movimen-
tando a pistola para cobrir toda a rea atingida.
5) Extintores de gua funcionam do seguinte modo:
a) Tipo presso injetada, com dispositivo para descarga controlada:
- conduza o extintor at o local das chamas, pela ala de transporte;
- coloque o aparelho no cho e retire a trava de segurana;
- suspenda-o novamente pela ala, empunhe a mangueira, acione o
dispositivo de descarga e dirija o jato para a base do fogo.
b) Tipo de presso injetada sem o dispositivo de descarga controlada:
- conduza o extintor at o local das chamas, pela tampa tipo volante;
- coloque o extintor no cho, retire a trava de segurana e acione o
mecanismo de perfurao;
- suspenda-o pela tampa tipo volante, dirigindo o jato para a base do
fogo.
c) Tipo presso interna:
- conduza o extintor at o local das chamas, atravs da ala de transpor-
te;
- coloque o aparelho no cho, retire a trava de segurana e empunhe a
mangueira;
- acione o gatilho de descarga e dirija o jato para a base do fogo.
d) Existem, ainda, em uso, extintores de gua tipo bomba manual que funcio-
nam do seguinte modo:
- levar o extintor at o local das chamas, pela ala de transporte;
- colocar o extintor no cho, empunhar a mangueira e o cabo da bomba;
- bombear para formar presso, dirigindo o jato para a base das cha-
mas.
6) Os extintores de lquidos vaporizantes funcionam do seguinte
modo:
a) Tipo pressurizado (presso interna):
- levar o extintor at o local do fogo, pela ala de transporte;
- retirar a trava de segurana;
- acionar o gatilho de descarga, dirigindo o jato para a base do fogo
b) Tipo bomba manual:
- levar o extintor at o local do fogo;
- destravar o cabo da bomba;
- bombear para formar a presso, dirigindo o jato para a base das cha-
mas
i) Proteo contra incndios em gases liqefeitos de petrleo:
1) O GLP (gs liqefeito de petrleo) um combustvel composto de carbo-
no e hidrognio.
a) incolor e inodoro e para que possamos reconhec-lo, quando
ocorre vazamentos, adicionado um produto qumico que tem um odor penetrante
e caracterstico.
b) muito voltil e se inflama com muita facilidade.
91
c) O GLP constitudo de uma mistura de hidrocarbonetos gasosos (butano e
propano), os quais se liqefazem baixa presso e so encontrados em botijes,
cuja capacidade varia de I kg at grandes instalaes de reservatrios fixos ou
autotransportados.
d) Tem uma densidade aproximada de uma e meia mais pesada que o ar.
e) Esta propriedade faz com que o gs permanea nos lugares baixos em ca-
sos de vazamentos e, em locais de difcil ventilao, o gs permanece acumulado,
misturando-se com o ar ambiente, formando uma mistura explosiva ou inflamvel,
dependendo da proporo da mesma...
f) O maior nmero de ocorrncias de vazamentos acontece nos botijes de 13
kg que so encontrados mais facilmente nas residncias.
g) O vazamento normalmente se d na vlvula de vedao, junto manguei-
ra.
2) Constatado o vazamento de gs, dever ser isolado o local num raio m-
nimo de 10 metros e ningum dever se aproximar, a no ser a guarnio de bom-
beiros, responsvel pelo atendimento da ocorrncia.
a) Em caso de fogo, o calor produzido acima da vlvula queima o fuzvel (ve-
dao), originando maior vazamento e, conseqentemente, maior quantidade de
gs em combusto.
b) Ao atender, no local onde houver um botijo de gs em chamas, deve o
bombeiro proceder como segue:
- no extinguir de imediato as chamas, para evitar o acmulo de gs a
no ser que haja muito risco de propagao;
- verificar quais as possibilidades de retirada do botijo, sem extinguir as
chamas, para um local ventilado e de preferncia ao ar livre;
- remover o botijo, com ou sem fogo, para local seguro, procurando, ao
mesmo tempo, isol-lo;
- fazer uso do estancador de gs, imediatamente aps extinguir o fogo;
- em caso de botijo vazando, sem danos e no havendo possibilidade
de remov-lo para local ventilado, deve-se promover a ventilao do prprio ambi-
ente, abrindo-se portas e janelas e provocando aerao atravs de movimentos
rotativos em toalhas ou panos;
- se a concentrao for muito forte, convm aplicar jato em neblina de
baixa velocidade, p qumico seco, ou ainda, gs carbnico, objetivando desfazer
as condies de explosividade da mistura gs-ar;
- no permitir a entrada de pessoas nem mesmo de autoridades. propri-
etrios ou usurios;
- apenas devero ter acesso os bombeiros que iro trabalhar, os, quais
devero estar protegidos com equipamentos de proteo individual;
- quando possvel, desligar a chave de entrada de fora eltrica ou pro-
videnciar para que o rgo competente desligue a luz pela parte externa do prdio:
- a guarnio encarregada do servio deve usar o estancador de gs
sempre que isso seja possvel;
- cuidados a serem tomados no uso do estancador de gs:
- extinguir as chamas do botijo antes de colocar o aparelho;
- colocar a cpula do aparelho bem em cima do regulador de presso do
botijo, fazendo com que a arruela de borracha toque o corpo do botijo na parte
superior;
92
- colocar os ganchos nos vos entre o botijo e o colarinho, acionando
depois o volante de rosca-sem-fim do aparelho, para dar aperto necessrio at que
o volante no mais gire direita, com um simples aperto de mo:
- no h necessidade de desatarraxar o regulador de presso, pois a
cpula bastante alta para permitir o seu emprego sem que haja necessidade de
retirada do regulador;
- nos casos de botijes que, por ventura, ainda so dotados com CLICK,
antes de usar o aparelho estancador e vazamento, deve-se retirar o CLICK, fazen-
do-se uma presso para baixo e girando-se para a esquerda;
- manejar o aparelho estancador de vazamento com bastante cuidado, a
fim de no permitir que partes do mesmo, como garras, batam sobre o corpo do
botijo, para no surgir, pelo atrito, fascas que podero incendiar a mistura gs-ar,
existente no ambiente;
- transportar, com cuidado, o botijo de gs devidamente estancado.
- aproxime-se do fogo ou do vazamento de gs a favor do vento;
- caso necessrio, interdite o local e leve o botijo para um ambiente li-
vre e, aps, oriente o proprietrio de como proceder para regularizar a substituio
por outro, atravs da Cia. Distribuidora de Gs.
j) Cuidados no combate ao fogo em matas
1) A maioria dos incndios em pequenas florestas ou mato pode ser comba-
tida por uma turma bem treinada de 2 a 5 homens, se o trabalho for iniciado no
princpio do incndio.
(a) Os incndios de grandes propores ou de elevada rapidez de propagao
exigem maior nmero de homens e equipamentos, superviso especializada e
comunicaes em larga escala.
(b) Os homens empenhados no combate devem ter sua ateno voltada para
os problemas de segurana individual e coletiva, devendo observar as seguintes
regras:
- no transporte em caminho aberto, viajar sentado e tomar cuidado com
ramos de rvores;
- cuidados ao manejar ferramentas cortantes;
- machados e ps devem ser carregados ao lado do corpo e nunca no
ombro;
- no trabalhar acima dos seus limites, pois os excessos de fadiga colo-
cam em risco sua vida e a dos companheiros:
- evitar chutar ou fazer com que pedras ou troncos rolem, pois podero
atingir pessoal que esteja trabalhando em plano inferior:
- durante a noite usar farolete:
- nunca ultrapassar o fogo ladeira acima, isto pode ser fatal;
- caso se veja em perigo corra para os planos e, se possvel, entre em
uma parte resfriada, dentro da rea queimada, pois o lugar mais seguro;
- se for necessrio, corra pela margem do fogo, proteja a face com um
pano molhado;
- nunca se separe de sua turma e mantenha contato permanente com
seu chefe;
- sempre que for escalado para participar de combate a fogo em mato
ou floresta, leve consigo cantil, farolete, corda, espia, faco e luvas, alm do uni-
forme reforado, capacete e botas, que protejam at os joelhos.
l) Extino de incndios florestais
93
1) Ao participar do combate ao fogo em floresta ou mato, primeiramente evi-
te que ele se propague, depois extinga-o completamente.
(a) Para remover ou cortar o fornecimento de combustvel faa uma barreira
na frente do fogo, separe o combustvel com rastejo ou cave uma valeta (aceiro) at
o solo firme, com ps, enxadas, arados, escavadeiras ou outro equipamento meca-
nizado.
(b) Para diminuir a oxidao, abafe ou bata nas chamas.
(c) Para reduzir a temperatura jogue gua, terra ou, ainda, separe o
combustvel inflamado.
(d) Misture o material inflamado com a sujeira ou areia e amasse-os depois.
(e) Caso um material combustvel for coberto, como medida temporria, des-
cubra-o e depois extinga-o completamente, durante o rescaldo.
(f) Caso participar da leitura de aceiro, lembre-se que deve cavar at atingir o
cho firme.
(g) Siga as ordens recebidas e transmita, com urgncia, qualquer
novidade de que venha a tomar conhecimento.
6.5 Salvamento terrestre
a) Conceito
1) Cornpreende-se por salvamento terrestre todas as operaes de
salvamento realizadas no solo.
2) Estas ocorrncias necessitam de completo conhecimento de equipamen-
tos e tcnicas de atendimento.
b) Desastre
1) Em qualquer tipo de acidente seja ele ferrovirio, rodovirio ou aerovirio,
a principal preocupao com a vtimas, e para atend-la devem ser tomadas as
seguintes providncias:
(a) cuidar primeiramente das vtimas;
(b) S retirar urna vtima dos escombros se houver perigo de incndio ou
se suspeitar que ela corre risco de vida. Caso contrrio, deix-la no local: os socor-
ristas sabero retir-la de um modo mais eficiente;
(c) caso a vtima apresente sinais de parada respiratria ou cardaca, reti-
r-la com cuidado dos escombros, e procurar reanim-la, sem perda de tempo;
(d) ter cuidado com a coluna vertebral do acidentado e nunca dobrar seu
corpo; quando a vtima j estiver deitada, no tentar sent-la ou coloc-la de p;
(e) deitar sempre os feridos com a cabea de lado e no colocar nada sob
sua cabea.
(f) nunca fazer respirao artificial comprimindo o trax, pois pode haver
fratura de costela. Caso a respirao artificial seja necessria, prefira o mtodo
boca-a-boca;
(g) nunca dar gua aos feridos:
(h) procurar no transportar um ferido em carro pequeno, onde ele no
possa ficar deitado; o corpo da vtima no deve viajar dobrado, no caso de ferimen-
tos graves;
(i) em casos de hemorragia, estanc-la; havendo suspeita da existncia de
fraturas, imobilizar a regio;
(j) caso o socorrista esteja de carro, seu veculo dever ficar pelo menos a
100 metros do acidente, e no acostamento;
94
(l) sinalizar o acidente (com tringulo de segurana, galhos rvores, lanter-
nas etc.), de modo a no dar origem a outros desastres;
(m) se houver inicio de incndio combat-lo com os meios disponveis;
(n) afastar os curiosos; mas aceitar o auxlio de pessoas dispostas a aju-
dar.
2) Os acidentes, de acordo com o seu tipo, apresentam algumas peculiarida-
des, que devem ser observadas para um bom atendimento da ocorrncia:
(a) Nos acidentes rodovirios, atentar para possvel vazamento de com-
bustvel, evitando incndio. Para maior segurana, desligar os cabos da bateria do
veculo.
- A extino de incndio pode ser feita com extintores das viaturas poli-
ciais e de autos que passem pelo local.
(b) Nos acidentes ferrovirios, geralmente o principal problema o nmero
elevado de vtimas, devendo ser mobilizados todos os recursos disponveis para o
atendimento e transporte.
- Toda remoo de pessoa com vida deve ser realizada com cautela.
- Nos trens eltricos deve-se ainda tomar cuidados com a rede eltrica
que dever, o mais rapidamente possvel, ser desligada.
- Os curiosos devem ser afastados da rea, a fim de evitar que saquea-
dores se aproveitem da situao.
- Os homens do salvamento, quando intervm em tais ocorrncias, le-
vam sempre consigo equipamentos que lhes permitem o corte de chapas grossas e
o deslocamento de elevados pesos para liberao das vtimas, alm de materiais
de primeiros socorros.
(c) Nos acidentes aerovirios deve-se atentar para os perigos de exploso,
devido grande quantidade de combustvel presente. A principal norma de ao,
nestes casos, reside na rapidez em retirar as vtimas.
- Os grandes aeroportos so dotados de pessoal especializado para r-
pida evacuao dos avies sinistrados.
- Por ser grande o perigo de exploso, deve o socorrista preocupar-se
tambm, com isolamento da rea, evitando que qualquer causa externa provoque
um incndio.
c) Desabamentos
1) Os desabamentos caracterizam-se por quedas de estruturas construdas
pelo homem (casas, armazns etc.) ou de estruturas naturais (elevao de terra,
morros etc.), por desequilbrio de suas bases.
2) Normalmente, a interveno nestas ocorrncias, efetuada nas seguintes
condies:
(a) Incio de desabamento: a edificao apresenta fissuras, trincas ou bre-
chas em suas paredes, o que exigir uma anlise do socorrista para calcular se
haver progresso ou no dos fenmenos. Isto se aplica tambm a pequenos
deslizamentos.
(b) Desabamento parcial: quando parte da estrutura desabou; estando a
outra parte em equilbrio aparente, podendo desabar a qualquer momento.
- nestes casos, o socorrista dever fazer o escoramento das partes em
equilbrio ou derrub-las, quando estiverem oferecendo riscos vida ou proprie-
dade;
95
- bom ter-se em mente que de vital importncia evitar em locais de
desabamentos a presena de curiosos, pois as estruturas podero vir abaixo, a
qualquer momento, ocasionando soterramento com vtimas.
(c) Desabamento total: a estrutura veio abaixo; neste caso, o socorrista
dever isolar o local e procurar ajudar no salvamento dos objetos que ainda no
foram danificados.
3) As ocorrncias de desabamento exigem do homem conhecimentos bsi-
cos de construo civil, para que sejam aplicados escoramentos com eficincia, ou
na sua impossibilidade, executada a demolio sem riscos.
d) Socorro de soterramento
1) Compreende-se por socorro de soterramento as operaes que envolvam
a retirada de vtimas sob os escombros, resultantes de desabamentos, deslizamen-
tos ou desmoronamentos.
2) Existe uma ordem de prioridade para atendimento destas ocorrncias,
que muito facilitar a ao do socorrista:
(a) Salvamento imediato: o salvamento de vtimas deve ser imediato,
quando sua localizao possvel; nos deslizamentos em que dificilmente se ter
esta chance, o socorrista deve lembrar-se de que cada segundo importante para
a retirada da vtima, pois ela, na maioria das vezes, est asfixiada, e se demorar
para retir-la, mesmo que no venha a falecer, poder adquirir leses cerebrais ou
neurolgicas irremediveis;
(b) Explorao: consiste em procurar possveis locais em que as vtimas
estejam soterradas, porm no localizadas, executando, aps anlise, a seleo
dos escombros a serem removidos;
(c) Remoo geral dos escombros: quando todos os outros mtodos para
localizao e remoo de vtimas falharem, deve-se iniciar a remoo sistemtica
dos escombros, usando os meios disponveis, tais como tratores, guinchos, esca-
vadeiras e outros apetrechos, tomando sempre o cuidado necessrio para no
causar danos maiores aos acidentados.
3) Tendo em vista que a parte mais importante para as operaes de salva-
mento de soterramento , sem dvida, a localizao e retirada de vtimas, o policial
militar poder ajudar muito o Bombeiro de Salvamento, se at sua chegada tomar
as providncias seguintes:
(a) localizar a vtima e iniciar o trabalho para sua remoo;
(b) uma vez iniciada a remoo, procurar desobstruir as suas vias areas
(nariz, boca) e o trax, e iniciar, de imediato, a ressuscitao cardiopulmonar, caso
necessrio;
(c) conforme for retirando os escombros ou a terra em caso de
deslizamentos, deve escorar o local com os meios de fortuna (existem tcnicas de
escoramentos, mas isso demandar um estudo especfico); o socorrista deve usar
o bom senso, apoiando todas as partes que ameaam ruir ou deslizar, ao mesmo
tempo em que deve continuar o trabalho de liberao e, para tanto, dever procurar
o auxlio de outras pessoas.
4) Outros cuidados a serem tomados so:
(a) gases domsticos, provenientes de vazamentos de botijes ou de en-
canamentos, devem ser objeto de alerta ao socorrista; podem causar exploso ou
incndio; o botijo deve ser retirado da rea e o vazamento estancado; em qualquer
caso no se deve fumar;
(b) eletricidade: entre escombros pode haver fios eltricos ligados, que pode-
ro causar leses vtima e ao socorrista; deve ser interrompida imediatamente a
96
energia; sendo a libertao do soterrado importante, o socorrista deve tomar os
cuidados necessrios para no se converter tambm em vtima.
e) Operaes em poos e locais gasados
1) Compreende-se por operaes em poos ou locais gasados todos os tra-
balhos de salvamento executados em uma escavao manual, realizada para a
captao de gua (poo), ou lanamento de detritos, muito comum na zona perifri-
ca das cidades.
2) Temos, nesses locais, como principal perigo, o metano, gs resultante da
decomposio de substncias orgnicas da prpria terra ou produzido pelo homem
no trabalho de escavao (fogo, explosivos etc.).
3) Entende-se tambm como local gasado aquele em que podem
surgir gases de outros tipos de emanao como caixas-d'gua (gs proveniente do
impermeabilizante usado), galerias (resultante da decomposio de detritos), po-
res (resultantes da utilizao de motores a exploso).
4) Quando o policial militar for solicitado a atender uma ocorrncia em que
haja pessoas ou animais em poo, a primeira providncia verificar a presena ou
no de gs; esta verificao poder ser feita de diversas maneiras: se a vtima est
consciente e falando, isso indica a inexistncia de gases txicos; se suspeitar da
existncia de gs, deve o policial militar evitar entrar no local gasado, pois sem um
aparelho autnomo para respirar ou ventilao adequada, o socorrsta se tornar
mais uma vtima.
5) O policial militar deve estar atento tambm existncia de gua no poo e
a sua profundidade.
6) Deve ainda verificar as paredes do poo, pois se estiverem desabando
poder acabar soterrado juntamente com a vtima.
7) Entretanto, sempre que adentrar um poo deve-se ter uma corda amarra-
da ao tronco; ela servir para o prprio resgate em caso de acidente.
8) Um outro modo de se executar o salvamento quando a vtima estiver
consciente jogar-lhe uma corda com laada fixa e pux-la para cima.
9) Quando for chamado para intervir em uma ocorrncia de vtimas em po-
os, fossas ou galerias, deve o policial militar sempre solicitar a presena do Corpo
de Bombeiros, que est aparelhado para atender a qualquer eventualidade dessa
natureza, desde um sarilho, que um duplicador de fora projetado especialmente
para operaes em poo, at ressuscitador automtico.
10) Ocorre, com certa freqncia, a queda de animais de grande porte
(cavalo, vaca etc.) em poo abandonado na periferia das cidades.
11) Nesse caso, a interveno do socorrista ser somente para proporcionar
mais ar (usando meios de fortuna, como fole, agitao de ramagens etc.) ao animal,
que ir se auto-asfixiar pelo grande consumo de seus Pulmes; a retirada deve ser
feita por guarnies do Corpo de Bombeiros.
f) Retirada de pessoas e animais
1) No so tratadas, neste manual, as operaes para retirada de pessoas e
animais, com ou sem vida, quando se encontram em locais de difcil acesso e no
podem ser retirados sem o concurso de equipamentos especiais e pessoal treinado.
2) comum, por exemplo, a retirada de criana presa em banheiros ou em
cofres, de pessoa com o p preso em escada rolante, de pessoa com parte do
corpo presa em maquinrio, de cachorro em valeta etc.
3) Devido grande variedade dessas ocorrncias, no possvel estabele-
cer-se uma linha nica de ao, porm nem sempre fcil a libertao da vtima,
exigindo iniciativa do socorrista em cada situao.
97
4) Por causa dessa situao imprevisvel que os auto-salvamentos possu-
em grande variedade de equipamentos, para o bom desempenho das suas mlti-
plas finalidades.
g) Capturas (pessoas e animais)
1) Compreende-se por captura as operaes realizadas para tolher a ao
agressiva de pessoas desequilibradas e animais raivosos ou selvagens, que amea-
am a populao.
2) Os animais de natureza selvagem, aprisionados em circos e zoolgicos,
podero escapar, oferecendo perigo populao e obrigando a pronta interveno
do policial militar que tomou conhecimento da fuga.
3) O melhor procedimento alertar toda a rea do perigo existente, procu-
rando solicitar apoio do pessoal especializado em captura.
4) necessrio ressaltar o valor do exemplar selvagem, cuja vida s deve
ser tirada em ltimo recurso.
5) Tm-se notado ultimamente inmeros casos em que fogem, causando
confuso vizinhana, animais como macacos, papagaios, cobras, lagartos, cuja
captura demanda simplesmente bom-senso com o emprego de qualquer meio im-
provisado, tais como cobertores, redes, panos etc.
6) comum a ocorrncia em que loucos e desequilibrados mentais entram
em fase de agressividade ou depresso suicida.
7) A atitude do socorrista, em princpio, persuadi-lo, porm, quando isso se
mostrar intil, deve-se usar a fora fsica, tentando domin-lo para o devido enca-
minhamento.
8) Atentar, com especial carinho, para o caso do suicida que a qualquer
momento pode tentar concretizar o seu intento.
9) Nunca se deve deixar que a situao se revista de sensacionalismo, com
numerosa assistncia de curiosos, pois isso vai concorrer para encoraj-lo.
10) No caso de animais raivosos, a captura do animal domstico a mais
comum. Dentre eles h especial destaque para o co e o gato, porquanto a raiva
suscetvel de ser contrada por todos os animais de sangue quente, oferecendo
perigo de vida inclusive ao homem.
11) O comportamento do animal raivoso varia de acordo com sua natureza,
mas em geral todos apresentam uma fase branda inicial, seguida de uma fase agu-
da.
12) Provavelmente s se toma conhecimento da fase aguda quando o ani-
mal se torna agressivo e o policial-militar chamado a intervir.
13) De modo geral, o co, na sua fase aguda, torna-se agressivo e apresen-
ta contrao involuntria da parte posterior (quartos traseiros e cauda), e dos ms-
culos da boca (apresenta dentes semicerrados e boca com abundante salivao e
rica em vrus).
14) Ao contrrio do que se pensa, o co no repele a gua, s no a bebe
em virtude da contrao da mandbula, podendo s vezes lamber com dificuldade.
15) A captura deve ser feita sem sacrificar o animal; no sendo isso poss-
vel, jamais mat-lo pela cabea com destruio do crnio, pois a anlise correta
para a determinao da doena a clnica (a anlise qumica da parte do crebro
do animal apresenta variao percentual de erro). Caso haja dificuldade na captura
do animal, procurar confin-lo num quintal para facilitar o aprisionamento.
16) As vtimas ou suspeitos de contato com o animal devero ser
orientados para acompanhar na referida anlise, nas clnicas competentes (Postos
de Sade e Instituto Pasteur). Dependendo da localizao do ferimento haver
98
urgncia ou no do encaminhamento das vtimas, pois a gravidade est diretamen-
te ligada proximidade do ferimento em relao cabea e coluna vertebral (espi-
nha).
17) Ao contrrio do cachorro, o gato aumenta sua agilidade, tornando-se ex-
tremamente perigoso e de difcil captura, convindo mant-lo em ambiente fechado e
solicitar pessoal habilitado para o aprisionamento.
18) Em casos de outros animais raivosos cuja causa de difcil identifica-
o, o socorrista deve procurar confin-los, eliminando a periculosidade e solicitan-
do pessoal especializado para sua captura.
h) Extermnio de insetos
1) O extermnio de insetos ocorre quando estes esto agressivos e oferecem
perigo iminente populao ou pessoa isolada.
2) O procedimento correto, nesses casos, varia de acordo com o inseto a ser
exterminado. Entretanto, a estatstica mostra que o maior nmero de ocorrncias se
refere s abelhas, do tipo africanizadas, e necessrio o conhecimento de algumas
particularidades para o seu atendimento. O extermnio das citadas abelhas deve ser
realizado noite e sem luz, quando se encontram mais calmas e com dificuldade
visual, oferecendo ao socorrista maior eficcia no seu trabalho e menor risco
vizinhana.
3) Quando tomar conhecimento do ataque agressivo de insetos durante o
dia, o socorrista deve restringir sua ao em isolar a rea e orientar as pessoas
com relao a no provocar movimentos bruscos, rudos estridentes, nem expor
objetos de cores vivas que ativam o sistema nervoso dos insetos, aumentando sua
agressividade. Preservar o local para o extermnio noturno.
4) O agente usado pelo socorrista no extermnio, dependendo do local, pode
ser fogo, inseticidas ou combustveis derivados do petrleo. A poca de maior inci-
dncia de periculosidade aquela que antecede a primavera, ou seja, na estiagem,
em que h carncia de alimentos na natureza.
6.6 Salvamento em altura
a) Conceito
1) Entende-se por salvamento em altura toda operao necessria retirada
de pessoas ou animais de locais elevados e de difcil acesso, em risco de vida ou,
ainda, de objetos oferecendo perigo iminente, exigindo do socorrista preparo fsico
e psicolgico, aliados ao conhecimento tcnico do equipamento a ser empregado.
2) As ocorrncias que se enquadram neste captulo so variadas e sempre
de grande periculosidade.
b) Pessoas presas em elevador
1) O crescimento vertical das cidades, com o conseqente arrojo arquitetni-
co dos elevados edifcios, faz aumentar o nmero de ocorrncias nos elevadores,
por defeitos diversos, ocasionando o confinamento de pessoas em suas cabinas ou
acidentes em que as vtimas permanecem parcialmente presas ou feridas.
2) Muitas vezes os circunstantes desnecessariamente arrebentam as portas
dos elevadores ou causam mais ferimentos nas vtimas ao tentarem moviment-las
ou libertar as pessoas presas. Na verdade, sempre importante que, nessas emer-
gncias, sejam chamados os tcnicos da firma do elevador defeituoso ou guarni-
es de salvamento do Corpo de Bombeiros, os quais possuem conhecimentos e
equipamentos necessrios liberao das pessoas. No entanto, mesmo no co-
nhecendo o funcionamento mecnico e eltrico do elevador, o socorrsta poder
99
ajudar, principalmente nas ocorrncias mais comuns desse tipo, em que as vtimas
ficam retidas no interior da cabina, sem perigo iminente integridade fsica, por
falta de energia eltrica ou defeito do sistema. Basta, primeiramente, localizar o
andar em que se encontra a cabina, acalmar as vtimas e desligar a eletricidade
que d movimento ao sistema. Posteriormente, utilizar a chave prpria para abrir
portas de pavimento, que dever estar de posse do zelador ou porteiro dos prdios,
destravar e depois puxar para abri-las.
3) Existem situaes em que as vtimas so retiradas pelas sadas de emer-
gncia no teto ou paredes laterais de alguns elevadores; no primeiro caso, desligar
a energia e abrir a porta do pavimento superior para retirar as pessoas; e no se-
gundo, deve-se emparelhar o outro elevador, desligar a energia do sistema e, fi-
nalmente, abrir as portas laterais de emergncia,.
c). Pessoas presas em locais elevados
1) Pelos mais diversos motivos, as pessoas e animais so encontrados em
situaes de perigo nos locais elevados, de tal forma que precisam ser auxiliados
para se evitar a queda, quase sempre exigindo do policial militar coragem e tcnica
no salvamento.
2) Torna-se difcil, neste Manual, procurar explicar como agir em cada caso.
Isoladamente, considerando a variedade e peculiaridade das ocorrncias de forma
geral, as maneiras de se efetuar os salvamentos so parecidas.
3) So comuns os atendimentos das seguintes ocorrncias: crianas presas
em apartamentos e especialmente em banheiros, empregados que durante a lim-
peza de vidros ficam presos em janelas e sacadas, suspeita de pessoa morta em
apartamento, pedreiro em perigo do lado externo do prdio de construo, pintores
intoxicados durante a impermeabilizao de caixas-d'gua, animais e aves que
sobem em sacadas, rvores, andaimes etc. e no podem descer sem ajuda, pes-
soas e animais, com ou sem vida, que caem sobre telhados, sacadas etc.
4) Somente nos casos de muita urgncia se justifica o arrombamento das
portas. Geralmente, com a utilizao de cordas, o policial militar deve descer do
pavimento superior, entrando no apartamento pelas janelas ou reas de servio.
5) Os problemas de perdas de chaves e defeitos nas fechaduras devem ser
resolvidos por chaveiros, desde que no haja periculosidade.
6) Nos trabalhos em altura, deve-se considerar que as quedas quase sem-
pre so fatais, portanto, proteger-se adequadamente, bem como a vtima, com o
auxlio de amarraes, isto , cordas, presilhas, redes etc.
d) Retirada de objetos oferecendo perigo
1) Qualquer objeto que se precipite de locais elevados poder causar danos
s casas, rede eltrica, automveis, ao trnsito, e principalmente s pessoas, nas
quais ferimentos graves e s vezes fatais podero ocorrer.
2) Portanto, sempre que o policial militar tomar conhecimento de que qual-
quer objeto possa estar oferecendo perigo iminente populao, dever, imediata-
mente, isolar a rea e procurar eliminar, de pronto, o perigo, Por meio de fixaes
provisrias ou mesmo forando a queda do objeto. Nos casos mais graves, que
exigem conhecimentos tcnicos, treinamentos e equipamentos especiais, devero
ser acionados o Corpo de Bombeiros e/ou as firmas especializadas, aps a ao de
isolamento da rea de queda. Essas ocorrncias se tornam mais freqentes nos
dias chuvosos ou ventos fortes, quando telhas, placas, luminosos, rvores e andai-
mes devem ser retirados por oferecerem perigo iminente populao.
e) Tentativa de suicdio e captura de dbil mental
100
1) Em princpio, deve-se lembrar que essas pessoas so doentes e, Portan-
to, h necessidade de trat-las com carinho, apesar de que, inicialmente, elas pro-
vavelmente no aceitaro a aproximao do socorrista.
2) Exige-se muito cuidado por parte daqueles que iro auxiliar no salvamen-
to, pois o dbil mental quase sempre perigoso e agressivo e o suicida facilmente
se atira para a morte.
3) Deve-se armar dispositivos de proteo, dependendo da altura, medida
que por si s pode desestimular o suicida e fortalecer o nimo daquele que est em
situao difcil. A aproximao para o salvamento, no caso de suicida, dever ser
de surpresa.
6.7 Salvamento aqutico
a) Inundao
1) Nos dias chuvosos, as reas mais baixas ficam alagadas, deixando pes-
soas ilhadas, ou residncias com seus alicerces abalados, oferecendo perigo vida
e ao patrimnio, alm de dificultar a movimentao de pessoas e veculos.
2) Convm lembrar que, no atendimento, o socorrista pode ser surpreendido
por buracos, bocas-de-lobo, bueiros, ou poos de visitas das galerias, abertos.
Dependendo da situao, podero ser verdadeiras armadilhas de suco.
3) A Polcia Militar sempre chamada para atender esses casos de calami-
dade pblica, devendo seus integrantes, com o auxlio de cordas e barcos, retirar
pessoas ilhadas pelas guas, proteger materiais e desviar o trnsito na rea. Nas
ocorrncias em que h ameaa de desabamento,, devem ser feitos escoramentos
e, conforme o caso, aberturas em paredes, a fim de dar vazo gua represada.
6.8 Salvamento em incndio
a) Nos incndios em andares elevados, geralmente as pessoas ficam presas
pelo fogo ou fumaa, desmaiadas ou em pnico, sem vias fceis de sada, tornan-
do-se difcil e perigoso o salvamento.
b) A colaborao da pessoa envolvida de grande importncia, portanto a in-
terveno do socorrista deve ser feita de forma a inspirar confiana na vtima em
pnico.
c) Devem ser feitos esforos para que ela se acalme e tenha comportamento o
mais racional possvel.
d) Quem estiver dentro de um prdio em chamas dever adotar as seguintes
regras de segurana para evitar intoxicao, queimaduras, contuses e at a pr-
pria morte:
1) no subir, procurar sempre descer;
2) nunca utilizar os elevadores para abandonar o prdio;
3) impossibilitado de abandonar o prdio, procurar um local que
tenha a menor quantidade possvel de material combustvel, geralmente:, banheiros
amplos, e abrir as torneiras, molhar paredes e portas; no tirar roupas, mas sim
molh-las totalmente, assim como todo o corpo, inclusive sapatos e colocar papis,
bem molhados, nas frestas da porta para evitar penetrao de fumaa;
4) no caso de estar em outro compartimento, livrar-se de todo material de f-
cil combusto existente dentro dele e prximo porta do lado de fora;
5) as pessoas devem abandonar o prdio pelas escadas, aos grupos e de
mos dadas;
6) sair da frente de grupos em pnico, se no puder control-los;
101
7) ao abandonar um compartimento, fechar a porta atrs de si, sem tranc-
la, para diminuir a ventilao que favorece a combusto;
8) no tentar salvar objetos, o importante a preservao da vida;
9) para ultrapassar uma barreira com fogo, molhar todo o corpo,
roupas e sapatos, encharcar uma cortina e enrolar-se nela, molhar um leno e a-
marr-lo, cobrindo a boca e nariz; atravessar o mais rpido que puder;
10) ficar sempre em lugares contra o vento;
11) evitar prender-se em salas ou elevadores onde exista pouco ar e muita
fumaa;
12) o ar quente e a fumaa so mais leves que o ar, portanto caminhar aga-
chado constitui providncia acertada;
13) nunca tirar as roupas que protegem o corpo, exceo feita s
roupas de tecido de "nylon" ou similar; e
14) no saltar do prdio, pois muitas pessoas morrem intil e absolutamente
antes de um socorro que, s vezes, chegar em poucos minutos.
6.9 Acidentes de trnsito
a) Em caso de incndio - Procedimentos
1) Desligar o cabo da bateria;
2) Verificar vazamentos,-
3) Utilizar os extintores disponveis;
4) Isolar a rea;
5) Se houver vazamento, cobrir os locais com areia, terra ou qualquer tipo de
p ou espuma;
6) Se houver fogo em motor, procurar extingui-lo com extintores de p;
7) Se houver fogo em estofamento, extinguir com gua.
b) Em caso de salvamento - Procedimentos
1) Para cada situao haver um modo diferente de operaes de
salvamento.
2) Evitar quebrar o pra-brisa, procurando retirar a vtima sempre pelas por-
tas normais do veculo.
3) Verificar se a vtima no se encontra presa nas ferragens; caso esteja,
procurar solt-la.
4) Atentar para os cuidados no tocante aos preceitos e primeiro socorros nos
casos de vtimas de fraturas, hemorragias, desmaios e maneira de transport-las.
5) Para o transporte, procurar utilizar ambulncia; caso no haja utilizar au-
tomveis que passam pelo local (antes de solicitar o transporte pea os documen-
tos do motorista, para evitar a negao). De preferncia escolher veculos onde a
vtima possa ser transportada com conforto, ocupa dos apenas pelo condutor, que
no transportem senhoras ou crianas, par evitar traumas.
102
7.0 - ARMAMENTO
7.1 Revlver
a) Para conservar um revlver de modo que permanea sempre e condies de
uso, devem ser observadas as seguintes particularidades:
1) Evitar o acionamento do gatilho "a seco", ou seja, sem que a arma esteja
devidamente municiada, para no causar a ovalizao do orifcio de passagem do
percussor.
2) Quando houver necessidade absoluta de se acionar o gatilho seco", deve-
se sempre municiar o revlver com estojos vazios.
3) O encaixe do tambor na armao do revlver deve ser feito suavemente,
conduzindo-o com a mo, de modo a no provocar choque bruscos.
4) Para a limpeza do cano, introduzir a vareta pela boca amparando-a com a
mo, de modo a evitar o contato da haste da vareta com a parte interna do cano, e
no provocar avarias das raias e conseqente te descalibramento da arma.
b) Para inspeo de um revlver, alm de verificar a aparncia geral suavidade
de funcionamento, deficincia ou perda dos parafusos da armao, observar os
seguintes itens:
1) Examinar o funcionamento do co, fazendo presso sobre ele, com a ar-
ma segura e apoiada sobre uma superfcie firme, para verificar se percussor aflora
no orifcio de passagem.
2) Examinar se a folga entre o tambor e o cano est dentro do
padres, ou seja, de 0,15mm a 1,25mm
3) Verificar o estado das placas do punho, quanto a fendas o afrouxamento
do parafuso.
4) Verificar se a massa de mira est com rebarba ou amassamento.
5) Engatilhar vagarosamente, verificando se o ressalto do retm do tambor
est encaixando perfeitamente no seu alojamento (situado no tambor). Caso no
haja um perfeito encaixe, ocorre desalinhamento entre cmara e o cano, o fato
exige imediata manuteno corretiva (3. O escalo).
6) Verificar se h ferrugem onde o gatilho penetra na armao, fato que
revela tambm ferrugem nas peas internas.
7) Verificar se h corroso na parte interna do cano e sinais de intumesci-
mento do mesmo.
7.2 Conservao do armamento em uso
a) Ao ser retirado o armamento da reserva para a instruo ou servio, deve-se
proceder da seguinte maneira:
1) Retirar com um pedao de pano o leo de sua parte externa e do cano.
2) Manter as partes mveis cobertas com leve camada de leo lubrificante
(de preferncia leo leve para armamento), para assegurar seu bom funcionamen-
to.
3) Antes de devolver o armamento reserva, devem-se ter os seguintes cui-
dados:
(a) Limpar e secar todas as peas,
(b) Lubrificar as peas. A melhor maneira de aplicar lubrificante por meio
de pano limpo, que aps ter sido embebido no leo esfregado nas superfcies
metlicas. O leo em excesso nocivo, pois favorece o acumulo de sujidade, que
poder prejudicar o funcionamento da arma.
103
4) O lubrificante indicado para o armamento utilizado diariamente o leo
leve para armamento (OLA).
5) O responsvel pela reserva deve obrigatoriamente observar a correo
dessa manuteno.
6) Nunca usar lixa, esponja de ao ou similares para limpeza.
7) Estas atividades correspondem ao 1 escalo, e devem ser executadas
pelo usurio do armamento.
7.3 Limpeza aps o tiro
a) Todo cuidado indispensvel para a limpeza das armas que realizarem o ti-
ro, a fim de prolongar-lhes a vida e para que estejam sempre em perfeitas condi-
es de emprego. A falta dessa manuteno ocasiona srios danos ao armamento.
To cedo quanto possvel, ainda no mesmo dia do tiro, o armamento deve ser limpo
a fim de evitar a ao dos resduos de plvora. Para tanto:
1) Desmontar a arma dentro do Escalo permitido.
2) Empregar a escova de limpeza embebida em querosene e presa vareta,
procedendo do seguinte modo:
(a) Introduzir a vareta no sentido da cmara para a boca (quando for Pos-
svel) e nunca inverter o sentido do movimento antes que a escova aflore totalmente
o cano. Fazer o movimento repetidas vezes.
(b) Secar o cano, introduzindo um pano limpo com a vareta, at que saia
completamente limpo.
(c) Lubrificar o cano com OLA.
(d) As escovas de plo podem ser utilizadas para lubrificao dos canos.
3) As demais peas de metal do armamento devem ser limpas da seguinte
maneira:
(a) Introduzir as peas numa vasilha contendo querosene.
(b) Esfregar com uma escova de plo as partes afetadas pelos
resduos de plvora.
(c) Repetir a operao, usando querosene limpo.
(d) Secar convenientemente as peas e, em seguida, lubrific-las com
OLA.
4) A operao de limpeza prevista no artigo anterior deve ser repetida duran-
te trs dias consecutivos.
Se no fim do terceiro dia ainda restarem sinais de resduos, repetir a limpeza
diariamente at que a arma fique completamente limpa.
5) Nos dias subseqentes ao tiro, deve-se passar no interior do cano um pe-
dao de pano preso vareta de limpeza, at que ele saia completamente limpo.
7.4 Regras de segurana
a) Nunca aponte uma arma para algum, carregada ou no, a menos que pen-
se em atirar.
b) Nunca pergunte se uma arma est carregada. Veja por si mesmo, sem colo-
car o dedo no gatilho e com a arma apontada numa direo segura.
c) Nunca pratique tiro "em seco", salvo se em algum lugar prprio e aps rigo-
rosa inspeo na arma.
d) Enquanto estiver no estande, sempre transporte o revlver com o tambor
aberto.
104
e) Quando estiver com um grupo de atiradores em treinamento, tenha sempre
algum encarregado da disciplina no estande.
f ) Use somente as cargas normais para as quais a arma tenha sido construda
e veja se h obstruo no cano.
g) Mantenha a arma limpa.
h) Nunca deixe a arma carregada onde algum possa peg-la.
i ) Atire somente em alvos prprios.
7.5 Medidas de segurana no estande
a) Durante o exerccio de tiro, fica terminantemente proibido:
1) grito de qualquer natureza, mesmo com o objetivo de estabelecer comuni-
cao entre a posio dos atiradores e dos mercadores;
2) conversas ou comentrios em torno dos atiradores;
3) circulao de homens entre os abrigos e a posio dos atiradores sem ser
objeto de servio;
4) movimento de pessoas nas proximidades dos atiradores;
5) sinais sem ordem do Oficial de Tiro;
6) manter a arma com a culatra fechada e com o cobre-mira na
turma de tiro; qualquer arma que passe de um a outro atirador, estando carregada,
deve ser acompanhada do aviso: "est carregada".
7) abandonar a arma carregada;
8) manter o percussor armado aps haver terminado o seu exerccio de tiro;
9) executar exerccio de pontaria no estande, na ocasio em que se fazem
os tiros;
10) apontar a arma ou manobrar o mecanismo da culatra fora do lugar de-
signado para atirar;
11) carregar ou municiar a arma fora do lugar onde se atira;
12) manter a arma carregada fora do momento de tiro;
13) estabelecer comunicaes por meio de homens, sem que elas se faam
por caminhos abrigados;
14) manter a arma destravada se o tiro for suspenso, mesmo momentanea-
mente.
IMPORTANTE: Se durante o tiro houver uma falha, o atirador deve esperar
alguns segundos antes de abrir o tambor para evitar o perigo de, acidente devido a
um retardo de deflagrao. Aberto o tambor, retira-se o cartucho, substituindo-o.
8.0 - COMUNICAES
8.1 Definies
a) As definies, conceituaes e competies dos meios de comunicao da
Polcia Militar tm por objetivo a sua padronizao, emprego adequado do material
e a instruo respectiva.
b) Com a finalidade de estabelecer procedimento uniforme na Corporao, ado-
tam-se as seguintes definies, na explorao das comunicaes operacionais:
1) Centro de Comunicaes: o rgo responsvel pelo recebimento,
transmisso e entrega das mensagem de um Posto de Comando (P(C).
2) Rede-rdio: o conjunto de estaes ou aparelhos rdios, trabalhando na
mesma freqncia.
3) "Handie-Talkie" (pronuncia-se "hendtlqui" ou simplesmente
105
"H.T."): equipamento rdio transceptor porttil, que pode ser conduzido por um s
homem e opera mesmo em movimento.
4) PBX: central telefnica destinada a processar chamadas de telefone atra-
vs de um comutador.
5) PAX: central telefnica destinada a comutar chamadas de telefone entre
ramais, automaticamente. No pode receber chamadas externas.
6) PABX: central telefnica destinada a comutar chamadas de telefone entre
ramais, automaticamente, admitindo ligaes para fora sem auxlio do operador.
7) Telex: mquina teleimpressora usada na recepo e transmisso de men-
sagens escritas, atravs de uma central funcionando em rede.
8.2 Normas para uso do microfone
O tipo de microfone usado na PM o "Push to talk", ou seja, aperte para falar;
quando apertada a tecla do microfone, liga o transmissor e permanece desligado o
receptor. O operador dever manter o microfone distante dos lbios aproximada-
mente de 1 (um) a 3 (trs) centmetros. Manter a velocidade da voz a um nvel
constante de conversao. Somente usar a rede-rdio para assuntos de servio
8.3 Cdigo "Q"
O cdigo "Q" visa simplificao das mensagens e ao mnimo consumo poss-
vel do equipamento. Visa tambm poupar o funcionamento do repetidores nas re-
des que operam as 24 horas do dia.
106
8.4 Siglas mais usadas - cdigo "Q"
QAP - Escuta, escutar
QAR - Autorizao para abandonar a escuta (QAR-20)
QRA - Prefixo da estao
QRG - Influncia exata
QRI - Tonalidade dos sinais:
1-Bom; 2-Varivel; 3-Mau
QRK - Legibilidade dos sinais:
1-Ilegvel; 2-Legvel com intermitncia; 3-Legvel com dificuldade;
4-Legvel; 5-Perfeitamente legvel
QSA - Intensidade dos sinais:
1-Apenas perceptvel: 2-Muito fraca; 3-Um tanto fraca; 4-Boa;
5-tima,
QRM - Interferncia de outra estao
QRN - Interferncia esttica
QRO - Aumentar potncia
QRP - Diminuir potncia
QRQ - Mais depressa
QRS - Mais devagar
QRT - Parar
TKS - Grato, obrigado
NIL - Nada, nenhuma
QRV - Pronto para receber
QRX - Espere
QRZ - Quem me chama?
QSB - Seus sinais esto sumindo
QSD - Manipulao defeituosa
QSJ - Dinheiro
QSL - Confirmao, compreendido
QSO - Contato entre duas estaes
QSP - Retransmisso gratuita
QSY - Mudar para outra freqncia
QTA - Cancelar mensagem, ltima forma
QTC - Telegrama, mensagem
QTH - Endereo
QTR - Hora exata
QTI - Rumo verdadeiro
QTJ - Velocidade do veculo
QTU - Horrio de funcionamento
QUA - Notcias
QUB - Informar sua visibilidade
QRU - Tens algo para mim?
TNX - Grato, obrigado
107
8.5 Alfabeto da ONU
A - Alfa I - Juliet S - Sierra
B - Bravo K - Kilo T - Tango
C - Charlie L - Lima U - Uniform
D - Delta M - Mike (maique) V - Victor
E - Echo (co) N - November W - Whiskey
F - Forkstrot O - Oscar X - x-ray (ksrei)
G - Golf P - Papa Y - Yankee
H - Hotel Q - Quebec Z - Zulu
I - India R - Romeo
8.6 Algarismos
a Quando transmitir algarismos, deve-se pronunci-los sempre precedidos das
palavras "algarismos ou nmeros", da seguinte forma:
0 - ze-ro 3 - trs 6 - meia-d-zia
1 - uno 4 - qua-tro 7 - se-te
2 - do-is 5 - cin-co 8 - oi-to
9 - no-ve
9.0 - MANUTENO DE VIATURAS
9.1 Generalidades
A manuteno de primeiro escalo unia operao diria executada pelo moto-
rista, auxiliado pela guarnio da viatura, e compreende as inspees, o reabaste-
cimento, a lubrificao, os reapertos, a limpeza, os cuidados com as ferramentas,
equipamentos, pneus, baterias e acessrios.
9.2 Reabastecimento
a) a verificao ou recompletamento do combustvel.
1) No reabastecimento deve-se:
(a) evitar derramar o combustvel;
(b) no abastecer a viatura prximo a fogo e no fumar durante a realiza-
o do abastecimento.
9.3 Verificao e recompletamento do leo do carter
a) Deve-se:
1) colocar a viatura em lugar plano;
2) retirar a vareta medidora e limp-la com pano limpo;
3) recolocar a vareta, verificando o nvel do leo;
4) no colocar leo demasiado no carter (ver a marca de mnimo e
mximo);
5) limpar o leo derramado.
108
9.4 Recompletamento de gua do sistema de arrefecimento
a) Deve-se:
1) verificar o nvel de gua no radiador, que normal quando atinge o tubo
ladro;
2) reabastecer sempre com o motor frio ou se estiver quente ir colocando
gua aos poucos:
3) usar sempre que possvel gua limpa, de preferncia potvel.
9.5 Cuidados com os pneumticos
a) O motorista deve verificar constantemente a presso dos pneus quando es-
tes estiverem frios e completar-lhes o enchimento sempre que preciso.
b) O motorista deve estar sempre atento a desgastes excessivos ou anormais
dos pneumticos e que quase sempre podem ser atribudos a enchimento insufici-
ente ou excessivas partidas bruscas, uso imprprio de freios, desalinhamento das
rodas ou excesso ou m distribuio da carga.
9.6 Cuidados com as baterias
a) verificar diariamente o nvel da soluo, que deve cobrir as placas internas.
b) conservar limpos e ajustados os cabos da bateria, que podero ser untados
com uma camada protetora de graxa fina.
c) conservar a bateria limpa e firmemente presa ao seu suporte.
9.7 Reparos de emergncia
a) Ao fazer reparaes, o motorista no deve forar pea, nem praticar o reparo
sem que esteja seguro do motivo da avaria. E, na primeira oportunidade, deve in-
formar o seu chefe imediato, a fim de que o trabalho possa ser revisto por um me-
cnico.
b) So os seguintes os reparos de emergncia que podero ser executados pe-
lo motorista: trocar, limpar e instalar velas de ignio, apertar as porcas, vedar com
fita adesiva os vazamentos dos condutores de leo, cobrir com fita isolante cabos
eltricos notadamente avariados, substituir rodas, substituir lmpadas queimadas
etc.
9.8 Concluso
a) Para o bom xito da manuteno de primeiro escalo necessrio que a a-
teno do motorista seja completa e sistemtica compreendendo no somente a
direo das viaturas, mas tambm a execuo correta da manuteno preventiva
de sua alada.
No se esquea: a responsabilidade pela manuteno de primeiro escalo
do motorista da viatura, auxiliado pela respectiva guarnio.
109
CAPITULO III
Policiamento Ostensivo Geral
1.0 Introduo
1.1 Conceito
Tipo de Policiamento objetivando satisfazer as necessidades basilares
de segurana pblica, inerentes comunidade ou a qualquer cidado.
1.2 Misso
Atuar sistemtica e permanentemente na preservao do patrimnio
pblico e privado e da integridade do indivduo, a fim de garantir o cumpri-
mento dos dispositivos legais, que regulam a vida da comunidade.
1.3 Apresentao
a) O policiamento ostensivo geral, em sua maior intensidade, se mani-
festa pelo emprego das fraes elementares e/ou constitudas em um pos-
to, a fim de realizar observao, reconhecimento ou proteo. Em sua es-
sncia, a soma de postos articulares constituiro o mosaico que retrata a
rea onde atua a maior frao constituda.
b) Fundamentalmente apresenta-se pela combinao de:
1) Processo:
(a) a p;
(b) a cavalo;
(c) em bicicleta;
(d) em embarcao;
(e) motorizado
(1) automvel
(2) motocicleta.
2) Modalidade:
(a) patrulhamento;
(b) permanncia;
(c) escolta;
(d) diligncia.
3) Circunstncia:
(a) ordinria;
(b) extraordinria;
(c) especial.
4) Lugar:
(a) urbano;
(b) rural.
5) Durao:
(a) turno;
(b) jornada.
110
6) Nmero:
(a) frao elementar;
(b) frao constituda.
c) A anlise dos fatores determinantes, componentes e condicionantes,
propiciar a escolha das variveis que conduziro eficcia operacional.
1) Fatores determinantes: tipicidade, gravidade e incidncia de ocor-
rncias policiais-militares, presumveis ou existentes.
2) Fatores componentes: custos, espaos a serem cobertos; mobili-
dade; possibilidade de contato direto, objetivando conhecimento do local de
atuao e relacionamento, autonomia, facilidade de fiscalizao e controle,
flexibilidade, proteo ao PM.
3) Fatores condicionantes: local de atuao; caractersticas fsicas e
psicossociais, clima, dia da semana, horrio, disponibilidade de recursos.
d) O exame comparativo dos fatores componentes permite elaborar a
seguinte tabela:
Obs.:
Mx - mximo
Gr - grande
Md - mdio
Pe - pequeno
Mn - mnimo
a p a cavalo Auto-
mvel
Moto-
cicleta
Bicicleta
Custo Mn Md Mx Gr Pe
Espaos a serem cobertos Mn Md Mx Gr Pe
Mobilidade Mn Md Mx Gr Pe
Conhecimento Local Mx Gr Mn Pe Md
Relacionamento Mx Md Mn Pe Gr
Autonomia Mn Md Gr Gr Pe
Fiscalizao Mn Md Gr Gr Pe
Flexibilidade Mx Md Mn Pe Gr
Proteo ao PM Mn Gr Mx Md Pe
e) O processo em embarcao no foi comparado na presente tabela,
em virtude da alternativa do emprego se restringir apenas s vias aquteis.
f) Nenhuma varivel em si, pode ser tomada como a melhor indicao
ou a mais eficaz, j que o pleno rendimento operacional ser obtido pela
associao de processos, modalidades, nmero e durao.
1.4 Procedimentos gerais
a) Policiamento a p.
111
1) Nas reas urbanas, empregado em postos situados: em zonas
residenciais de elevada densidade demogrfica ou de macia concentrao
vertical; em zonas de concentrao comercial; em logradouros pblicos,
particularmente onde o trnsito de veculos proibido e predomina a circu-
lao de pedestres; na cobertura a divertimentos pblicos e eventos especi-
ais.
2) Em reas rurais, normalmente o emprego se restringe perma-
nncia, em face de sua limitao de mobilidade, ou cobertura a eventos
especiais.
3) Em qualquer lugar, realiza escolta e diligncia.
4) noite, no recomendvel a utilizao do PM isolado, sendo o
efetivo mnimo indicado para o posto de 2 (dois) PM, por propiciar apoio
mtuo e maior flexibilidade operacional.
5) Em determinadas formas de empenho, seu rendimento ser au-
mentado quando suplementado pelo processo motorizado, dada a capaci-
dade adicional de transporte de pessoas e material.
6) A utilizao de rdio transceptor aumenta consideravelmente a efi-
cincia do processo.
7) O turno de seis horas se apresenta como o mais indicado para o
policiamento a p.
8) A patrulha a p deve ser distribuda ao longo da via pblica, em
seus dois lados, de forma que um policial militar no perca o outro de vista,
facilitando o apoio mtuo.
9) O Policiamento a p tem de ser dinmico procedendo a identifica-
o e a busca pessoal em suspeitos.
10) patrulha vedado:
- entrar e/ou permanecer em estabelecimentos comerciais, exceto
no cumprimento de misso;
- reunir-se junto viatura, ou mesmo na via pblica, exceto sob
Comando;
11) A patrulha dever portar:
- papeleta de ronda;
- formulrios para relatar ocorrncias;
Esse material dever ser entregue na sede da Cia PM, ao trmino do
quarto de servio, onde sero comunicadas as novidades havidas durante o
servio.
b) Policiamento montado.
1) Nas reas urbanas, empregado em postos situados: em logra-
douros pblicos de considervel extenso; em zonas residenciais suburba-
nas, de ocupao horizontal; em zonas de difcil acesso a veculos e em que
no recomendvel o processo a p; em apoio ao policiamento a p; em
divertimentos pblicos e eventos especiais.
112
2) Em reas rurais, empregado em pequenas povoaes interiora-
nas, guarnecendo postos de grande extenso e em estradas vicinais, que
unem propriedades rurais.
3) Em qualquer lugar executa diligncia e, excepcionalmente, efetua
escolta.
4) A frao elementar constituda por 3 (trs) PM, sendo que, no a-
tendimento de ocorrncias, 2 (dois) atuam e o terceiro o guarda-cavalos.
5) Sua presena desencoraja o cometimento de infrao, pois vis-
vel distncia e tem poder intimidativo pelo impacto que causa. Por sua
natureza, de alto valor repressivo. Apresenta a vantagem de manobrar em
qualquer terreno.
6) Em determinadas formas de empenho, ter seu rendimento au-
mentado quando suplementado pelo processo motorizado.
7) A utilizao de rdio transceptor aumenta consideravelmente a
eficincia do processo.
8) Desloca-se do aquartelamento ao posto, pelos prprios meios.
Quando a distncia for superior a 6km, conveniente que o deslocamento
de homens e animais seja efetuado em veculos, para evitar o desgaste
fsico fora do posto.
9) Recomenda-se que os patrulheiros no posto realizem deslocamen-
tos montados por tempo de 50 minutos, em mdia, intercalando com per-
manncia apeado, no PB, por 10 minutos, o que deve constar do roteiro do
carto-programa. Esse procedimento beneficiar tanto o cavaleiro com seu
cavalo, aquele para manter postura correta e este para ser aliviado de so-
brecarga contnua.
10) O PM empregado no policiamento montado rural deve ser, prefe-
rentemente oriundo daquele meio, afeito aos usos e costumes do homem
do campo, o que contribuir para maior eficincia de sua ao.
c) Policiamento motorizado.
1) empregado em reas urbanas e rurais:
(a) realizando patrulhamento e permanncia em zonas comerciais
residenciais e em logradouros pblicos;
(b) suplementando os demais processos, em face de sua autono-
mia;
(c) cobrindo locais de risco que estejam a descoberto;
(d) atuando em eventos especiais;
(e) realizando escoltas e diligncias.
2) O policiamento motorizado, quando empregar viaturas de 4 (qua-
tro) rodas equipadas com rdio, ligadas a um Centro de Comunicaes par
fins de controle e acionamento, recebe o nome particular de radiopatrulha
(RP).
3) Denomina-se guarnio (Gu) a frao que atua no processo de po-
liciamento motorizado, composta, no mnimo, de 2 (dois) patrulheiros, sendo
um deles o motorista.
113
4) So consideradas tambm RP as viaturas com reforo de guarni-
o, armamento e equipamento, empregadas em aes de fora, que po-
dem receber denominaes como PATAMO, PTM etc.
5) O planejamento da articulao dos postos da RP da competncia
da frao constituda com responsabilidade operacional na rea, nos mol-
des do policiamento a p (carto-programa).
6) A experincia recomenda, para o radiopatrulhamento, turno de ser-
vio no superior a 8 (oito) horas.
7) Para que a viatura apresente aspecto inquestionvel de que se en-
contra em servio de policiamento, necessrio que observe rigorosamente
o binmio "baixa velocidade e atitude expectante da guarnio".
8) Tanto para trafegar como para estacionar, no estando engajada
em atendimentos de emergncia, a Vtr de RP dever obedecer s regras de
trnsito.
9) A sirene, sendo um sinal sonoro regulamentar de trnsito, para que
seja obtida prioridade de trnsito, deve ser utilizada em casos de emergn-
cia, dado que a vulgarizao do recurso leva ao descrdito e, conseqente-
mente, desmoralizao.
10) Ao parar nos pontos-base, a Vtr dever estacionar em local em
que seja facilmente avistada e de fcil sada para mais de uma direo. No
PB, a guarnio deve desembarcar, pois a exibio dos patrulheiros aumen-
ta a ao de presena. noite, este procedimento evita que a guarnio
seja vencida pelo sono.
11) A comunicao importante componente das operaes por as-
segurar rapidez e mobilidade no emprego dos meios disponveis. Seu uso
adequado pressupe explorao judiciosa e racional, baseada em conjunto
de regras que disciplinam o trfego de mensagens. Assim, a disciplina da
rede fator vital para a utilizao do equipamento, sem que se desgaste
prematuramente e sem causar congestionamento no trfego de mensa-
gens. Nesse sentido, o patrulheiro s justificadamente chamar a central de
comunicaes, que o atender com presteza. As mensagens so operacio-
nais, portanto, profissionais e no pessoais, devendo ser precisas e curtas,
sem prejuzo da clareza. recomendvel a adoo de cdigos que facilitem
o trfego de mensagens e, particularmente, a codificao de ocorrncias.
12) Atribuies do patrulheiro:
Os patrulheiros tero as seguintes atribuies e procedimentos:
(a) As viaturas tero, via de regra, guarnio de dois homens, e em
locais predeterminados pela Norma de Dimensionamento, ou selecionados
Pelos Comandantes, podero ser guarnecidas. por um nico patrulheiro.
(b) os patrulheiros, quando em dupla, conforme sua funo n mo-
mento, tero as funes determinadas do seguinte modo:
n. 1 - encarregado da viatura;
n. 2 - encarregado do relatrio.
114
(c) O Comandante da Patrulha ser o patrulheiro de maior posto o
mais antigo.
(d) O encarregado da viatura o responsvel pela conferncia do
material.
(e) O encarregado do relatrio o responsvel pela elaborao do
Relatrios de Ocorrncias e conduo de detidos.
d) Policiamento com bicicletas.
1) O emprego de bicicletas no policiamento ostensivo obedece
mesmas prescries para o policiamento a p.
2) Atua em postos de maior extenso, normalmente em terreno pou-
co acidentados.
3) A frao elementar constituda de 2 (dois) PM, no mnimo.
4) desaconselhvel seu emprego em condies climticas adversa
(chuva, granizo, cancula etc.) e noite.
e) Policiamento em embarcao
1) empregado:
(a) em vias aquticas e tem as misses previstas para o policiamen-
to a p;
(b) no espao fsico atribudo sua responsabilidade, coopera com
Policiamento Florestal e de Mananciais, preservando a fauna, a flora e a
extenses d'gua;
(c) na disciplina e balizamento das extenses d'gua, quando utiliza
das como balnerio;
(d) na complementao de aes e operaes de terra;
(e) no apoio populao ribeirinha, em calamidades pblicas o
emergncias.
2) As embarcaes devem satisfazer necessidades de segurana, es-
tabilidade, velocidade em deslocamentos e manobras, abordar ou atracar
sob as mais variadas condies. Toda embarcao policial-militar dever se
inscrita na capitania, delegacia ou agncia da Marinha do Brasil, de acordo
com o regulamento para o trfego martimo e dever sofrer inspeo anual
pela autoridade naval, para a verificao das condies de segurana exigi-
das.
3) A guarnio embarcada ser constituda de 3 patrulheiros que
tambm exercero atribuies de marinheiros, assim distribudos:
(a) Arrais - cabe aos arrais dirigir e manobrar a embarcao. Deve
possuir a Carta de Habilitao correspondente, fornecia pela Marinha do
Brasil, aps preenchidas as formalidades legais;
(b) Condutor - cabe ao condutor zelar pela manuteno do motor o
motores da embarcao, bem como eixos, mancais e hlices da mantendo-
a abastecida e lubrificada, em condies de uso;
(c) Marinheiro - cabe ao marinheiro auxiliar o arrais nas manobras
da embarcao e estar em condies de substitu-lo. o responsvel pela
limpeza, conservao e manuteno da mesma.
115
4) A embarcao deve ser equipada com rdio, bssola, binculo,
ncora, choque-sonda, remo, cabo, coletes salva-vidas, extintor de incndio,
apito ou sirene e material de pronto-socorro.
5) Na observao continuada, a patrulha detectar fatos passveis de
averiguao ocorridos no seu servio, tomando as providncias cabveis e
informando ao escalo imediatamente superior, se julgado conveniente.
116
6) Cooperando com a proteo ecologia, a guarnio:
(a) far levantamento de animais mortos (espcie e quantidade), ve-
rificando as possveis causas, pela anlise de indcios (armadilha, tiro, en-
venenamento etc.). Especial ateno ser dada s espcies em extino;
(b) os locais habitualmente freqentados por caadores e pescado-
res devem ser constantemente inspecionados, identificados seus usurios e
examinados os equipamentos e as peas abatidas e/ou capturadas. Tomar
as providncias cabveis ao constatar que a legislao federal ou estadual
est sendo infringida;
(c) dever evitar e coibir as derrubadas, queimadas e outros danos
causados pela ao humana e contrrios legislao vigente;
(d) observar indcios de poluio em mananciais hdricos, tais co-
mo manchas, cheiro e colorao da gua, peixes mortos e outros sintomas.
A normalidade e sua possvel origem devem ser comunicadas ao escalo
superior, com brevidade.
7) A patrulha deve manter-se sempre em condies de realizar aes
de emergncia, pois uma ao rpida pode salvar vidas e bens e evitar fe-
rimentos e pnico, por ocasio de incndios, enchentes, exploses, desmo-
ronamentos, quedas de pontes, vendavais e naufrgios, A ao adequada
no salvamento de vidas, na evacuao de ilhados, na prestao de primei-
ros socorros e na proteo dos bens em localidades evacuadas, sujeitas
ao de aproveitadores e saqueadores, so as primeiras providncias a
serem tomadas.
8) O policiamento de balnerios feito com a finalidade de:
(a) patrulhar as reas demarcadas para o local de banho;
(b) encaminhar autoridade competente os banhistas que tenham
ultrapassado a rea demarcada, pondo em risco a prpria vida e os que
apresentarem sintomas de embriaguez, uso de entorpecentes ou euforizan-
tes;
(c) prestar socorro imediato em caso de afogamento, aplicando os
primeiros socorros e removendo a vtima para local adequado;
(d) auxiliar, nas buscas iniciais, para a localizao de pessoas afo-
gadas;
(e) efetuar a priso de infratores, nos casos de conduo perigosa
de embarcao que ponha em risco a segurana de banhistas e encami-
nh-los autoridade competente.
9) A guarnio dever prestar auxlio s comunidades e ao pblico lo-
calizado s margens das vias aquticas, realizando o transporte de doentes
e feridos, de mdicos, de parteiras e outros considerados de urgncia.
10) A patrulha desembarcada atuar como faz o processo a p. Junto
embarcao, fundeada ou atracada, dever permanecer um patrulheiro
em condies de manter a escuta permanente de rdio e a guarda do mate-
rial e equipamento.
117
1.5 Posto
a) constitudo por um ou vrios pontos-base (PB), interligados por iti-
nerrios. Havendo vrios pontos-base, a frao que atuar no posto obede-
cer a um carto-programa. A numerao dos PB de um posto feita sobre
a planta da cidade, de sul para norte e de oeste para leste.
1) Ponto-base
(a) Espao fsico limitado que exige presena real, contnua ou tem-
porria, por ser local de risco.
(b) Deve possuir iluminao suficiente para que, noite, a frao
seja facilmente localizada.
(c) Quando o processo utilizado for o motorizado, deve ser instalado
de maneira a permitir deslocamento imediato em duas direes, pelo me-
nos.
2) Carto-Programa de Patrulhamento (CPP)
(a) a representao grfica do(s) mdulo(s) atribudo(s) ao posto,
indicando a localizao do(s) PE e/ou PB, os itinerrios a percorrer e os
horrios a serem observados.
(b) O cumprimento do horrio do carto-programa obriga o PM a es-
tar, por determinado espao de tempo, em certos locais, porm no o dis-
pensa do atendimento a eventuais ocorrncias, no posto, fora do itinerrio.
(c) Engajando-se em ocorrncias que o impea de cumprir o roteiro
e horrios previstos, o PM far o registro do fato no Boletim de Ocorrncia,
assim justificando o no cumprimento do programa.
3) Boletim de Ocorrncia da Polcia-Militar (BO/PM)
(a) o documento que se destina ao registro de ocorrncias, pelo
PM empenhado em policiamento ostensivo.
b) Procedimento no posto
1) Compreende 3 (trs) formas de ao:
(a) atendimento a chamados do pblico;
(b) inspeo de locais especficos, para verificar o grau de normali-
dade;
(c) interveno, em cumprimento a determinao ou por iniciativa
prpria.
2) No posto, o PM faz observao e toma providncias em face da
existncia de fato anormal, assim considerado aquele que, no mnimo, exige
averiguao por se tratar de comportamento a atitudes no usuais.
3) Parada ou em marcha adotar sempre uma atitude inequvoca de
quem est e de forma a ser notado por um maior nmero de pessoas.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3 - carto-programa
4) No interesse do policiamento, o PM deve familiarizar-se com a lo-
calizao de prdios pblicos, farmcias, hospitais, hotis, residncias de
118
autoridades policiais e judicirias, de mdicos, casas de diverses, casas
comerciais e outros. conveniente, ainda, conhecer porteiros, zeladores de
edifcios, vigias de garagens, funcionrios de postos de gasolina, garons,
motoristas de txi, vigias particulares noturnos, bem como outras pessoas
que, trabalhando noite, constituiro excelentes fontes de informes. re-
comendvel que o policial-militar seja designado para o mesmo posto e no
mesmo horrio, por perodo de tempo considervel, pois isto lhe permitir
um pleno conhecimento do espao fsico em que atua e dos hbitos da co-
munidade ali radicada.
5) no posto que se cristaliza a essncia da atuao das fraes
empenhadas no policiamento ostensivo, procedendo a averiguaes, adver-
tindo, efetuando prises, lavrando autuaes e prestando assistncia. Nes-
sas tarefas que se firma a capacidade operacional da OPM. Portanto, a
frao elementar ou constituda, orgnica ou reforada, que atuar no posto,
deve ser auto-suficiente no desempenho das aes e/ou operaes acima
referidos.
c) Extenso do posto
A extenso do posto, com mais de um PB, varia em funo do pro-
cesso a ser adotado e deve proporcionar a possibilidade de ser percorrido
entre 3 e 5 vezes, pela frao, num turno. Esses limites se justificam por-
que, aqum do mnimo (3), o posto pode estar sendo escassamente policia-
do e, alm do mximo (5), densamente policiado, em detrimento de outros
espaos a serem cobertos. O tempo de permanncia em pontos-base no
deve comprometer o patrulhamento em um posto, isto , o PB no tem prio-
ridade em relao ao itinerrio. Para delimitao dos postos, devem ser
considerados o ndice de ocorrncia (quantidade) e a incidncia (horrio,
local, tipo). Estes fatores determinam, tambm, a prioridade de cobertura.
d) Condies individuais para o servio:
1) O PM dever assumir seu posto com o uniforme impecvel e apre-
sentao pessoal apurada.
2) Dever cumprir os requisitos bsicos:
(a) conhecimento da misso;
(b) conhecimento do local de atuao;
(c) postura e compostura;
(d) comportamento da ocorrncia.
3) Buscar inteirar-se, com seu antecessor ou membros da comuni-
dade, de fatos anormais havidos ou existentes no posto que ir assumir,
dando continuidade a providncias iniciadas e/ou avaliando reflexos em
seus servios.
4) Aps o turno, o policial-militar retomar sua sede, onde far a en-
trega do material e da documentao de policiamento. Esta prtica objetiva
a superviso e o controle, permitindo avaliao imediata de seu desempe-
nho e eventuais reajustes em planejamentos.
e) Rendio
119
1) Dever a tropa ser dividida em duas partes, de forma que, sempre,
a metade das patrulhas esteja em operao, no havendo, dessa forma,
soluo de continuidade no policiamento ostensivo.
2) Dever, tambm, no ato da rendio verificar o estado da viatura,
bem como seu material.
3) O Comandante da Patrulha o de maior posto ou graduao sen-
do responsvel:
- pela conferncia do material e o estado geral da viatura;
- pelo preenchimento de relatrios e a conduo de detidos;
4) Normalmente a patrulha ser composta por dois policiais-militares
podendo, todavia, ser guarnecida por um, havendo necessidade;
5) Antes de colocar o policial-militar no policiamento a p, dever ser
verificado se no h outro processo de policiamento possvel e que produza
melhor resultado.
f) Instruo
1) O responsvel pela rendio dever instruir a tropa, sobre as nor-
mas e ordens em vigor, comentando ocorrncias do servio anterior, abor-
dando falhas e acertos, orientando sobre o melhor procedimento em cada
caso.
2) Dever, ainda, fiscalizar, de forma geral, a apresentao pessoal
do policial-militar, bem como o equipamento, o armamento e a munio.
3) Verificar se o policial-militar tem os seguintes requisitos bsicos:
- conhecimento da misso e do local de atuao;
- postura e compostura;
- conhecimento de procedimento em ocorrncia.
1.6 Generalidades
a) A principal preocupao do PM na execuo de policiamento ostensi-
vo geral, deve ser "0 QUE VER" e "ONDE E COMO ATUAR", percebendo a
diferena entre o cidado honesto e o delinqente, empregando adequada-
mente os meios disponveis atuantes dentro da Lei, granjeando respeito e a
confiana da populao, tornando-se, em conseqncia, parte integrante e
atuante da sociedade, responsvel pela sua segurana.
b) Presena do PM - deve ser um elemento desencorajador quele ou
queles que tenham em mente a perpetrao de ilcito penal ou mesmo de
um ato anti-social. Esta ao inibidora ser resultante de sua atitude, de sua
maneira de agir, de seu aspecto pessoal. O PM deve ser observador e estar
atento a tudo que ocorre a seu redor, percebendo a diferena de comporta-
mento de indivduos e eventuais mudanas de procedimentos das pessoas,
caractersticas tpicas de que ali h algo para ser verificado.
1) Exemplos de situaes que merecem verificao:
(a) Indivduos que, ao ver o PM, alteram o comportamento, disfar-
ando, ou mudando de rumo, ou largando algum objeto, ou saindo correndo,
120
ou demonstrando, de alguma forma, preocupao com a chegada do PM
(pode ser um delinqente).
(b) Pessoas aflitas ou nervosas sem motivo aparente ou adultos se-
gurando crianas que choram, pedindo o pai ou a me (pode ser seqestro).
Crianas pequenas vagando em lugares pblicos ou ermos, podem estar
perdidas.
(c) Indivduo cansado, suado por correr, sujo de lama ou sangue
(pode estar fugindo da policia ou de local de crime).
(d) Indivduo parado ou veculo parado muito tempo, prximo a es-
tabelecimento de ensino (pode ser um traficante). Vendedores ambulantes
(carrinhos de pipocas, sorvete etc.) tambm devem ser objeto de ateno.
(e) Indivduos carregando sacos ou objetos (eletrodomsticos, pica-
reta, p-de-cabra, macaco de automvel) pode ser "arrombador" que j agiu
ou vai agir. Indivduo com saco nas costas vendendo amendoim nas praias,
em atitude suspeita, junto a objetos deixados por banhistas (pode ser "rato
de praia.
(f) Indivduo com odor caracterstico de txico (pode ser viciado ou
traficante).
(g) Indivduo parado muito tempo nas proximidades de estabeleci-
mento comercial ou bancrio (pode estar esperando a hora de agir).
(h) Indivduo agachado, dentro ou ao lado do veculo parado ou es-
tacionado (pode estar se escondendo, fazendo ligao direta ou roubando
toca-fitas etc.).
(i) Grupo de pessoas paradas em local ermo ou mal-iluminado ou
de m freqncia (podem ser viciados, traficantes ou delinqentes).
(i) Indivduo ou veculo que passa vrias vezes pelo mesmo local
(pode ser delinqente esperando a hora de agir).
(k) Indivduo ou veculo que foge aproximao do PM (pode ser
um delinqente em fuga).
(I) Estabelecimento comercial com a porta semi-fechada (pode es-
tar havendo um ilcito penal no seu interior).
(m) janelas ou portas abertas em residncias ou estabelecimento
comercial, especialmente no perodo noturno (pode haver delinqente no
seu interior).
(n) Ocupantes de um veculo cujas aparncias esto em desacordo
com o tipo de veculo (podem ser marginais em carro roubado).
(o) Veculo que passa em alta velocidade, com ocupantes apavora-
dos ou empunhando armas (podem estar fugindo da polcia ou de local de
crime).
(p) Carro estacionado, com motorista no volante ou outras pessoas
dentro, parado h muito tempo no mesmo local (podem ser delinqentes,
esperando a hora de agir).
121
(q) Veculo parado, mal-estacionado, luzes acesas, portas abertas,
chaves no contato (pode ser carro roubado ou ocupado por delinqentes em
fuga ou cometendo ilcito penal por perto).
(r) Veculo em movimento que procure chamar a ateno do PM a-
travs de sinais, como luz, buzina, freadas etc. (algum pode estar preci-
sando de ajuda).
(s) Rudos que quebram a rotina como gritos, exploso, disparos de
arma de fogo etc. (algum pode estar precisando de ajuda).
(t) Veculo velho com placa nova, veculo com placa dianteira dife-
rente da traseira, veculo com lataria amassada ou vidros estilhaados, ve-
culo com marcas de bala na lataria (pode ser carro roubado).
(u) Indivduo estranho, muito atencioso e carinhoso com crianas
nas ruas (pode ser um tarado).
2) Em qualquer situao suspeita, em princpio, o PM s deve atuar
se estiver como superioridade numrica ou de poder de fogo. No preen-
chendo essas duas condies, dever solicitar reforo.
c) "Onde e como atuar"
1) Em princpio, no sair de sua rea de atribuies e de atuao.
Preocupar-se em cumprir o seu papel. Auxiliar seus companheiros, quando
solicitado. Trabalhar em conjunto. Ningum obtm resultados satisfatrios
sozinho.
2) Conhecer a fundo a rea de atuao (rotina, moradores, comerci-
antes, vias de acesso, locais de m freqncia, delinqentes e seus pontos
de reunio etc.).
3) Fazer um bom relacionamento com a comunidade que lhe prestar
informaes e lhe dar ajuda em caso de necessidade.
4) No se envolver emocionalmente na ocorrncia, no tomando par-
tido, permanecendo sereno sem sofrer influncia ou presses das partes ou
terceiros, mesmo diante de fatos extremamente chocantes.
d) Relaes com a comunidade
1) Auxiliar crianas, pessoas idosas, deficientes fsicos a atravessa-
rem as ruas, parando a viatura para isso, se necessrio.
2) Prestar informaes solicitadas pelas pessoas. Ser atencioso. No
conversar como se estivesse falando com delinqentes. Recorrer a colegas
ou mesmo a civis, se for preciso, para solucionar o problema.
3) Auxiliar pessoas em dificuldades em locais ermos, mal-iluminados
ou em horrios imprprios (Ex.: veculo com famlia dentro, com pneu fura-
do ou problemas mecnicos).
4) Socorrer pessoas acidentadas ou vtimas de mal sbito.
e) Durante o patrulhamento
1) Encontrando alguma situao considerada suspeita, no titubear e
verific-la, observando os princpios de segurana individual.
2) No observar rotina no trajeto de patrulhamento.
3) Com viatura, respeite rigorosamente todas as regras de trnsito.
122
4) Adequar a velocidade da viatura ao local, de forma a poder
perceber tudo o que ocorre em seu redor, sem interromper o fluxo de trfe-
go.
5) Quem dirige a viatura , alm de motorista, um integrante da guar-
nio tambm atento para perceber situaes suspeitas e entrar imediata-
mente em ao.
6) Desconfiar, em princpio, de informaes recebidas por terceiros.
Identificar o informante e verificar a veracidade da informao antes de agir,
evitando possveis "armadilhas" ou o cometimento de injustias.
7) Em locais de freqncia pblica (inclusive de parada para alimen-
tao e cafezinho), coloque-se sempre prximo e de costas para uma pare-
de, com ampla viso sobre a entrada e o interior do local.
8) Em estacionando a viatura, prever, sempre, um PM da guarnio
para fazer a segurana dos demais, ficando fora da viatura, prximo e de
costas para a parede, atento ao movimento das proximidades (pessoas e
veculos) e atento ao rdio.
9) S conduzir ao DP indivduos presos em flagrante ou sobre quem
haja fundadas suspeitas de ter praticado ilcito penal. "A falta de documen-
tos no constitui ilcito penal e o indivduo pode conseguir, no local, provar
ser um cidado honesto e trabalhador".
f) Transporte de pessoas na viatura
1)Em princpio, todos os suspeitos devem sofrer, antes de entrar na
viatura, busca pessoal. As vtimas e as testemunhas, dependendo das cir-
cunstncias, podero, tambm, ser submetidas a essa busca.
2) O transporte de delinqentes ou indivduos perigosos deve ser feito
no guarda-preso da viatura, algemados de forma conveniente.
g) Ocorrncias em que no se caracterize o ilcito penal - Oriente as par-
tes, conforme o caso, a agir judicialmente ou a recorrer a assistentes soci-
ais.
h) Procedimento individual em caso de tiroteio:
1) Manter a calma. No entrar em pnico.
2) Utilizar os abrigos disponveis no momento; diminuir a silhueta
(fig 3-1)
3) Tomar todas as cautelas para no ferir companheiros ou terceiros;
cuidado com fogo cruzado.
4) Contar o nmero de disparos feitos.
5) Cessada a ao do delinqente, cessar a reao.
6) Em caso de rendio ou indivduo ferido, procurar ter total viso
dele, antes de desarm-lo e socorr-lo (cuidado com simulao de ferimen-
tos por parte do delinqente).
123
Erro! Vnculo no vlido.
fig. 3-1 - Utilizao de Abrigos para proteo
i) Socorro de suspeitos ou de delinqentes
1) Fazer busca preliminar no ferido, rapidamente, com o objetivo de
preservar a segurana da guarnio.
2) No caso especfico de delinqentes, algemar os que estiverem
conscientes.
3) O socorro, em princpio, deve ser feito na viatura, mantendo-se a
guarnio atenta aos feridos durante o deslocamento, evitando possveis
surpresas; no socorro, a viatura deve ter pelo menos dois PM.
4) Caso o socorro seja feito por terceiros, cuidar para que estejam em
nmero superior ao de feridos; anotar os dados do veculo e do condutor
para constar do histrico do Talo. Em caso de recusa e na impossibilidade
de det-los, anotar, se possvel, dados pessoais ou do veculo, para posteri-
ores providncias.
5) Todos esses procedimentos no devem retardar, mais que o ne-
cessrio, o socorro.
6) No PS, exercer vigilncia para que o ferido no fuja.
2.0 Tcnicas Usuais
2.1 Busca pessoal
a) Divide-se, quanto atuao do PM, em busca preliminar e busca
minuciosa.
b) Busca preliminar a realizada em situaes de rotina quando no h
fundadas suspeitas sobre a pessoa a ser verificada, mas em razo do local
e da hora de atuao. Ex.: local pblico de m freqncia, local de alta inci-
dncia criminal, entrada de pessoal em campo de futebol e bailes populares.
c) Busca minuciosa aquela realizada em pessoas altamente suspeitas
ou em delinqentes.
d) Procedimento do PM na busca preliminar: (Fig. 3-2).
1) Antes de iniciar a busca, evitar que o indivduo fique de posse de
quaisquer objetos (blusa, sacola, bolsa, pacote, guarda-chuva, jornal etc.).
2) Colocar o revistado em p, com a frente voltada para uma parede
(na falta, utilizar a lateral da viatura) e as costas para si.
3) Se no houver parede, veculo prximo ou qualquer superfcie ver-
tical no local de busca preliminar (campo aberto) deve o policial obrigar o
suspeito a deitar de frente ao solo com os braos esticados e para a frente.
4) Proceder ao porte de arma por trs do revistado, mantendo sempre
uma perna atrs da outra (perna direita frente, bem flexionada, a perna
124
esquerda atrs, levemente flexionada), mantendo o p direito prximo e
paralelo ao p esquerdo do revistado, ao verificar a sua metade esquerda;
quando da verificao da metade direita, manter o p esquerdo prximo e
paralelo ao p direito do revistado.
5) Em caso de reao, desequilibrar o revistado, deslocando-lhe a
perna com o p.
6) Durante a busca, observar a seguinte seqncia:
(a) tirar a cobertura (gorro, chapu etc.) do revistado. Examin-lo;
(b) apalpar a garganta, o peito e a cintura, em toda volta;
(c) apalpar ao longo das costas, desde a rea dos ombros at a
cintura e da at a axila direita. A mesma coisa na axila esquerda;
(d) apalpar firmemente ao longo de cada brao, at os dedos, sem-
pre apertando;
(e) apalpar a regio pubiana e as ndegas;
(f) esvaziar todos os bolsos da roupa;
(g) examinar as partes interna e externa de cada perna at o calca-
nhar.
7) Verificar se no h cheiro de txicos nas mos ou picadas nos bra-
os.
8) Verificar todos os objetos e volumes em poder do revistado, inclu-
sive cigarros, fsforos etc.
9) Nada encontrando de ilegal, agradecer a colaborao, liberando o
indivduo.
10) Na busca preliminar em campo de futebol, o rigor fica vinculado a
circunstncias momentneas.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-2 - Particularidades da busca pessoal
125
e) Procedimento em busca minuciosa: (Fig. 3-3 e 3-4).
1) Dever ser feita, sempre que possvel, na presena de, no mnimo,
uma testemunha e em local isolado do pblico.
2) Adotar os procedimentos da busca preliminar e mais:
(a) tirar toda a roupa e os sapatos do revistado. Se estiver com ata-
duras ou gesso, verificar se so falsos;
(b) verificar todo o corpo do revistado, inclusive orifcios externos.
indagar da procedncia de cicatrizes e tatuagens. Se tiver cabelos muito
grandes ou espessos, passar um pente;
(c) verificar a roupa do revistado:
- cobertura: parte interna e externa;
- sobretudo ou palet: colarinho, lapelas, bolsos, costuras, re-
mendos, botes e outros ornamentos;
- colete: forro, costuras e botes;
- cinto: bolsos, interiores falsos, fivela;
Erro! Vnculo no vlido. Erro! Vnculo no vlido.
Erro! Vnculo no vlido.
Erro! Vnculo no vlido.
Erro! Vnculo no vlido.
figs.3-3 e 3-4 - Particularidades da busca pessoal
- camisa: colarinho, punho, bolsos (verdadeiros e/ou falsos);
- gravata: forro e n;
- calas: costuras, bolsos (verdadeiros ou falsos), cinturas e bar-
ras;
- sapatos: parte interna e externa (saltos).
f) Recomendaes para quem faz busca pessoal; (fig. 3-5).
1) recomendvel que a busca pessoal seja feita por dois PM fican-
do um com o encargo da busca propriamente dita e o outro com a respon-
sabilidade pela segurana do companheiro. O PM que faz a segurana deve
ficar atrs do suspeito e do lado contrrio do seu companheiro, mantendo-
se atento ao revistado.
2) A busca pessoal deve ser feita com toda aplicao, visando a a-
preender armas ou objetos que possam ser usados contra o PM ou objetos
de ilcito penal, que possam incriminar o indivduo.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-5 - Particularidades de busca pessoal
g) Busca pessoal em mulheres
126
1) Em princpio, deve ser realizada por policiais femininas, observan-
do-se as normas preconizadas para busca pessoal em homens, no tocante
segurana.
2) Quando feita por PM do sexo masculino, a busca preliminar deve
iniciar-se pelo pedido gentil mulher para que entregue a sua bolsa (sacola,
embrulho etc.), a fim de ser verificada quanto existncia de armas Ou
objetos que possam ser usados contra o PM ou objetos de ilcito penal, que
venham a incriminar a pessoa. Sempre que possvel, essa verificao deve-
r ser feita em presena de testemunhas.
3) Nada encontrando de ilegal, agradecer a colaborao, desculpan-
do-se pelo incmodo.
4) Em caso de mulheres delinqentes ou em que haja necessidade
de ser procedida revista mais minuciosa, no havendo policiais femininas no
local, a busca pessoal no dever ser feita, conduzindo-se a mulher com
toda a segurana at o DP, onde poder ser melhor revistada (fig. 3-4).
2.2 Abordagem e vistoria
a) Veculos - A abordagem e a vistoria em ocupantes de veculos uma
das mais perigosas aes do PM. Em princpio, no devem ser feitas por
homem isolado, nem por PM em inferioridade numrica em relao aos
ocupantes do veculo. Nessas hipteses, solicitar reforo e, enquanto no
chegar, acompanhar discretamente o veculo suspeito, comunicando a sua
posio continuadamente. Antes de ser efetuada a abordagem, elaborar um
plano de ao, prevendo precaues a ser tomadas e a atuao de cada
PM.
1) Procedimentos
(a) Local ermo - o que oferece melhores condies de atuao do
PM, pois evita as desvantagens que possa ter devido s distraes de uma
rua movimentada, alm de diminuir o risco da presena de terceiros em
caso de reao e tiroteio. Sempre que possvel, deve-se procurar parar o
veculo suspeito em ruas relativamente calmas ou em locais ermos.
(b) Locais com trfego intenso - importante a adoo de cautela,
para evitar: colises com outros veculos, atropelamentos e risco vida de
terceiros. A ao deve ser a mais rpida possvel e as armas s podero
ser usadas em legtima defesa. prefervel permitir a fuga momentnea a
atingir inocentes.
(c) Local com movimentao de pedestres - deve ser evitado em fa-
ce da possibilidade de colocar em risco a integridade fsica de terceiros,
caso haja reao ou inabilidade dos motoristas. Alm disso, haver a natu-
ral aglomerao de curiosos. Em tais situaes, no havendo outra alterna-
tiva, alertar os transeuntes, afastando-os atravs de palavras e gestos. Du-
rante a vistoria, impedir a presena de curiosos e no descuidar da segu-
rana dos PM; tais locais oferecem maior facilidade para arrolar testemu-
127
nhas. Nesses casos, tambm, prefervel permitir a fuga momentnea a
atingir inocentes.
(d) Posio da viatura - a viatura deve ser parada a aproximada-
mente dois metros atrs do veculo e um metro e meio sua esquerda.
Nunca estacionar a viatura defronte ou ao lado do veculo suspeito. Avisar,
via rdio, sobre a abordagem e vistoria. O pisca-pisca permanece ligado,
alertando os demais veculos em trnsito.
(e) Atuao da guarnio de RP (dois homens):
- Parados, o veculo e a RP, o motorista coloca-se do lado de fora
da mesma, atrs da porta esquerda que estar aberta. O motor da viatura
deve permanecer ligado. De onde est, o motorista pode observar os ocu-
pantes do veculo e dar segurana ao encarregado.
- O encarregado, colocado atrs da porta direita da viatura, orde-
na aos ocupantes do veculo que desliguem o carro e, aps, mantenham as
mos em posio visvel, atrs da cabea ou nas portas do veculo.
- Em seguida, o encarregado desloca-se em direo ao pra-lama
direito traseiro do veculo, de onde pode observar os seus ocupantes pela
retaguarda e fica fora do campo de viso oferecido pelo espelho retrovisor
(manter a arma na mo, sem engatilh-la).
- o motorista desloca-se para junto do pra-lama traseiro esquer-
do do veculo (manter a arma na mo sem engatilh-la).
- O encarregado, com a segurana dada pelo motorista, manda
que os ocupantes abram a porta direita do veculo e, por ela, desam deva-
gar, com as mos entrelaadas em cima da cabea.
- com os ocupantes fora do veculo, o encarregado verificar o
seu interior, vendo se no h ningum de tocaia ou amarrado, ou algum
objeto facilmente visvel que levante fundada suspeita de serem delinqen-
tes (revlveres sobre bancos, txicos, jias, muito dinheiro esparramado
etc.), quando ento adotar um dos sinais convencionados que se ver
adiante.
- Nada constatando, adotam-se os procedimentos de busca pes-
soal nos suspeitos.
- Proceder revista minuciosa no interior do veculo, buscando ar-
mas, txicos ou produtos de ilcitos penais. Essa revista feita pelo encar-
regado, enquanto o motorista permanece vigiando os suspeitos. Em princ-
pio, o proprietrio do auto deve acompanhar a vistoria, tomando-se os cui-
dados necessrios para que no possa arrebatar a arma do encarregado ou
fugir.
- Caso no tenha sido feito durante a eventual perseguio, verifi-
car se o carro roubado ou se no est envolvido em nenhuma ocorrncia
Se o lacre estiver violado, conferir o nmero do chassis com o documento
do carro.
- Durante toda a atuao de abordagem e vistoria, o rdio deve
estar ligado em condies de ser ouvido.
128
- Se tudo estiver em ordem (veculo e ocupante), agradecer a co-
laborao e desculpar-se pelo incmodo.
- noite, acrescentar os seguintes cuidados:
- Os faris da viatura devem ser utilizados para cegar os ocupan-
tes do auto suspeito e aumentar a visibilidade do PM
- que os ocupantes do veculo suspeito acendam as luzes inter-
nas;
- a lanterna de pilhas ou "spotlight" deve ser mantida ao lado e
no frente do corpo do PM, e o seu foco deve ser dirigido aos olhos do
suspeito, para ofusc-lo;
- no cruzar na frente do farol da viatura.
- Nunca encostar no veculo suspeito para falar com seus ocupan-
tes ou determinar-lhes que desam, nem abrir a porta do veculo suspeito
para que os seus ocupantes desam (Fig. 3-6).
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-6 - Particularidades da abordagem de veculos
(f) Atuao de guarnio de PTM ou ROTA (quatro homens).
- As variaes ocorrem no posicionamento e na funo dos
integrantes da guarnio.
- Os procedimentos so semelhantes:
- parada do veculo e da viatura;
- ordens para desligar o veculo e manter as mos em posio vi-
svel;
- abertura da porta do veculo e descida do mesmo;
- verificao, no interior do veculo, de outras pessoas ou objeto
comprometedores.
- busca pessoal;
- verificao da existncia de valores no veculo;
- revista minuciosa no veculo, se for o caso (fig. 3-7);
- rdio ligado;
- verificao se o veculo roubado;
- liberao.
- cuidados adicionais noite;
- nunca encostar no veculo suspeito para falar com seus ocupan-
tes ou determinar-lhes que desam, nem abrir a porta do veculo suspeito
para que desam.
- Em guarnies com quatro homens, as funes ficam assim dis-
tribudas:
- motorista - segurana da viatura, segurana dos demais e escu-
ta do rdio;
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-7 - Revista minuciosa do veiculo
129
- encarregado - orienta e fiscaliza a operao; cobre a ao do
auxiliar 2;
- auxiliar um - faz a segurana do lado esquerdo do veculo;
- auxiliar dois - faz a busca pessoal e a vistoria no veculo (fig.
3-8).
g) Sinais convencionados
- Toda guarnio deve ter uma srie de sinais convencionados,
para utilizao quando necessrio. Esses sinais objetivam a comunicao
entre os PMs, sem que terceiros entendam o que se passa. Os sinais de-
vem ser simples. Ex.: piscar, tossir, pigarrear, palavra-chave etc. Numa
situao de abordagem e vistoria de veculos, eles sero teis para indicar a
descoberta de alguma anormalidade ou transmitir necessidade de redobrar
as precaues para evitar fuga ou, ainda, para selecionar quem deve mere-
cer mais ateno na busca pessoal.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-8 - Abordagem de veculo por PTM ou ROTA.
h) Procedimentos suplementares (quando necessrio):
- Descoberto algo incriminador no veculo, deve-se mandar que
os ocupantes se deitem no cho, onde sero algemados e, aps, submeti-
dos a uma revista minuciosa. Evitar que conversem entre si, impedindo,
assim, o acerto de declaraes".
- Os indivduos devero deitar-se de barriga no cho, com as
mos sobre a cabea.
- Arrolar testemunhas para a apreenso de objetos, armas, valo-
res etc.
b) Edificaes
1) No esquecer da fiel observncia das prescries legais, relativas
inviolabilidade do domiclio.
2) Edificaes ocupadas:
(a) Se os ocupantes forem delinqentes, principalmente homens
armados, procede-se, normalmente, como no cerco, com todas as cautelas
prprias da tcnica do cerco.
(b) A dificuldade ser realmente muito grande se entre os ocupantes
da edificao estiverem pessoas enfermas, idosas e crianas.
(c) Nessas hipteses, os PM devero empregar os meios possveis
para que tais pessoas se retirem; em seguida, realizar a abordagem.
(d) Se a edificao estiver ocupada por pessoas que no oferecem
perigo aos PM ou no so delinqentes, o procedimento ser corts.
(e) De qualquer forma, tais abordagens no devero ocorrer com as
guarnies em inferioridade numrica ou de poder de fogo.
(f) Se os PM forem at a edificao para fazer a abordagem, em fa-
ce de denncia do detido, ser necessria muita ateno, pois podero
130
estar sendo atrados para uma tocaia ou at mesmo para a prpria residn-
cia do detido que passar a gritar pelos familiares pedindo ajuda e fazendo
acusaes contra os PM.
3) Edificaes desocupadas.
(a) Em princpio, o procedimento como se o local estivesse ocu-
pado, isto , com cuidado para no ser surpreendido por algum que esteja
escondido, adotando-se tcnica anloga prevista para edificaes ocupa-
das.
(b) Em se tratando de edificao desocupada, existe a possibilidade
de que esteja em estado de abandono, oferecendo perigo aos PMs, pois
poder haver vigas e paredes prestes a desabar, escadas quebradas, asso-
alho solto etc.
4) Edificaes com refns:
(a) Colher informaes no local e transmiti-Ias via rdio, para provi-
dncias decorrentes.
(b) Cercar o local, impedindo a evaso dos criminosos.
(c) Em havendo possibilidade de tiros, com risco integridade de
terceiros, as guarnies no devero tentar a invaso do local ou arrebatar
o seqestrado antes da chegada de oficial (fig. 3-9).
(d) A aproximao e a chegada ao local, quando em perseguio,
devero obedecer aos seguintes preceitos:
- A aproximao deve ser feita de modo a evitar que seja notada,
para obter a vantagem do elemento surpresa. Se possvel, deve aproximar
por uma rua paralela ou por local que no oferea campo de vista.
- A viatura deve estacionar um pouco antes do local, evitando ser
prematuramente vista, e seu estacionamento deve ser o mais seguro poss-
vel, diante das circunstncias.
- As chaves no devem ficar no contato da viatura, para evitar que
sejam utilizadas em possvel fuga.
- Devem ser evitados os rudos, decorrentes do rdio, batidas de
porta da viatura, sirene etc.
- Devido gravidade da ocorrncia ser fundamental ganhar tem-
po, o supervisar e o Cmt. do Peloto sero acionados para o local.
(e) A viatura designada para cobrir a frente do prdio tem duas res-
ponsabilidades imediatas:
- determinar se h vtimas e se necessitam de assistncia mdica
urgente. Se for o caso, providenciar o socorro mdico urgente, ainda que o
delinqente possa fugir; e
- comunicar ao controle as informaes especficas e necessrias
para dirigir e orientar o reforo necessrio.
(f) O PM no deve oferecer-se como refm, pois aumentar o
poder dos delinqentes.
(g) Se for noite os faris da viaturas devem ser usados para iluminar
a edificao.
131
h) Se for feito uso de gs lacrimognio para forar a sada dos mar-
ginais observar a posio do vento e cuidado ao aproximar-se de janelas,
portas e corredores.
i) Outras viaturas devem ser designadas, se necessrio, para cobrir
os flancos e os fundos do prdio, a fim de no permitir a fuga.
j) Antes da ordem do oficial, as guarnies no devem responder a
tiros dados pelos homiziados, mantendo-se abrigadas e com vistas ao local.
Erro! Vnculo no vlido.Fig. 3-9 - Cerco a sequestradores
132
1) O comandante da operao o nico que dar ordens para a en-
trada na edificao e emprego de armas em ltimo caso. Todos os PM que
estiverem na operao devem ter em mente que um tiro pode causar a mor-
te de refns ou de outro policial,
m) Para o sucesso da operao fundamental a calma, o tempo estar
a nosso favor e o prestgio da Corporao depende desse sucesso. (figura
n. 3-9).
ATENO: O GRPAe (Grupamento de Radiopatrulhamento Areo)
sendo acionado para o local, dar melhores condies para o cerco e per-
seguio em caso de fuga alm de ser de extrema valia no caso de socorro
urgente de vtimas que possam estar em estado grave."
Depois que o local estiver cercado o tempo passa a ser o elemento mais
importante. Os patrulheiros no local no devem ser precipitados colocando
em risco a vida dos refns.
A priso dos delinqentes deve ser negociada dando-lhes garantias de
vida pela liberdade dos refns, isso dever ser testemunhado, fato que aju-
da a credibilidade dos marginais.
Os policiais no devem provocar uma ao do marginal sobre os refns,
coisa que poder acontecer se perceberem que no haver condies de
priso ou fuga.
No menospreze o grau de periculosidade ou desespero dos marginais.
n) No caso dos criminosos tentarem a fuga, utilizando os refns como
escudo, os PM devem:
- Permitir a fuga, sem atirar.
- Informar de imediato Central, fornecendo os seguintes dados:
- direo em que tentada a fuga;
- se a fuga est sendo processada a p ou em veculo;
- no caso de ser em veculo, informar a chapa, a marca e a cor;
- a quantidade e as caractersticas das pessoas tomadas como
refns:
- a descrio dos seqestradores; e
- procurar segu-los distncia.
o) Em sendo determinado, pela Central, cerco rea para interceptar a
fuga, os PM devem atentar para:
- Procurar informaes junto a proprietrios de bares, lojas e ou-
tros comerciantes que possam ter visto os delinqentes em fuga.
- Linhas de transportes coletivos, que circulam nas vizinhanas,
podero ser excelentes vias de fuga.
- Bares, lojas, postos de gasolina, supermercados, pontos de ni-
bus, etc., tendo o cuidado de incluir os sanitrios desses locais para vistori-
ar.
p) Para evitar conflito de Comando local a Corporao criou o GATE
(Grupo de Aes Tticas Especiais), que com pessoal mais preparado e
133
melhor equipado ser acionado para o cerco, assumindo o controle da situ-
ao, na seqncia da misso iniciada pelos patrulheiros.
O GATE existe para facilitar a atuao profissional e so policiais como
os demais, de uma mesma Corporao.
Coletes a prova de balas, atiradores especializados, rnegafones, armas e
equipamentos so teis para uma ao policial dessa natureza, e o GATE
as possui.
5) Edificaes com dbeis mentais no seu interior:
(a) Atuar consciente de que o dbil mental no um delinqente,
mas, ao revs, um doente, que necessita de cuidados mdicos.
(b) Suas atitudes so imprevisveis, podendo passar de um estado
de calma violncia ou vice-versa, o que exige prudncia e cuidados espe-
ciais de segurana.
(c) Antes de entrar em contato com o demente, o PM deve fazer al-
gumas perguntas a algum que o conhea, como, por exemplo, um parente
ou amigo, objetivando ter idia do comportamento do demente. Assim, in-
dagar se o dbil mental violento ou no; se est ou no armado e, em
caso positivo, qual o tipo de arma; se recebe bem os PM; enfim, procurar
saber tudo sobre o grau de periculosidade do alienado mental.
(d) Antes de fazer a abordagem, os PM devero procurar a prote-
o, empregando cautelas necessrias e manter o dilogo com o demente
na tentativa de inspirar confiana.
(e) Lembrar-se, antes de agir, de que a Corporao dispe de mei-
os necessrios para resolver tais situaes. Ter calma e acionar os meios.
(f) Se as circunstncias exigem imediata entrada na edificao, no
esquecer de arrolar testemunhas e obter autorizao do morador ou res-
ponsvel.
(g) Utilizar, se for o caso, camisa de fora ou meios de fortuna que a
substituam (cobertores, japonas etc.), para conter o demente.
(h) Lembrar que a criatividade, a improvisao e o bom dilogo so
teis na abordagem de dbeis mentais.
c).Pessoas a p - A abordagem e a revista pessoal (porte de arma ou
vistoria) podem ocorrer nos seguintes casos:
1) Durante o patrulhamento de rotina, quando os PM tentam averiguar
suspeitos e detectar pormenores, que possam indicar alguma anormalidade
ou em locais notoriamente suspeitos.
2) Quando o indivduo avistado for um suspeito, procurado pela Pol-
cia, para esclarecimento de ilcito penal.
3) Quando o indivduo porta objetos que possam ser produtos de cri-
me.
d) Pessoas isoladas, a p:
1) A abordagem deve ser processada com ateno e cautela, vigian-
do todos os movimentos do suspeito, pois poder sacar uma arma, procurar
desfazer-se de txico, jogando-os fora ou at mesmo colocando-os na boca.
134
2) Em seguida, o PM ordena que coloque as mos sobre a cabea e
realiza a busca pessoal preliminar.
3) Se o indivduo estiver indevidamente armado, portar txico ou pro-
duto de crime, o PM deve algem-lo, fazendo, a seguir, a busca minuciosa,
providenciando, ato contnuo, para que seja encaminhado Unidade Policial
da rea, arrolando testemunhas, sempre que possvel.
e) Pessoas na multido
1) A primeira providncia ser afastar ou retirar o indivduo do meio
da multido para, em seguida, revist-lo.
2) Constitui erro crasso a abordagem e a revista de pessoa suspeita
no meio da multido, eis que a reao do pblico poder ser contrria ao
PM, podendo ocorrer tentativa de desarm-lo ou de agredi-lo.
3) Se o PM precisar usar a arma, no poder faz-lo com segurana,
correndo o risco de atingir os circunstantes e, dessa forma, fazer vtimas
inocentes.
f) Pessoas alienadas mentais
1) As providncias sero as mesmas indicadas nas ocorrncias com
dbeis mentais em edificaes, devendo o PM adotar medidas de seguran-
a, visando a no ser surpreendido com a eventual reao do dbil mental.
2) Possveis gritos e ofensas, despertando a ateno de transeuntes,
no devero perturbar a ao do PM, que dever com calma e tranqilida-
de, tentar resolver a situao.
3) No esquecer de arrolar testemunhas e relacionar tudo o que per-
tencer ao demente, tais como objetos de valor, dinheiro, jias, relgios etc.,
para, em seguida, encaminh-los Unidade Hospitalar prpria, mais prxi-
ma.
g) Pessoas alcoolizadas
1) Se o indivduo estiver em coma alcolica portanto inconsciente e,
em conseqncia, sem capacidade para se manter em p, no dever ser
conduzido Unidade Policial da rea, mas sim ao PS.
2) No PS, relacionar os pertences e valores do alcoolizado, arrolando
testemunhas, para evitar queixas e eventuais acusaes posteriores.
3) Se o bbado estiver ferido, aps ser medicado, pode ser conduzido
Unidade Policial da rea, para providncia,. complementares.
4) Se o bbado ficar internado ou em observao no PS, haver ne-
cessidade de transmitir os dados Unidade Policial da rea.
5) No levar em conta as provveis ofensas do bbado, pois tal com-
portamento comum, uma vez que o indivduo no est sbrio e, portanto,
no tem plena noo do que faz e nem do ridculo a que se expe.
h) Pessoas drogadas:
1) O PM dever abord-las com ateno e cautela para no sofrer
qualquer reao.
2) Efetuar a busca pessoal.
135
(a) se houver drogas a serem apreendidas, faz-lo, preferencial-
mente, na presena de testemunhas;
(b) no esquecer que, pelo fato de estar drogado, o indivduo po-
der estar violento e reagir sem medir as conseqncias dos seus atos,
pondo em risco a integridade do PM.
2.3 Cerco
a) Podemos considerar, para fins policiais, duas modalidades de cercos,
a saber: cerco programado e cerco ocasional.
1) Cerco programado: aquele para que, anteriormente ao, exe-
cutado um trabalho planejado de levantamento de dados do local a sofrer o
cerco e das medidas a serem adotadas em cada situao especfica que
surgir. Para o levantamento de dados, deve-se levar em considerao os
seguintes fatores:
(a) situao do terreno;
(b) vias de acesso ao local;
(c) vias de retraimento ou fuga do local;
(d) probabilidade de reao dos delinqentes;
(e) grau de periculosidade dos delinqentes;
(f) possibilidades de riscos de vida aos moradores das cercanias do
cerco;
(g) possibilidade do surgimento de refns.
2) Cerco ocasional: aquele que se torna imperioso durante uma ao
policial rotineira, quando delinqentes se homiziam em edificaes, ou se
escondem em matagais.
b) Normas de procedimento durante o cerco, que deve ser, preferenci-
almente, comandado por oficial.
1) necessrio que seja traado um plano especfico, de forma sim-
ples, contendo os dados completos sobre o local ou sobre a edificao que
ser cercada e as informaes adicionais existentes.
2) Nmero de viaturas ou de PM em quantidade suficiente, sem ex-
cessos.
3) Todos os PM, participantes do "cerco", devero ter perfeito conhe-
cimento dos objetivos da misso e das atribuies de cada um para evitar a
indeciso no momento de "cerco".
4) Para a aproximao do local, dever merecer considerao espe-
cial o elemento surpresa.
5) As viaturas devem estacionar distncia, salvo se o local permitir a
chegada das viaturas sem que, com isso, os elementos fujam.
6) Os PM no devero esquecer de pr em prtica tcnicas como:
progredir no terreno, aproveitando os abrigos e cobertas, sempre protegi-
dos, levando em conta: Onde vou?, Quando vou? e Por que vou?
7) Nas proximidades, dever haver um nmero maior de PM para a
priso de eventuais fugitivos da edificao visada ou edificaes vizinhas.
136
8) Aps as providncias iniciais, os PM devero ser distribudos de
forma a fazer um semicrculo em torno da edificao cercada, vigiando to-
das as sadas, com o cuidado para no ocorrer fogo cruzado.
9) Procedido o cerco, determina-se aos delinqentes que acendam as
luzes (se for noite) e saiam com as mos sobre a cabea, aps o que, sero
algemados, se for o caso, e revistados; a edificao ser cuidadosamente
revistada (inclusive observando-se frestas de paredes, portas e janelas)
com vistas existncia de outros delinqentes em seu interior. Para essa
revista, o PM deve abrir rapidamente a porta, tomando uma posio junto
parede interna que lhe d viso ampla do ambiente e o torne um alvo difcil.
Em se tratando de edificao trrea, o PM dever tomar cuidados especiais
com o teto, mormente se este for de madeira, sobre o qual os delinqentes
podero ocultar-se.
10) Se a ordem no for acatada, os PM faro uso do armamento
qumico, tais como bombas fumgenas e de gs lacrimognio, o que foro-
samente obrigar os marginais a deixarem o interior da edificao.
(a) preciso muita ateno quando da sada dos indivduos, pois
podero tentar abrir caminho bala; da a importncia do emprego, por
parte dos PM, dos cuidados individuais, relativos progresso no terreno,
aproveitamento de cobertas e abrigos e proteo individual.
11) Em seguida, o local ser totalmente vasculhado, quando, ento,
os PM faro as buscas, visando a encontrar objetos furtados ou roubados,
armas e txicos.
12) Para a entrada na edificao, evitar desvantagem numrica ou de
poder de fogo.
13) A lanterna deve ser usada afastada do corpo, somente o neces-
srio, e com facho de luz intermitente (fig. 3-10).
137
Fig. 3-10 - Uso da lanterna em buscas
138
14) Os PM no devem atuar separadamente para evitar serem sur-
preendidos isolados pelos delinqentes, ou atirar um contra o outro e para
fins de auxlio mtuo em caso de necessidade (fig. 3-11).
Erro! Vnculo no vlido. Fig. 3-11 - Ao conjunta para deteno de delin-
qentes
15) O revlver, sem estar engatilhado, deve ser conduzido mo (fig.
3-12)
16) Erros que no podem ser concebido em operao cerco.
(a) falta de planejamento bsico;
(b) descoordenao;
(c) falta de comando nico;
(d) excesso de meios e homens no local;
(e) deixar de cientificar a Central de Operaes;
(f) falta de definio concernente distribuio de cada PM;
Erro! Vnculo no vlido. Fig. 3-12 - Conduo do revlver em perseguio
(g) falta de cautela, inobservando os princpios de segurana e no
aproveitando a utilizao do terreno para se proteger (fig. 3-13);
(h) desejo de resolver a ocorrncia rapidamente, no aguardando
os reforos indispensveis;
(i) agir antes de contar, no local, com material e armamento qumi-
co.
139
2.4 Bloqueio relmpago
a) Para esse tipo de ao, deve-se efetuar um planejamento, providen-
ciando-se o material necessrio (lanternas, pinchos, cordas etc.) e esco-
lhendo-se local adequado para a realizao do bloqueio. Nesta operao,
devem ser empregadas quatro viaturas, no mnimo, comandadas por um
oficial, observadas as seguintes diretrizes:
Erro! Vnculo no vlido. Fig. 3-13 - Cautela para se proteger
1) O local escolhido dever ser, em princpio, onde os motoristas dos
autos particulares no tenham viso das viaturas, a mais de duzentos me-
tros, a fim de evitar que delinqentes, ocupando um veculo, utilizem vias
secundrias para a fuga.
2) Disposio das viaturas:
(a) uma viatura dever ficar afastada cem metros antes do bloqueio,
com os PM embarcados, a fim de evitar possveis fugas, e estar em condi-
es de executar perseguio;
(b) uma viatura dever ficar a cem metros aps o bloqueio, para im-
pedir a passagem de veculos que desobedeam ordem de parada ou
tentem evadir-se;
(c) no bloqueio propriamente dito, devem permanecer duas viaturas,
em direes opostas, somente com os motoristas embarcados.
3) Emprego dos PM no bloqueio:
(a) Os PM desembarcados devem efetuar as seguintes misses:
um oficial responsvel pela operao;
- um Sgt. comandante da guarnio, que auxiliar o oficial; dois
PM para a segurana;
- um PM selecionador de veculos;
- um PM anotador;
- dois PM para execuo das vistorias.
b) Da seleo
O(s) selecionador(es), dependendo das mos de direo, deve(m)
escolher, corretamente, os autos para vistoria, devendo preocupar-se com
aqueles realmente suspeitos, que so facilmente observados pelas caracte-
rsticas das pessoas que os ocupam. A ordem de parada ser transmitida
por meio de sinal de lanterna, para que o auto estacione.
c) Da vistoria
Os PM que efetuam a vistoria devem verificar todas as partes do au-
to, com vistas a objetos furtados, armas, entorpecentes ou qualquer material
que indique suspeita de ao delituosa.
d) Do anotador
O PM encarregado dessa misso deve verificar toda a documentao
e anotar, em folha apropriada, os dados relativos ao auto e ao seu condutor.
e) Da segurana
140
Os PM que efetuarem a segurana devem estar atentos a todos os
autos e, principalmente, aos PM desembarcados que efetuam seleo, vis-
toria e anotao, a fim de evitar surpresa por parte de delinqentes que
estacionam o auto na barreira e o abandonam, fazendo uso de armas contra
a tropa.
2.5 Conduo de preso
a) Em princpio, todo preso ser submetido busca pessoal, por mais
pacfico que aparente ser. Quanto utilizao de algemas, somente ocorre-
r para detidos que ofeream perigo segurana do PM ou possibilidade de
fuga, conforme legislao especfica citada no pargrafo 2-23 deste Manual.
Na falta de algemas, aproveitar os meios de fortuna, como o cassetete ou a
cinta do prprio preso. Evitar brutalidade ou violncias desnecessrias.
b) O transporte do preso dever ser feito em viaturas e, enquanto esta
no chega, o preso deve ser mantido sob severa vigilncia, de preferncia
em local isolado e longe do pblico. Nenhum preso deve ser subestimado,
em termos de capacidade de reao.
c) Como algemar:
1) Algemar sempre o preso com as mos para trs.
2) Partir da posio de busca pessoal:
(a) colocar a arma no coldre e segurar as algemas com a mo
direita:
(b) mantendo-se afastado do preso, mand-lo abaixar a mo direita,
colocando-a nas costas, com a palma da mo voltada para cima e os dedos
esticados;
(c) aplicar a algema no pulso direito, mantendo-a voltada para fora
com a parte que tem o buraco da fechadura. Deve aplicar a algema firme-
mente no pulso, mas no apert-la a ponto de se tornar demasiado descon-
fortvel, ou causar ferimentos;
(d) utilizar o fecho duplo da algema;
(e) continuar segurando com a mo direita o punho direito algema-
do. Segurar o preso pela roupa no meio das costas, com a mo esquerda;
(f) mandar o preso abaixar a mo esquerda, colocando-a nas cos-
tas, com a palma da mo para cima e os dedos esticados;
(g) utilizar o fecho duplo;
(h) colocar a algema na mo esquerda do preso usando a mo
esquerda, enquanto a mo direita segura firmemente as algemas;
(i) mandar o preso erguer-se, mantendo-se afastado dele;
(j) conduzir o preso sempre do lado oposto arma, para evitar que
ele possa apoderar-se dela;
(l) verificar sempre durante a locomoo do preso as condies da
algema e do algemado.
3) Retirada das algemas:
(a) feita por um PM, enquanto outro d cobertura;
141
(b) permanecer atento para eventual ataque do preso;
(c) no relaxar a vigilncia;
(d) s remover as algemas aps o preso estar em local seguro;
(e) para algemar dois ou mais presos, proceder conforme a (Fig. 3-
14).
Erro! Vnculo no vlido. Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-14 - Algemando dois ou trs presos.
d) Conduo de menores
Em princpio, sero conduzidos em viaturas especficas para tal fim.
Casos excepcionais, sero transportados na bolia da viatura.
e) Conduo de doentes
Em princpio, atravs de viaturas apropriadas. Em casos excepcionais
sero transportados na viatura. Quando se tratar de doena infecto-
contagiosa, aps o transporte, a guarnio e a viatura devero ser desinfe-
tadas.
f) Conduo de doentes mentais
Em princpio, sero conduzidos por viatura apropriada. Em casos ex-
cepcionais, os agitados, agressivos, sero conduzidos no "guarda-preso" e
os presumivelmente inofensivos na bolia, adotadas precaues especiais.
g) Conduo de brios
Sero transportados em viaturas, adotando-se medidas similares s
previstas para dbeis mentais.
h) Entrega de preso
Na entrega do preso a quem de direito, entregar o que dele foi retira-
do, por medida de segurana, durante a busca pessoal. recomendvel
pedir recibo dos objetos entregues, bem como atestado do estado fsico do
preso.
2.6 Perseguio - Lembrar sempre que fugir no crime
a) A p
1) O PM que persegue a p deve correr o mximo, mantendo,
somente se necessrio, a arma na mo, sem engatilh-la e com o dedo fora
do gatilho para evitar disparos acidentais. Nunca atire primeiro, s em leg-
tima defesa prpria ou de terceiros.
2) A cada esquina, dobr-la com cautela para evitar surpresas.
3) Ao aproximar-se do fugitivo, procurar desequilibr-lo, mantendo-o,
aps, deitado de barriga no cho, com as mos na cabea. Algem-lo e
submet-lo busca pessoal.
4) Com viatura, os PM devem dividir-se, ficando metade na viatura
para fazer o cerco e a outra metade perseguindo a p. Ter sempre em men-
te a necessidade de evitar inferioridade numrica e de poder de fogo.
142
5) Enquanto a viatura deslocada para o cerco, o rdio utilizado pa-
ra pedir reforo, se imprescindvel.
6) Aps a perseguio, refaa o trajeto de fuga em busca de objetos
ou armas atiradas fora pelo fugitivo, fazendo-se acompanhar de testemu-
nha.
7) Caso o fugitivo se esconda sob vegetao densa, ou qualquer local
cuja visibilidade seja limitada, o PM nunca dever, isoladamente, fazer uso
de lanterna na tentativa de localiz-lo sozinho. Providenciar rapidamente
para que a regio seja cercada, onde ento se far um "pente fino".
8) Atuao em tiroteio
(a) uma situao delicada. A primeira preocupao deve ser a de
no ferir inocentes, sendo prefervel permitir a fuga momentnea, adiando a
abordagem para o local propcio. Procure afastar curiosos.
(b) Caso seja atingido o indivduo, chegar at ele com cautela, de-
sarm-lo, fazer a busca preliminar se estiver desacordado, e algem-lo se
estiver consciente. Socorr-lo imediatamente.
(c) Caso seja atingido um PM, manter a calma e ento, logo que
possvel, prestar-lhe socorro. Nesse caso, prefervel deixar o fugitivo eva-
dir-se, pois a vida do PM ferido depende da calma e prudncia de seus co-
legas de farda.
(d) Arrolar testemunhas visuais do ocorrido, sempre que possvel.
b) Motorizada
1) O principal fator para o sucesso da perseguio consiste na ao
imediata. Qualquer tempo perdido para inici-la poder lev-la ao fracasso.
Esse imedatismo pode implicar o desrespeito de algumas normas de trnsi-
to, porm, com toda cautela para evitar acidentes, que podem, inclusive,
envolver terceiros inocentes. prefervel permitir a fuga momentnea.
2) Caso j no tenha certeza, verificar, pelo rdio, se no carro rou-
bado ou envolvido em alguma ocorrncia.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-15 - Perseguio motorizada sem riscos
3) Passar as caractersticas do veculo e de seus ocupantes, via r-
dio, para que outras viaturas possam fazer o cerco.
4) Informar os locais por onde se desenvolve a perseguio e a dire-
o tomada pelo veculo perseguido.
5) Procurar manter o veculo sempre vista, permanecendo atento
ao de outros veculos.
6) No ler o velocmetro da viatura durante a perseguio.
7) Tomar cuidado nos cruzamentos e vias de trnsito intenso.
8) Ao iniciar a perseguio, acionar todos os sistemas de alerta (sire-
ne, pisca-pisca, faris) da viatura. Isso ajudar a abrir caminho e indicar
aos ocupantes do veculo perseguido que devem parar.
143
9) Durante a perseguio, fundamental que as mensagens por rdio
sejam transmitidas com voz firme e clara, sem pnico ou afobao, permi-
tindo o entendimento e o reforo imediato. Para tanto, o PM dever pedir
prioridade de comunicaes.
10) Procurar manter a viatura na mesma bitola do veculo perseguido.
Da percia do motorista depende o sucesso da perseguio.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-16 - perseguio motorizada sem riscos
11) Quando o veculo perseguido parar, adotar os procedimentos pre-
vistos em Abordagem e Vistoria.
12) A perseguio motorizada no deve ser feita por motociclistas,
que se limitam a seguir o auto. Pedir reforo e ir transmitindo, pelo rdio, no
trajeto seguido (Fig 3-15) e (Fig. 3-16).
13) Atuao em tiroteio
(a) uma situao delicada. A primeira preocupao deve ser a
de no ferir inocentes, sendo prefervel permitir a fuga momentnea, adian-
do a abordagem para local propcio.
(b) A viatura deve ser colocada em bitola esquerda do veculo
perseguido, diminuindo-lhe o campo de tiro e aumentando o campo de tiro
da guarnio. (Figs. 3-17 e 3-18.)
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-17 - Perseguio motorizada
(c) Grande importncia tem o motorista nestas situaes, pois a
manobra afoita ou o posicionamento errado podem colocar em risco a vida
dos PM.
(d) No atirar primeiro, somente faz-lo em legtima defesa, certifi-
cando-se, antes, de que no h refns no veculo perseguido.
(e) Atentar tambm para a possibilidade de o proprietrio do veculo
estar dentro do porta-malas do mesmo.
2.7 Normas gerais para efetuar priso
a) Consideraes
1) Entre as mais perigosas atribuies do PM est o ato de efetuar
priso.
2) Nestas circunstncias, o PM no deve esquecer que est lidando
com seres humanos, no descuidando tambm do fator surpresa, em face
das mltiplas reaes do indivduo, variveis em cada caso, na iminncia de
perder a liberdade.
3) Ao prender, o PM s ter xito se estiver efetivamente bem instru-
do e observar, rigorosamente, diretrizes essenciais, comprovadas e indis-
pensveis ao exerccio da misso.
144
4) Em se adotando procedimentos corretos, o PM elimina ou reduz os
perigos da ao e, em decorrncia, evita conseqncias danosas para tran-
seuntes e curiosos.
Erro! Vnculo no vlido.
Fig. 3-18 - Atuao em tiroteio
5) O PM dever estar atento para o fato de que s existem dois tipos
legais de priso: em flagrante delito e por mandado judicial.
b Conduta do PM
1) O PM deve ter confiana em si mesmo, transmitindo essa circuns-
tncia ao indivduo, por intermdio da maneira firme de agir e do tom de
voz.
2) O tom de voz firme e calmo far com que o delinqente acate a au-
toridade do PM mais do que qualquer outra atitude. Nunca se justifica o uso
de palavras grosseiras ou pornogrficas que, muitas vezes, denotam a falta
de confiana do PM ou uma dissimulao do seu nervosismo.
3) A ao rpida e decisiva e o elemento surpresa podero ser muito
proveitosos. A surpresa ter o efeito de paralisar o suspeito, limitando sua
possibilidade de decidir pela fuga e aumentando, em conseqncia, o tempo
disposio do PM.
4) Em princpio e sempre que possvel, a priso ou deteno deve ser
feita com superioridade numrica.
5) Somente aceitar colaborao de civis para efetuar priso ou deten-
o, se esses no colocarem em risco a integridade do PM ou a do detido.
6) Evitar que civis se aproximem do detido, pois esses podero tentar
alguma coisa contra ele (ferir, agredir etc.) ou para tentar libert-lo.
c) Identidade
1) o conjunto de caracteres que individualizam uma pessoa ou coi-
sa.
2) So documentos de identidade:
(a) Carteira de Identidade;
(b) Ttulo de Eleitor;
(c) Carteira de Trabalho;
(d) Certificado de Reservista;
(e) Certificado de Alistamento Militar;
(f) Cdula de Identidade Militar,-
(g) Carteira de Identidade Profissional (advogado, engenheiro, m-
dico, dentista etc.); e
(h) Passaporte.
3) No constitui crime nem contraveno algum deixar de portar do-
cumento de identidade, j que a contraveno se caracteriza pela recusa de
fornecer dados sobre a prpria identidade, o que evidentemente no a
mesma coisa que no ter consigo documentos:
4) O PM exigir prova de identidade pessoal nos seguintes casos:
145
(a) Reconhecimento - quando precisa reconhecer um cidado.
(b) Suspeita - quando o indivduo parecer suspeito, por fundadas ra-
zes, de autoria ou co-autoria de crime ou contraveno.
(c) Infrao - quando o indivduo comete uma infrao penal.
5) Caber ao PM o nus de, colher provas ou confirmar, se entender
como falsos, os dados fornecidos por pessoas sobre a prpria identidade.
2.8 Descrio
a) Essa tcnica visa despertar no policial militar a preocupao com
pormenores. importante, no cumprimento da misso rotineira e no enca-
minhamento de soluo em eventos inusitados, permitindo-lhe realizar re-
conhecimentos de pessoas, de veculos, de objetos e transmitir as informa-
es respectivas.
b) Ao descrever pessoas ou solicitar a descrio, dever atentar para:
1) aspectos fsicos: estrutura, peso, tez, cabelo, bigode, barba, olhos,
orelhas, nariz, boca, ventre;
2) modo de andar e trajar;
3) peculiaridades tais como cicatrizes, amputaes, deformaes,
dico, tatuagens etc.;
4) peas do vesturio;
c) Ao descrever veculo ou solicitar a descrio atentar para:
1) tipo: passageiro, carga, misto;
2) marca: a designada pelo fabricante nacional ou, quando estrangei-
ra desconhecida, comparada com similar nacional;
3) cor: genrica, como o azul, verde, branco, e no designadas pelo
fabricante como gelo, caramelo etc.;
4) tipo de carroceria, como caminhonete, nibus, cup-,
5) placa: Estado, alfanumrica, cor;
6) particularidades apresentadas pelo veculo descrito.
d) Em se tratando de objetos:
1) forma: arredondada, triangular, outras;
2) tamanho: grande, mdio, pequeno;
3) natureza: ferramenta, jia, mvel, outras;
4) peso aproximado;
5) particularidades: pintado, embrulhado, outras.
6) Toda cautela deve ser tomada nos casos em que o suspeito se
recuse a ficar na posio de abordagem, pois o PM far uma revista em
situao normal.
7) A busca pessoal deve ser feita com toda aplicao, visando apre-
ender armas ou objetos que possam ser usados contra o PM ou objetos de
ilcito penal, que possam incriminar o indivduo.
2.9 Ocorrncias envolvendo integrantes das Foras Armadas, Polcia
Militar e Polcia Civil
146
a) No atendimento de ocorrncias em que, pelo fardamento ou pela i-
dentidade, se venha a conhecer a qualidade dos envolvidos como integran-
tes das FFAA e Polcias Militar e Civil, de pronto, adotar-se- o seguinte
procedimento:
1) Se for superior hierrquico, prestar os sinais de respeito regula-
mentares e comunicar, diretamente ou atravs da Central de Operaes, ao
Cmt imediato.
2) Se for subordinado, acionar o Comando Militar - o rgo policial a
que pertena o envolvido.
b) Deve ser evitado o transporte de tais envolvidos em xadrez da Vtr, o
uso de algema ou o emprego de fora fsica, entretanto, em sendo absolu-
tamente necessrio o uso desses meios, deve-se precatar contra futuras
medidas disciplinares ou penais, arrolando, de pronto, testemunhas que
possam posteriormente justificar essa conduta.
147
2.10 Ocorrncias policiais em veculos de transporte coletivo (nibus,
trem e metr)
a) Ao constatar ou ser solicitado para atender ocorrncia policial em ve-
culo de transporte coletivo, o PM deve:
1) socorrer as vtimas;
2) identificados os autores do delito, efetuar a priso em flagrante,
conduzindo-os Unidade Policial da rea, solicitando vtima que o acom-
panhe;
3) quando os autores do delito no forem identificados, porm, houver
suspeitas, conduzi-los Unidade Policial da rea, juntamente com vtima;
4) arrolar testemunhas;
5) elaborar boletim de ocorrncia.
b) Nos trens e metrs, onde os agentes de segurana so reconhecidos
por Legislao Federal, como agentes de autoridade policial, o PM deve agir
em perfeita harmonia com eles, solicitando apoio ou os apoiando em suas
aes.
c) As ocorrncias policiais devem ser atendidas no prprio local ou no
prximo ponto de parada ou estaes, sem desviar os coletivos de seus
itinerrios normais ou retardar as viagens.
2.11 Ocorrncias com aeronaves
a) Na hiptese de pouso ocasional em rodovia, a aeronave dever ser
retida para averiguao de sua documentao e da do piloto, devendo ser
registrada a ocorrncia pela Polcia Militar e Polcia Civil.
A Polcia Militar deve comunicar o fato ao SERAC - 4, Servio Regional
de Aviao Civil - 4, telefone (011) 240-2333, rede Telex Ministrio da Aero-
nutica ZVU-24436, Diviso de Investigao e Preveno de Acidentes Ae-
ronuticos.
b) Na hiptese de aeronave acidentada fora de aerdromo, dever ser
prestado imediato socorro s vtimas e registrada a ocorrncia pela Polcia
Militar e Civil;
1) a Polcia Militar dever imediatamente comunicar o fato ao Servio
Regional de Aviao Civil - 4, do Ministrio da Aeronutica;
2) a Polcia Militar providenciar a proteo e salvaguarda do local do
acidente, bem como dos destroos e dos vestgios do aparelho sinistrado,
at a chegada do pessoal credenciado para a competente investigao;
3) o material recolhido e sob guarda, como pertences de tripulantes e
os destroos da aeronave, dever ser protegido e entregue com as cautelas
necessrias para as pessoas legalmente autorizadas.
c) Na hiptese de pouso fora de aerdromo, sem que se tenha caracte-
rizado acidente ou incidente aeronutico, o fato dever ser comunicado pela
Polcia Militar ao Servio Regional de Aviao Civil - 4, para fins de apura-
o de infrao s normas de trfego areo, conforme estabelece o Cdigo
Brasileiro de Aeronutica, registrando-se a ocorrncia pela Polcia Militar;
148
1) as aeronaves ultraleves no podem sobrevoar reas densamente
povoadas, sendo a altura mnima para as demais reas igual a 100 metros
no perodo do dia, compreendido entre o nascer e o pr do sol;
2) as ocorrncias envolvendo aeronaves ultraleves devero ser co-
municadas pela Polcia Militar imediatamente ao Servio Regional de Avia-
o Civil - 4, do Ministrio da Aeronutica;
3) a presente norma aplica-se no que couber s atividades e ocorrn-
cias envolvendo helicpteros.
d) os rgos policiais estaduais devero aplicar no que couber a legisla-
o pertinente, particularmente o artigo 35 da Lei das Contravenes Penais
- abuso na prtica da aviao.
2.12 Providncias policiais em crimes contra a pessoa e o patrimnio.
a) Homicdio
1) preservar o local e diligenciar para a possvel priso do homicida
(caso de autoria conhecida);
2) arrolar testemunhas;
3) transmitir os dados ao DP. Nesses casos, geralmente o delegado
comparece ao local; encaminhar ao DP as pessoas suspeitas, se houver;
4) as demais providncias (peritos, carro de cadver, especializada
de homicdios) so tomadas pelo delegado, devendo o PM anotar os prefi-
xos e os nomes dos encarregados das viaturas de apoio;
5) em princpio, a ocorrncia s estar encerrada aps a sada do
carro de cadver.
b) Tentativa de homicdio
1) socorrer a vtima;
2) preservar o local e diligenciar para a possvel priso do agressor
(autoria conhecida);
3) arrolar testemunhas;
4) transmitir dados ao DP, junto com a papeleta do PS, se a vtima
permanecer internada; encaminhar, se houver, suspeito ao DP;
5) a peritagem cabe ao delegado;
6) em princpio a ocorrncia s estar encerrada aps a sada dos
peritos (anotar prefixo e nome do encarregado da viatura).
c) Suicdio e tentativa de suicdio
1) socorrer a vtima, se possvel (tentativa de suicdio);
2) preservar o local;
3) arrolar testemunhas e encaminhar, ao DP, suspeitos de induo,
instigao ou auxlio tentativa de suicdio;
4) encaminhar dados ao DP, junto com a papeleta do PS, se a vtima
permanecer internada (tentativa de suicdio);
5) as demais providncias (peritos, carro de cadver) so tomadas
pelo delegado, que geralmente comparece ao local;
149
6) em princpio, a ocorrncia s estar encerrada aps a sada do
carro de cadver (suicdio) ou dos peritos (tentativa). Anotar os prefixos e os
nomes dos encarregados das viaturas de apoio.
d) Morte sbita
1) preservar o local;
2) arrolar testemunhas;
3) transmitir os dados ao DP. Geralmente, o delegado comparece ao
local;
4) as demais providncias (peritos, carro de cadver) so tomadas
pelo delegado, devendo ser anotados prefixos e nome de encarregados das
viaturas de apoio;
5) em princpio, a ocorrncia se encerra com a sada do carro de ca-
dver;
e) Agresso
1) socorrer a vtima. Se terceiros o tiverem feito, passar no PS para
apanhar a papeleta e ver o estado da vtima. Anotar os dados dos que so-
correram a vtima;
2) arrolar testemunhas, nome da vtima e do agressor (se conhecido
ou detido);
3) encaminhar dados ao DP, conduzindo, se possvel, a vtima, o a-
gressor e o objeto utilizado;
4) encerrar a ocorrncia.
f) Ameaa (crime de ao privada)
1) conduzir dados, testemunhas e vtimas ao DP;
2) encerrar a ocorrncia.
g).Desinteligncia
1) em princpio, tentar resolver o caso;
2) no conseguindo, tomar as mesmas medidas previstas em "Amea-
a".
h) Roubo e furto
1) socorrer a vtima, quando houver. Neste caso, pegar a papeleta do
PS para entregar ao DP. Se o socorro foi efetuado por terceiros, alm da
papeleta do PS, o PM providenciar os dados dos que socorreram a vtima;
2) preservar o local, fazendo-se acompanhar de testemunhas, para
adentr-lo;
3) arrolar testemunhas do ilcito penal;
4) transmitir os demais dados e conduzir, se houver, o autor do crime
Unidade Policial da rea;
5) outras providncias (peritos) ficaro a cargo do delegado, devendo
ser anotados o prefixo e o nome do encarregado da viatura de apoio;
6) em princpio, a ocorrncia ser encerrada aps a sada dos peritos.
150
3.0 Atividades Sociais e Polticas
3.1 Conceitos
a) Guerrilha urbana
a forma de operao ou de luta que obedece a princpios definidos
e a processos empricos ou circunstanciais, empreendida por foras irregu-
lares em centros urbanos.
b) Aglomerao
Grande nmero de pessoas temporariamente reunidas. Geralmente,
os membros de uma aglomerao pensam e agem como elementos isola-
dos e no organizados. A aglomerao poder resultar da reunio acidental
e transitria de pessoas, tal como acontece na rea comercial de uma cida-
de em seu horrio de trabalho ou nas estaes ferrovirias em determina-
dos instantes.
c) Multido
Aglomerao psicologicamente unificada por interesse comum. A
formao da multido caracteriza-se pelo aparecimento do pronome "ns"
entre os membros de uma aglomerao; assim, quando um membro de
uma aglomerao afirma: "ns estamos aqui para cultura,... ..... ns es-
tamos aqui para prestar solidariedade..." ou "ns estamos aqui para protes-
tar..., podemos tambm afirmar que a multido est constituda e no se
trata mais de uma aglomerao.
d) Turba
Multido em desordem. Reunio de pessoas que, sob o estmulo de in-
tensa excitao ou agitao, perdem o senso da razo, o respeito lei e
passam a obedecer indivduos que tomam a iniciativa de chefiar aes des-
tinadas. A turba pode fazer tumultos e distrbios.
e) Manifestao
Demonstrao, por pessoas reunidas, de sentimento hostil ou simp-
tico a determinada autoridade ou a alguma condio ou movimento poltico,
econmico ou social.
f) Tumulto
Desrespeito ordem, levado a efeito por vrias pessoas, em apoio a
um desgnio comum de realizar certo empreendimento, por meio de ao
planejada contra quem a elas se possa opor. (O desrespeito ordem uma
perturbao da mesma por meio de aes ilegais, traduzidas numa
demonstrao de natureza violenta ou turbulenta.)
g) Distrbio interno ou civil
Inquietao ou tenso civil, que toma forma de manifestao. Situao
que surge dentro do Pas, decorrente de atos de violncia ou desordem, que
prejudicial manuteno da lei e da ordem. Poder provir da ao de uma
turba ou originar-se de um tumulto.
h) Calamidade Pblica
151
Desastres de grandes propores ou sinistros. Resulta da manifesta-
o de fenmenos naturais em grau excessivo e inconsolvel, como inun-
daes, incndios em florestas, terremotos, tufes, furaces; de acidentes,
como exploses, coliso de navios, trens etc. ou da disseminao de subs-
tncias letais, que podero ser de natureza qumica, radioativa ou bacterio-
lgica.
i) Perturbao da ordem pblica
Em sentido amplo, so todos os tipos de aes que comprometam, pre-
judiquem ou perturbem a organizao social, pondo em risco as pessoas,
as atividades e os bens privados ou pblicos.
j) Terrorismo
Os atos de terrorismo caracterizam-se por atentados e destruies, e
a seqncia desses atos visa conduzir a populao a um estado de des-
crena em relao s possibilidades de represso por parte das autoridades
legais.
l) Sabotagem
So aes passivas ou ativas, diretas ou indiretas, de maneira sub-
reptcia, que visam perturbar, causar dano ou destruir objetos de ordem
material.
3.2 Ao do PM
a) O PM deve ter sempre em mente que a coeso e o esprito de equipe
so fatores que lhe proporcionaro inteiro sucesso. Neste caso, o PM isola-
do, a p ou motorizado, no deve intervir, quer no contato direto, quer na
disperso, uma vez que pode ser envolvido pela massa, ser espancado, ter
seu armamento subtrado, podendo redundar at no uso desse armamento,
agravando a situao, que pode chegar at sua morte. O PM deve exercer
ao de observao distncia, fora da rea do distrbio e da linha de evo-
luo dos manifestantes, mantendo o Centro de Operaes informado sobre
o desenvolvimento dos acontecimentos. Com a chegada das foras da re-
presso, o PM pode engajar-se no apoio s tropas de choque.
b) O PM, tomando conhecimento de que, em determinado local, existe
uma bomba explosiva ou qualquer outro tipo de explosivo, dever:
- lembrar-se que as bombas explosivas podem acondicionar-se
de diversas formas: pacotes, embrulhos de jornal, maletas, caixas etc.;
- lembrar-se que o seu funcionamento pode se dar sob presso,
compresso, energia eltrica, desequilbrio em mecanismos de relgios
(bomba-relgio);
- jamais tocar no recipiente que contm a bomba;
- interditar o local;
- afastar as pessoas;
- evitar pnico;
- comunicar ao Centro de Operaes, para que seja enviada ao
local equipe especializada;
152
- no abrir portas nem acender luzes;
- em aeroportos e rodovirias, prestar ateno em maletas que
parecem estar abandonadas e em posio de desequilbrio.
c) Dever o PM, em caso de sabotagem, exercer especial vigilncia em
pontos vitais, como reservatrios d' gua, estaes de fora, torres de c o-
municaes, gasmetros etc.
3.3 Informao
a) Tendo em vista a preservao da ordem pblica, dever de todo PM
informar aos seus superiores imediatos o que souber sobre a organizao
de movimentos sociais e polticos.
b) Para alimentao do Sistema de Informaes Policiais (SIPO) im-
portante que o policial militar informe, por via administrativa, os seguintes
dados:
1) pessoas: nome, qualificao completa, data-hora-local e natureza
da ocorrncia, Distrito Policial, nmero de BO/PM e BO etc.;
2) armas e objetos envolvidos em infrao penal: descrio, marca,
nmero, calibre etc.;
3) veculos envolvidos em infrao penal: descrio, placa, chassi
etc.;
4) "Modus operandi" criminoso: forma de atuao criminosa com to-
das as suas caractersticas.
4.0 RECINTOS FECHADOS DE FREQNCIA PBLICA
4.1 Prescries gerais
a) Estabelecimento de Ensino
1) Proceder a travessia de alunos, sempre que o local exigir, procu-
rando educ-los quanto ao modo correto de atravessar a via.
2) No permitir aglomeraes nas imediaes do estabelecimento,
durante o perodo das aulas, impedindo:
(a) batucadas, cantarias e algazarras;
(b) uso inadequado de buzinas;
(c) competies, demonstraes, correrias com automveis e moto-
cicletas;
(d) a presena de "gals motorizados", que visam corromper estu-
dantes,
(e) indivduos que ficam no interior dos veculos ouvindo msica em
tom muito alto, prejudicando as aulas;
(f) elementos que ficam na parte externa observando as alunas, du-
rante as aulas de educao fsica.
.
153
3) Manter um bom relacionamento, em clima de mtuo respeito entre
a PM e a direo do estabelecimento, inclusive com os demais funcionrios.
4) No se imiscuir nos assuntos administrativos e nem executar fun-
es de competncia dos funcionrios da escola, a no ser em casos de
emergncia.
5) Garantir a integridade fsica dos professores e alunos e preservar o
patrimnio da escola.
6) Atender s solicitaes da direo do estabelecimento, nos casos
de garantir a sua autoridade para retirar indesejveis ou prestar socorro a
alunos.
7) No agir por iniciativa prpria quanto disciplina dos alunos no in-
terior da escola, somente o fazendo por solicitao da diretoria.
8) Evitar afastar-se do estabelecimento para acompanhar aluno at a
residncia, exceto em caso de doena ou para garantir-lhe a integridade.
9) Em estabelecimento onde estudem crianas, ter especial cuidado
com a presena de anormais (pederastas, ativos ou passivos, tarados, ls-
bicas etc.).
10) Reprimir, em qualquer tipo de estabelecimento de ensino, a pre-
sena de traficantes de drogas.
11) Conhecer perfeitamente a localizao dos extintores de incndio
da escola, para utilizao em caso de necessidade.
12) Conhecer as sadas possveis, para utilizao em caso de neces-
sidade de evacuao rpida do prdio.
13) Tratar com cortesia e educao, tendo especial carinho para com
os alunos e seus pais, cativando-lhes a simpatia para com a Polcia Militar.
14) Dar sempre bons exemplos, pois os alunos, encontrando-se em
fase de formao, assimilam os procedimentos dos adultos.
15) Orientar o estacionamento de veculos que comparecem nos ho-
rrios de troca de perodo, evitando congestionamento de trnsito e propici-
ando segurana aos pedestres (estacionamento sobre as caladas, desres-
peito s faixas de segurana, abandono de veculo em frente a guias rebai-
xadas etc.).
16) Em casos de veculos suspeitos, condutores aparentando no ser
habilitados, veculos com escapamento irregular, no havendo possibilidade
de identificao e verificao, comunicar o fato, a fim de que possam ser
acionados os rgos responsveis pela fiscalizao do trnsito, atravs da
cor e marca do veculo e identificao de placas.
b) Posto de Sade, Pronto-Socorro, Hospital e similares
1) Conhecer perfeitamente o sistema de funcionamento da repartio,
particularmente os casos mdicos atendidos, para poder prestar informa-
es seguras, evitando desperdcio de tempo pelos usurios.
2) Manter, sempre que necessrio, os clientes em fila, evitando-se a
obstruo dos corredores.
154
3) Ter cuidado especial com os exploradores da f alheia, que fre-
qentam esses locais, oferecendo-se para "quebrar galho", preencher pa-
pis, obter atestados de bito etc.
4) No permitir o estacionamento de veculos atravancando o local de
desembarque de doentes, o estacionamento de ambulncias e viaturas que
podem chegar a qualquer momento, com urgncia.
5) Ao tomar conhecimento de ocorrncias com vtimas de agresso,
homicdio, suicdio, acidentes de trnsito, se houver no local um investigador
de polcia de planto, comunicar-lhe o ocorrido para as providncias espec-
ficas da Polcia Judiciria.
6) Ter em mente, principalmente em se tratando de Pronto-Socorro,
que o local de desespero, onde chegam feridos de todos os tipos, acom-
panhados de amigos ou parentes, os quais exigem o rpido atendimento,
nem sempre possvel, em face de ateno a outros pacientes que esto
sendo medicados, surgindo ento, reclamaes quanto demora do aten-
dimento. Em conseqncia, h necessidade de se proteger a integridade
fsica dos mdicos, enfermeiros, demais funcionrios e os bens materiais.
7) Prestar auxlio para conter brios, desordeiros e dementes.
8) Dedicar ateno para delinqente que esteja sendo atendido, im-
pedindo-o de fugir e solicitando, em tempo hbil, escolta para, aps medi-
cado e liberado, conduzi-lo Unidade Policial da rea
9) Evitar o envolvimento em assuntos internos da organizao, no se
promiscuir com funcionrios e no perambular pelas dependncias internas,
exceto em situaes excepcionais, caso haja interesse para o servio.
c) Estaes de embarque e desembarque de passageiros
1) Conhecer a localizao dos guichs, das vrias plataformas e dos
locais de embarque e desembarque e, se possvel, os horrios para bem
informar ao pblico.
2) Ter cuidado com os punguistas, "trombadinhas" e vigaristas, que
se aproveitam dos incautos, com os "agenciadores" de motoristas de txis
etc., que selecionam e induzem passageiros para serem logrados nas corri-
das.
3) Organizar filas, evitando dessa forma alcanarem o leito carrovel
e impedirem o trnsito de pedestres pelo passeio.
4) Onde existir o costume, fiscalizar para que primeiro subam nos ve-
culos, os passageiros da fila dos que viajam sentados, depois a dos que
viajam em p.
5) No permitir que vendedores ambulantes dificultem o acesso aos
veculos e o trnsito de passageiros.
6) No permitir que os veculos saiam com a porta aberta ou com
passageiros dependurados para fora.
7) Procurar solucionar, de maneira pacfica, as desinteligncias entre
os passageiros e entre estes e os cobradores e motoristas.
155
8) Atender as solicitaes do chefe da estao, para a manuteno
da ordem pblica.
9) No permitir que os passageiros transitem pelo leito carrovel.
10) Manter a ordem para evitar atropelos.
11) Ter cuidado especial com menores que estejam desacompanha-
dos, pois podero estar fugindo de casa. Comunicar o fato ao Juizado.
12) Se suspeitar de algum indivduo, proceder a abordagem, com se-
gurana, e realizar o porte de armas. Existe a possibilidade de algum ter
cometido um crime e estar tentando viajar para fugir.
d) Locais interditados
1) Ao assumir o servio, inteirar-se com seu antecessor de todas as
ordens particulares referentes ao servio e ao local.
2) Verificar se existe algum, devidamente autorizado, fazendo o le-
vantamento do material ali guardado.
3) Tomar conhecimento da relao e conferir o material existente; na
impossibilidade de fiscalizar e conferir o material, comunicar o fato por escri-
to, justificando as dificuldades.
4) Ver se as entradas esto lacradas.
5) Observar o estado do lacre.
6) No permitir a entrada no local de pessoas que no estejam devi-
damente autorizadas pela autoridade competente.
7) No permitir a retirada de qualquer objeto do local interditado sem
a ordem da autoridade competente; quando houver tal autorizao, aps
identificar a pessoa, exigir-lhe um comprovante da retirada do material.
8) No permitir a entrada de estranhos e, quando tiver que entrar, em
casos de suspeita, fazer-se acompanhar de testemunhas.
9) Constatando que o material guardado corre risco de deteriorao
ou dano, seja por iminente runa do prdio ou goteiras etc., comunicar ao
seu Cmt para que seja notificada a autoridade que interditou o local.
10) Evitar informaes a terceiros sobre o local interditado, quais os
valores guardados, sua disposio etc.; quando solicitado, limitar-se a in-
formar quem a autoridade responsvel.
11) No se afastar do posto, exceto para o atendimento de ocorrn-
cias urgentes e, nesse caso, comunicar imediatamente ao seu Cmt para
que providencie substituio.
12) Se por qualquer motivo a rendio no comparecer ou atrasar-se,
no dever abandonar o posto. Comunicar o fato ao rondante ou ao seu
Cmt, que tomar as providncias.
13) Lembrar-se de que, principalmente nos casos de interdies judi-
ciais, a responsabilidade grande, visto envolver a proteo de valores,
podendo, em diversas circunstncias, acarretar responsabilidade civil e pe-
nal ao PM.
e) Casas de apostas na Loteria Esportiva e "Loto"
156
1) Manter-se onde possa ser facilmente visto, desestimulando, em fa-
ce da ao de presena, a prtica de ilcitos penais.
2) Ter em mente suas responsabilidades e a periculosidade da mis-
so.
3) Estar atento s pessoas que esto ao seu redor, principalmente
aquelas que esto sua retaguarda, quando isso for inevitvel.
4) No se deixar levar por assuntos atinentes a jogos realizados no
local do servio.
5) Estar atento a veculos ocupados por pessoas suspeitas que esta-
cionam prximos ao local, ou que j estejam estacionados.
6) Procurar saber a localizao do telefone mais prximo, para utiliza-
o caso haja necessidade.
7) No fugir da sua misso, participando de servios exclusivos da
casa de jogo, possivelmente solicitados por gerente ou proprietrio.
8) Evitar tumulto no interior da casa lotrica.
9) Evitar qualquer tipo de conversas que possam desviar sua ateno
da misso desempenhada.
10) Ter em mente a forma de poder abrigar-se, utilizando-se de por-
tas, balco ou qualquer outro obstculo, no caso de haver necessidade de
reprimir a tentativa de roubo.
11) No se descuidar da arma, evitando que pessoas fiquem junto ao
coldre.
f) Postos de gasolina
1)Ter em mente a facilidade de ao de marginais, por ser um local
de livre acesso, de grande movimentao e pelo uso de veculos.
2) Colocar-se em local isolado e de boa cobertura, evitando, assim,
que as pessoas transitem ao seu redor e, principalmente, a sua retaguarda,
porm deve ser facilmente visto, desencorajando delinqentes, pela eficien-
te e perfeita preveno.
3) Ter boa visibilidade dos pontos crticos, como local de servio dos
frentistas, localizao da caixa, cofre, etc.
4) No exercer atividades prprias da firma, facilitando, assim, a ao
de delinqentes e se omitindo no desempenho da misso especfica.
5) Evitar tumulto no local, principalmente no horrio de fechamento do
posto.
6) Inteirar-se dos meios de comunicao existentes no local, para e-
ventual pedido de reforo.
7) Estar atento em relao a veculos ocupados por pessoas suspeita
que se aproximem do local, principalmente no encerramento dos servios,
8) Obter, junto Central de Comunicaes, antes de iniciar o servio,
a relao dos "Carter Geral" mais recentes e ficar atento, pois poder che-
gar, a qualquer momento, veculo ocupado por "assaltantes".
157
9) Manter-se atento ao servio, no se distraindo em conversas, e
no esquecer-se de que, nas sextas-feiras noite, devido ao grande movi-
mento, a possibilidade de roubos maior.
g) Empresas comerciais ou industriais na denominada "Operao
Pagamento".
1) Ter em mente a relevncia da misso, em face da grande quantia de
dinheiro existente no local, constituindo atrativo para os delinqentes.
2) Identificar as pessoas que realmente recebero o pagamento; isto
poder ser feito entrando em contato com o tesoureiro da firma.
3) Verificar os acessos de pessoas ao local (entradas e sadas).
4) Ter ampla viso do local, procurando o melhor ponto estratgico para
se posicionar.
5) No se descuidar da retaguarda.
6) Verificar quais podero ser os obstculos para sua proteo no caso
de roubo e tiroteio.
7) Estabelecer, mentalmente, seqncia de procedimentos para agir no
caso de tentativa de roubo (plano de ao).
8) Procurar saber a localizao do telefone mais prximo, para eventual
solicitao de apoio ou reforo.
9) Evitar tumulto no interior da firma, sem envolver-se em assuntos
administrativos da empresa.
10) Atentar para pessoas e veculos suspeitos, prximos ao local.
11) Se houver necessidade de abordar algum veculo ou elemento sus-
peito, dever faz-lo com total segurana e com cobertura.
12) No se afastar do local, exceto se for substitudo.
13) Se for consultado para efetuar escoltas de numerrio ou alterar
procedimento do pagamento, comunicar imediatamente o fato a seus supe-
riores, solicitando orientao a respeito.
14) Tomar cuidado para no ser ludibriado por ocorrncias ou alarmes
falsos nas imediaes, pois podem ter o objetivo de afastar o PM do local.
15) Contatar com algum do estabelecimento para ligar pedindo reforo
em casos de emergncia ou impedimento por parte do PM.
h) Estabelecimento de freqncia suspeita (Fig. 3-19).
1) No caso de suspeita relativa a estabelecimento comercial, por qual-
quer integrante de uma guarnio de partrulhamento motorizado, a viatura
deve parar e, mediante ordem do Cmt da guarnio, seus integrantes de-
vem descer rapidamente, a fim de causar impacto aos elementos, dentro do
estabelecimento.
Erro! Vnculo no vlido. Fig. 3-19 - Buscas em estabelecimentos suspeitos
2) O Cmt deve ordenar para que o som da vitrola seja baixado, os ta-
cos de bilhar sejam colocados sobre a mesa e que todos se coloquem con-
158
tra a parede, com os braos bem acima da cabea e pernas afastadas, a
fim de se proceder busca pessoal preliminar.
3) Um PM deve efetuar a segurana dos componentes e companheiros
dentro do estabelecimento, com vistas a possveis reaes.
4) Dois PMs devem proceder busca pessoal preliminar.
5) O motorista deve permanecer fora e ao lado da viatura, junto porta,
ouvindo o rdio e dando cobertura aos companheiros.
6) Elementos suspeitos devero ser conduzidos Unidade Policial da
rea.
7) Durante a revista necessrio, tambm, verificar sobre o balco,
junto s vitrines, atrs das caixas vazias de bebidas, dentro do banheiro,
dentro da caixa d' gua de descar ga; eis que poder haver, nesses locais,
armas ou txicos escondidos.
8)A ao deve ser rpida e eficiente.
9) Devem ser evitados dilogos desnecessrios entre os PM e os
fregueses.
10) O PM no deve fazer provocaes, que podem resultar em respos-
tas desagradveis e conseqncias imprevisveis.
11) Realizar a misso sem arbitrariedades e violncias.
12) A reao da guarnio deve ser firme, enrgica, porm com o m-
ximo de respeito ao ser humano.
13) No se distraia.
14) O PM no deve efetuar ao fumando ou comendo.
15) Ao iniciar a ao, cumprimenta-se, pede-se licena e ao se retirar,
despede-se, agradece e explica rapidamente a misso, obtendo, dessa
forma, a simpatia popular.
i) Bancos e estabelecimentos financeiros - Nas imediaes desses lo-
cais, cabe ao PM:
1) Intensificar a vigilncia, visando dar maior proteo e segurana aos
funcionrios, clientes e bens.
2) Dispensar maior ateno aos estabelecimentos localizados em zo-
nas afastadas e ruas de pouca pavimentao.
3) Identificar, com cautela e com superioridade numrica, ocupantes de
veculos suspeitos estacionados aos citados estabelecimentos.
5.0 DIVERSES PBLICAS
5.1 Prescries gerais
a) Tratar com prudncia e delicadeza o pblico em geral.
b).Conservar-se nos postos ou locais que lhe forem designados, comu-
nicando aos responsveis, quando for o caso, os riscos decorrentes do ex-
cesso de lotao.
159
c).No penetrar na platia, camarotes e outros locais destinados ao
pblico, salvo em caso de perturbao da ordem ou por determinao do
comandante do policiamento no local.
d) Vigiar para que as filas no causem embaraos ao trnsito.
e) No favorecer a quem quer que seja para chegar bilheteria, antes
de chegar a sua vez, fazendo entrar na fila aqueles que quiserem se anteci-
par.
f) Verificar, ao assumir o servio, as ordens existentes.
g) Procurar saber se a iluminao est funcionando perfeitamente.
h) Verificar as portas de sada, no permitindo que as mesmas fiquem
tranadas chave, nem que objetos ou mveis obstruam as passagens.
i) Verificar onde se encontram os extintores de incndio.
j).Verificar onde se localiza o quadro de fora (eletricidade, chave geral).
k) Ver onde se localiza o telefone para eventual uso no caso de precisar
de reforo.
l) Encaminhar ao gerente do estabelecimento, os objetos achados que
lhe forem entregues.
m) Encaminhar ao DP os detidos que forem encontrados cometendo
crime ou contraveno.
n) No permitir o ingresso, no local, de pessoas brias ou elementos
que estejam armados.
o) Nenhum espectador pode ser introduzido no recinto, antes da abertu-
ra das bilheterias.
p) Ningum pode entrar a no ser pelos lugares apropriados, auxiliando,
quando solicitado, o Comissrio de Menores, no exerccio das funes es-
pecficas.
q) No permitir que perturbem os artistas durante a apresentao, salvo
o direito de aplaudir ou reprovar, no admitindo ainda, em hiptese alguma,
que os espectadores lancem objetos e que molestem as pessoas.
r) No permitir tumulto, gritarias, assobios ou outros quaisquer atos que
perturbem o espetculo.
s) Compelir os espectadores no sentido de que ocupem os lugares que
lhes forem indicados.
t) Evitar qualquer tipo de pnico.
u) Cientificar-se do local em que podero ser prestados socorros mdi-
cos s pessoas que forem acometidas de algum mal sbito, ou vtimas de
acidentes.
v) No abandonar o local de servio, antes do trmino da diverso e s
faz-lo quando no mais houver pblico.
w) Durante a execuo do servio, manter a compostura regulamentar,
no fumando, no se encostando s paredes, bem como no se distraindo
com coisas estranhas ao servio.
x) Solicitar apoio quando, nas proximidades do local do evento, estive-
rem agindo "guardadores de carros".
160
y) Solicitar apoio quando a ao dos cambistas conturbar a formao de
filas e acesso s bilheterias.
5.2 Policiamento em sales de baile
a) Proceder inspeo do salo, verificando o funcionamento das sa-
das de emergncia, localizao de extintores e demais medidas e materiais
de combate ao fogo.
b) Entender-se com a diretoria do salo, certificando-se do tipo de baile,
se para associados ou com venda de convites ou entradas, a fim de verifi-
car e se certificar da necessidade de proceder busca pessoal preliminar.
c) Quando o baile for com cobrana de ingressos, orientar as filas nas
respectivas bilheterias.
d) Evitar que menores de idade ingiram bebidas alcolicas.
e) Estar atento para combater o trfico e o uso de drogas.
f) No permitir que ingressem na pista de danas carregando copos ou
garrafas, especialmente em sales lotados.
g) Toda vez que notar comportamento imprprio de freqentadores,
acionar, primeiramente, a diretoria do clube ou comisso organizadora do
baile, para que tome as providncias iniciais, agindo depois, se no atendi-
do.
h) Procurar solucionar as desinteligncias da forma mais amigvel pos-
svel, evitando detenes; se necessrio, fazer o infrator se retirar do salo.
i) Solicitar diretoria para retirar do salo aqueles que se excederem na
ingesto de bebidas alcolicas.
j) Evitar o excesso de lotao no salo, pois gerar confuso e desor-
dem.
l) Estar sempre atento, especialmente em bailes carnavalescos com
sales lotados, a fim de evitar alarmes falsos e o pnico em caso de aciden-
tes.
m) Em caso de incio de pnico, procurar acalmar os presentes, liberan-
do todas as sadas e orientando a evacuao ordeira do salo.
n) No se distrair conversando com mulheres freqentadoras do salo;
malvisto pelo pblico o PM que, logo sada do baile, faz-se acompanhar
por alguma freqentadora.
o) No se descuidar da arma colocada no coldre.
p).No ingerir bebida alcolica e, tendo que lanchar, procurar faz-lo em
local reservado.
q) No relaxar quanto ao uniforme e postura; no ficar descoberto.
r).No danar.
s).No dever, em hiptese alguma, aceitar dinheiro do responsvel
pelo baile, nem qualquer outra forma de presente, a ttulo de agradecimento.
t). terminantemente proibido ao componente da Polcia Militar, traba-
lhar em sales de baile sem estar escalado para tal.
161
6.0 POLICIAMENTO DE PRAAS DESPORTIVAS
6.1 Conceito de segurana de praa desportiva
a) A segurana das praas desportivas compreendida:
1) pela arquitetura;
2) pela respectiva administrao;
3) pelos promotores do evento;
4) pelas autoridades competentes, dentro de suas respectivas atribui-
es; e
5) pela ao do policiamento.
b) Da arquitetura das praas desportivas
A arquitetura de um estdio apoiada no Cdigo de Edificaes, que
especifica inclusive as normas tcnicas quanto sua segurana; sua fiscali-
zao est, conforme disposies legais, a cargo do rgo pblico munici-
pal.
c) Da administrao das praas desportivas
1) Constitui competncia natural da administrao das praas despor-
tivas:
(a) providenciar reformas e consertos das instalaes;
(b) atuar junto ao servio de bares e restaurantes, a fim de que dis-
posies legais sejam obedecidas;
(c) fiscalizar o ingresso, a circulao e a localizao fsica dos es-
pectadores; e
(d) empenhar todos os esforos, no sentido de garantir a integridade
fsica dos espectadores, com vistas a incndios, desmoronamentos e outros
eventos catastrficos.
d) Dos promotores dos eventos desportivos
Aos promotores dos eventos desportivos compete naturalmente a
realizao do espetculo e a fiscalizao de quem deva ou possa dele parti-
cipar.
e) Da Polcia Militar
Polcia Militar compete a preservao da ordem pblica e o policia-
mento ostensivo sobre o evento.
162
6.2 Efetivo a ser empregado
a) Determinao dos efetivos
1) O clculo do efetivo a ser empregado no policiamento em praas despor-
tivas sofre a ao de inmeras variveis, algumas abaixo enumeradas:
(a) natureza da disputa a ser realizada;
(b) tipo de pblico especfico quanto quantidade e nvel social;
(c) caractersticas do estdio;
(d) momento psicolgico;
(e) interesse de terceiros;
(f) local;
(g) ateno dada pela Imprensa ao evento;
(h) condies climticas e atmosfricas;
(i) cobertura irradiada e/ou televisionada ou no, simultaneamente com a
disputa;
(j) policiamento somente interno ao estdio; e
(I) policiamento externo ao estdio, englobando, inclusive, problemas de
trnsito, o que j se integra a um outro sistema.
b) Reforo
1) Sempre que forem necessrios, devem ser solicitados, com antecedncia,
reforos como:
(a) bombeiros;
(b) cavalaria;
(c) policiais com ces;
(d) policiais femininas,-
(e) trnsito;
(f) intrpretes;
(g) policiamento motorizado e a p para as imediaes;
(h) policiamento reservado; e
(i) outros reforos julgados teis.
c) Efetivos de mais de uma OPM
No caso em que efetivos de duas ou mais OPM forem trabalhar juntos, deve
haver comando da misso-tarefa unificado, de modo a se estruturar linhas de ao
e em se definir responsabilidades.
6.3 Planejamento
a) Dos contatos externos
1) As OPM ou suas fraes, empenhadas no policiamento em praas des-
portivas, podem realizar tal modalidade de servio eventual ou constantemente, por
fora das circunstncias; de qualquer forma, todos os contatos com a autoridade
responsvel pelo evento desportivo devem ser realizados oficialmente e com a
antecedncia necessria; e
2) A par do contato oficial citado no pargrafo anterior, devem ser realizados
contatos possveis com os responsveis pelo acontecimento, bem como devem ser
feitos um ou mais reconhecimentos do local.
b) Relacionamento
1) A OPM empenhada no policiamento em praas desportivas, no todo ou
em parte, deve, de acordo com sua estrutura e organizao, manter relacionamento
com:
(a) a imprensa especializada;
163
(b) as diretorias dos clubes;
(c) as torcidas uniformizadas ou organizadas;
(d) autoridades civis, militares e desportivas vinculadas ao evento despor-
tivo;
(e) a administrao do estdio;
(f) os patrocinadores e promotores do evento;
(g) comerciantes ligados ao evento, se for o caso; e
(h) terceiros, ligados ao evento, desde que, por sua posio, possam influir
no xito da operao.
c) Caractersticas prprias das praas desportivas
1) Cada estdio tem caractersticas prprias e requer um planejamento es-
pecfico, com vistas a:
(a) setores e postos, quer nos jogos considerados "pequenos", "mdios",
"grandes" e "clssicos";
(b) planos de evacuao e hospitalizao, com as respectivas vias de a-
cesso;
(c) estudo minucioso de suas dependncias;
(d) estacionamento de veculos e viaturas;
(e) horrios de chegada e sada das delegaes e da arbitragem;
(f) horrios de abertura das bilheterias e dos portes de acesso ao pblico;
(g) planos de aes com as respectivas alternativas, referentes a ativida-
des, como controle de tumultos e de pnico e operaes especiais; e
(h) peculiaridades do estdio.
6.4 Da conduta do pblico
a) Dos fatores psicolgicos
1) O espectador, quando envolvido numa massa, geralmente deixa de racio-
cinar e agir como indivduo isolado, passando a reagir na proporo em que a
mesma reage, uma vez que sofre influncia de fatores psicolgicos, COMO:
(a) nmero;
(b) sugesto;
(c) contgio;
(d) anonimato;
(e) expanso de emoes reprimidas; e
(f) imitao.
b) Reaes do pblico
1) Os fatores psicolgicos levam os espectadores a reagir agressiva e at
violentamente a estmulos muitas vezes insignificantes; tal comportamento coletivo
e contagiante revela-se por:
(a) provocaes verbais;
(b) improprios;
(c) arremesso de objetos, como copos e garrafas;
(d) tiros de fogos, como rojes;
(e) arremesso de sacos plsticos, contendo gua ou outra substncia; e
(f) tiros de armas de fogo.
c) Dos fogos
1) Fogos so proibidos, nos termos da legislao vigente, de serem utiliza-
dos em locais de aglomerao, todavia, apesar das revistas individuais, os fogos
so introduzidos, clandestinamente, no interior dos estdios:
164
(a) em bolsas de mulheres;
(b) sob as vestes de homens, mulheres e crianas;
(c) enrolados em mastros de bandeiras ou no interior dos mastros,,
(d) no interior de sacolas, cestas e geladeiras de isopor dos vendedores
ambulantes;
(e) por cordas;
(f) por entradas restritas s delegaes, autoridades, imprensa e funcion-
rios dos estdios, dentro de pertences pessoais;
(g) mediante processos que se antecipara realizao da partida e che-
gada do policiamento;
(h) no interior de tambores e instrumentos semelhantes; e
(i) de outras maneiras, conforme a imaginao de cada um.
d) Armas de fogo e bebidas alcolicas
Com relao introduo de bebidas alcolicas e armas de fogo no interior
de, estdios, os sistemas so os mesmos do pargrafo anterior.
e) Conseqncias da euforia
1) Todo o clima de euforia normalmente existente, mais a influncia dos fato-
res psicolgicos, agravado pelo consumo de bebidas alcolicas, acontecimentos
palpitantes e pseudoimagem de agresses e perigos, podem gerar:
(a) brigas simples;
(b) desordens;
(c) invases de campo;
(d) tumultos;
(e) distrbios;
(f) agresses a tiros; e
(g) pnico,
6.5 Conduta do policiamento
a) Locais a serem policiados
1) Locais de estacionamento (quando isto no for da competncia da OPM
de trnsito ou de outra, com tal misso) de:
(a) viaturas da tropa,-
(b) veculos oficiais;
(c) veculos das delegaes;
(d) veculos especiais (Imprensa e servios essenciais); e
(e) veculos do grande pblico que aflui ao estdio, inclusive de torcidas vi-
sitantes.
2) Bilheterias,
3) Postos de arrecadao.
4) Escolta de numerrios, se houver solicitao por funcionrios
competentes.
5) Catracas e locais de entrada do pblico.
6) Locais de acesso da Imprensa e de autoridades.
7) Embocaduras e corredores.
8) Tribunas.
9) Vestirios de rbitros e de atletas.
10) Cabines de som e da Imprensa escrita, falada e televisada.
11) Casas de fora e geradores.
12) Torres de som e de iluminao.
165
13) Bares.
14) Posto de Comando.
15) Escolta de rbitros.
16) Postos de comunicaes.
17) Arquibancadas.
18) Local de disputa.
19) Locais de aglomerao, que permitam a ao de punguistas, trombadi-
nhas", assaltantes e outros.
20) Outros locais necessrios, caractersticos de estdio.
b) Prioridades a serem consideradas
1) Antes de iniciar o jogo:
(a) Prioridade 1 - trnsito (a cargo do Pol. Trnsito).
(b) Prioridade 2 - bilheterias.
(c) Prioridade 3 - portes.
(d) Prioridade 4 - assistncia.
(e) Prioridade 5 - rea destinada ao jogo.
(f) Prioridade 6 - bares.
2) Durante o desenrolar do jogo:
(a) Prioridade I - assistncia.
(b) Prioridade 2 - rea destinada ao jogo.
(c) Prioridade 3 - bares.
(d) Prioridade 4 - portes.
(e) Prioridade 5 - bilheterias.
3) No intervalo do jogo:
(a) Prioridade I - bares.
(b) Prioridade 2 - assistncia.
(c) Prioridade 3 - rea destinada ao jogo.
4) Ao final do jogo:
(a) Prioridade I - trnsito.
(b) Prioridade 2 - vestirios.
(c) Prioridade 3 - assistncia.
(d) Prioridade 4 - portes de sada.
c) Controle do trnsito
Observar o contido no Captulo V deste Manual.
d) Nas bilheterias
1) Nas bilheterias haver permanente vigilncia, assegurando que as pesso-
as comprem ingressos obedecendo ordem de chegada.
2) Reprimir a ao dos cambistas.
3) Prevenir a ao de "assaltantes", quanto ao produto de arrecadao.
e) Nos portes de acesso
1) Nos portes de acesso, o PM colocar-se- na parte interna dos mesmos,
junto aos porteiros, com a misso de:
(a) efetuar buscas ligeiras nos assistentes, a fim de impedir a entrada de
armas de fogo, armas brancas, fogos de artifcios ou similares e outros objetos que
podero ser utilizados como arma; e
(b) apoiar em fora o trabalho dos porteiros.
f) Diante da euforia da assistncia
Na exaltao prpria do assistente ou no simples desvio de sua conduta,
que no configurem a conduta inconveniente, a atuao do policial-militar far-se-,
166
predominantemente, atravs da advertncia, no cabendo a retirada do infrator do
estdio. H casos em que a mudana compulsria de um exaltado para outro local
dentro do estdio supera dificuldades eventuais e evita outras conseqncias.
g) Brigas e desordens
As brigas simples e as desordens so resolvidas retirando-se os respons-
veis do local, podendo neste serem deixados policiais-militares para garantir o res-
tabelecimento da ordem, enquanto se fizer necessrio.
h) Diante de crimes e contravenes
Ser preso em flagrante na forma da Lei, e conduzido imediatamente ao Dis-
trito Policial mais prximo, todo aquele que cometer crime ou contraveno, inclusi-
ve a deflagrao de foguetes ou quaisquer outros artefatos explosivos.
i) Nos bares
Nos locais em que for proibida a venda de bebida em recipiente de vidro ou
lata, considerando que mais fcil exercer controle sobre poucos locais de venda
do que sobre milhares de compradores, os elementos de servio prendero, na
forma da Lei, os vendedores que, aps advertidos, persistam na entrega daqueles
recipientes aos compradores.
j) No interior da rea do jogo
1) O policiamento no deve se preocupar com a conduo da partida em si,
o que atribuio da Justia Desportiva.
2) Deve ser deixada para os funcionrios do rgo competente a determina-
o de quem, da Imprensa, pode ter acesso ao interior do campo.
3) Apoio em fora aos porteiros dos tneis, sem entretanto interferir no con-
trole ou na seleo de pessoas quanto qualidade, para o acesso.
4) Apoio em fora s decises do representante da federao ou liga e auto-
ridades administrativas, competentes que so para sanar qualquer desvio de con-
duta, contrrio s regras convencionais para o espetculo, que no constituam caso
policial.
5) A tropa ou sua frao s ultrapassar as linhas que delimitam o local de
realizao da peleja, quando:
(a) a arbitragem solicitar;
(b) a arbitragem estiver em srio risco;
(c) houver quebra do princpio de legalidade, como brigas envolvendo jo-
gadores, torcida e Imprensa; e
(d) houver invaso do campo.
6) A proteo fsica do juiz e auxiliares contra agresses, atravs de escolta,
executada por frao para isso designada.
7) Caso a tropa seja utilizada como meio de preveno e dissuaso de inva-
so do campo, deve:
(a) ser disposta com a frente voltada para o pblico;
(b) no desviar sua ateno para a peleja, principalmente quando o pblico
comea a se manifestar, pois estando este eufrico e o PM com a cabea voltada
para o centro do campo, pode ocorrer de espectadores aproveitarem a oportunida-
de para saltar no interior do campo ou arremessar objetos no PM;
(c) no agredir fisicamente os torcedores, devendo conduzi-los para fora
do campo, utilizando os conhecidos meios de conduo de adversrio;
(d) manter sempre a atitude correta e marcial; e
(e) agir durante todo o tempo enquadradamente, sem rompimento da ca-
deia de comando.
l) Diante das invases da rea de jogo
167
1) As invases de campo em massa so resolvidas empregando-se a tropa
em linha, a qual empurrar os invasores para um local designado, normalmente
para uma via de sada.
(a) Nos estdios no se corre nem se permite correr.
(b) Movimentos de tropa em velocidade atraem a ateno do pblico po-
dem conduzir a correrias e at a pnico.
m) No controle de tumultos e distrbios
O controle de tumultos e distrbios no interior de praas desportivas deve
ser planejado com antecedncia e por locais, de modo que a ao fsica da tropa
aproveite a arquitetura existente, uma vez que a peculiaridade dessas aes no
interior de estdios justamente a limitao do uso de agentes qumicos e de bom-
bas de efeito moral, sendo que estas ltimas no podem ser utilizadas.
n) Em situaes de pnico
1) O pnico deve ter suas causas previstas quando isto for possvel, de mo-
do a se evitar a sua ocorrncia; se entretanto ocorrer devem ser abertas todas as
vias de acesso a tempo, para permitir a vazo da massa e acionar-se, rapidamente,
os meios de Defesa Civil para evacuao e hospitalizao.
2) Alm das causas j citadas podem resultar em pnico:
(a) exploses acidentais ou no;
(b) descidas de aeronave no interior de praas desportivas;
(c) abalos na estrutura do estdio;
(d) fenmenos atmosfricos;
(e) desabamentos;
(f) acidentes coletivos,
(g) incndios; e
(h) falsos alarmes.
o) Em apoio aos organizadores do espetculo
1) O elemento do servio de policiamento em estdio prestar apoio em for-
a, para manter a autoridade administrativa dos organizadores do espetculo, des-
de que:
(a) o objeto da exigncia j esteja estabelecido nas regras de organizao
do espetculo;
(b) a ao direta e pessoal dos organizadores no seja bastante por si s;
(c) os elementos de organizao do espetculo estejam presentes para
assumir a responsabilidade do ato apoiado.
p) Frente ao delituosa dos guardadores de veculos
1) No ser permitida, nas reas pblicas externas, a atuao de elementos
que, a ttulo de guardar veculos, venham a exigir dinheiro dos proprietrios e em
caso de recusa de pagamento danificar referidos veculos.
Devem ser detidos e encaminhados ao Distrito Policial da rea
q) Escolta de rbitro, auxiliares, representantes e delegaes
1) Ao trmino da disputa, a arbitragem, as delegaes e outros julgados por
bem devem receber a proteo policial-militar, na conformidade da evoluo dos
acontecimentos e das necessidades.
2) A proteo policial militar, de que trata o pargrafo anterior, ser encerra-
da quando o responsvel pelo grupo protegido se sentir em local seguro e dispen-
sar sua escolta expressamente.
6.6 Limitaes ao do policiamento
168
a) Tarefas administrativas prprias da organizao do espetculo:
1) Nas misses de policiamento ostensivo no se incluem as tarefas admi-
nistrativas prprias da organizao do espetculo, motivo porque no sero assu-
midos os encargos de:
(a) silenciar bandas, cornetas, ou qualquer outro instrumento sonoro;
(b) impedir a entrada furtiva de elementos por sobre as barreiras perime-
trais que, por inadequao de construtura, no constituam obstculo razovel a
esse acesso;
(c) organizar estacionamentos de veculos em reas internas;
(d) impedir a passagem de elementos de um local para outro, dentro do
estdio;
(e) reprimir qualquer atitude ou manifestao de assistente, que no cons-
titua crime ou contraveno penal.
b) No uso de agentes qumicos
A limitao do uso de agentes qumicos dentro das praas desportivas, ou
mesmo sua proibio, devido ao fato de as mesmas no possurem vias de aces-
so fceis para escoamento das massas, como ocorre em locais abertos como ruas,
avenidas ou praas.
c) No uso de bombas de efeito moral
Pelas razes do pargrafo anterior, bombas do tipo "efeito moral" no po-
dem ser utilizadas, em hiptese alguma, dentro de estdios, mesmo porque resul-
tam em pnico.
169
6.7 Disposies gerais
a) Armas
Armas de qualquer tipo so proibidas dentro do estdio, conforme a Lei de
Contravenes Penais.
b) Garrafas e objetos cortantes
Garrafas e objetos cortantes tm sua circulao restrita dentro dos estdios,
no Estado de So Paulo, conforme Resoluo SS-32 de O4Nov74.
c) Objetos e documentos encontrados
Objetos e documentos encontrados dentro dos estdios devem ser encami-
nhados ao Distrito Policial da rea, nos termos da legislao em vigor, e o recibo de
entrega dever seguir em anexo ao Relatrio Geral do Policiamento. Fogos de
artifcios devero ser recolhidos, no devendo ser introduzidos nos estdios, pelo
risco integridade fsica dos presentes.
d) Menores de idade
Autorizao de entrada de menores nas praas desportivas, bem como ocor-
rncias que os envolvem so da competncia do Juizado de Menores.
e) Ocorrncias especiais
Ocorrncias que envolvam componentes de outras instituies militares,
bem como elementos com imunidade diplomtica, devem ser levados ao Oficial, o
qual deve tomar as providncias a cada situao peculiar, nos termos da Lei.
f) Do armamento da tropa
A tropa, em princpio, no deve conduzir armas de fogo, salvo oficiais, gra-
duados (se for o caso) e o escalo de operaes especiais; as armas a serem con-
duzidas sero determinadas pelo Cmt da OPM.
g) Das comunicaes
1) Da finalidade das comunicaes
(a) A necessidade das comunicaes no policiamento em praas desporti-
vas diz respeito transmisso de ordens, orientaes, informes e informaes,
entre o escalo de comando, os escales subordinados ou entre os escales de
mesmo nvel.
2) Dos meios de comunicaes
(a) Os meios de comunicaes na realizao do Policiamento em praas
desportivas so:
- rdio porttil (HT);
- gestos;
- telefones internos do estdio;
- sistema de alto-falantes do estdio;
- megafones;
- mensageiros; e
- sinais convencionais
170
7.0 DEFESA CIVIL
7.1 Consideraes
a) Defesa Civil um conjunto de medidas adotadas pelo governo de um pas,
em tempo de paz, e que so postas em ao para o atendimento populao civil,
nas situaes de emergncia e estados de calamidade pblica, e que podero ser
ampliadas para atender s situaes de ataques inimigos, em tempo de guerra.
b) A Defesa Civil realizada, preventivamente, sendo organizada, planejada e
executada sob a responsabilidade do Governo, constituindo, principalmente, medi-
das de proteo individual e coletiva, servios de atendimento de primeiros socor-
ros e de restaurao dos servios e das instalaes essenciais vida do pas, limi-
tando as perdas e danos e mantendo, em alto nvel, o moral da populao civil.
c) No Estado de So Paulo, a Casa Militar encarregada de coordenar a Defe-
sa Civil, contando com o apoio irrestrito de todas as reparties e servios do Esta-
do, principalmente da Polcia Militar, nas operaes de socorro e apoio, em casos
de acontecimentos catastrficos.
7.2 Ao do PM
a) A Corporao desempenha papel importante na Defesa Civil, pois a pronta
ao da Polcia, ainda que somente orientando o povo, livra-o de confundir-se e
desorientar-se, evitando maior nmero de vtimas pessoais e de danos materiais.
b) Diversos tipos de calamidades pblicas podem ocorrer, como por exemplo:
inundaes, incndios de grandes propores, desabamentos, exploses, tremores
de terra etc.
c) No caso de inundaes, o PM desempenhar as seguintes misses:
1) exercer o policiamento, mantendo a ordem, orientando o povo e
vigiando contra furtos, saques etc.
2) cooperar no salvamento de pessoas;
3) cooperar no salvamento de materiais;
4) comandar turmas de salvamento compostas de civis.
d) Nos outros casos, de modo geral, a ao do patrulheiro consistir em:
1) comunicao ao Corpo de Bombeiros, diretamente ou atravs. do Centro
de Operaes;
2) orientao de pessoas;
3) comunicao ao Centro de Operaes, se ainda no tiver feito;
4) salvamento de pessoas que estiverem em perigo de vida.
e) O isolamento do local
1) O isolamento do local poder ser feito atravs de cordas, obstculos, ho-
mens, veculos etc. e destina-se a:
(a) impedir o acesso ao local de pessoas e veculos desnecessrios;
(b) evitar que se estabelea confuso, agravando as conseqncias do si-
nistro;
(c) possibilitar a livre ao dos especialistas (bombeiros, mdicos etc.);
(d) evitar que indivduos desonestos pratiquem furtos, saques etc.
f) A orientao das pessoas, em caso de calamidade pblica, a mais impor-
tante das medidas.
g) Ainda que no local haja s um policial militar, dever estar apto a salvar o
grupo humano ameaado, pela ao direta e orientadora.
171
8.0 TATICAS POLICIAlS AVANADAS
8.1 DEFINIO
a) Taticas Policiais Avanadas podem ser definidas como sendo o emprego de
tcnicas policiais utilizadas em operaes de policiamento ostensivo quando existe
risco de vida para o policial, situao em que as tticas policiais convencionais
sero substitudas por procedimentos de segurana mais rigorosos que o normal.
b) Para o sucesso do emprego de tticas avanadas, existe a necessidade de
um treinamento rigoroso e constante por parte do policial.
8.2 VISTORIA DE LOCAIS SUSPEITOS
a) A vistoria de um local onde haja a suspeio de perigo iminente, como crimi-
noso encurralado, demente e ate mesmo animais perigosos, e feita por melo de
uma varredura visual, de forma que o local suspeito seja tomado visualmente o
mximo possvel antes de a presena ou visualizao do policial ser enfocada.
b) Para a realizao dessa varredura, o policial far uso das seguintes tcnicas:
1)Tomada de Angulo
(a) Compreende no afastar gradativo do policial da porta, muro ou posto de
abrigo antes do local suspeito. A medida que se afasta, vai tomando um campo de
viso major do local (fig. 3-20).
Fig 3-20 - Tomada de ngulo
(b) Essa tcnica e mais adequada pare locais amplos como galpes, corredo-
res largos e outros que permitam o afastamento gradativo do policial pare observa-
o.
2) Relgio
(a) E basicamente a mesma tcnica de tomada de angulo, porem realizada
em locais sem muito espao, como corredores estreitos, armrios, etc.
(b) Nessa situao, o policial usara sue arma como piv de movimento, fa-
zendo o giro de corpo e o conseqente aumento do campo de viso (fig. 3-21).
172
Fig 3-21 - Tcnica de relgio
3) Olhada Rpida
(a) Essa tcnica requer muita habilidade, velocidade e capacidade de obser-
vao e memorizao do policial, porem s deve ser usada em locais onde no
seja possvel' o uso das tcnicas anteriores.
(b) A olhada rpida consiste em o policial, uma vez posicionado em um campo
de abrigo, fazer um movimento brusco e veloz com a cabea, projetando a menor
parte do corpo possvel, e retornar ao seu ponto de abrigo. Nessa ao, o policial
devera ter observado todo o local suspeito, a fim de preparar-se para a progresso.
(c) Caso seja necessria uma nova observao, e importante que esse movi-
mento seja feito de um ponto diferente, pois poder ter denunciada a presena do
policial no local (fig. 3-22).
Fig 3-22 - Olhada rpida.
173
8.3 DESLOCAMENTOS TATICOS
a) Os deslocamentos tticos so progresses em reas suspeitas de perigo, de
um ponto abrigado pare outro, em segurana.
1) Deslocamento em Duplas
Consiste no policial tomar uma posio abrigada e realizar a segurana do
permetro, analisando o local enquanto seu companheiro se desloca. O outro polici-
al devera visualizar o permetro e escolher o ponto de abrigo mais conveniente e se
deslocar rapidamente pare l, de onde passara a fazer a segurana, enquanto o
seu companheiro fez o deslocamento (fig. 3-23).
Fig. 3-23 - Deslocamento em Dupla.
2) Deslocamento em Grupo
O deslocamento em grupo e usado quando ha necessidade de uma progres-
so rpida, sem a necessidade de sigilo. O deslocamento se dar com o grupo todo
em file indiana (coluna por um). O primeiro homem se deslocara ao ponto de abrigo
e far a segurana pare que o restante do grupo progrida (fig. 3-24).
174
Fig. 3-24 - Deslocamento em Grupo
b) A progresso ser frontal ou lateral, conforme for o campo de tiro e observa-
o do local do suspeito. Dessa forma, mesmo surpreendendo a tropa, o criminoso
ou suspeito no identificara com certeza a quantidade de policiais. A escolha do
deslocamento em grupo, em vez do deslocamento em duplas, e baseado tambm
no fator surpresa, pois todos se deslocam ao mesmo tempo, impedindo que o cri-
minoso passe a fazer uma tocaia ao visualizar os policiais se deslocando aos pon-
tos.
8.4 Transposio DE OBSTACULOS
a) So tcnicas de deslocamentos tticos por melo de obstculos artificiais
como muros, janelas, telhados, etc.
1) Subida com Apolo de Costas
Consiste no policial apoiar sues costas na parede, mantendo as pernas em
um angulo reto, formando com seu corpo uma escada pare seu companheiro ob-
servar ou transpor um obstculo (fig. 3-25).
175
Fig. 3-25 - Subida com apoio de costas
2) Subida com Apoio de Frente
Consiste no policial apoiar seu trax na parede, mantendo as pernas flexiona-
das. Aps seu companheiro subir, o policial se levantara aumentando a altura (fig.
3-26).
Fig. 3-26 - Subida com apoio de frente.
3) Descida Apoiada
(a) Para descer de um obstculo com altura superior a do policial, deve ser
utilizada a descida com apoio total do corpo. O policial permanecera apoiado pelas
mos e pemas, soltando lentamente o apoio das pemas ate permanecer na posio
vertical, soltando ento as mos (fig. 3-27).
176
Fig. 3-27 - Descida apoiada.
(b) E importante nessa tcnica manter o corpo em equilbrio, a fim de que, na
queda, 0 policial no venha a sofrer leves.
8.5 AES EM LOCAIS COM CONDIES ADVERSAS
a) Ambiente sem Luminosidade
1) A vistoria em locais sem luminosidade devera ser feita com auxilio de lan-
ternas. A lanterna devera ser posicionada junto com a arma. Essa tcnica favorece
a identificao de alvos e, simultaneamente, a visada pare o tiro.
2) A antiga tcnica de iluminao com a lanterna afastada do corpo e obsoleta,
pois ao invs de esconder, o policial projeta ainda mais a sue silhueta, alem de
dificultar o tiro, que ser realizado sem visada e somente com uma mo (fig. 3-28).
Fig. 3-28 - Tcnica de iluminao.
b) Escadas
1) A progresso em escadas devera ser feita, no mnimo, por uma dupla, em-
pregando-se as tcnicas do relgio e tomada de angulo.
177
2) A progresso devera ser feita cobrindo os pontos de perigo da escada (fig.
3-29).
c) Telhados
1) Muitas vezes, principalmente a noite, a Policia Militar e solicitada pare averi-
guar suspeita de marginais andando sobre telhados. Antes de mais nada, os polici-
ais militares cercam e vistoriam toda a cercania da residncia. Em seguida, dois PM
procuraro a maneira mais segura de escalar e atingir o telhado.
2) Na progresso sobre o telhado, deve-se preocupar com a forma de pisar
sobre as telhas, sem causar danos a sue integridade fsica nem ao patrimnio a-
lheio. Como o madeiramento do telhado e composto por vigas, caibros e ripas, o
ideal e que se pise somente sobre as telhas apoiadas nas vigas ou caibros. Mas
como tal procedimento nem sempre e possvel, pare que o PM tenha certeza que
esteja, ao menos, pisando sobre as ripas, ele devera pisar sobre a chamada "cabe-
a de telha".
3) E importante salientar que nunca se deve subir em telhados em dias chuvo-
sos, porque as telhas, que so de barro, no suportaro o peso humano. As telhas
do tipo "eternite" so fracas e normalmente no resistem ao peso de uma pessoa.
4) A progresso devera ser feita em lanos; enquanto um policial militar progri-
de, o outro permanece parado em posio de segurana. Tal deslocamento e feito
lentamente e com muita ateno, pois, dependendo da inclinao do telhado, o
risco de queda e enorme
d) Sto, Pores, Bueiros, etc.
A vistoria nesses pontos, devido as condies de espao e ambiente, devera
ser feita com auxilio de um espelho. A inexistncia desse equipamento tornara a
vistoria desses locais mais perigosa, pois o policial no ter outra alternativa seno
expor seu corpo pare a varredura visual.
8.6 VISTORIA EM MATAS
a) A capture de marginais em mates e uma das operaes mais delicadas e
difceis de serem executadas, pois quem esta adentrando a mate, por major que
seja o seu grau tcnico, j esta em desvantagem, comparando-se ~ situao privi-
legiada de quem esta esperando.
b) O adestramento do policial em selva resume-se, basicamente, em trs tpi-
cos importantssimos:
- condies psicolgicas;
- utilizao de tcnicas e tticas apropriadas; e
- bom condicionamento fsico.
c) Os tipos de deslocamento fazem por parte de organizao e controle, reali-
zados com a conformidade do terreno, tipos de vegetao e condies meteorol-
gicas.
d) O melhor dispositivo pare o deslocamento em mates e em coluna por 1 ou
por 2, de acordo com o relevo, densidade da vegetao e condies meteorolgi-
cas. Tal dispositivo e composto de um rastreador, um segurana do rastreador, um
observador a esquerda, um a direita e outro a retaguarda.
e) Devido a viso limitada no interior da mate e as desvantagens de quem esta
entrando, o trabalho de rastreamento tem que ser lento, sigiloso e seguro, pois uma
vez distribudos os ninhos cercando a rea, no ha pressa em encontrar o meliante.
f) Em mates fechadas, uma pessoa sem o faco consegue deslocar-se, no
mximo, um quilometro por hora de caminhada. Tal velocidade de progresso de-
178
pendera de vrios fatores, entre eles: necessidade de utilizao de carta topogrfi-
ca, porte e tipo de mate e condies meteorolgica. Em ocorrncias de marginais
homiziados em mates, muitas vezes ha a adulterao do terreno por outros polici-
ais, fator que inviabiliza um trabalho tcnico por por parte dos especialistas do
COE, que acaba abortando a misso. Caso a mate seja de grande porte e a adulte-
rao for pequena, avana-se cem metros a frente e comea-se 0 rastreamento.
g) Acuidade auditiva, visual, olfativa e tato
1) Dependendo do tipo de vegetao local, a visibilidade se restringe a 4 ou 5
metros. Dessa forma, o PM tem que se utilizar das outras acuidades, observando a
discipline de luzes e rudos, comunicando-se com os outros PM por meio de gestos.
2) O rastreamento, por meio de sues ramificacoes tticas, e 0 nico melo pare
encontrar um ou mais grupos homiziados em mates, levando-se em considerao a
preservao do local, o horrio de infiltrao e 0 tipo de vegetao.
h) Topografia
1) Devido ao armamento peculiar de selva utilizado pelo COE, o conhecimento
do terreno por melo da carta torna-se pega fundamental na confeco de um plane-
jamento, pois o cerco da rea no pode se limitar a ao de fogo da patrulha de
rastreamento, nem os azimutes de abate e alvos compensadores podem ser execu-
tados na direo dos ninhos estipulados pare 0 cerco.
2) O conhecimento topogrfico ajuda salvaguardar a vida dos moradores da
regio.
i) Tomada de Posio
A tomada de posio dar-se- quando ha resistncia por por parte do meliante,
ou grupo, sendo necessria a abertura na angulao de tiro, esta e feita por melo
de lanos dissimulados pare obstculos laterais (deslocamentos curtos e rpidos
abrigando-se em obstculos ou acidentes naturais).
j Tipos de Vasculhamento
1) Quadrado e Retngulo Crescente
Consiste em estabelecer um ponto de partida (ultimo local onde a pessoa foi
vista) e ir se deslocando em forma de um quadrado ou retngulo crescente (fig. 3-
30).
Fig. 3-30 - Quadrado crescente.
2) Linha (Pente-fino)
Consiste em deslocamento de 5 homens em formao em linha (homens lado
a lado) se deslocando no mesmo sentido (fig. 3-31). Tal tcnica e utilizada em ter-
reno pouco acidentado.
179
Fig. 3-31 - Linha (pente-fino)
3) Leque
Consiste no deslocamento, simultneo ou em etapas, em varies direes
como na forma de um leque. Tal tcnica e bastante utilizada em terrenos monta-
nhosos (fig. 3-32).
Fig. 3-32 - Leque.
4) Espiral
E uma variao do quadrado ou retngulo crescente, s que em forma espiral
(fig. 3-33). Tal tcnica e normalmente utilizada em terreno acidentado e com vege-
tao densa.
Fig. 3-33 - Espiral
5) Off-set
Partindo-se de um determinado ponto, realize-se a varredura com 4 linhas
(pente/fino), deslocando-se em forma de quadrado ou losango (fig. 3-34).
180
Fig. 3-34 - Off-set.
181
CAPITULO IV
Policiamento de Guarda
4.1.0 Introduo
4.1.1 Conceito
Tipo especfico de policiamento ostensivo, que visa Guarda de aquartelamen-
tos, segurana externa de estabelecimentos penais e segurana fsica das
sedes dos poderes estaduais e outras reparties pblicas de importncia, assim
corno escolta de presos fora dos estabelecimentos penais.
4.1.2 Apresentao
a). O Policiamento de Guarda se manifesta pelo emprego de frao constituda,
visando segurana fsica de estabelecimento e proteo e vigilncia de pessoas.
b). Fundamentalmente, se apresenta:
1) Processo:
(a) a p;
(b) a cavalo;
(c) motorizado.
2) Modalidade:
(a) permanncia;
(b) patrulhamento.
3) Circunstncia:
(a) ordinrio;
(b) extraordinrio;
(c) especial.
4) Lugar:
(a) urbano;
(b) rural.
5) Durao:
jornada.
6) Nmero:
(a) frao elementar;
(b) frao constituda.
c).A anlise do grau crtico da vulnerabilidade, do nvel de segurana exigido,
dos dispositivos de proteo existentes, do permetro a ser coberto, dos meios
materiais e humanos disponveis, indicar as variveis a serem adotadas.
4.2.0 Guarda de Estabelecimentos Penais
4.2.1 Condies gerais
a).Entende-se como estabelecimento penal a instalao oficial a que so reco-
lhidos os que tenham contra si decretadas medidas ou penas privativas de liberda-
de.
b).A segurana externa do estabelecimento penal se limita faixa que o circun-
da, coincidindo com a barreira perimetral, onde o PM atua em postos, para impedir
a evaso dos presos.
182
c).Aos postos, instalados na barreira perimetral, sero atribudos campos de
observaes e vigilncia internos e externos, de maneira a criar condies que
impeam a fuga ou ajuda de fora para a sua realizao.
d).O nmero de postos da guarda externa varia em funo de:
1) estrutura fsica do prdio;
2) populao carcerria;
3) grau de periculosidade que a caracteriza;
4) localizao;
5) dimenses do prdio;
6) disponibilidade de meios complementares do sistema de segurana.
e).Os postos so distribudos de maneira a que o campo de observao e vigi-
lncia de cada um cruze com o de seus vizinhos, propiciando recproco cobrimento.
f).A guarda externa atua nos postos, combinando a permanncia com o patru-
lhamento, este executado por fraes, com a finalidade de proceder aos necess-
rios apoio e ligao entre os postos, completando o sistema de segurana.
g) Ateno especial da vigilncia deve ser dispensada aos postos sensveis ou
vulnerveis, que so aqueles que podero ser danificados, ou que, pela construo
ou situao, apresentam facilidade para acesso ou sada.
h).O posto do porto principal assume caractersticas especiais, que reclamam
a cobertura por frao porque, alm das atribuies de observao e vigilncia
comum aos postos de barreira, outras se adicionam, quando em apoio adminis-
trao do estabelecimento na execuo de normas estabelecidas e que reflitam em
seu posto.
i).Ocorrncias tpicas do servio de guarda externa dos estabelecimentos pe-
nais:
1) tentativa de fuga de um ou mais sentenciados;
2) fuga de um ou mais sentenciados;
3) levante ou motim;
4) incndio, casual ou proposital;
5) ao externa de uma ou mais pessoas, para propiciar ou facilitar fuga de
preso;
6) ao externa de uma ou mais pessoas contra as instalaes ou pessoal
de servio;
7) ao interna (subverso, espionagem, sabotagem fsica ou psicolgica, a-
tividades terroristas);
8) incidentes naturais devidos a falha humana ou do material (incndios no
provocados, curtos-circuitos).
j).Conceituao
1) Tentativa de fuga: preso ou presos, com ou sem meios, chegam at a bar-
reira perimetral e a ultrapassam ou no sem sair do controle da guarda externa.
2) Fuga: preso ou presos, com ou sem meios, chegam at a barreira perime-
tral e a ultrapassam conseguindo sair das vistas da guarda externa. Escapar da
esfera da vigilncia e observao, perdendo-se o controle visual sobre o sentencia-
do, a caracterstica da fuga.
3) Levante ou motim: movimento coletivo de rebeldia, desordem e indiscipli-
na, obediente a um final comum, manifestando-se por reao contra punies im-
postas, contra determinao regulamentar, como meio de obrigar funcionrio a
praticar qualquer ato, para facilitar fuga.
183
(a) A rebeldia h de ser de presos, isto , reunio deles; um, jamais consti-
tuir motim que se consuma quando a ordem ou a disciplina forem transgredidas j
com os primeiros atos do motim, pouco importando a durao da perturbao.
4) Incndio - casual ou provocado: o que causa maiores problemas guar-
da, geralmente provocado, dada a presena de interesse de preso ou grupo de
presos na deteriorao das condies de normalidade, com reflexos na segurana
externa.
5) Ao externa: destinada a propiciar ou facilitar a fuga de presos ou dirigi-
da contra instalaes ou pessoal do presdio. Ambas as aes so perigosas e,
para combat-las, a guarda deve estar permanentemente atenta e preparada para
agir com determinao e alta eficincia.
l).So elementos fundamentais na segurana de estabelecimentos
penais os sistemas de iluminao, de alarme, de comunicaes e barreiras
fsicas.
1) A iluminao instalada e apropriadamente operada serve para
dissuadir o preso da pretenso de fuga e para dificultar a aproximao de pessoas
pela parte externa da barreira perimetral.
(a) Tipos de iluminao
- Contnua: abrange o sistema permanente de iluminao;
- Reserva: a alternativa disponvel para a eventualidade de suspenso
do fornecimento de energia eltrica da rede pblica; e
- De emergncia: o equipamento acionado em casos excepcionais, pa-
ra fazer frente a eventos em que a contnua e a reserva sejam insuficientes.
2) Sistema de alarme
(a) Constitu requisito essencial segurana do estabelecimento, devendo
permitir o acionamento de todos os postos e do corpo da guarda, de maneira a
assegurar possibilidade de adoo de providncias imediatas.
3) Sistema de comunicao
(a) Entre os postos de servio e o posto central e entre este e os
rgos de segurana h necessariamente comunicao permanente para facilitar e
completar o sistema de segurana.
(b) Os policiais militares de servio devero estar instrudos sobre o em-
prego eficiente do sistema.
4) Barreiras Fsicas
(a) Devem ser mantidas, em ambos os lados das barreiras fsicas, zonas
livres para melhor observao da guarda e operaes necessrias.
4.2.2 Deveres do PM
a).Exercer completa vigilncia e fiscalizao para que os presos no tentem fu-
ga.
b).No conversar com presos, descuidando-se da vigilncia.
c).No manter contado com os presos, exceto os estritamente necess- rios ao
cumprimento das misses.
d).Estar sempre alerta para, em caso de necessidade, pedir auxlio, acionando
o alarme.
e).Manter vigilncia sobre os presos que executam trabalhos permitidos pela
legislao, de forma que os materiais e ferramentas no sejam usados para fins
escusos e sim para o trabalho.
f).Evitar violncias, a fim de no provocar insubmisso e dio nos detentos.
184
g).No aceitar presentes ou favores e tampouco efetuar transaes comerciais
com detentos.
h).Conhecer detalhadamente o regulamento interno do estabelecimento penal,
a fim de evitar problemas funcionais.
i).Conhecer detalhadamente o sistema de alarme, usando-o somente em casos
de emergncia.
j).Manter-se em movimento, quando for o caso, durante todo seu turno de ser-
vio, a fim de que a rea sob sua responsabilidade seja dinamicamente fiscalizada.
1).Quando no seu horrio de descanso, dever permanecer no local desti-
nado para tal, em condies de seu emprego imediato e somente dele se afastando
mediante autorizao de seu Cmt.
m).Permanecer no seu posto de servio, dele se afastando somente quando
devidamente substitudo e autorizado, no efetuando compras para os presos.
n).Toda observao ou reclamao sobre o estabelecimento penal dever ser
trazida ao Comandante da Guarda.
o).Durante as rondas, anotar os dados de interesse, fazendo observaes pes-
soais, que conduzam ao aprimoramento do servio.
p).Quando de servio, manter o armamento em boas condies de uso, devi-
damente municiado e, ao manej-lo, no descuidar das cautelas necessrias.
q).No se distrair com mulheres, porque o encarcerado poder usar uma mu-
lher para desviar a ateno do policial, dando condies para que o preso concreti-
ze a fuga.
4.2.3 Responsabilidade penal
a).O Cdigo Penal no comina pena ao preso que foge.
b).A fuga de preso constitui delito somente quando ele se evade,
praticando violncia pessoa.
c).A lei no permite, entretanto, que outros contribuam para a fuga dos presos.
d).A lei leva em considerao o dever funcional, prevendo maior punio quan-
do o fato for praticado por quem responsvel por sua vigilncia.
e).A lei cuida, tambm, da forma culposa, isto , fuga de presos por culpa da-
quele que est encarregado da sua guarda ou custdia.
f). importante ter sempre em mente que uma guarda omissa em seus deveres,
por desateno e negligncia, s facilitar e induzir o preso a tentar a fuga.
g).Como se v, o componente da guarda no pode ficar inativo na ocorrncia
de fuga de preso.
h).Por dever funcional ele deve obstar a fuga de presos por todos os meios
possveis.
1) Recomenda-se que primeiro o PM d o sinal de advertncia, alertando a
guarnio para o acesso necessrio.
4.3.0 Escolta de Presos
4.3.1 Normas gerais de escolta
a).Escolta de presos todo deslocamento do policial-militar conduzin- do, com
segurana, o preso da Justia Pblica:
1) presena da Autoridade judiciria;
2) de um para outro estabelecimento penal;
185
3) de uma para outra Comarca;
4) aos Institutos de Sade Fsica e Mental; e
5) a outros lugares, por ordem da Autoridade judiciria.
b). A escolta destina-se a proceder vigilncia, proteo e assistncia ao preso
fora do estabelecimento penal e nos seus diversos deslocamentos.
1) A escolta somente se realizar mediante prvia requisio judicial, dire-
tamente ou atravs do Diretor do Presdio.
2) Basicamente, a escolta deve zelar pela entrega de pessoas no local de
destino, preservando sua integridade e segurana.
3) Os encarregados da escolta devem tomar todas as medidas para impedir
a fuga de presos. Para isso, devem evitar que mantenham contato com outras pes-
soas e locais que possam criar oportunidades de fuga.
4) O efetivo deve obedecer, em princpio, proporo de 02 (dois) PM por
indivduo a ser escoltado:
(a) Nos deslocamentos de grande nmero de presos, o efetivo da escolta
dever ser especialmente planejado, considerando-se a periculosidade deles e
meio de transporte a ser utilizado.
5) A escolta poder ser feita a p ou transportada:
(a) Quando transportada, os meios sero, em princpio, fornecidos pela au-
toridade requisitante.
6) Ao Cmt da tropa, sob cuja responsabilidade est a guarda de presos, ca-
ber elaborar previamente o planejamento das diversas modalidades de escolta:
(a) Na elaborao do planejamento devero ser observados, alm de ou-
tros, os seguintes aspectos:
- Nmero de presos escoltados;
- destino;
- periculosidade;
- tinerrio;
- meios de transporte;
- tempo de durao; e
- apoios.
4.3.2 Recebimento do preso
a).Antes do contato com o preso, os encarregados da escolta devero, atravs
de informao da seo competente do presdio, procurar saber: seu grau de
periculosidade (medida pelo tipo de crime); se faz parte de quadrilha, pelo nmero
de processos a que responde; e o nmero de anos a que est condenado e se j
tentou fuga alguma vez.
b).Ao receber o preso, devero examinar a documentao referente escolta
do mesmo, conferindo a exatido dos dados nela contidos atravs de uma leitura e
de perguntas ao que ser escoltado, evitando assim uma troca de presos acidental
ou maldosa, que poder acarretar em srias conseqncias futuras. Verificando
que a documentao est em ordem, os policiais militares assinaro o recibo fican-
do, aps a devoluo esse documento, totalmente responsvel pelo preso.
c).Logo em seguida, devero os policiais-militares providenciar, num comparti-
mento fechado, minuciosa revista no preso.
d).O preso no pode conduzir objetos ou valores possveis de comercializao,
dos quais poder valer-se para corromper terceiros ou, no caso de libertar-se da
escolta, deixar o local com mais facilidade.
186
e).Aps a busca, deve-se fazer uma relao por escrito de todos os
objetos encontrados, comunicando imediatamente a Diretoria do Presdio
para as providncias necessrias.
f).Antes do embarque, devero os policiais-militares examinar o inte-
rior da viatura, verificando se no foi deixado algum objeto para o preso.
4.3.3 Conduo do preso
a).Todo preso ser submetido busca pessoal e algemado, por mais pacfico
que aparente ser, antes de ser transportado. Na falta de algemas, o preso deve ter
seus membros superiores imobilizados com meios de fortuna, tais como o cassete-
te ou a prpria cinta de preso; neste caso, envidar esforos para no ferir o preso.
b).A conduo do preso ser feita, preferencialmente, em viatura, para segu-
rana do policial-militar e do prprio preso, conforme circunstncias da priso.
c).Sempre que a escolta for realizada a p, o preso dever ser conduzido al-
gemado a um dos componentes da escolta.
1) O policial-militar, ao conduzir o preso a p, dever mant-lo
algemado ao lado oposto de sua arma.
2) O uso de algemas deve obedecer ao disposto no Decreto n.
19.903, de 30 de outubro de 1950, que regulamenta a matria.
d). O preso somente poder ser desalgemado mediante ordem da autoridade
competente, que dever ser previamente informada de sua periculosidade.
e). O preso no poder:
1) trazer consigo dinheiro ou objetos pessoais;
2) permanecer livre da vigilncia da escolta em qualquer ocasio;
3) manter contato com parentes, amigos ou quaisquer outras pes-
soas;
4) ser entregue sem o devido recibo; e
5) ser algemado em objetos fixos, salvo em situaes excepcionais.
f).Quando do embarque e desembarque de coletivos, ter em vista a incolumi-
dade prpria e dos demais passageiros.
g) Vindo o preso a ser acometido de mal sbito, valer-se dos meios imediatos a
seu alcance, sem descuidar-se das medidas de segurana (precaver-se de que o
preso poder estar simulando doena para criar uma situao qualquer).
1) Nestas circunstncias providenciar, na primeira localidade, os necessrios
cuidados mdicos, atravs das autoridades competentes.
2) Ficando o preso internado, cientificar seu comandante.
h).As medidas de segurana no devero ser aliviadas pela escolta, ainda que
o preso esteja doente.
i).No caso de a escolta conduzir vrios presos, estes seguiro algemados brao
a brao.
j).Cautelas especiais devem ser tomadas quando da escolta de menores, doen-
tes infecto-contagiosos, doentes mentais, os quais devero ser transportados em
viaturas apropriadas.
1).Os policiais-militares devem portar armas de tal modo que os presos se-
jam incapazes de apanh-las.
m).No devem ser dadas informaes aos escoltados e terceiros, quanto ao lu-
gar onde esto indo, hora de chegada, local de parada, mudana e meios de trans-
portes.
n).Os presos nunca devem ficar fora da vista da escolta.
187
o).A ningum deve ser permitido passar entre o preso e o condutor.
4.3.4 Apresentao e entrega do preso
a).Apresentado com documentos necessrios para ser ouvido em juzo ou as-
sistir audincia, o preso permanecer algemado, independente do grau de pericu-
losidade.
1) Caso haja ordem expressa do juiz para tirar as algemas, o Cmt dever a-
lertar o magistrado, se for o caso, sobre o alto grau de periculosidade do preso e,
em seguida, cumprir a determinao, permanecendo um dos componentes prximo
porta e outro junto ao preso e com vistas s janelas.
2) Antes de se retirar da sala, colocam-se novamente as algemas para o
deslocamento de regresso.
b).Apresentado a Instituto de Sade, o preso deve ser acompanhado pela es-
colta durante a realizao dos exames clnicos ou psquicos e deve permanecer
algemado, salvo em casos especiais que requeiram a liberdade dos braos.
c).A entrega do preso no destino far-se- mediante os princpios
seguintes:
1) via de regra, o preso destinado a determinada Comarca, sendo entre-
gue, na respectiva cadeia pblica, com ofcio dirigido Polcia Civil local.
2) nos estabelecimentos penais, os presos so recebidos pelos assistentes
penais, os quais assinaro os recibos de entrega.
d).O recibo de entrega do preso por parte da escolta de suma importncia,
pois visa resguardar situaes que coloquem a mesma em srios riscos morais.
4.3.5 Locomoo - meios e procedimentos
a). Por via frrea
1) Previso da respectiva requisio de passes de ida e volta.
2)Proporo de dois PM para cada preso a ser transportado.
(a) Caso o escoltado possua periculosidade presumida, e no seja poss-
vel utilizar outro meio, deve-se aumentar a proporo dos escoltantes, podendo
inclusive seguir na diligncia, um ou mais PM em trajes civis, garantindo a seguran-
a da escolta.
3) O coldre do PM deve estar sempre do lado oposto ao do assento do pre-
so.
4) O preso ser algemado ao brao esquerdo de um dos escoltantes, fican-
do outro para exercer a vigilncia.
5) Os sanitrios da composio devem ser previamente revistados
toda a vez que forem utilizados pelos presos, sendo cauteloso alternar o uso des-
sas dependncias. Em princpio, no dever ser permitido ao preso utilizar o sanit-
rio quando o trem estiver parado.
b) Por viaturas
1) Todos os rus de periculosidade presumida devem, em princpio, ser
transportados por viaturas. Neste caso, a escolta dever levar verba suficiente para
aquisio de combustvel e alimentao, inclusive para o preso.
2) Os presos so conduzidos algemados at a viatura e, no instante em que
se encontrarem no compartimento de presos, so desalgemados, visto a segurana
do prprio meio utilizado; no desembarque, o preso ser algemado to logo saia da
viatura.
188
3) O abastecimento dever se fazer em locais alternados, evitando, assim,
possvel surpresa por parte de terceiros.
4) O detento se alimentar no prprio compartimento de presos.
c).Por nibus
1) Nos deslocamentos por meio de nibus, o policial-militar observar as
mesmas regras dis postas nas escoltas por via frrea.
2) A alimentao do preso, no presente caso, ser fornecida nos restauran-
tes verificados nas paradas do coletivo.
3) Nos deslocamentos por nibus, o comandante da escolta, ao providenciar
as passagens, deve reservar as ltimas poltronas, porque h melhores condies
de segurana, inclusive para uso de sanitrios.
d).Por avio
1) As escoltas que usarem avies de carreira daro disso cincia ao coman-
dante da aeronave, esclarecendo ainda quanto periculosidade do escoltado.
2) O preso ser colocado, juntamente com a escolta, em posio e local que
no constranjam os demais passageiros.
3) O preso no tomar refeies munido de faca e garfo, visando seguran-
a pessoal do prprio e dos escoltantes; preferencialmente utilizar copos e pratos
de papelo.
4) Trinta ou quarenta minutos antes do pouso no local do destino, a escolta
solicitar ao comandante da aeronave que se comunique, via rdio, com os policiais
locais, a fim de garantirem a segurana no desembarque.
5) A escolta embarcar antes dos passageiros normais e desembarcar a-
ps.
e).Por automvel
1) s vezes, h necessidade de utilizar-se txi. Quando isto ocorrer, a escol-
ta deve anotar a placa do carro, nome do motorista, bem como a sua residncia.
Nesse transporte, devemos tomar as seguintes medidas:
(a) o preso conduzido no banco traseiro, no lado oposto do motorista,
enquanto um dos policiais toma lugar atrs do motorista e o outro ao lado do moto-
rista no banco da frente;
(b) os dois policiais podero tambm tornar lugar no banco traseiro do mo-
torista, ocupando o preso o lugar entre eles; neste caso, o policial que se sentar ao
lado esquerdo do preso, deve colocar a arma ao lado oposto do preso;
(c) o preso deve seguir algemado a um dos componentes da escolta, e
uma segunda algema deve unir seus pulsos.
(d) aconselhvel que um dos policiais fique do lado de fora at a acomo-
dao do preso no interior do veculo.
4.3.6 Utilizao de sanitrios
a).Todos sanitrios a serem utilizados pelo preso devero ser minuciosamente
revistados, tomando-se as seguinte precaues:
1) evitar-se- aqueles que possuam mais de uma porta ou janelas que pro-
piciem a sada do preso;
2) a porta dos sanitrios no poder, em hiptese alguma, permanecer fe-
chada, enquanto estiver sendo utilizado pelo detento; e
3) um dos componentes da escolta manter o p entre 0 batente e a bandei-
ra da porta, a fim de evitar que a mesma seja fechada por dentro pelo escoltado.
189
4.3.7 Escolta em velrios
a).Dada a sua peculiaridade, esse tipo de escolta deve ser executada por trs
ou mais policiais e devero ser adotadas rgidas medidas de segurana, especial-
mente se o local de destino for freqentado por marginais.
b).Antes do desembarque do preso preciso se fazer um estudo da situao,
para que se possa adequar as medidas de segurana s necessidades da ocasio
e do local. Assim, um dos escoltantes:
1) entra em entendimento com o parente mais prximo do preso (pai, me,
irmo, esposa ou filho), expondo-lhe as condies em que o preso entrar no vel-
rio;
2) verifica se o local oferece condies segurana do servio (fragilidade
das paredes, muitas sadas etc.);
3) examinar, cuidadosamente, as portas ou outras aberturas que
possam facilitar a fuga.
c).Caso as condies de segurana e o ambiente no forem favorveis:
1) a escolta no desembarca o preso;
2) retorna o mais rapidamente possvel e comunica o fato Diretoria do Pre-
sdio e ao seu Comandante, esclarecendo os motivos que levaram a agir dessa
maneira.
d) Caso as condies de segurana e o ambiente sejam favorveis, as seguin-
tes providncias devem ser tomadas:
1) o veculo deve ser colocado o mais prximo possvel da sada do velrio e
em condies de se deslocar rapidamente do local, em caso de anormalidade;
2) deve ser pedido o afastamento dos que se encontram na sala do velrio e
s deve entrar, nesse local, a escolta e o preso;
3) o preso no deve ser desalgemado:
4) devem ser acompanhados de perto todos os movimentos do preso, duran-
te o tempo de visita, o qual no dever exceder a 15 minutos;
5) no deve ser permitido que se d comida ou bebida de qualquer espcie
ao preso;
6) no deve ser permitido que o preso debruce sobre o caixo da pessoa fa-
lecida, pois no interior do mesmo poder ter alguma arma escondida e que dela
poder valer-se para tentar a fuga, com isso ferindo a integridade e a segurana da
escolta.
4.3.8 Escolta em hospitais
a). Caso haja necessidade da Polcia Militar executar tal tipo de servio, condu-
zindo preso para atendimento mdico, devem ser tomadas as seguintes medidas:
1) confirmar se haver ou no atendimento, evitando-se permanecer com o
preso perambulando por salas e corredores,-
2) cientificar-se da gravidade da enfermidade ou ferimento do preso, man-
tendo, para tal, contato com mdicos e direo do hospital;
3) verificar as condies de segurana oferecidas pelo local em que est o
preso, mediante contato com a Administrao;
4) no permitir visita de espcie alguma ao preso, a no ser de
elementos do hospital (corpo clnico, enfermeiros e auxiliares);
5) evitar que o preso se locomova nas dependncias externas ou
internas do hospital (a escolta deve estar sempre presente).
190
6) se o mdico recusar-se a atender o preso perante os componentes da es-
colta ou se determinar a retirada das algemas, o PM, com habilidade, solicitar a
identificao do mdico e procurar a Administrao do Hospital para esclarecer
sobre a responsabilidade por eventuais fugas ou violncia praticada pelo preso.
4.3.9 Deveres dos componentes da escolta
a).Alm de outros deveres j citados anteriormente, aos policiai: militares em
escolta de preso compete:
1) verificar, antes do servio, o estado de uso e funcionamento das algemas,
do armamento e das munies;
2) nunca algemar o preso em lugares fixos, pois as algemas si
destinam a incapacitar as 2 (duas) mos e braos do escoltado;
3) usar sempre os meios de transporte normais, nunca aceitar "caro nas" du-
rante o servio de escolta, a no ser de pessoas conhecidas perfeitamente identifi-
cadas;
4) nunca aceitar os itinerrios de ruas e logradouros pblicos indica dos pelo
escoltado e utilizar, sempre que possvel, outro roteiro quando retornar com
a escolta e o preso;
5) ao conduzir presos dementes ou agitados, servir-se somente d
veculos apropriados e, se necessrio, providenciar para que sejam imobilizados
com camisa de fora ou estejam sob efeito de tranqilizantes aplica dos por mdi-
cos;
6) conduzir, sempre que possvel, e com prioridade, em carros d presos (car-
ro forte), os presos de reconhecida periculosidade, devendo escolta ser reforada
com mais policiais-militares;
7) no aceitar, em hiptese alguma, refeies e bebidas oferecida pelo es-
coltado ou por familiares, amigos e pessoas estranhas;
8) no permitir que o escoltado tenha contato com parentes, amigos pessoas
estranhas;
9) verificar, antes do servio, as condies de funcionamento do carro forte;
e
10) os componentes da escolta no devero manter relacionamento amisto-
so com o preso, posto que podero ser enganados pelo mesmo, to logo ele per-
ceba haver conquistado a confiana dos escoltantes.
11) A fuga deve ser evitada de forma preventiva pela vigilncia aos mais su-
tis movimentos do preso.
ARTIGO IV
4.4.0 Guarda de Reparties Pblicas
4.4.1 Condies gerais
a).A Polcia Militar executa policiamento de guarda nas reparties pblicas,
para fins de proteo ao patrimnio do Estado e em vista d importncia das pesso-
as que nela trabalham (ou residem).
b).Emprega seu efetivo desde uma presena preventiva, at uma segurana f-
sica efetiva, variando de conformidade com as caractersticas das reparties e das
pessoas, cuja proteo se tem em vista.
191
c).O pessoal empregado nas reparties, em virtude do contato permanente
com o pblico, dever primar pela apresentao pessoal (correo de uniforme,
atitudes, asseio individual etc.) e pelo tratamento com o pblico.
d).O uniforme previsto poder ser adequado ao servio, podendo, mediante au-
torizao, ser acrescido com alamares, braadeiras e outros adornos especficos.
4.4.2 Mtodos e dispositivos de segurana
a).Dever ser estudado o controle de entrada e sada de pessoas dentro da -
rea proibida ao pblico em geral, assim como o controle de pessoas autorizadas
para prestao de servios nesses locais.
b).Conforme o caso, poder ser feito o controle dos veculos que adentram a
rea da repartio.
c).O sistema de alarme, de iluminao, de comunicao e as barreiras fsicas
sero objetos de preocupao constante do PM.
d).Ateno especial deve ser dispensada aos pontos sensveis ou
vulnerveis.
e).A tropa empregada dever ter conhecimento dos meios de extino de in-
cndio existentes na repartio, para poder executar os combates aos princpios de
incndios e colaborar com os Bombeiros em casos de necessidade.
f).O uso das armas deve ficar adstrito aos casos de anormalidades.
4.4.3 Relacionamento com o pblico
a) O PM empregado no policiamento de guarda de reparties pblicas sempre
procurado como fonte de informao e orientao, devendo capacitar-se para
exercer bem esta misso; em conseqncia, deve:
1) conhecer os nomes dos chefes das reparties;
2)conhecer os procedimentos das reparties, para fins de orienta- o ao
pblico;
3) ter pacincia com pessoas, procurando saber das suas necessidades e
dar as respostas as mais completas possveis;
4) agir com educao para com todos e com cavalheirismo para com as da-
mas.
192
CAPITULO V
Policiamento de Trnsito
5.1.0 Introduo
5.1.1 Conceito
Tipo especfico de policiamento ostensivo, executado em vias terrestres abertas
livre circulao, visando a disciplinar o pblico no cumprimento e respeito s re-
gras e normas de trnsito, estabelecidas por rgo competente, de acordo com o
Cdigo Nacional de Trnsito e legislao vigente.
5.1.2. Apresentao
a).Este captulo aborda os aspectos especficos do policiamento de trnsito,
dispensando a anlise daqueles que, pela sua generalidade, mereceram tratamento
no Captulo 3 - Policiamento Ostensivo Geral, cujo conhecimento indispensvel
para a compreenso dos assuntos particulares relativos ao Policiamento de Trnsi-
to
b).O Policiamento de Trnsito executado atravs de combinaes variveis
do fluxo, da sinalizao, do grau de educao de trnsito dos usurios, das priori-
dades de lanamento e outros fatores de cada regio.
c).Fundamentalmente, executado pela combinao de:
1) Processo: a p, motorizado, a cavalo;
2) Modalidade: patrulhamento, permanncia, escolta;
3) Circunstncia: ordinria, extraordinria, especial;
4) Lugar: urbano, rural;
5) Durao: turno, jornada;
6) Nmero: frao elementar e frao constituda.
5.1.3. Misso
a).Atuar sistematicamente na fiscalizao, orientao e controle, com o objetivo
de proporcionar segurana e fluidez do trnsito e assegurar o cumprimento das leis
e regulamentos.
b). cumprida atravs do exerccio das seguintes atribuies:
1) Atuar em pontos-base - cruzamentos, pontos crticos, eixos e vias - com
vistas disciplina de trnsito, obedincia sinalizao e proteo a condutores,
pedestres, pistas de rolamento, sinalizao e obras de arte, com vistas reduo
de acidentes de trnsito.
2) Atender a acidentes de trnsito, com ou sem vtimas.
3) Apreender, remover, reter veculos por prtica de infraes de
trnsito.
4) Remover ou promover remoo de obstculos, animais e veculos que
impeam ou dificultem a livre circulao.
5) Fiscalizar veculos (documentos, estado de conservao, cargas) e con-
dutores (documentos, condies fsicas).
6) Notificar infratores e, conforme o caso, efetuar prises.
7) Promover e (ou) participar de campanhas educativas de trnsito.
5.1.4. Abrangncias
193
a). Vias terrestres - Para efeitos deste Manual, so consideradas vias terrestres
as ruas, avenidas, logradouros, estradas, caminhos, passagens de domnio pblico
e praias abertas ao trnsito.
b).Recintos internos - No esto sujeitos s normas estabelecidas pela legisla-
o de trnsito os recintos internos de clubes, associaes, entidades pblicas ou
privadas, no podendo o PM, nesses locais, disciplinar a circulao de veculos,
nem efetuar Auto de Infrao para Imposio de Penalidades (AIIP) ou adotar me-
didas complementares, previstas na legislao de trnsito, por fora de impedimen-
to legal.
5.2.0 Regras Gerais de Execuo
5.2.1 Policiamento preventivo
a).Atuao - Em princpio, a atuao do PM deve ser preventiva, orientando
motoristas e pedestres.
Nos casos de manifesta inobservncia legislao de trnsito, o PM deve atuar
repressivamente, efetuando as autuaes cabveis e adotando medidas comple-
mentares, se previstas.
b).Prioridade - A segurana prevalece sobre a velocidade do trfego, porque a
preservao da integridade fsica dos motoristas e pedestres tem prioridade sobre a
fluidez do trfego, devendo ser dispensada especial ateno aos pedestres.
c).Servios de urgncia - A prioridade de circulao concedida a
veculos oficiais e aos de prestao de servios pblicos essenciais populao,
para atender a casos de urgncia, acionando sirenes, no lhes concede o direito de
desrespeitar regras elementares de cautela para a segurana de terceiros.
Os condutores de tais veculos no podem escudar-se na prioridade de trafgo,
a pretexto de urgncia, para atentar contra a integridade fsica prpria e de tercei-
ros, acionando desnecessariamente a sirene.
d).Obstculos circulao - Qualquer obstculo livre circulao ou segu-
rana de pedestres e veculos, no leito das vias terrestres ou caladas, deve ser
imediata e devidamente sinalizado ou removido.
1) Nos casos necessrios, o PM deve, preventivamente, utilizar-se de sinali-
zao de fortuna com os meios ao seu alcance, acionando, a seguir, o rgo com-
petente ou responsvel.
2) A entidade que executa obra na via pblica responsvel pela
correta sinalizao do local.
3) As obras na via pblica s podem ser iniciadas, mediante prvia autoriza-
o da autoridade competente com atribuio sobre a via, devendo o PM, nos ca-
sos de inobservncia, comunicar o fato ao rgo competente.
5.2.2 Princpio de legalidade
a).Legalidade das providncias - Na execuo do policiamento, s podem ser
lavradas autuaes e adotadas medidas complementares previstas na legislao
especfica de trnsito, porque o poder de polcia no arbitrrio, estando sujeito s
regras legais e regulamentares, dentro de cujos limites deve ser exercido sob pena
de vir o PM a incorrer na prtica de ilcito penal.
b).Aplicao das penalidades - Quando para determinada infrao for prevista,
unicamente, a penalidade de multa, o PM somente lavrar a autuao cabvel, no
194
podendo remover, reter ou apreender o veculo, a Carteira Nacional de Habilitao
ou qualquer outro documento.
c).Dvida quanto caracterizao.
1) Em caso de dvida quanto caracterizao da infrao legislao de
trnsito, o PM no dever lavrar a autuao, sanando, posteriormente, a dvida,
com os superiores hierrquicos, para procedimento futuro em casos semelhantes.
2) Em casos de dvida sobre a perfeita identificao do veculo, no lavrar a
autuao.
d).Infraes simultneas - Quando o mesmo condutor do veculo,
praticar, simultnea ou seguidamente, duas ou mais infraes legislao de trn-
sito, o PM lavrar as autuaes correspondentes, observando com rigor os hor-
rios.
e).Infrao e ilcito penal - No caso de prtica simultnea de infrao de trnsito
e de ilcito penal, o PM deve lavrar a autuao devida e, em caso de priso em
flagrante delito, apresentar o autor do crime ao Distrito Policial da respectiva rea
de atribuies.
5.2.3 Sinalizao
a).Obrigatoriedade - Toda e qualquer restrio no uso da via pblica deve ser
regulamentada por sinalizao especfica, correta e suficiente no local, no poden-
do ser estabelecida unicamente por meio de portaria ou qualquer outro documento.
A sinalizao de trnsito deve se apresentar de forma suficiente e correta, a-
tendendo s condies essenciais de suprir necessidades importantes, chamar a
ateno dos usurios, expor mensagem clara e simples, impor respeito aos usu-
rios, ser bem localizada e apresentar visibilidade suficiente.
b).Falta, insuficincia ou incorreta colocao - Das infraes que exijam, para
perfeita caracterizao, sinalizao especfica (placas de regulamentao), o PM
no dever lavrar as autuaes na falta, insuficincia ou incorreta sinalizao do
local, solicitando com a possvel urgncia, a ao do rgo competente para sanar
a anomalia verificada.
c).Sinais e ordens do PM - As ordens, emanadas por gestos do PM, prevale-
cem sobre as regras de circulao e sobre as normas definidas por outros sinais de
trnsito.
5.3.0 Procedimentos Gerais
5.3.1 Deveres do policial-militar
a).Cumprimento das ordens - Cumprir, integralmente, as ordens dos superiores
hierrquicos, relativas execuo do servio, em face da inteira responsabilidade
deles pelos resultados do fiel cumprimento s ordens.
b).Conhecimento do posto de servio - Conhecer a direo do trfego nas ime-
diaes do posto de servio, estando, conseqentemente, em condies de efetuar,
em caso de necessidade, desvios das correntes de trfego ou auxiliar e substituir
outros PM nos postos localizados nas imediaes.
1) Ao assumir o posto, dever efetuar um reconhecimento prvio, buscando
identificar as principais artrias de ligao, desvios possveis, alteraes nas pistas
de rolamento, hospitais, pronto-socorros, farmcias, delegacias, quartis, oficinas
195
mecnicas, "borracheiros", guinchos e outros servios de utilidade, com o objetivo
de facilitar o cumprimento da misso.
2) Ao ser escalado em posto de sinalizao recm-implantado, ou onde hou-
ver mudana recente do sistema virio, dever verificar, previamente, se todas as
placas de regulamentao esto colocadas corretamente e se no h falta de sina-
lizao complementar. Nestes casos, a ao do PM deve ser mais de orientao do
que de represso.
c) Relacionamento com o pblico - Reduzir ao absolutamente necessrio, ex-
plicaes e informaes aos que as solicitarem.
1) Receber as sugestes, reclamaes ou queixas do pblico em geral, com
ateno e urbanidade, transmitindo-as, para devida apreciao, aos seus superio-
res hierrquicos, ou orientando o interessado a procurar o setor competente.
2) Evitar, quando de servio, palestras desnecessrias.
5.3.2 Policiamento a p
a) executado em ponto-base e em eixo. No ponto-base, que o Posto de
Controle de Trnsito, emprega-se a permanncia em semfaros, em locais de obra,
em desvios, em passagens de pedestres, em locais de sinistro e em outros prescri-
tos em planos especiais. No eixo, que o Posto de Fiscalizao de Trnsito,
realizado o patrulhamento em trechos da via pblica, varivel de acordo com a
intensidade do trnsito, topografia e outras peculiaridades do local.
1) Posto de Controle de Trnsito (PCTran-Base Operacional)
(a) As atribuies do PCtran so:
- compelir os condutores de veculos e os pedestres obedincia das
determinaes legais e regulamentares, bem como s contidas nas demais normas
em vigor, referentes ao trnsito em geral;
- colocar-se vista do pblico em seu posto, diligenciando no sentido de
evitar que os motoristas cometam infraes;
- zelar pela fiscalizao de trnsito em geral, a fim de evitar congestio-
namento de qualquer espcie;
- conhecer a direo do trnsito nas imediaes de seu posto, manten-
do-se em condies de desvi-lo, em caso de necessidade, para outra via;
- autuar o condutor do veculo pelas infraes involuntrias e sem gravi-
dade somente quando a advertncia no for suficiente para convencer o infrator;
- autuar, nos demais casos, os que transgridem os preceitos do Cdigo
Nacional de Trnsito, seu Regulamento e demais normas pertinentes;
- reduzir ao estritamente necessrio, suas explicaes e informaes
aos que as solicitarem, sejam referentes ao servio ou a outros assuntos;
- permanecer no posto, dele no se afastando, a no ser em situaes
excepcionais;
- manter-se atento ao servio, evitando palestras com outros ele- men-
tos da Corporao ou com o pblico;
- usar linguagem prpria nas relaes com os condutores de veculos ou
pedestres, evitando termos de gria ou gestos deselegantes;
- conhecer os pontos de txis, nibus e de outros veculos de conduo
coletiva, a fim de bem informar aos transeuntes a respeito;
- zelar pela segurana do trnsito, dispensando especial ateno aos
pedestres;
196
- estar sempre atento aproximao de ambulncias, viaturas do Corpo
de Bombeiros, da Polcia, e outros de prestao de servios pblicos essenciais
populao, que estejam com a sirene ligada para, de imediato, lhes possibilitar a
prioridade de passagem;
- relatar as novidades verificadas durante o transcorrer de seu turno ao
seu substituto;
- preencher a ficha de ocorrncia, quando houver anormalidade que fuja
ao padro rotineiro;
- apresentar, aos superiores hierrquicos, medidas e sugestes que vi-
sem melhoria do servio;
- executar os sinais regulamentares de apito e braos, sempre com cor-
reo.
(b) Alguns pontos de melhor localizao do PM em cruzamento:
- Em geral, nos cruzamentos com ilhas centrais, este o ponto mais in-
dicado:
Erro! Vnculo no vlido.
- Nos cruzamentos de duas vias com sentido nico, o policial deve se
postar no canto do passeio, do lado de onde procedem as correntes:
Erro! Vnculo no vlido.
- Nos cruzamentos de vias de mos duplas ou de mais de duas vias, o
centro o local mais indicado:
Erro! Vnculo no vlido.
2) Postos de Fiscalizao de Trnsito (PFTran)
(a) Alm das prescritas para os PCTran, no que for aplicvel, o
PFTran tem as seguintes atribuies:
- desenvolver, perante aos motoristas e principalmente aos pedestres,
uma ao efetiva de orientao, informao e educao de trnsito;
- deslocar-se de forma a ser sempre notado por motoristas e pedestres
e por onde possa melhor observar todo o fluxo de veculos;
- verificar as condies da sinalizao estatigrfica e semafrica, suprin-
do, eventualmente, suas deficincias por meio de gestos, apitos e sinalizao de
fortuna e solicitando providncias ao escalo imediatamente superior;
- verificar a existncia de irregularidades (veculos estacionados ou pa-
rados em desacordo com a regulamentao; veculos danificados; inexistncia,
insuficincia ou incorreo na sinalizao de obras na pista, etc.), providenciando
sua correo;
- conhecer a mo de direo das diversas ruas prximas de seu posto,
ficando em condies de desviar o transito em situaes de emergncia;
- orientar, sempre que possvel, os infratores que cometem transgres-
ses casuais;
- impedir que um usurio contrarie as regras de trnsito, no abrindo
precendentes, a no ser em casos de necessidade (doena, socorro mdico, etc.),
ou nos casos regulamentares;
- estar apto para apoiar ou reforar outras aes ou operaes policiais-
militares.
197
5.3.3 Policiamento motorizado
a).Em viaturas
1) Suas atribuies so as mesmas do policiamento a p, acrescidas de:
(a) apoiar o policiamento nos PCTran e PFTran a p;
(b) atender as ocorrncias de trnsito, por sua prpria iniciativa, a pedido
ou por determinao;
(c) solucionar ou pedir soluo para irregularidades encontradas em seu i-
tinerrio;
(d) realizar escoltas;
(e) realizar patrulhamento de acordo com carto-programa:
2) Alm do que foi tratado no Captulo 3 - Policiamento Geral -, a
viatura, empregada no policiamento de trnsito, deve conduzir material que lhe
permita sinalizar anormalidades na via pblica, prestar socorros de urgncia e fisca-
lizar, mais detalhadamente, veculos e condutores (radar, bafmetro e analisador de
fuma(a).
b).Em motocicleta
1) Em princpio, as motocicletas sero empregadas diariamente, nos hor-
rios em que os Mapas Estatsticos mostrarem ser de maior incidncia de infraes
de trnsito.
2) As vias onde as motocicletas sero empregadas devem ser pavimentadas
e apresentar um fluxo de veculos tal que a possibilidade de ocorrncias de trnsito
seja grande.
3) Sob condies climticas adversas (chuva, cerrao, neblin(a) desa-
conselhvel o uso de motocicleta.
4) A atuao dos patrulheiros motociclistas dever estar enquadrada numa
das seguintes situaes:
(a) Individual - situao em que o patrulheiro motociclista respon- svel
pela normalidade do trnsito num determinado trecho, nunca superior a 10 Km de
extenso. O procedimento do patrulheiro motociclista, nesta situao, dever norte-
ar-se pelas seguintes prescries;
-a velocidade de patrulhamento deve ser compatvel com o fluxo da cor-
rente de trnsito;
- o tempo de utilizao da motocicleta deve ser na proporo de cinco
mdulos em movimento, por um mdulo de observao, sendo o mdulo igual a 10
(dez) minutos.
(b) Integrado - situao em que o patrulheiro motociclista age em combi-
nao com outros patrulheiros, em qualquer processo e tipo preconizados, dentro
de um espao geogrfico determinado.
5.4.0 Procedimentos Particulares
5.4.1 Em terminais de transporte
a).Disciplinar as filas de passageiros e de txis para o embarque, observando
sempre a ordem de chegada e diligenciando para que nem txis nem passageiros
passem frente dos seus precedentes.
b).No permitir que txis permaneam estacionados fora da fila e nas proximi-
dades do ponto.
198
c).Permitir, quando os primeiros txis da fila forem pequenos, que passageiros
com muitas malas ou grupos numerosos aguardem no incio da fila, at a chegada
de carro maior.
d).No permitir que motoristas angariem passageiros, devendo, neste caso, a-
tuar repressivamente.
e).No permitir que os veculos permaneam estacionados nas reas de de-
sembarque, aps a descida dos passageiros.
f).Prestar as informaes que lhe forem solicitadas. Para isto dever estar pre-
parado, conhecendo ao mximo sua cidade, hotis, penses, lugares tursticos,
reparties pblicas, sadas para outras localidades e vias de ligao do centro com
os bairros.
g) Atuar nas ocorrncias de trnsito e, na falta de outro policiamento, em ocor-
rncias de qualquer natureza.
5.4.2 Em eventos especiais
a)."Blitz" - Executada por uma equipe, com a finalidade de fiscalizar documen-
tos e, atravs de vistorias completas, verificar as condies de conservao dos
veculos; reprimir energicamente desmandos que so praticados por motoristas
(tais como: "pegas", "cavalo de pau", excesso de velocidade) e dissolver aglomera-
es que bloqueiem a circulao.
b).Guinchamento - Executado com a finalidade de remover veculos que este-
jam impedindo ou dificultando o trnsito, por infrao de trnsito, por abandono, ou
em caso de "limpeza" da via em solenidades, desfiles, visita de autoridades, provas
desportivas, etc.
c).Escoltas
1) So realizadas escoltas de vrios tipos, destacando-se:
(a) escolta de dignitrios;
(b) escolta de provas desportivas;
(c) escolta de cargas excepcionais.
2) Escolta de dignitrios - Consiste em acompanhar uma autoridade em des-
locamentos, para defend-la a resguard-la, assegurando-lhe prioridade de trnsito,
a critrio da autoridade ou instrues de sua segurana pessoal. Os veculos que
no concederem a prioridade, so infratores do Cdigo Nacional de Trnsito e,
como tal, devem ser autuados.
(a) Em funo da segurana requerida, trs tipos de escolta podero ser
organizadas. Em qualquer dos trs, a viatura que conduz a autoridade ser sempre
enquadrada por duas viaturas de segurana (uma frente e outra retaguard(a),
constituindo um comboio.
- Escolta com segurana normal: aquela em que o comboio precedido por uma
vtr de "varredura".
Erro! Vnculo no vlido.
- Escolta com segurana reforada: aquela em que o comboio en-
quadrado por uma vtr de "varredura" e uma "fecha-comboio"; imprescindvel que
estas duas possuam comunicao entre si.
Erro! Vnculo no vlido.
199
- Escolta com segurana mxima: aquela em que, alm das viaturas
citadas anteriormente ' acrescenta-se uma vtr "batedor avanado"; imprescindvel
que as trs viaturas da escolta possuam comunicao entre si.
Erro! Vnculo no vlido.
3) Escoltas de competio desportivas - Quando da realizao de competi-
es desportivas nas vias pblicas, previamente autorizadas pelo rgo que tenha
jurisdio sobre a via, o policiamento de trnsito empregado para proporcionar
total segurana aos demais usurios, evitando que a competio seja prejudicada
por alguma interrupo, desvio ou acidente de trnsito.
(a) Nesse caso, a atividade se concentra em:
- orientao do itinerrio, destacando viaturas que iro "puxar" os com-
petidores;
- sinalizao do itinerrio, previamente, atravs de placas, ou destacan-
do PM que iro interromper ou desviar o trnsito, para que os competidores venham
a encontrar a pista livre, sem quaisquer obstculos e desenvolverem a velocidade
necessria, bem como Proporcionar a segurana aos competidores e aos demais
usurios; para tal, destacando PM em motocicletas ou outras viaturas, as quais iro
frente, ao lado e retaguarda dos atletas.
(b) Normalmente, tambm so realizadas escoltas ao "Fogo Simblico da
Ptria", cuja atividade dos PM praticamente a mesma das competies desporti-
vas.
4) Escolta de cargas excepcionais - Quando um veculo for transportar car-
ga, que por exceder s dimenses estabelecidas pela legislao de trnsito, por
suas caractersticas ou por seu acondicionamento irregular nas partes externas do
veculo vier a constituir risco segurana do trnsito, haver necessidade de escol-
ta para que circule. Nos casos previstos na legislao de trnsito, o policiamento de
trnsito deve exigir a apresentao da permisso especial, expedida pelo rgo de
trnsito que jurisdicione a via, verificando se foi autorizada com ou sem escolta ou
outras exigncias, conforme o excesso apresentado. Na execuo destas escoltas,
a atividade do policiamento visa evitar que haja risco segurana dos usurios,
bem como que a fluidez do trnsito no seja prejudicada.
(a) Para atender a estas finalidades, so destacadas viaturas
retaguarda e/ou frente do veculo que transporte a carga, para sinalizar
devidamente sua circulao e orientar o trnsito, fazendo as interdies e desvios
necessrios. s vezes, a escolta retardada em horas e at dias, ou feita por
lance (circula 5 km e depois pra nos acostamentos), dependendo das condies
da via e da intensidade do trfego, para facilitar a fluidez do trnsito e evitar
congestionamentos, salvo se a carga, pelo valor ou por importncia para a
economia e segurana nacionais, no puder ser retardada.
(b) A colocao da viatura, bem como a sua distncia do veculo transpor-
tador, varia de acordo com o tipo de carga e excesso (lateral, longitudinal (traseira),
altura e peso). Ao transpor por passagens inferiores, redes de energia eltrica, fios
telefnicos etc., o PM desloca-se frente para observar se a carga mais baixa
que o obstculo.
(c) A distncia da viatura varia de conformidade com o tipo de carga e em
razo do traado e desnvel da via, contudo jamais dever ser permitida a introdu-
o de outros veculos entre os batedores e o transportador.
200
(d) A mesma atividade desenvolvida quando de escolta de comboios mi-
litares.
d).Consideraes Gerais
1) Resta finalizar que o objetivo principal da escolta a "segurana de to-
dos", portanto, ainda que determinadas escoltas gozem de prioridade de trnsito, o
PM batedor deve ter o bom senso necessrio para, com cautela, realizar sua mis-
so sem que envolva outros veculos em acidentes.
2) Batedores motociclistas podero ser empregados como reforo ou substi-
tuindo viaturas de escolta, desde que o trecho a ser percorrido e as condies at-
mosfricas e de visibilidade ofeream segurana para esse tipo de veculo.
3) Na escolta, em permetro urbano, as distncias sero reduzidas, de acor-
do com o volume de trnsito ao longo do itinerrio. De maneira geral, so observa-
das as distncias indicadas nas figuras anteriores.
4) Na escolta em rodovias, as viaturas observam maior distncia, de acordo
com as condies tcnicas da pista de rolamento. De maneira geral, so observa-
das as distncias constantes das figuras anteriores. A viatura "fecha-comboio" des-
loca-se o mais prximo possvel da ltima viatura do comboio, observando os limi-
tes de segurana e no permitindo ultrapassagens.
5) A velocidade da escolta deve ser compatvel com a segurana e obedecer
sinalizao, particularmente:
(a) diante de escolas, hospitais, estaes de embarque e desembar que,
vias estreitas ou onde haja grande movimentao de pedestres;
(b) nos cruzamentos no sinalizados, quando no estiver circulando em vi-
as preferenciais;
(c) quando houver m visibilidade.
5.5.0 Dos Fatores Adversos Segurana e Circulao
5.5.1 Conceito e generalidades
a. Conceito
1) Entende-se por fator adverso qualquer obstculo livre circulao de ve-
culos e pedestres, que cause risco segurana ou prejuzo fluidez do trnsito.
2) Ao do PM
(a) Prevenir: evitar mal maior, sinalizando o local e socorrendo
vtimas, se houver, e ainda, impedindo o acesso de curiosos.
(b) Descongestionar: aliviar a situao do trfego, efetuando cortes e des-
vios necessrios, orientando os condutores e pedestres.
(c) Solucionar: remover o obstculo ou providenciar a sua remoo, acio-
nando o rgo competente para faz-lo.
- Ao remover o obstculo pessoalmente, o PM utilizar meios de fortuna
ao seu alcance, bem como o auxlio de usurios e seus veculos.
- A comunicao com autoridade, rgo, instituio responsvel, Corpo
de Bombeiros ou outros meios de socorro, ser feita diretamente ou atravs do
Centro de Operaes ou das BOp.
- Enquanto estiverem sendo adotadas providncias pelos rgos ou ins-
tituies responsveis, o PM deve prestar auxlio, objetivando garantir o livre aces-
so e a indispensvel segurana do pessoal e material empregados.
201
5.5.2 Fatores adversos mais freqentes
a).Sinalizao incorreta, insuficiente ou defeituosa
1) Falta de condies essenciais
Quando, por qualquer circunstncia, a sinalizao no se apresentar de forma cor-
reta ou suficiente ou, ainda, no atender a uma das condies essenciais, o PM
deve, inicialmente, suprir a deficincia, por meio de gestos, sons, sinalizao de
emergncia ou de fortuna e solicitar, com a possvel urgncia, as providncias ca-
bveis ao rgo competente.
2) Semforo defeituoso
(a) Quando o semforo apresentar defeito, com lmpadas queimadas ou
desligado por falta de energia eltrica, o PM deve passar a controlar o trfego, efe-
tuando os cortes necessrios atravs de gestos e sons, solicitando ao rgo de
trnsito responsvel os devidos reparos.
(b) Se o defeito do semforo no afetar todas as fases, o PM deve atentar
para as fases defeituosas, substituindo-as por gestos e sons, orientando as corren-
tes de trfego.
b). Obras
1) Fiscalizao
(a) Qualquer obra que se realize sobre a pista, calada, canteiro ou acos-
tamento, que interfira na fluidez ou segurana do trnsito, deve merecer ateno
constante do PM, principalmente quanto sinalizao, existn- cia e observncia
de autorizao.
(b) Na falta, insuficincia ou incorreta colocao da sinalizao exigida, o
PM deve solicitar ao responsvel pela obra que a providencie, comunicando a falta
autoridade responsvel.
c).Cargas na pista
1) Em sendo identificado o veculo que causou o derramamento, deve ser
solicitado ao condutor que sinalize ou remova a carga, adotando-se as providncias
previstas no Cdigo Nacional de Trnsito.
2) Oleosas - Tratando-se de carga, cujo derramamento torne a pista escor-
regadia, o PM deve sinaliz-la, desviando o trnsito de veculos do local e providen-
ciar. ou solicitar ao rgo responsvel a lavagem ou a cobertura da pista por terra
ou areia.
3) Combustveis - Caso a carga derramada seja combustvel, deve ser proi-
bida a circulao de veculos e pessoas no local, pois qualquer fagulha de fsforo,
ponta de cigarro ou fasca de motor poder ocasionar incndio.
A lavagem da pista deve ser providenciada, com a mxima urgncia, junto
ao rgo responsvel.
4) Obstculos - Tratando-se de carga que constitua obstculo fsico, contra a
qual os veculos possam chocar-se e sofrer danos, o -PM deve sinalizar, -alertando
os usurios e providenciar ou solicitar a -remoo do obstculo.
d). Salincias na pista
Quando a pista apresentar salincias ou -reentrncias, o -PM deve sinalizar as
que representam risco segurana, orientar o trnsito, de forma a disciplinar as
correntes, acelerando as que se retardam pelas deficincias da pista, e solicitar os
reparos necessrios, ao rgo responsvel.
e).Veculos quebrados
202
1) o constatar a presena de veculo quebrado sobre a pista, o -PM provi-
denciar, sempre que possvel, sua remoo para o meio-fio, calada, acostamento
ou canteiro central, a fim de preservar a segurana dos demais usurios.
(a) Na impossibilidade de -rertlov-lo, deve ser providenciada a sinalizao
correta e adequada.
(b) Quando o veiculo estiver sendo consertado soabre a pista de rolamen-
to, sem que a avaria se tenha dado por motivo fortuito ou de fora maior, dessa
forma constituindo infrao de trnsito, o PM deve adotar as medidas previstas no
Cdigo Nacional de Trnsito -(CNT), lavrando a autuao cabvel.
f) Veculos abandonados
1) Preliminarmente, assegurar-se de que o abandono no se deu por motivo
de fora maior ou momentneo.
2) Aps, comunicar-se com o Centro de Operaes para verificar se no se
trata de objeto de crime, principalmente de roubo ou de furto.
(a) em se tratando de objeto de crime, o -PM aguardar, no local, as provi-
dncias do Centro de Operaes, no tocando no veculo, preservando eventuais
vestgios para a percia e preenchendo o Talo de Ocorrncia;
(b) no constatando queixa de crime, mas estando abandonado em condi-
es que faam presumir ter sido objeto de crime (chave de fenda junto ao contato,
ligao direta, quebra-vento partido etc.-), comunicar o fato Unidade Policial da
rea, preenchendo o Talo de Ocorrncia;
(c) no se tratando de objeto de crime, mas estando abandonado na via
pblica, por vrios dias, solicitar ao Centro de Operaes que providencie a remo-
o, junto ao rgo competente.
3) Os veculos e os pertences devero ser entregues, mediante Recibo ou
Auto de Apreenso, Exibio e Depsito.
g). Queda de fios
Quando houver queda de fios eltricos, principalmente de alta- tenso, o PM
deve isolar a rea, evitando o acesso de pessoas ou veculos, orientar o trnsito,
desviando-o, e solicitar o comparecimento do rgo ou instituio responsvel para
sanar a irregularidade.
h). Queda de rvores
Nos casos de queda de rvores ou de seus galhos sobre a pista, o PM deve
sinalizar, orientar o trnsito e providenciar ou solicitar ao rgo responsvel para
que efetue a remoo.
i).Animais na pista
1) Os animais mortos, que estiverem sobre a pista, devem ser prontamente
removidos para o meio-fio ou, na impossibilidade, sinalizados, solicitando-se ao
rgo responsvel que proceda a sua remoo.
(a) Tratando-se de animais vivos, principalmente de grande porte, o PM
deve procurar afast-los da pista ou apreend-los, solicitando, ao rgo respons-
vel, o recolhimento.
(b) Se o animal estiver raivoso, solicitar a presena do rgo competente.
j).Incndios
1) Solicitar ao Centro de Operaes o comparecimento do Corpo de Bombei-
ros. Coordenar o desvio do trnsito, remover ou ordenar aos condutores que retirem
os veculos das proximidades, de forma a isolar a rea para permitir o acesso e o
trabalho do pessoal de socorro e extino.
203
2) Coordenar, na rea do sinistro, o trnsito das viaturas de emergncia, tais
como viaturas do Corpo de Bombeiros, Ambulncias, Caminhes-tanque dos r-
gos de apoio, etc.
l). Desabamentos
Procurar socorrer as vtimas, acautelando-se para no agravar a situao,
solicitar o comparecimento do Corpo de Bombeiros, -isolar a rea, afastando curio-
sos, orientar o trnsito, desviando-o, remover ou ordenar aos condutores para reti-
rarem os veculos das proximidades, facilitando o acesso e o trabalho das equipes
de socorro e salvamento.
m). Inundaes
Solicitar a presena do Corpo de Bombeiros,- evitar o acesso de pessoas e
veculos s reas -alagadas, orientar e desviar o trnsito, socorrer e remover -
ilhados.
n). Lama
Ao constatar a existncia de lama sobre a pista, o -PM deve sinalizar o local,
orientando o trnsito, desviando os veculos ou fazendo com que circulem em velo-
cidade reduzida, bem como solicitar ao rgo responsvel a lavagem ou raspagem
da pista.
5.6.0 Tcnicas Especficas
5.6.1 -lnterceptao e abordagem de condutores
a). A p
1) captar a ateno do condutor;
2) dar tempo e espao ao condutor para que realize as manobras
necessrias que -estamos ordenando (de acordo com a situao topogrfica, esta-
do do terreno e velocidad(e),
b).Em viaturas
1) colocar-se ao lado esquerdo do condutor;
2) captar a ateno -(sirene, -groflex, luz, buzin(a);
3) determinar onde, quando e como parar ou reduzir a velocida-
de.
c).Movimentos durante o dia
1)-adentrar a pista com cuidado (estando atento, para desviar-se do vecu-
lo);
2) verificar se o condutor percebeu sua inteno ou presena;
3) elevar o brao direito, com a mo espalmada para a frente, na
vertical, brao esquerdo na horizontal, mo -espalmada para a frente ou com o
dedo indicando onde parar.
d).Movimentos durante a noite
1) posio, idem ao dia;
2) usar a lanterna de mo para captar a ateno do condutor
(pisca-pisca, girando em pequeno circulo, apontando para o solo dois -metros adi-
ante, evitando ofuscar);
3) indicar o acostamento com o facho de luz.
e). Cuidados
1) Aproximar-se do veculo pela retaguarda;
2) observar os ocupantes, seus gestos e o interior do veculo;
204
3) tomar cuidado, em vista do resto do trfego;
4) evitar distraes-,
5) nunca entrar no carro do infrator;
6) parar a viatura na retaguarda;
7) sair com calma da viatura, j planejando o que vai fazer,
protegendo-se usando a porta;
8) manter o rdio ligado com volume aumentado:
9) manter o motor funcionando, se o afastamento for pequeno;
10) desligar, engrenar e fechar o veculo, se o afastamento for longo ou on-
de perca de vista a viatura;
11) colocar-se junto lateral esquerda do veculo para evitar atropelamentos
provenientes de golpes com a porta dianteira, e
12) noite, determinar que se acendam as luzes internas, apague as exter-
nas e desligue o motor; -isto antes de qualquer medida no caso de haver suspeitas.
5.6.2 Fiscalizao de veculos
a). Critrios
1) Para execuo da fiscalizao, o -PM, inicialmente, deve fazer uma tria-
gem, selecionando os veculos que dela mais necessitem.
(a) Nesta seleo, alguns critrios devem ser -adotados, entre os
quais:
- veculos no identificados;
- veculos avariados;
- veculos em mau estado de conservao;
- condies de segurana da carga;
- condies de segurana dos passageiros;
- ano de fabricao do veculo;
- condutores indecisos; e
- elementos suspeitos no interior do veculo.
(b) Com a utilizao desses critrios, apenas visualmente, durante a apro-
ximao dos veculos, o -PM tem condies de selecionar aqueles que mais neces-
sitam de fiscalizao.
2) O local da fiscalizao deve ser, prvia e convenientemente, escolhido e
sinalizado de forma a serem ordenadas as correntes de trfego, fazendo com que
os veculos trafeguem em velocidade reduzida.
3) O responsvel pela equipe de fiscalizao deve montar um esquema de
segurana do pessoal empregado, de acordo com as normas vigentes e necessi-
dades locais.
b). Aspectos gerais da fiscalizao
1) O PM deve, permanentemente, estar atento s condies de segurana
dos veculos em circulao, para bem desempenhar sua atitude fiscalizadora.
2) Genericamente, ao fiscalizar o veculo, deve verificar:
(a) existncia e funcionamento dos equipamentos obrigatrios;
(b) estado de conservao e segurana do veculo (portas que no fe-
cham, folga na direo, carroceria danificada, falta de partes nos veculos, rodas
tortas ou com jogo, obstruo de viso por decalques, adesivos, falta de freios,
pneus -desgastados e eixos, etc.); e
(c) -licenciamento do veculo.
c).Particularidades
205
1) Cargas excedentes -- Nos veculos que transportem cargas excedentes
das dimenses ou nas partes externas, deve verificar as condies de acondicio-
namento da carga, se est sinalizada, se h necessidade de "escolta", se no h
risco aos demais usurios e se tal transporte est atendendo ao contido na autori-
zao do rgo de trnsito, quanto ao itinerrio, dia e horrio.
2) Cargas perigosas -- Nos veculos que transportam explosivos, combust-
veis, inflamveis ou corrosivos, ou ainda carga com perigo de cair ou derramar
sobre a pista, deve verificar as condies de acondicionamento e de segurana da
carga, risco de queda, necessidade de cobertura ou de reteno, at a regulariza-
o.
3) Passageiros em veculos de carga -- Nos veculos de carga, que transpor-
tem passageiros, tripulao ou carga sobre as carrocerias, nos ter-mos da legisla-
o vigente, deve verificar as condies de segurana do veculo e dos transporta-
dos, determinando que se acomodem melhor, sentando-se com segurana ou en-
trem na cabine, ou ainda que desam e usem outro meio de transporte. So condi-
es necessrias, entre outras,
(a) grade alta;
(b) bancos fixos;
(c) cobertura toldo;
(d) anotao no Certificado de Registro pela autoridade de trnsito, que o
veculo foi adaptado e autorizado a transportar os passageiros; e
(e) autorizao da autoridade que tenha jurisdio sobre a via.
4) Coletivos Preferencialmente, a fiscalizao deve ser efetivada nos termi-
nais (no incio da viagem), verificando-se as condies de segurana, higiene e
conforto, se necessrio, possibilitar a reteno do veculo e a sua substituio por
outro, nos casos em que as condies de segurana no permitam a circulao
sem risco aos passageiros e a terceiros.
(a) Ao longo do itinerrio, se as portas esto fechadas, se os passageiros
esto dentro do veculo, se a lotao est completa, determinando-se. parada do
veculo at que os passageiros entrem; o fechamento das portas; e
- o prosseguimento da viagem, sem parar para pegar passageiros, en-
quanto a lotao estiver completa.
(b) Nas linhas ntermunicipais no permitido passageiros em p, com ex-
ceo das linhas suburbanas, que autorizado at 24 passageiros, nos percursos
inferiores a 20 km e 18 passageiros, nos percursos com mais de 20km.
5) Txis Verificar as condies de segurana, higiene e conforto do veculo,
lacrao e aferio do taxmetro, ou uso adequado de tabelas.
6) Veculos avariados Os acidentados, quando o PM os interceptar, ou
mesmo antes de os liberar, quando no atendimento de ocorrncia, deve verificar se
as avarias decorrentes no afetaram as condies de segurana ou os equipamen-
tos obrigatrios, de forma a impossibilitar o trnsito sem risco ao condutor, passa-
geiro e demais usurios, via ou sinalizao.
(a) O PM pode autorizar o rebocamento de veculos por outro, com corda
ou cabo metlico, em caso de emergncia, atendidos os requisitos elementares de
segurana.
(b) No dever ser autorizado o reboque com corda ou cabo metlico
noite, com tempo chuvoso, neblina ou para distncia alm do local do socorro mais
prximo.
206
5.6.3 Verificao dos documentos
a). Critrios
1) A verificao de documentos, em princpio, deve ser feita em Conseqn-
cia de outra fiscalizao que esteja sendo efetuada, salvo quando o PM suspeitar
da atitude do condutor ou quando da prtica de alguma infrao.
2) No recomendvel -interceptar um veculo, unicamente para verificar os
documentos de porte obrigatrio, a no ser em operaes especficas para esse
fim.
b).Documentos obrigatrios
1) Para verificar os documentos, o PM precisa conhecer -quais so os de
porte obrigatrio, ou necessrio para situaes especiais, devendo tambm conhe-
cer os respectivos modelos, conforme prescrevem as for-mas de trnsito vigentes.
2) So documentos de porte obrigatrio de todos os condutores de veculos
-automotores:
(a) Carteira Nacional de Habilitao (CNH);
(b) Certificado de Registro e Licenciamento de Veculo; e
(c) Um documento de identidade
(3) Condutores de txis
Os condutores de txi, alm dos documentos do pargrafo anterior, devem
portar outros que sejam exigidos pela legislao municipal, porquanto compete ao
municpio regulamentar o servio de veculos de aluguel.
(4) Particularidades
(a) Em aluga-mas situaes especficas, outros documentos, enumerados
a seguir, devem ser fiscalizados.
- Circulao Internacional:
- Certificado -Internacional para Automvel;
- Permisso Internacional para Conduzir; e
- Caderneta de Passagem nas Alfndegas.
- Transporte de cargas excedentes das dimenses mximas permi- ti-
das:
- Autorizao do rgo de trnsito, com atribuio sobre a via; e Trnsito
de veculo novo:
- Da fbrica ao municpio de destino, necessrio a Licena para Trn-
sito de Veculo, aceitando-se a nota fiscal, no caso de percurso inferior a 20 km.
- No municpio de destino, ou seja, aquele onde o veculo ser licencia-
do pela primeira vez, necessria a obteno de uma autorizao para transitar,
enquanto aguarda a complementao do licenciamento, sendo admitida a nota
fiscal por dois dias teis, no horrio de expediente da repartio de trnsito, conta-
dos a partir da data de expedio.
- Veculos oficiais: Cdula de Identidade Funcional do Condutor.
- Veculos do Corpo Diplomtico:
- Carto de Identidade fornecido pelo Cerimonial das Relaes
Exteriores.
- Veculos de auto-escola:
- O aprendiz deve portar a licena para aprender a conduzir; e
- O instrutor deve portar o documento fornecido pela Repartio de
Trnsito, que o habilite para tal mister.
- Nas rodovias no permitida aula de direo.
5) Obras ou atos na via pblica
207
Para a realizao de obras ou de qualquer ato na via pblica,
necessrio que, previamente, se obtenha autorizao da autoridade competente
com atribuies sobre a via.
c).Verificao
1) O que se deve verificar, em cada uni dos documentos citados, vincula-se
s normas e aos modelos vigentes. Atualmente, adotar os seguintes procedimen-
tos:
(a) Na carteira nacional de habilitao, verificar:
- Assinatura ou chancela mecnica da autoridade -expedidora (na falta
deve ser apreendida por dvida quanto autenticidade e o portador ser encami-
nhado unidade policial da re(a).
- Nome (confrontar com outros documentos de identidade e, em caso de
dvida, conduzir o portador unidade policial da re(a).
- Exame mdico (caso esteja vencido, apresentar o condutor unidade
policial da rea e, em caso de acidente, fazer constar no histrico do boletim de
ocorrncia).
- Necessidade de uso de aparelho corretivo (caso no esteja usan-do,
constitui infrao por dirigir sem estar devidamente habilitado).
(b) Quanto ao certificado de registro de veculo, devem ser conferidas as
suas caractersticas e -verificadas as condies de autenticidade do
documento.
(c) No caso de alterao das caractersticas, deve ser lavrada a autuao
correspondente e apreendido o veculo, mediante o comprovante de recolhimento
(CR) ou auto de retirada de veculo da circulao (ARVC).
(d) No constitui alterao da cor do veculo a aposio de emblemas, es-
cudos, letreiros, -logotipos e outros recursos utilizados como -referencia ou propa-
ganda, desde que no afete a plena identificao da cor bsica e no esteja no
pra-brisa ou na parte traseira da carroceria do veculo.
(e) As caractersticas que no podem ser alteradas nos veculos so, atu-
almente:
- marca (nome do fabricant(e);
- modelo (ano modelo);
- cor;
- nmero do chassi;
- classificao;
- capacidade nominal,-
- suspenso (rebaixamento);
- pra-lamas (ampliao),
- rodas (dimetro e largur(a); e
- reservatrios de combustvel.
(f) Quanto ao Comprovante de Pagamento de -IPVA, confrontar as carac-
tersticas do veculo com os dados constantes do Certificado de Registro, obser-
vando a autenticao -mecnica referente ao recolhimento.
d).Fotocpias
A fotocpia ou pblica-forma dos documentos de porte obrigatrio, exceto a
CNH, os substituem, quando registrados na repartio de trnsito, para registro
correto.
5.6.4 Fiscalizao da Velocidade
208
a).O controle de velocidade pode ser feito de vrias formas, sendo os mais co-
muns a cronometragem, aferio atravs do radar, o controle distncia e o com-
boio de viaturas.
b).Qualquer modalidade que se empregue para controlar a velocidade, deve ser
observada a velocidade permitida para a via, atravs da sinalizao existente.
Quando no houver sinalizao, prevalece o disposto no -RCNT.
c).Cronometrassem
1) Nesta modalidade, o controle feito utilizando-se do cronmetro, bincu-
lo, e pontos de referncia. Sua operacio-nalizao prtica e segura durante o dia
e com pista seca, noite, pode-se operar em condies especiais de iluminao
dos pontos de referncia e no local de abordagem dos veculos. Para a realizao
da -cronornetragem, -deve-se observar os itens abaixo:
(a) Estabelecimento de ponto inicial e final de referncia (placa, marcas na
pista, guardas de pontes etc.) bem visveis, com distncia entre ambos de I.OOO
metros, admitindo-se at 500 m.
(b) O local de cronometragem deve apresentar boa visibilidade e que per-
mita visualizao do veculo, desde antes do ponto inicial, at 250 metros aps o
ponto final de referncia, local em que dever apresentar boas condies de abor-
dagem do veculo e onde postaro os PM cronometristas e autuadores.
(c) O cronometrista, de posse do cronmetro e binculo, procura com este
visualizar os veculos antes do ponto inicial de referncia, e aps individualizar o
que apresenta maior velocidade, acionar o cronmetro no momento exato em que
o veculo cronometrado passar pelo ponto inicial. O PM deve acompanhar o veculo
pelo binculo durante todo o percurso da cronometragem e parar o cronmetro no
preciso momento em que o veculo cruzar o ponto final da referncia, obtendo as-
sim o tempo gasto (segundos) pelo veculo no espao cronometrado e, conseqen-
temente, a velocidade desenvolvida pela frmula:
V = E -x 3.600,
T
onde:
- "E" o espao em -metros entre os dois pontos de referncia;
- 3.600 o nmero de segundos existentes na hora;
- "T" o nmero de segundos gastos pelo veculo para percorrer o es-
pao da cronometragem.
(d) Constatando que o veculo cometeu a infrao, o PM adentrar a pista
e, com toda a cautela e sinais regulamentares e bem visveis, determinar a parada
do veculo para ser fiscalizado, autuado e orientado.
d).Controle de velocidade distncia
1) uma modalidade prtica e eficiente para o controle de velocidade de ve-
culos em geral, entre dois pontos ou bases -operacionais com estaes de rdio,
principalmente noite, quando a -cronometragem dificlima e o nmero de vecu-
los diminui, o que possibilita maiores velocidades, porm, menores condies de
segurana e de visibilidade.
2) Sua operacionalizao fcil e constitui na anotao de dados -
identificadores dos veculos que se vai controlar e a hora em que passou pelo pri-
meiro ponto. A seguir, transmite-se os dados e horas ao segundo ponto, cujos PM
empenhados no controle devem ter seus relgios rigorosamente acertados. Quando
o veculo chegar ao segundo ponto, calcula-se o tempo gasto e a velocidade de-
senvolvida no percurso, a qual calculada pela frmula:
209
V -= E -x 60, onde:
T
(a) "E" o espao do percurso em que se controlou o veculo,
distncia essa dada em quilmetros;
(b) 60 o nmero de minutos existentes na hora; e
(c) "T" o nmero de minutos que o veculo gastou para fazer o
percurso.
3) Esse controle pode ser realizado a grandes distncias, mas o ideal que
no ultrapasse a 50 Km, uma vez que, em maiores percursos, os veculos podero
parar em postos de servios ou entrar em cidades ou ainda tomar outros destinos.
(e) Controle atravs de comboio de viatura
(1) Comboiar consiste em manter uma viatura circulando em velocidade
permitida ou adequada com a segurana, nos casos de m visibilidade, ocasionada
pelas condies climticas (cerrao, neblina, chuvas, etc.).
(2) um controle essencialmente preventivo e educatvo, seu objetivo
principal auxiliar os motoristas nos casos em que a visibilidade fica reduzida a
poucos metros e ainda os educar a manter velocidade compatvel com a seguran-
a, em quaisquer circunstncias, contudo, esporadicamente, passa a ser repressi-
vo, quando condutores persistem em cometer infraes, ultrapassar pela direita ou
colar na traseira da viatura "puxa-comboio".
(3) Ocorrendo a ultrapassagem e constatada que foi em velocidade su-
perior permitida, pode-se autuar por esta infrao, desde que tenha sido aferido
por aparelho tcnico ou pelo prprio velocmetro da viatura, se este estiver aferido,
rigorosamente.
f). RADAR - Rdio Decteting and Ranging
1) Atualmente, com o enorme nmero de veculos lanados no mercado e,
cada vez mais possantes, necessita o policiamento de equipamentos mais sofisti-
cados e que possibilitem a detectao de infratores, com rapidez e eficincia.
2) Para o controle de velocidade, o radar atende be-m s necessidades do
policiamento, quer pela presteza e eficincia que detecta os inmeros e seguidos
infratores, quer pela prpria aceitao dos infratores do CNT, que vm no radar a
tecnologia sem possibilidade de erros, ao contrrio da cronometragem, em que o
homem fator principal da operao e, portanto, susceptvel a erros.
3) Existem vrios modelos e marcas de radares para controle de velocidade.
H modelos que registram os veculos infratores atravs de fotografias, o que cons-
titui excelente prova, como tambm h modelos que apenas apresentam a veloci-
dade em digitais e "bips" (sons), sem qualquer registro posterior para comprovao.
Quanto operacionalizao, alguns modelos permitem o controle tanto em movi-
mento como estacionado, enquanto outros modelos operam apenas estacionados. -
Logicamente, o que vai determinar a aquisio de aparelhos mais sofisticados o
recurso financeiro disponvel, pois quanto mais sofisticado mais alto ser o preo.
5.6.5 Fiscalizao de condutores embriagados
a). Conceito
Alcoolismo o conjunto de perturbaes orgnicas e psquicas resultantes
do uso imoderado do lcool.
b) Mtodos de controle de Alcoolemia
1) Harger No ar expirado, o processo consiste em mandar o examinado so-
prar um pequeno balo de borracha e fazer esse ar passar atravs de uma mistura
210
de permanganato de potssio e cido sulfrico, oxidando o lcool que ali passa e
deve estar presente, descorando o permanganato. Este o mtodo de Harger.
Fundamentalmente, neste mtodo esto os aparelhos de ar alveolar, alcoolteste,
alcoolimitri, bafmetro; este por ser de fabricao brasileira o mais usado pela PM
(ver sua operacionalidade no artigo IX).
2) Niclox - A taxa de lcool no sangue pode ser determinada pelo mtodo
Niclox e consiste na oxidao a quente de lcool pelo dicromato de potssio, em
meio sulfrico, variando a colorao, que vai desde o amarelo at o amarelo-
esverdeado, devido formao do sulfato de sesquixido de cromo, tendo o san-
gue sido destilado, acrescentando-se ao cido pcrico.
3) Exame clnico - Realizado por mdico, tem plena validade para fins pro-
cessuais e para as penalidades previstas para o trnsito, desde que seja fornecido
laudo mdico.
c). Amparo legal
A legislao atual probe a todo condutor dirigir em estado de embriaguez
alcolica ou sob o efeito de substncias txicas de qualquer natureza, estipulando
como penalidade multa do Grupo 1 e apreenso da CNH. Oito decigramas ou mais
de lcool por litro de sangue constitui prova de que o condutor se acha sob influn-
cia de estado alcolico.
d) Providncias
1) Aps constatar que o condutor est dirigindo com nvel acima ou igual a 8
decigramas de lcool por litro de sangue, o PM dever:
(a) autu-lo;
(b) preencher o relatrio apropriado;
(c) encaminhar o condutor ao Distrito Policial, para as demais
providncias.
e).Recomendaes bsicas
1) Realizar o teste somente 15 minutos aps a ltima libao alcolica.
2) O cido usado para o teste corrosivo, no deixar cair sobre a pele rou-
pas, e aps o teste jog-lo em gua corrente e lavar as mos.
3) Resta finalizar que o lcool exerce efeitos diferentes no organismo de
pessoas tambm diferentes, que a mesma quantidade de lcool pode acarretar.
Resume-se na tabela abaixo a porcentagem de lcool que contm determinadas
bebidas e quantos gramas de lcool poder-se- constatar, por litro de sangue, na
pessoa que a ingerir, o que por sua vez, poder ter uma pequena variao, confor-
me a quantidade de sangue que a pessoa possui em seu corpo, e esta quantidade
de sangue proporcional ao peso da pessoa.
Espcie Porcentagem
de lcool
Quantidade Milmetros Gramas - Litros
de sangue
Whiskey e Gin 40% Uma dose 50 de 0,20 a 0,25
Brandy 34 a 48 % Uma dose 50 de 0,20 a 0,25
Cherry
Vinhos
16 a 20 %
Uma dose
50 de 0,05 a 0,15
Licores 34 a 50 % Uma dose 50 de 0,15 a 0,25
Run 50 a 59 Uma dose 50 de 0,25 a 0,30
Cerveja 02 a 06% 1 Cerveja 600 de 0,30 a 0,40
Cachaa e outros
destilados
40 a 60% Uma dose 50 de 0,20 a 0,25
211
destilados
5.7.0 Da Aplicao de Penalidades
5.7.1 Infrao
a).Considera-se infrao de trnsito a inobservncia de qualquer preceito do
CNT, RCNT ou Resoluo do Conselho Nacional de Trnsito.
5.7.2 Penalidades
a). O responsvel pela infrao fica sujeito s seguintes penalidades:
1) advertncia;
2) multa;
3) apreenso da CNH;
4) cassao da CNH;
5) remoo do veculo;
6) reteno do veculo; e
7) apreenso do veculo.
b). As infraes de trnsito sero notificadas mediante tales numerados, pre-
enchidos no ato pelo PM.
Sempre que possvel, o PM dever apresentar a autuao ao infrator para
assinatura, como prova de recebimento da notificao, contudo o infrator no pode
ser obrigado a assin-la no cabendo nenhuma providncia pela recusa.
c).A advertncia ser aplicada verbalmente pelo PM, quando em face das cir-
cunstncias, entender involuntariamente e sem gravidade, infrao punvel com
multa classificada nos grupos 3 e 4.
5.7.3 Da apreenso de documentos
a).A apreenso da CNH ou de qualquer outro documento deve cingir-se
aos casos previstos na legislao de trnsito.
1) A Carteira Nacional de Habilitao s pode ser apreendida pelo
PM nos seguintes casos:
(a) suspeita de autenticidade;
(b) aps deciso fundamentada da Autoridade competente.
- se o exame estiver vencido, no cabe autuao nem apreenso pela
PM e sim a apresentao do infrator Unidade Policial da rea. Cabe observar que
o carto de sade Oficial Aviador ou Piloto Civil, no perodo de sua vigncia, substi-
tui os exames de sanidade fsica e mental e o -psicotcnico.
b). Os documentos relativos ao licenciamento do veculo (Certificado de Regis-
tro e Comprovante de Pagamento do IPVA), bem como qualquer outro documento
que for exigido por lei ou regulamento, s poder ser apreendido pelo PM no caso
de dvida quanto a sua autenticidade.
c). A apreenso s poder ser efetuada pelo PM, mediante recibo que compro-
ve o recolhimento do documento.
5.7.4 Da remoo do veculo
a). A remoo do veculo consiste na sua transferncia de um local, onde se
encontre dificultando o trfego e oferecendo risco segurana do trnsito ou con-
trariando as normas de estacionamento, para outro onde no cause prejuzo
212
segurana e fluidez do trfego, ou onde fique sob a guarda da administrao pbli-
ca.
b). Quando o condutor estiver presente, o PM, aps lavrar a autuao cabvel,
solicitar que ele proceda remoo do veculo e, em caso de negativa, requisitar
o guincho para faz-lo, conduzindo, a seguir, o infrator Unidade Policial da rea.
c). Quando o condutor estiver ausente, o veculo deve ser recolhido ao ptio, a
fim de possibilitar a sua guarda.
d). Nos casos de remoo, quando o condutor se fizer presente, dispondo-se a
remover o veculo, a nica providncia cabvel a autuao referente ao estacio-
namento irregular, permitindo-se ao condutor que remova o veculo, mesmo que
tenha sido solicitado o guincho, ou que este j tenha alado o veculo.
5.7.5 Da reteno do veculo
a) A reteno do veculo consiste na sua paralisao no local em que se verifi-
cou que ele no preenche os requisitos necessrios para circular, ou quando o
condutor no apresente as condies exigidas para dirigi-lo.
b) No sendo possvel sanar prontamente a causa da reteno, o
veculo poder ser removido e retirado de circulao.
c).Uma vez sanada a irregularidade que resultou na retirada da
circulao, o veculo ser imediatamente liberado.
5.7.6 Da apreenso do veculo
a).A apreenso do veculo consiste em retir-lo de circulao por no preen-
cher os requisitos legais, efetuando-se o recolhimento nos ptios previamente esta-
belecidos.
b) Sanada a irregularidade que motivou a apreenso, o veculo dever ser ime-
diatamente liberado.
5.7.7 Impedimento
a).A apreenso do veculo no se dar enquanto estiver transportando passa-
geiros, carga perecvel ou carga passvel de causar danos ordem pblica, exceto
nos casos em que a circulao do veculo esteja pondo em risco a segurana de
pessoas, ou causando danos via e sinalizao.
5.7.8 Recibo e precaues
a). Sempre que o PM recolher documentos ou veculo, deve preencher o im-
presso apropriado: comprovante de recolhimento ou auto de retirada de veculo da
circulao (ARVC).
1) No CR ou ARVC consignar o fato, os dados do veculo, do proprietrio e
do condutor e o motivo determinante da providncia.
2) Em se tratando de veculo, deve ainda consignar as avarias existentes, o
estado de conservao, o rol de pertences e os acessrios que nele se encontrem.
3) Ao receber ou entregar o veculo, os responsveis pela remoo e guarda
devem conferir os dados constantes do CR ou ARVC, recibando-o, com a finalidade
de salvaguardar responsabilidade em eventuais casos de extravios de pertences e
aparecimento ou agravamento de avarias.
b).Em princpio, o recolhimento de veculo deve ser feito pelos guinchos dis-
posio do rgo fiscalizador e para os ptios previamente determinados.
213
-Aceita-se que o condutor ou o responsvel pelo veculo, quando devi-
damente habilitado, proceda ao recolhimento se assim o desejar e o veculo apre-
sentar condies de segurana para tal.
c). Antes de recolher um veculo, o PM deve certificar-se junto ao Centro de
Operaes se no se trata de objeto de crime, principalmente de furto ou de roubo.
d).Antes do recolhimento, procurar convencer o condutor ou responsvel para
que retire tudo o que estiver no veculo e puder ser facilmente subtrado, a fim de
aliviar o patrimnio a ser guardado.
e).Quando o condutor ou responsvel estiver presente, por ocasio do recolhi-
mento do veculo, deve ser orientado sobre como proceder para liber-lo.
f).As providncias enumeradas neste Captulo s podero ser adotadas com
estrita observncia das prescries legais vigentes e quando expressamente previs-
tas.
g) No podem ser removidos, retidos e nem apreendidos, por fora de acordos
internacionais, os veculos de Representaes Estrangeiras, abrangendo:
1) veculos do Corpo Diplomtico (CD e CMD);
2) veculos do Corpo Consular (CC ); e
3) veculos de Organismos Internacionais (OI).
5.8.0 Atendimento dos Acidentes de Trnsito
5.8.1 Procedimentos gerais
a).Em um local de acidente, vrios so os procedimentos peculiares a cada ca-
so, mas como regras gerais, o PM deve:
1) verificar primeiramente se h vtimas, socorrendo-as ao pronto-socorro ou
Hospital mais adequado e, se for o caso, inclusive, aplicar socorros de urgncia no
prprio local;
2) sinalizar o local, evitando, em conseqncia, novos acidentes. Dependen-
do do local (desnvel, curva) e das circunstncias do momento (chuva, neblina,
noite), sinalizar prioritrio. Atentar para a presena de leo ou inflamveis sobre a
pista, solicitando, se for o caso, apoio do Corpo de Bombeiros;
3) remover os veculos que estejam no leito da via pblica prejudicando a
circulao ou pondo em risco a segurana, para local prximo onde no perturbem
o trnsito;
4) descongestionar o trfego e, na impossibilidade de remover os veculos,
sinalizar o local, solicitando guincho ao Centro de Operaes e orientar os demais
usurios da via pblica;
5) arrolar duas ou mais testemunhas, anotando nome, documento e endere-
o;
6) ser imparcial, no fazendo julgamento precipitado, nem comentar eventu-
ais causas do acidente com pessoas envolvidas ou terceiros;
7) lavrar as autuaes relativas s infraes que efetivamente constatou,
observando no histrico do Boletim de Ocorrncia os nmeros das autuaes e
descrio suscinta das infraes;
8) finalmente, preencher o Boletim de Ocorrncia (BO/PM).
5.8.2 Acidente sem vtimas
214
a).Nos acidentes de trnsito sem vtimas, aps preencher o Boletim de Ocor-
rncia, o PM fornece s partes o Talo Requerimento da Certido de Ocorrncia ou
as orienta de como proceder.
b).S devem ser conduzidos ao Distrito Policial da rea quando houver vee-
mentes indcios de crime ou contraveno (condutor no habilitado, embriaguez,
danos materiais dolosos, direo perigosa ou de veculo de categoria para a qual
no est habilitado, etc.); aps esta providncia, o PM est liberado.
c).Quando ao chegar ao local do acidente, o PM constatar que uma das partes
se evadiu, preencher o Boletim de Ocorrncia, com os dados fornecidos pela outra
parte, consignando esta circunstncia, orientando-a sobre como requerer a Certi-
do.
d).Quando o veculo tiver sido abandonado aps o acidente, relacionar os per-
tences encontrados, anotando testemunhas e entreg-los ao Distrito Policial da
rea, mediante Auto de Exibio e Apreenso, juntamente com o veculo.
5.8.3 Acidentes com vtimas
a).Remoo dos veculos
1) Os veculos envolvidos em acidentes de trnsito com vtimas, bem
como os mortos, devem ser removidos pelo PM, do leito da via pblica, quando
estiverem prejudicando a circulao ou pondo em risco a segurana do trnsito, por
fora da Lei Federal n O 5.970 de 11Dez73.
(a) No caso, os veculos sero removidos para local prximo, onde no
perturbem o trnsito, para ptios previamente determinados, ou para a Unidade
Policial da rea, a fim de serem examinados e fotografados pela percia.
(b) Se os veculos forem removidos para local prximo, o PM permanecer
no local aguardando a percia para fotograf-los, quando:
- no houver pessoas responsveis, devidamente identificadas (paren-
tes dos condutores ou dos proprietrios dos veculos envolvidos) que os fiquem
guardando, enquanto no chega o perito;
- no caso de haver responsveis, devem ser identificados, anotando-se
o nome, nmero de documento e endereo no histrico do Boletim, no necessi-
tando o PM permanecer no local;
- houver pessoas mortas no local;
- for acidente rodovirio.
b).Preservao do local
1) Quando o PM no determinar a remoo dos veculos ou mortos, por en-
tender que no esto prejudicando a circulao nem a segurana do trnsito, deve
preservar o local para exame por parte da percia tcnica.
(a) No caso de preservar o local ou ento de guardar os veculos para fo-
tografia e exame, o PM s estar liberado da ocorrncia aps tomar as seguintes
providncias:
- auxiliar o pessoal da percia, efetuando os cortes de trnsito necess-
rios e afastando curiosos;
-entregar os veculos s partes ou a quem sua vez fizer, desde que pa-
rente e devidamente identificado no histrico da ocorrncia;
- se for o caso, aguardar o recolhimento do veculo no local designado
pela Polcia Civil.
c). Preenchimento do Boletim de Ocorrncia
215
O PM que determinar a remoo preencher o Boletim de Ocorrncia, o qual
ser remetido, atravs do Comando de sua OPM, por meio de Ofcio, dentro de 48
horas, Unidade Policial da rea.
d).Encaminhamento das partes
1) Aps socorrer as vtimas, remover os veculos e preencher o Boletim de
Ocorrncia, o PM solicitar aos condutores e vtimas no internadas, e no sendo
caso de priso em flagrante, que compaream Unidade Policial da rea.
(a) Caso no queiram atender solicitao, o PM deve transmitir a qualifi-
cao do pessoal envolvido ao Distrito Policial da rea, contudo no lhe compete
obrig-las a irem, a menos que se trate de priso em flagrante delito.
(b) No haver priso em flagrante delito, por leses corporais ou homic-
dio culposo, para o condutor que socorrer as vtimas do acidente. e. Pertences
No havendo responsveis, o PM deve relacionar os pertences encontrados
nos veculos e nas imediaes, anotando duas testemunhas, e entreg-los na Uni-
dade Policial da rea, mediante Auto de Exibio, Apreenso e Depsito.
5.8.4 Acidentes com veculos oficiais
Nos acidentes de trnsito em que estejam envolvidos veculos oficiais, com ou
sem vtimas, devem ser -adotadas as mesmas providncias exigidas para o aten-
dimento de ocorrncia com vtimas, previsto no pargrafo anterior.
5.8.5 Acidente envolvendo composio ferroviria e metroviria
Nos eventos resultantes de atropelamento ou coliso de veculos, envolvendo
composio ferroviria ou metroviria, o PM adotar os procedimentos preconiza-
dos neste artigo, isoladamente ou em apoio aos agentes de segurana das respec-
tivas Companhias responsveis, que tambm so agentes da autoridade policial em
suas reas de atuao, conforme legislao federal.
5.8.6 Acidentes em recintos fechados de freqncia pblica
Os acidentes nesses recintos, apesar de no serem de trnsito, devem ser a-
tendidos pelo PM, como imperativo da ordem pblica, para evitar agravamento da
situao. A circunstncia de o acidente haver ocorrido em recinto fechado, deve
constar do histrico do Boletim de Ocorrncia.
5.9.0 Aprestos
5.9.1 Utilizao
a).Radiotransceptor
1) usado normalmente para:
(a) Informar ao Centro de Comunicaes sobre acidentes, congestio-
namentos e situaes de emergncia.
(b) Pedir orientao, assistncia, apoio, reforo ou socorro.
(c) Manter contato -operacional com outras fraes em patrulhamen-
to nos PCRV (BOpRv).
b). Farolete
1) Usado para:
(a ) Emitir sinais de emergncia, face a perigo atual ou iminente.
(b) Iluminar, como meio de fortuna, ainda que precariamente, local
216
de acidente.
c).Sirene usada para pedir prioridade de passagem em servio de urgncia e
alertar o condutor para que estacione.
d).Luz intermitente da viatura usada para advertir os usurios sobre a existn-
cia de qualquer situao de perigo, representada por acidente, queda de barreiras,
desvio de emergncia, obstruo provisria e outras formas de perigo.
e). Bafmetro usado para dosagem alcolica
1) Tempo de tcnica:
(a) coloca-se uma pea de boca no adaptador de metal;
(b) abre-se uma ampola teste e adiciona-se-lhe, at a marca, o
lquido reagente, esperam-se 30 segundos;
(c) manda-se o paciente encher bem os pulmes e soprar atravs da pea
at o fim da expirao (a durao do sopro dever ser no mnimo de 10 ( segun-
dos). Enquanto o paciente estiver -assoprando, manter a vlvula de reteno aber-
ta;
d) escoa-se pela torneira o ar do aparelho, at que a seta, que est presa pe-
a, alcance o primeiro trao da escala;
(e) coloca-se a ampola-teste no suporte apropriado e adapta-se-lhe o tubo
de plstico que sai da torneira;
f) abre-se a torneira para permitir o escoamento do ar atravs do
lquido da ampola-teste;
g) observa-se a soluo da ampola-teste para interromper a passa-
gem do ar quando a cor vermelha do lquido teste desaparecer e tornar-se incolor;
h) l-se na escala graduada, diretamente, a quantidade de lcool por litro de
sangue. Aps cada dosagem, adaptar nova pea (pra) de borracha no bocal, e
bombam-se 10 vezes, para que o ar atmosfrico retire do sistema qualquer vestgio
do lcool proveniente do ar expirado pelo paciente que fora anteriormente examina-
do. Assim procedendo, o aparelho estar pronto para nova dosagem.
5.10.0 Orientao de Trnsito
5.10.1 Introduo
a).As atividades de orientao de trnsito visam a alcanar nveis satisfatrios
de fluidez e segurana no trnsito, em decorrncia do estrito relacionamento entre o
PM e o usurio, as vias terrestres e a legislao de trnsito. A orientao de trnsito
manifesta-se pela utilizao de variados
meios, como palestras, boletins nos rgos de Imprensa, campanhas de educao
de trnsito, ou mesmo verbalmente, pelo PM.
b).A orientao verbal pelo PM pressupe o completo conhecimento da legisla-
o e das peculiaridades de trnsito, e exige qualificao pessoal para transmitir
ensinamentos ao usurio ou proceder advertncia. A advertncia, como instru-
mento de orientao, aplicada quando da consta-tao de infraes leves ou para
evitar o seu cometimento.
c).As palestras sero proferidas a entidades de classe, a motoristas de veculos
especficos (nibus, caminhes, txis) e a escolares. Exige preparao minuciosa e
criteriosa escolha de assuntos, diretamente ligados aos condutores desses veculos
e interesse global dos escolares.
217
d).Os boletins de rgos de Imprensa devem ser divulgados perodicamente,
em programas de rdio e televiso, ou em colunas de jornais. Destinam-se a um
tipo de pblico particularizado (motoristas de nibus, caminhoneiros, "dominguei-
ros", jovens, mulheres), abordando temas especficos para o dia, a hora e condi-
es do tempo e das vias. Cabem, s vezes, antes do desencadeamento de opera-
es especiais, divulgar-se as razes e os objetivos da operao, com o fim de
obter a espontnea cooperao do usurio.
e).Engajando rgos pblicos e entidades privadas, as campanhas educativas
de trnsito no podem prescindir da participao de todos os membros da socieda-
de. Sempre ser necessrio definir, previamente, o tipo de pblico que se deseja
atingir, para adequada seleo de assuntos e escolha dos veculos de divulgao.
O policial militar diretamente empenhado atravs do contato pessoal com os usu-
rios, proferindo palestras, distribuindo material impresso e apoiando iniciativas da
comunidade.
5.10.2 Recomendaes bsicas
a).Em qualquer das formas escolhidas para promover orientao de trnsito,
devem estar contidas as seguintes recomendaes bsicas, relacionadas com:
1) Condutor:
(a) Evitar lcool ou qualquer substncia txica, pois reduzem os reflexos,
impedindo raciocinar e agir com rapidez.
(b) Abster-se de iniciar viagens logo aps as refeies.
(c) Somente iniciar viagem quando sentir que a estafa ou sono no
impediro de conclu-Ia em segurana.
2) Veculo
(a) Antes de iniciar viagem, verificar os equipamentos obrigatrios.
limpadores de pra-brisa (existncia e funcionamento);
- espelhos retrovisores (existncia e condies de uso);
sistema de iluminao faris, lanternas, indicadores de mudana de direo, sinais
de alarme, luz de freios, faroletes (regulagem e funcionamento);
- pneus (estado e calibragem);
- silencioso (condies de uso);
- tringulo sinalizador (existncia);
-extintor de incndio (carga).
b) Conservar pra-brisa e vidros livres de qualquer etiqueta ou
similar e de objetos pendurados, que dificultem a viso de quem dirige.
(c) Certificar-se de que todas as portas esto fechando e travando
corretamente, para evitar queda de passageiros ou do condutor.
3) Documentos obrigatrios.
(a) Carteira Nacional de Habilitao (CNH);
(b) Certificado de Registro e Licenciamento do Veculo (CRLV);
(c) Documento de Identidade.
218
CAPITULO VI
Policiamento Florestal e de Mananciais
6.1.0Introduo
6.1.1 Conceito
Tipo especfico de policiamento ostensivo que visa a preservar a fauna, os re-
cursos florestais, as extenses d' gua e mananciais, contra a caa e a pesca il e-
gais, a derrubada indevida ou a poluio. Deve ser realizado em cooperao com
rgos competentes, Federais ou Estaduais, mediante convnio.
6.1.2 Apresentao
a).Abordar aspectos especficos do policiamento florestal e de mananciais, cujo
conhecimento torna-se indispensvel aos assuntos particulares, afetos a esse tipo
de policiamento.
b).O Policiamento Florestal e de Mananciais executado atravs de combina-
o das demais variveis, observados os efetivos e recursos materiais disponveis,
as vias aquteis existentes, o patrimnio florestal a ser preservado, o grau de obe-
dincia legislao de caa, pesca e florestal e outros indicativos prprios de cada
regio.
c).Fundamentalmente, se apresenta:
1) Processo: a p, motorizado, a cavalo, em embarcao e areo.
2) Modalidade: patrulhamento, permanncia, diligncia e "escolta".
3) Circunstncia. ordinrio, extraordinrio e especial.
4) Lugar: rea rural e rea urbana.
5) Durao. turno e jornada.
6) Nmero: frao elementar e frao constituda.
d).Basicamente, o Policiamento Florestal e de Mananciais ser executado em
um ponto-base (Posto de Controle Florestal - PCFlo), e em pontos base (Postos de
Fiscalizao Florestal - PFFlo), respectivamente, atravs de permanncia em par-
ques florestais, reservas biolgicas, locais de competio de caa e pesca, locais
especificamente destinados ao controle da explorao de recursos florestais e da
fauna e em outros, e patrulhamento em espao fsico que varia com a topografia, a
jornada, ndice de infraes, atribuies particulares da frao e demais particulari-
dades pertinentes.
6.1.3 Misses
a).Proceder vigilncia sistemtica, visando a:
1) proteger a fauna e a flora contra os danos, conseqentes da ao do ho-
mem ou no;
2) controlar as exploraes florestais;
3) a fiscalizao de parques e florestas;
4) proteger a fauna ictiolgica, em locais destinados a competies
esportivas e jornadas de pesca.
b). Colaborar:
1) na difuso da legislao florestal, de caa e pesca;
2) na assistncia s populaes rurais, atravs de medidas sanitrias
de cooperao;
219
3) os socorros s populaes rurais, particularmente as ribeirinhas;
4)no resgate de extraviados em florestas e montanhas.
c) Por delegao especfica:
1) exercer a Polcia Judiciria, prevista no Cdigo Florestal;
2) conceder licenas para caa e pesca amadorista.
6.2.0 Peculiaridades de Emprego
6.2.1 Procedimentos gerais
a). Atribuies das fraes:
1) localizar desmates irregulares e queimadas no programadas;
2) fiscalizar o transporte de produtos e subprodutos florestais;
3) inspecionar viaturas, visando existncia de animais e seus
produtos, instrumentos e objetos transportados em desacordo com a legislao de
caa;
4) inspecionar viaturas que possam conduzir pescadores com material em-
pregado em pesca criminosa;
5) por delegao, conceder licena para a caa e pesca amadorista;
6) combater pequenas queimadas;
7) coordenar os mutires, para apagar incndios maiores, na impos-
sibilidade de se recorrer ao Corpo de Bombeiros;
8) orientar os proprietrios rurais e companhias que possuam reas flores-
tais quanto construo de aceiros preventivos, nas pocas que antecedem as
queimadas;
9) embargar os desmates clandestinos, autuando os infratores, quan-
do for o caso;
10) inspecionar caadores e pescadores acampados, apreendendo
armas e aparelhos empregados na pesca e caa ilegais;
11) fazer recolhimento de armadilhas criminosas, na prtica da caa e da
pesca;
12) fiscalizar veculos, ao longo da estrada, que transportem produtos e
subprodutos florestais apreendendo materiais ilegais e, se for o caso, autuando os
infratores;
13) inspecionar serrarias, depsitos de lenha, carvo, madeira e demais fon-
tes de consumo de produtos e subprodutos florestais, exigindo a documentao
necessria, autuando infratores e apreendendo os produtos e subprodutos;
14) realizar vistorias de locais de desmates e queimadas;
15) imprimir ao educativa sobre derrubadas, queimadas, caa e
pesca, nos sindicatos rurais, nos clubes de caadores e pescadores, nos ginsios,
nos grupos escolares e nas escolas rurais.
6.2.2 Procediinentos particulares
a).Patrulhamento a p
1) Vantagens
(a) grande flexibilidade no cumprimento das misses;
(b) desloca-se praticamente em qualquer terreno, onde nenhum meio
de transporte capaz de deslocar-se;
220
(c) grande aproveitamento do fator surpresa, podendo surgir nos mais va-
riados pontos, inesperadamente;
(d) grande capacidade de observao e vigilncia;
(e) grande capacidade de improvisao de recursos, utilizando meios
naturais;
(f) possibilidade de contato pessoal, para orientao e represso.
2) Deslocamentos
(a) Normalmente, so realizados em picadas previamente prepara-
das para atingir pontos estratgicos com maior rapidez. Nas incurses fora das
picadas, realizadas por medidas tticas, o terreno ser simplesmente balizado para
fins de orientao evitando-se ao mximo produzir danos floresta.
- Durante o dia, os patrulheiros deslocam-se silenciosamente, afastados
uns dos outros, comunicando-se por gestos e sinais convencionais.
- Durante a noite, redobrando as medidas de segurana, utilizam sinali-
zadores luminosos.
- Tomar especial precauo contra armadilhas (especialmente as que
detonam armas de fogo) para a localizao de animais e insetos peonhentos e
procurar discernir rudos vindos do interior da mata e interpret-los.
- Nos deslocamentos em locais onde estejam ocorrendo litgios, ou que
sirvam de reas de homzio a criminosos, o patrulhamento acautelar-se- contra
emboscadas e providenciar:
- contato visual permanente entre os componentes da frao,
- elemento de reconhecimento distanciado, frente;
- vigilncia para espias em rvores;
- aes preestabelecidas para eventualidades.
3) Observao de vestgios
(a) Os componentes da patrulha observam determinados vestgios denun-
ciadores da presena de pessoas, tais como:
- posio da vegetao, as folhas da vegetao indicam o sentido do
deslocamento de pessoas no interior da mata;
- marcas e rastros denunciam o sentido do deslocamento e a presena
de pessoas ou animais utilizados nas penetraes;
- presena de orvalho: a passagem de pessoas pela manh retira o or-
valho das folhas da vegetao e posiciona o sentido do deslocamento.
b).Patrulhamento montado
1) Vantagens
(a) mdia mobilidade;
(b) cobre espao fsico relativamente grande, conforme a andadura
determinada e a urgncia da misso;
(c) bom rendimento, mesmo em terreno acidentado e em dias chuvo-
sos;
(d) permite melhor observao, face estar o patrulheiro mais eleva-
do;
(e) permite jornada mais longa, pela facilidade de transporte, tanto
de suprimento, como de equipamento;
1) facilidade na transposio de cursos de gua, de pequena profundidade,
e outros obstculos.
2) Deslocamento
(a) O patrulhamento montado normalmente se utiliza de estradas e cami-
nhos para cobrir seu itinerrio com maior rapidez.
221
(b) Nas florestas mais densas, possvel o delocamento, por picadas bem abertas. Nas -
reas impraticveis penetrao a cavalo, as verificaes e abordagens sero feitas a p.
(c) Conforme a durao prevista, a frao dever levar unia montada extra para transporte
de suprimento, equipamentos e para emergncias.
(d) Nos deslocamentos em locais onde a segurana da frao esteja -ameaada, desloca-se
um -patrulheiro frente, para reconhecimento do percurso.
(e) O deslocamento da patrulha normalmente dever ser efetuado a passo.
3) Observao e interpretao de vestgios
No deslocamento, os patrulheiros observam vestgios denunciadores da
presena ou passagem de pessoas, utilizando em seu favor a vantagem de se
situarem em um plano mais elevado que favorece a visagem. Os artifcios e ardis
utilizados pelos infratores devem ser considerados, cabendo ao Comandante da
patrulha determinar as verificaes necessrias.
4) Abordagem
A patrulha a cavalo procede s abordagens no interior da mata, observan-
do os princpios j determinados para tal.
c).Patrulhamento motorizado
1) Vantagens
(a) grande mobilidade e eficincia para patrulhar grandes espaos, em
pouco tempo;
(b) capacidade de transportar equipamentos pesados a longa distncia e
em curto tempo;
(c) possibilita ampla movimentao, sem desgaste fsico.
2) Deslocamentos
(a) Realizados atravs de itinerrios previamente estabelecidos.
(b) No patrulhamento, o itinerrio poder ser alterado para atendi-
mento a queixas, denncias sobre irregularidades existentes e outros casos fortui-
tos, desde que no implique em prejuzo total misso principal.
d).Patrulhamento aqutico (em embarcao)
1) Vantagens
(a) facilidade no exerccio da vigilncia e inspeo quanto proteo flo-
restal ciliar, de caa e pesca, ao longo dos rios, lagoas, lagos artificiais, naturais,
orla martima e mar territorial;
(b) permite maior rigor na fiscalizao das reservas florestais, considera-
das de preservao permanente, s margens dos cursos d' gua, particularmente na
falta de estradas que margeiam os leitos dos rios;
(c) permite detectar armadilhas para as -faunas aqutica e silvestre.
2) Deslocamentos
(a) Ao longo dos rios, atentar para as margens, a fim de identificar
locais de derrubadas, queimadas e armadilhas criminosas de caa e
pesca.
(b) Cuidados especiais quanto existncia de pedras, tocos, galhadas de
rvores mortas, espinhis, cabos de ao e redes de pesca que so atravessadas,
com muita freqncia, nos leitos dos rios, impedindo o livre trnsito dos peixes e
criando srios perigos navegao.
(c) Quando realizados em rios navegveis, cuja largura seja superior a 300
metros, e o calado da embarcao o permitir, sero feitas prximo margem, a fim
de que toda e qualquer armadilha existente nas mesmas seja localizada e recolhi-
da.
222
(d) Em lagoas e lagos artificiais, o deslocamento ser feito, tendo em vista
principalmente as margens fazendo o seu contorno.
(e) A velocidade de deslocamento deve ser compatvel com as condies
de navegao, de modo a oferecer segurana e boa visibilidade.
(f) Em princpio, o patrulhamento em embarcao deve ser executa-
do por frao constituda.
(g) Redobrar as medidas de segurana quando em patrulhamento noturno.
(h) Evitar transposio de locais perigosos, tais como corredeiras, estrei-
tos, cachoeiras etc.
e).Patrulhamento areo
1) Vantagens
Permite amplo reconhecimento (detectar queimadas, desmates, acampa-
mentos e outros tipos de ao predatria) em curto espao de tempo, cobrindo
grande rea fsica.
2) Deslocamentos
Efetuados de acordo com as normas reguladoras do trfego areo, dando-
se preferncia para aeronaves do tipo helicptero, dada a sua versatilidade na
decolagem e aterrisagem.
6.3.0 Tcnicas Particulares
6.3.1 Vistorias para queimadas
a).Para a realizao de vistorias em locais de queimadas, o PM percorrer com
o requerente a rea a ser queimada, fazendo:
1) inspeo pormenorizada do aceiro construdo, com largura mnima de 6
metros;
2) verificao da possibilidade de propagao, em vistas das condies to-
pogrficas e meteorolgicas da regio;
3) verificao da finalidade da queimada e qual o tipo de material combust-
vel existente na rea;
4) verificao, em caso de propagao, das possibilidades de obteno de
auxlio existente nas proximidades;
5) verificao, em caso de propagao, quanto a danos materiais que o in-
cndio poder causar antes de ser dominado;
6) verificar se o requerente fez o aviso prvio aos confinantes, com 24 horas
de antecedncia, e se os mesmos esto em regime de alerta, para acorrerem em
caso de emergncia;
7) constatao da existncia de equipe de vigilncia.
b) Depois do estudo do local, analisando os elementos colhidos, o PM decidir
se a queimada poder ser feita, em que ponto dever ser ateado o fogo e quando
poder ser colocado.
c).Em sendo possvel, o PM permanecer no local at o final da queimada, reti-
rando-se somente aps constatar que no existe perigo de propagao do incndio.
6.3.2 Abordagem em locais de desmate
a).De posse da licena de desmate, o PM verificar sua autenticidade, e se es-
t dentro do prazo concedido.
223
b).Aps, percorrer o local de desmate em companhia do responsvel, verifi-
cando se no existe irregularidades, tais como:
1) se a rea desmatada no ultralpassa a rea concedida;
2) se o desmate est sendo feito dentro das normas tcnicas;
3) se as essncias nobres (madeira de lei) no esto sendo cortadas
para lenha ou carvo;
4) se a floresta em desmate ou desmatada realmente suscetvel de
ser explorada;
5) se as rvores que hospedam abelhas incuas esto sendo poupadas;
6) se a rea de reserva florestal obrigatria est sendo preservada;
7) se o desmate est sendo feito sem o uso de fogo, a fim de facilitar
regenerao natural da floresta;
8) se o desmatamento no abrange rea de preservao permanente,
no todo ou em parte.
c) Ocorrendo irregularidade em rea de desmate autorizado, o PM
procurar corrigi-Ia, orientando o responsvel pela execuo do trabalho, proce-
dendo a autuao regular, o embargo administrativo, apreendendo, se for o caso, o
produto e subproduto florestal, bem como as ferramentas utilizadas, comunicando
autoridade competente para ulterior cassao da autorizao.
d).Ocorrendo desmatamento em rea no considerada de preservao perma-
nente, sem autorizao da autoridade competente, o PM proceder na conformida-
de com a letra anterior.
e).Ocorrendo desmatamento em rea considerada de preservao permanente,
o PM far autuao regular, o embargo, apreendendo o produto e subproduto flo-
restal, bem como as ferramentas utilizadas, prendendo em flagrante o responsvel
pelo desmatamento, ou fazendo chegar ao conhecimento da autoridade competen-
te, no mais curto prazo possvel, para que sejam -adotadas as providncias proces-
suais cabveis, com vistas apurao de responsabilidade pela contraveno pe-
nal. O PM adotar todas as precaues necessrias para que o material apreendido
(produtos, -subprodutos, objetos, instrumentos, etc.) seja mantido sob a guarda e
vigilncia de pessoas idneas, com vistas a instruir Inqurito Policial Florestal ou
Processo Contravencional, como tambm providenciar para que no seja alterado
o local da infrao.
f).Ocorrero casos em que o PM encontrar local de desmate abandonado.
Nessa hiptese, diligenciar para apurar o responsvel, tomando as providncias
adequadas para cada caso, conforme letras "c", "d" e "e" anteriores.
6.3.3 Abordagem em locais de queimadas
a) O PM far o patrulharnento nos locais de queimadas, conforme o previsto
para os locais de desmates, lembrando-se que no permitido
efetuar queimadas de reas florestais. O uso de fogo ser permitido nos seguintes
casos:
1) nos campos, para formao de pastagens;
2) limpeza da rea para a agricultura, depois do aproveitamento dos
produtos e subprodutos extrados do local;
3) limpeza de rea destinada a florestamento e reflorestamento.
b).Em qualquer dos casos, o proprietrio depender de autorizao das autori-
dades florestais e somente poder proceder queimada, depois das seguintes
providncias:
224
1) estar de posse da licena;
2) fazer aceiramento da rea;
3) dispor de pessoal suficiente para dominar incndio em caso de
emergncia (o fogo saltar o aceiro);
4) avisar previamente aos -confinantes, com 24 horas de antecedncia, no
mnimo, para que se mantenham alertas e em condies de prestar auxlio em
defesa de sua propriedade, em caso de emergncia. O fogo dever ser posto, pre-
ferencialmente, noite, a fim de aumentar a margem de segurana dos aceiros e
causar menor dano possvel ao solo;
5) manter vigilncia permanente na rea, patrulhando os aceiros
enquantodurar a queimada.
c).No local da queimada, o PM far inspeo, tendo em vista os dados
acima. Notando irregularidades, proceder segundo as circunstncias, corrigindo-
as, ou adotando providncias para combater o fogo, usando os recursos da patru-
lha, convocando os homens em condies, nas moradias vizinhas. Em caso de
incndio que no possa extinguir com os recursos da prpria rea, o PM providen-
ciar os recursos necessrios para dominar ou debelar o incndio, fornecendo, na
oportunidade, os seguintes dados a localizao do incndio, a sua extenso e ou-
tros dados necessrios avaliao.
d).Depois de debelado o incndio, o PM diligenciar para apurar a origem do
mesmo, bem corno o responsvel, se houver, sendo que, era caso positivo, proce-
der a autuao regular, orientando o proprietrio, para as demais providncias que
houver por bem adotar.
6.3.4 Acampamentos de caadores e pescadores
a).A abordagem a pescadores e caadores em acampamentos visa
verificar:
1) se h autorizao do proprietrio rural para a prtica da caa ou da pesca
em seus domnios, conforme preceitua a legislao vigente;
2) se todos os pescadores e caadores possuem licenas para a pesca e
caa, respectivamente;
3) se as armas de caa esto devidamente registradas e tm licena para o
trnsito atualizada;
4) espcies e quantidades de animais selvagens abatidos;
5) se os pescados esto dentro do tamanho e peso estabelecidos em porta-
rias.
b). Tratando-se de pescadores profissionais, o PM verificar:
1) estado de conservao dos pescados, bem como o tamanho, de acordo
com as espcies;
2) matrcula de pesca profissional atualizada, expedida pelo rgo compe-
tente;
3) inscrio na colnia de pescadores da regio.
c) Quando a patrulha constatar, diretamente ou por denncia, a existncia de
armadilhas (caa ou pesca) ou qualquer outro aparelho proibido armado, assim
como atos de caa ou pesca predatrios em locais e pocas proibidas, proceder
autuao regular do responsvel, bem como a apreenso dos apetrechos.
6.3.5 Indstria, comrcio, consumo e transporte de produtos e/ou subprodu-
tos florestais
225
a). O patrulhamento, com vistas fiscalizao das fontes de consumo de pro-
dutos e subprodutos florestais consistir da:
1) verificao da procedncia dos produtos e subprodutos florestais estoca-
dos nos estabelecimentos, em conformidade com as guias florestais apresentadas:
2) verificao do registro da firma no IBAMA devidamente atualizado;
3) verificao de guias florestais para o transporte de produtos e subprodu-
tos florestais;
4) autuao, nos termos da legislao florestal.
6.3.6 Campanhas educativas
a).Campanhas educativas, atravs de palestras, conferncias, cartazes, folhe-
tos, concursos, gincanas, projeo de filmes e slides, visando ressaltar o valor da
flora e da fauna (alada, terrestre e aqutica), face s suas utilidades, bem como
sobre a forma correta de conduzi-Ias e perpetu-las.
b).Essas campanhas devero processar-se com maior regularidade, principal-
mente no perodo que antecede aos dias:
1) mundial do meio ambiente;
2) da rvores;
3) dos animais;
4) das aves-,
5) do protetor das florestas;
6) do pescador;
7) do ndio; e
8) outros.
c) Essas campanhas tambm devero ser intensificadas nos dias que
antecedem s pocas propcias para queimadas.
226
TRABALHOS PESQUISADOS.
1. Trabalhos Monogrficos de Oficiais dos Cursos de Aperfeioamento para
Oficiais CAO/Centro de Aperfeioamento e Estudos Superiores da Polcia Militar do
Estado de So Paulo.
2. Trabalhos Monogrficos de Oficiais dos Cursos Superiores de Polcia -
CSP/Centro de Aperfeioamento e Estudos Superiores da Polcia Militar do Estado
de So Paulo.
3. Leis e Resolues:
- Lei Fed n 5.970/73 - Acidente de Trnsito;
- Lei Fed n 6.368/76 - Lei de Txicos;
- Lei Fed n 7.716/89 - Preconceito Racial;
- Lei Fed n 7.783/89 - Lei de Greve;
- Lei Fed n 7.960/89 - Priso Temporria;
- Lei Fed n 8.072/90 - Crimes Hediondos;
- Lei Fed n 8.137/90 - Crimes Tributrios;
- Lei Fed n 6.544/89 - Licitaes e Contratos;
- Dec Est n I.990/50 - Uso de Algemas;
- Res SSP/SP n 19/74 - Boletim Esp de Ocorrncia;
- Res SSP/SP n 41/83 - Reconstituio de Delitos;
- Res SSP/SP n 154/85 - Escolta de Presos
4. Cdigos:
- Penal;
- Penal Militar,
- Processo Penal;
- Processo Penal Militar;
- Civil
227
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
APOSTILAS - Curso de Criminalstica da Academia da Polcia Civil de So
Paulo:
BOYSON, Ten Cel Willian A e outros. "Military Review" (diversos Artigos) -
Escola de Comando e Estado Maior do Exrcito/EUA, 1963 a 1988;
CAETANO, Marcelo. Princpios Fundamentais de Direito Administrativo, I a
edio, 1977, Forense, Rio de Janeiro;
COSTA LOPES, Manuel Carlos da. Comentrios da Lei das Contravenes
Penais;
CRETELLA JNlOR, Jos
* Curso de Direito Administrativo, 5 edio, 1977, Forense, RJ;
* Dicionrio de Direito Administrativo, 3 edio, 1978, Forense, RJ;
* Tratado de Direito Administrativo, 1966, Forense, RJ;
* Comentrios Constituio Brasileira de 1988, vol VI, 1992,
Forense, Rio de Janeiro;
DELMANTO, Celso. Cdigo Penal Anotado - Freitas Bastos;
FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder, Ed. Globo, 1979;
FVERO, Flamini. Medicina Legal;
FERREIRA, Arnaldo Amado. Tcnica Mdico-Legal na Investigao Forense;
GROPPALI, Alexandre. Doutrina do Estado, Ed. Saraiva, SP, 1962;
LAZZARINI, lvaro.
* Direito Administrativo da Ordem Pblica, 2a edio, 1987, Forense, Rio de
Janeiro; Manual de Ensino Fundamental, Direito Administrativo, Poder de Polcia -
MEF-18-23-APMBB/SP - Imprensa da Polcia Militar do Estado de So Paulo, 1982;
* Do Poder de Polcia, Revista de Jurisprudncia do Tribunal de Justia do
Estado de So Paulo, Ed. Lex, So Paulo;
* Do Poder de Polcia na Identificao de Transeuntes, Revista de Jurispru-
dncia do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, Ed. Lex, So Paulo;
* Limites do Poder de Polcia, Publicado na Revista "0 Alferes", Academia de
Polcia Militar de Minas Gerais, ano V, 1987;
* Da Segurana Pblica na Constituio de 1988, Revista de Informao Legis-
lativa, SENADO FEDERAL, 1989, Braslia;
* Preservao da Ordem Pblica, Encontro dos Comandantes das Polcias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 1991, SP;
MACEDO SOARES, Oscar de. Cdigo Penal Militar - 2 volumes;
MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 17 a edio, 1992,
Editora Revista dos Tribunais, So Paulo;
MILLS, C Wright. O Poder e a Poltica, Editora Zabar, 1965, Rio de Janeiro;
MIRABETE, Jlio. Manual de Direito Penal, Ed. Atlas, So Paulo;
MOREIRA NETO, Dogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo, 8 a
edio, 1989, Ed. Forense, R);
NORONHA, E. Magalhes. Direito Penal, Ed. Saraiva, SP;
PESSOA, Mrio. O Direito da Segurana Nacional, BIBLIEX, Editora Revista
dos Tribunais, SP, 1971;
PORTO, Gilberto. Manual de Criminalstica, Coleo Accio Nogueira, Acade-
mia de Polcia Civil de So Paulo;
228
RIVERO, lean. Direito Administrativo, Traduo de Rogrio B. Soares, 1981,
Livraria Almedina, Coimbra, Portugal;
STATT, David A. Introduo Psicologia, Edio Harper e Row do Brasil Ltda.,
1978;
TCITO, Caio. O Abuso do Poder Administrativo no Brasil, 1959, Rio de Janei-
ro;
WAISBERG, Bonow lva. Elementos de Psicologia, Editora Melhoramentos, 12 a
edio, 1971, Rio de janeiro;
WEBER, Max. Cincia Poltica, Editora Cultrix, So Paulo, 1970.
229
NDICE ALFABTICO REMISSIVO
ASSUNTOS PAG
Abordagem e Vistoria........................................................ .................... 142
Abuso de Autoridade......................................................... .................... 045
Acidentes de Trnsito............................................................................ 117
- com composio ferroviria e metroviria........................................... .240
- com veculos Oficiais........................................................................... 240
- com vtimas.................................................................... ..................... 238
- em recintos fechados de freqncia pblica..................... .................. 240
- procedimentos gerais..................................................... ..................... 237
- sem vtimas................................................................... ...................... 238
Ao de presena.................................................................................. 024
Ao Policial Militar.......................................................... ..................... 023
Ao Pblica.......................................................................................... 024
Agentes Extintores........................................................... ..................... 100
- aplicao...................................................................... ....................... 100
- extintores...................................................................... ....................... 101
manejo................................................................................................... 103
Agresso........................................................................ ....................... 048
Antecipao........................................................................................... 027
Aplicao de penalidades...................................................................... 235
- apreenso de documentos.................................................................. 235
- apreenso de veculos................................................... ..................... 236
- impedimentos................................................................ ...................... 236
- infrao................................................................................................ 235
- penalidades.................................................................. ....................... 235
- recibo e precaues..................................................... ....................... 237
- remoo do veculo...................................................... ....................... 236
- reteno do veculo...................................................... ....................... 236
Aplicao de Polcia Ostensiva...................................... ....................... 026
Apresentao e entrega do preso.................................. ....................... 204
- locomoo................................................................... ........................ 204
Aprestos........................................................................ ........................ 240
rea.............................................................................. ......................... 020
- utilizao.................................................................... ......................... 240
Armamento................................................................... ......................... 115
- conservao em uso.................................................. ......................... 119
- limpeza aps o uso....................................................... ...................... 119
- regras de segurana..................................................... ...................... 120
- revlver................................................................................................ 118
Aspectos Legais............................................................. ....................... 027
Atividades sociais e polticas................................................................. 173
- ao do PM.................................................................. ....................... 174
- conceitos..................................................................... ........................ 173
- informaes......................................................................................... 175
Bloqueio relmpago............................................................................... 159
Busca e Apreenso........................................................ ....................... 043
230
Busca pessoal............................................................... ........................ 142
Caractersticas das atividades policiais-militares.............. .................... 023
Caractersticas do policiamento ostensivo........................ .................... 024
Casos de emergncias.......................................................................... 059
- afogamento................................................................. ........................ 080
- ameaa de desmaio.................................................... ........................ 064
- convulses.................................................................. ........................ 066
- desmaios.................................................................... ......................... 065
- estado de choque................................................................................ 064
- envenenamento................................................................................... 075
- feridas.................................................................................................. 059
- feridas no abdmen............................................................................. 060
- feridas nos olhos....................................................... .......................... 060
- feridas no trax.................................................................................... 060
- fraturas....................................................................... ......................... 074
- fraturas expostas......................................................... ........................ 074
- hemorragias difceis de estancar - tornique.................. ...................... 062
- hemorragias externas nos membros............................... .................... 061
- hemorragias internas........................................................................... 064
- hemorragias nasais...................................................... ....................... 063
- hemorragias no tronco e na cabea.................................................... 063
- parada cardaca e respiratria...................................... ...................... 068
- parada respiratria-respirao artificial......................... ...................... 066
- parto de urgncia........................................................ ........................ 077
- queimaduras........................................................................................ 069
Cerco........................................................................... .......................... 156
Classes de incndio....................................................... ....................... 100
Circunstncias de policiamento ostensivo............................................. 029
Comunicaes....................................................................................... 121
- alfabeto da ONU.................................................................................. 123
- algarismos................................................................... ........................ 123
- cdigo "Q"................................................................... ........................ 122
- definies.................................................................... ........................ 121
- siglas........................................................................... ........................ 122
- uso do microfone................................................................................. 122
Conceituao do manual....................................................................... 017
Conceituao de policiamento ostensivo........................... ................... 028
Concusso............................................................................................. 048
Conduo de preso......................................................... ...................... 161,203
Continuidade do policiamento ostensivo............................ ................... 026
Corrupo.............................................................................................. 060
Contraveno................................................................. ....................... 037
- distino entre crime e contraveno.................................................. 037
Crime............................................................................ ......................... 037
- ao privada........................................................................................ 037
- ao pblica................................................................ ........................ 037
Crimes contra a pessoa......................................................................... 171
- agresso.............................................................................................. 172
- ameaa................................................................................................ 172
- desinteligncia..................................................................................... 172
231
- homicdio.................................................................... ......................... 171
- morte sbita......................................................................................... 172
- suicdio........................................................................ ........................ 172
- tentativa de homicdio................................................... ...................... 172
- tentativa de suicdio............................................................................. 172
Crimes contra o patrimnio............................................. ...................... 172
- roubo e furto............................................................... ......................... 171
Crimes de trfico e uso de entorpecentes............................................. 052
- ao do PM................................................................ ......................... 053
Defesa Civil.................................................................... ....................... 194
- consideraes............................................................. ........................ 194
- ao do PM................................................................. ........................ 194
Defesa Pblica................................................................ ...................... 020
Desacato........................................................................ ....................... 049
Desobedincia....................................................................................... 049
Deveres do PM - Policiamento de Trnsito......................... .................. 214
- policiamento a p.......................................................... ...................... 215
- policiamento motorizado................................................ ..................... 217
- procedimentos gerais.................................................... ...................... 214
Dinmica do Policiamento Ostensivo................................. ................... 024
Diverses Pblicas.......................................................... ...................... 182
- prescries gerais........................................................ ....................... 182
- policiamento em sales de bailes................................... .................... 183
Drogas mais comuns............................................................................. 054
Efeito das drogas................................................................................... 054
Efetividade do policiamento ostensivo............................... ................... 026
Emprego lgico do policiamento ostensivo........................ ................... 027
Entorpecentes................................................................ ....................... 052
- comrcio.............................................................................................. 052
- conceito....................................................................... ........................ 052
- uso....................................................................................................... 052
Entorpecentes injetveis................................................... .................... 054
Escolta - deveres dos componentes.................................. ................... 208
Escolta de presos............................................................ ...................... 201
- normas gerais de escolta............................................... ..................... 201
Escolta de velrios........................................................... ..................... 206
Escolta em hospitais.............................................................................. 2(Y7
Estande de tiro................................................................ ...................... 120
- medidas de segurana................................................ ........................ .120
Excluso de criminalidade..................................................................... 038
Fatores adversos segurana e circulao....................................... 222
- conceitos e generalidades................................................................... 222
- fatores mais freqentes....................................................................... 223
Fiana.................................................................................................... 041
Fogo - elementos de composio................................... ...................... 095
Formas de empenho........................................................ ..................... 032
Frao constituda........................................................... ...................... 023
Frao elementar............................................................ ...................... 023
Guarda de estabelecimentos penais.................................. ................... 198
- condies gerais............................................................ ..................... 198
232
- deveres do PM............................................................... ..................... 200
- responsabilidade penal.................................................. ..................... 201
Guarda de reparties pblicas............................................................. 208
- condies gerais............................................................ ..................... 208
- mtodos e dispositivos de segurana............................... .................. 209
- relacionamento com o pblico............................................................. 209
Imunidades...................................................................... ...................... 039
lnterceptao e abordagem de condutores......................... .................. 225
- fiscalizao da velocidade................................................................... 231
- fiscalizao de condutores embriagados......................... ................... 233
- fiscalizao de veculos....................................................................... 226
- tcnicas especficas....................................................... ..................... 225
lnterceptao e abordagem de condutores-cont.............. ..................... 025
- verificao de documentos.................................................................. 028
Itinerrio de patrulhamento.................................................................... 021
Iseno do Policiamento Ostensivo.................................... .................. 027
Legalidade do Policiamento Ostensivo................................ ................. 025
Local de crime................................................................. ...................... 055
- conceito........................................................................ ....................... 055
- ao policial......................................................................................... 056
Local de risco.................................................................. ...................... 022
Manuteno de viaturas.................................................... .................... 124
- material - cuidados........................................................ ...................... 125
- generalidades...................................................................................... 124
- leo do crter - cuidados..................................................................... 124
- pneus - cuidados........................................................... ...................... 124
- reabastecimento.................................................................................. 124
- reparos de emergncia.................................................. ..................... 125
- sistema de arrefecimento - cuidados............................... ................... 124
Mtodos de extino de incndio...................................... .................... 097
Modalidades de Policiamento Ostensivo............................................... 029
Normas gerais para efetuar priso.................................... .................... 166
Objetivo do manual................................................................................ 017
Objetivo do Policiamento Ostensivo.................................... .................. 028
Ocorrncia Policial-Militar................................................. ..................... 023
Ocorrncias - descrio......................................................................... 168
Ocorrncias envolvendo FFAA, PM e PCivil....................... .................. 169
Ocorrncias especficas.................................................. ...................... 170
- com aeronaves............................................................. ....................... 170
- transporte coletivo......................................................... ...................... 170
Operao Policial-Militar........................................................................ 023
Ordem Pblica....................................................................................... 019
Orientao de trnsito..................................................... ...................... 241
- introduo............................................................................................ 241
- recomendaes bsicas...................................................................... 242
Patrulhar........................................................................ ........................ 022
Peculiaridades de emprego................................................................... 246
- procedimentos gerais.................................................... ...................... 246
- procedimentos particulares............................................ ..................... 247
Perseguio........................................................................................... 163
233
Poder de polcia..................................................................................... 018
Polcia Militar - conceito......................................................................... 018
Polcia Ostensiva............................................................. ...................... 019
Policiamento Florestal e de Mananciais............................. ................... 245
- apresentao....................................................................................... 245
- campanhas educativas........................................................................ 253
- conceito........................................................................ ....................... 245
- misses......................................................................... ...................... 246
Policiamento Ostensivo Geral............................................ ................... 019, 127
- apresentao....................................................................................... 127
- conceito......................................................................... ...................... 127
- generalidades...................................................................................... 137
- misso........................................................................... ...................... 127
- procedimentos gerais...................................................... .................... 129
Policiamento de Guarda.................................................... .................... 197
Policiamento de Guarda - cont.......................................... .................... 197
- apresentao....................................................................................... 197
- conceito........................................................................ ....................... 197
Policiamento de Trnsito.................................................... ................... 211
- abrangncias....................................................................................... 212
- apresentao....................................................................................... 211
- conceito........................................................................ ....................... 211
- misso.......................................................................... ....................... 211
Porte de arma........................................................................................ 049
Posto............................................................................ ......................... 021, 134
Praas desportivas.......................................................... ...................... 184
- conceito....................................................................... ........................ 184
- conduta do policiamento................................................ ..................... 188
- conduta do pblico........................................................ ...................... 187
- disposies gerais............................................................................... 193
- efetivo a ser empregado...................................................................... 185
- limitaes e aes do policiamento................................ .................... 192
Preservao da ordem pblica........................................ ...................... 019
Preservao do local de crime........................................ ...................... 055
Prevalncia da preveno sobre a represso................... .................... 040
Princpios das atividades policiais-militares...................... .................... 023
Priso.......................................................................... .......................... 040,168
Procedimentos bsicos.................................................. ....................... 031
- conceituao.............................................................. ......................... 031
- requisitos bsicos................................................................................ 031
procedimentos em incndios e salvamento...................... .................... 095
- como chamar o Bombeiro............................................ ....................... 095
- preveno e combate................................................... ....................... 095
- providncias antes da chegada do Bombeiro................. .................... 095
- providncias aps a chegada do Bombeiro.................... .................... 095
Procedimentos particulares............................................. ...................... 218
- eventos especiais................................................................................ 219
- terminais de transporte........................................................................ 218
Processos de policiamento ostensivo............................... .................... 029
- forma.......................................................................... ......................... 030
234
- lugar........................................................................... ......................... 030
- nmero....................................................................... ......................... 030
- tempo......................................................................... ......................... 030
Produtos florestais................................................................................. 253
- indstria, comrcio, consumo e transporte..................... .................... 253
Profundidade do policiamento ostensivo............................................... 027
Propina.......................................................................... ........................ 047
Recebimento do preso..................................................... ..................... 202
Recintos fechados de freqncia pblica.............................................. 175
- prescries gerais........................................................ ....................... 175
Regio............................................................................ ....................... 020
Regras gerais de policiamento de trnsito.......................... .................. 212
- policiamento preventivo....................................................................... 212
- princpio da legalidade................................................... ..................... 213
- sinalizao........................................................................................... 213
Relacionamento com o pblico.......................................... ................... 090
- atitude e conduta do PM................................................. .................... 091
- atividades de representao........................................... .................... 094
Relacionamento com o pblico - cont................................ ................... 090
- fundamentos........................................................................................ 090
- procedimentos diversos................................................. ..................... 093
- ritual de abordagem...................................................... ...................... 092
- uso da viatura...................................................................................... 094
- virtude.................................................................................................. 090
Resistncia..................................................................... ....................... 048
Resistncia priso........................................................ ...................... 048
Responsabilidade territorial.............................................. ..................... 026
Salvamento aqutico........................................................ ..................... 116
Salvamento em altura............................................................................ 114
Salvamento em incndio................................................... .................... 116
Salvamento terrestre........................................................ ..................... 108
Segurana pblica - conceito........................................... ..................... 018
Setor.............................................................................. ........................ 020
Sistema de policiamento.................................................. ..................... 023
Socorro de urgncia....................................................... ....................... 058
- aspecto essencial................................................................................ 058
- conceito....................................................................... ........................ 058
- objetivo......................................................................... ....................... 058
Subrea......................................................................... ........................ 020
Subsetor........................................................................ ........................ 021
Ttica policial militar........................................................ ...................... 020
Tcnica policial militar..................................................... ...................... 020
Tcnicas particulares de policiamento florestal..................................... 250
- abordagem em locais de desmate.................................. .................... 250
- abordagem em locais de queimada................................ .................... 251
- acampamentos de caadores e pescadores....................................... 252
- vistoria para queimadas................................................ ...................... 250
Tcnicas usuais de Polcia Ostensiva............................... .................... 142
Tentativa de fuga............................................................ ....................... 049
Testemunha........................................................................................... 058
235
Tipos de extintores......................................................... ....................... 101
Tipos de Polcia Ostensiva.............................................. ...................... 028
Totalidade de Polcia Ostensiva....................................... ..................... 024
Transporte de feridos..................................................... ....................... 081
Transporte manual......................................................... ....................... 082
- a p........................................................................... .......................... 085
- cadeira com duas mos............................................... ....................... 086
- cadeira com quatro mos.................................................................... 086
- cadeira com trs mos................................................. ....................... 086
- com material especializado-improvisado........................ .................... 087
- em veculo................................................................... ........................ 089
- levantamento e transporte com seis pessoas................... .................. 087
- levantamento e transporte com trs pessoas................... .................. 086
- por via area................................................................ ....................... 090
- sentado................................................................................................ 085
Transporte de traumatizados................................................................. 082
Unidade de comando...................................................... ...................... 028
Universalidade do policiamento ostensivo......................... ................... 025
Uso de algemas..................................................................................... 051
Utilizao de meios disponveis....................................... ..................... 059
Utilizao de sanitrios.......................................................................... 206
Violao de domiclio............................................................................. 042
Violncia arbitrria................................................................................. 047
Vtima consciente........................................................... ....................... 059
Vtima inconsciente........................................................ ....................... 081
Você também pode gostar
- Resumo de História Modulos 7,8,9.Documento32 páginasResumo de História Modulos 7,8,9.Rafael Martins85% (13)
- Perturbação Do Sossego - POP - PMAMDocumento4 páginasPerturbação Do Sossego - POP - PMAMRuan Alves de Araujo100% (2)
- M 16 PM Manual de Codificações de Ocorrências Da PMDocumento100 páginasM 16 PM Manual de Codificações de Ocorrências Da PMpelikkaAinda não há avaliações
- NORSOP Anexo B - Comando e SupervisaoDocumento4 páginasNORSOP Anexo B - Comando e SupervisaoAldo ComarAinda não há avaliações
- Questionario 3Documento4 páginasQuestionario 3Delcio PigattoAinda não há avaliações
- Análise geocriminal: metodologia aplicada à gestão do sistema operacional do policiamento ostensivoNo EverandAnálise geocriminal: metodologia aplicada à gestão do sistema operacional do policiamento ostensivoAinda não há avaliações
- 06 - Comunicação Social (EaDPM)Documento23 páginas06 - Comunicação Social (EaDPM)Joyce MesquitaAinda não há avaliações
- 01 Diretriz PM3 008-02-06 NorsopDocumento37 páginas01 Diretriz PM3 008-02-06 NorsopYuesley Tania100% (1)
- 13 - Processos Administrativos Da PM PDFDocumento48 páginas13 - Processos Administrativos Da PM PDFWellington LimaAinda não há avaliações
- Manual de IPM Prisao em Flagrante e SindicanciaDocumento85 páginasManual de IPM Prisao em Flagrante e Sindicanciahcdireitoestacio50% (4)
- Caderno Técnico de Abordagem de Veículos 2021Documento37 páginasCaderno Técnico de Abordagem de Veículos 2021Andressa Schimanko100% (2)
- Apostila de Escrituração Básica de Polícia Ostensiva - CtecPol - 2011-2014Documento60 páginasApostila de Escrituração Básica de Polícia Ostensiva - CtecPol - 2011-2014felipe fonseca100% (1)
- I-21-Pm Instruções para ContinênciasDocumento11 páginasI-21-Pm Instruções para ContinênciasAlex ZeraAinda não há avaliações
- Programa de Força TáticaDocumento5 páginasPrograma de Força TáticaAlex ZeraAinda não há avaliações
- Manual Força Tática 2016Documento143 páginasManual Força Tática 2016freitasjonashenriqueAinda não há avaliações
- Atividade de Polícia OstensivaDocumento64 páginasAtividade de Polícia OstensivaDenis Patricio100% (1)
- Manual de Técnicas de Policia Ostensiva PM SCDocumento98 páginasManual de Técnicas de Policia Ostensiva PM SCJefe Rubbi100% (5)
- Polícia Militar Do Estado de São PauloDocumento67 páginasPolícia Militar Do Estado de São PauloJoão Carlos AranhaAinda não há avaliações
- Legislação OrganizacionalDocumento37 páginasLegislação OrganizacionalWillian LemosAinda não há avaliações
- HenriqueMACEDO Anpocs RotaDocumento32 páginasHenriqueMACEDO Anpocs RotaRobertaAinda não há avaliações
- I - 42 - PM - Funcionamento Do Alojamento Central Da PMESPDocumento14 páginasI - 42 - PM - Funcionamento Do Alojamento Central Da PMESPtomjampaAinda não há avaliações
- Apostila Geral e TrânsitoDocumento98 páginasApostila Geral e TrânsitoDanilo Aurélio100% (1)
- Formulário de Aptidão para A RotaDocumento6 páginasFormulário de Aptidão para A RotaDiogo SoaresAinda não há avaliações
- POP Procedimentos DiversosDocumento71 páginasPOP Procedimentos DiversosHélio Bressanini PereiraAinda não há avaliações
- D-5-PM (Diretriz Geral de Ensino - Atualizada-30NOV17)Documento56 páginasD-5-PM (Diretriz Geral de Ensino - Atualizada-30NOV17)Mike Força TáticaAinda não há avaliações
- PMESP RiessgtDocumento32 páginasPMESP RiessgtLeonardo Hirakawa100% (1)
- Breve Histórico Da PMESP Aula 1 - ESSdDocumento37 páginasBreve Histórico Da PMESP Aula 1 - ESSdEl-hanã CosmoAinda não há avaliações
- Apostila Manut e Condução VTR - CTecPol - 2011-2014Documento14 páginasApostila Manut e Condução VTR - CTecPol - 2011-2014Diego RafaelAinda não há avaliações
- Policiamento MotorizadoDocumento37 páginasPoliciamento MotorizadoAlessandro Chiarello100% (2)
- Caderno Doutrinario 3Documento92 páginasCaderno Doutrinario 3Juliano Andrade PiresAinda não há avaliações
- Manual de Policiamento OstensivoDocumento98 páginasManual de Policiamento OstensivomarcioAinda não há avaliações
- Guia de Treinamento - 2012-2013Documento240 páginasGuia de Treinamento - 2012-2013Carlos Ricardo Cardoso100% (1)
- M-02 PMDocumento43 páginasM-02 PMBruna SchneiderAinda não há avaliações
- NI CPRv-001-03-15 PDFDocumento19 páginasNI CPRv-001-03-15 PDFAlexandre NecromanteionAinda não há avaliações
- Manual Oficial AlunoDocumento19 páginasManual Oficial AlunoPâmela CaulaAinda não há avaliações
- Gerenciamento de Crises-PMESPDocumento30 páginasGerenciamento de Crises-PMESPSarah FernandesAinda não há avaliações
- 2018 - Diretriz 004 - ROTAMDocumento7 páginas2018 - Diretriz 004 - ROTAMPaola Simonini PereiraAinda não há avaliações
- Livro GespolDocumento114 páginasLivro GespolLuis Carlos Zeferino100% (1)
- Manual Da Policia Militar 3.1 - 3Documento17 páginasManual Da Policia Militar 3.1 - 3Jefferson GismontAinda não há avaliações
- Pop PDFDocumento267 páginasPop PDFbiodesaraAinda não há avaliações
- Apostila Patrulhamento TáticoDocumento77 páginasApostila Patrulhamento Táticoguidoams100% (2)
- Curso de Patrulhamento Tatico ChoqueDocumento12 páginasCurso de Patrulhamento Tatico ChoqueVania AmorimAinda não há avaliações
- Pop PmmaDocumento305 páginasPop Pmmasamuelpmpr100% (1)
- Apostila Táticas para Conflitos Armados - Versão FinaldocDocumento82 páginasApostila Táticas para Conflitos Armados - Versão Finaldocguidoams100% (1)
- Edital Viii PatamoDocumento15 páginasEdital Viii PatamoyuriAinda não há avaliações
- Primeira Intervenção em Crise Atualização 2020Documento53 páginasPrimeira Intervenção em Crise Atualização 2020Alexandre Pedroso100% (1)
- 12 - Direito Administrativo Militar EADDocumento48 páginas12 - Direito Administrativo Militar EADJoyce MesquitaAinda não há avaliações
- 516 1 Manual Da Espingarda 12Documento179 páginas516 1 Manual Da Espingarda 12multgo100% (1)
- TÉCNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL - Nova - CorrigidaDocumento90 páginasTÉCNICAS DE ABORDAGEM POLICIAL - Nova - CorrigidaKaius CruzAinda não há avaliações
- Olhares Sobre A Polícia MilitarNo EverandOlhares Sobre A Polícia MilitarAinda não há avaliações
- Racionalizando A Atividade Policial-militarNo EverandRacionalizando A Atividade Policial-militarAinda não há avaliações
- Ciências policiais e tecnologias inovadoras na segurança cidadãNo EverandCiências policiais e tecnologias inovadoras na segurança cidadãAinda não há avaliações
- Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: abordagens e busca pessoalNo EverandPolícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: abordagens e busca pessoalAinda não há avaliações
- 06 - Administração de Pessoal PMSPDocumento64 páginas06 - Administração de Pessoal PMSPThayronilson EmeryAinda não há avaliações
- Lei Delegada 47 2015Documento324 páginasLei Delegada 47 2015Thayronilson EmeryAinda não há avaliações
- Be18 14 PDFDocumento127 páginasBe18 14 PDFThayronilson EmeryAinda não há avaliações
- Prova Material 10Documento31 páginasProva Material 10Thayronilson Emery100% (1)
- 01 Exec 18Documento70 páginas01 Exec 18Thayronilson EmeryAinda não há avaliações
- A Concessão de Dispensas Médicas Na PMAL. Considerações e Proposta de Ordenamento - Thayronilson EmeryDocumento91 páginasA Concessão de Dispensas Médicas Na PMAL. Considerações e Proposta de Ordenamento - Thayronilson EmeryThayronilson EmeryAinda não há avaliações
- Codigo de Organizacao Judiciaria Do Estado de AlagoasDocumento43 páginasCodigo de Organizacao Judiciaria Do Estado de AlagoasThayronilson EmeryAinda não há avaliações
- Complete Com Pretérito Perfeito Ou ImperfeitoDocumento2 páginasComplete Com Pretérito Perfeito Ou ImperfeitoGiuliana TwardowskiAinda não há avaliações
- Regulamento-V Milha Ceira PDFDocumento3 páginasRegulamento-V Milha Ceira PDFJorge Marques LoureiroAinda não há avaliações
- Dir Fundamentais e Democracia II PDFDocumento455 páginasDir Fundamentais e Democracia II PDFjtrpenteadoAinda não há avaliações
- A Fortaleza de AnhatomirimDocumento12 páginasA Fortaleza de Anhatomirimandressa_marAinda não há avaliações
- Ladina Faca Da AlmaDocumento3 páginasLadina Faca Da AlmaFernando MoretiAinda não há avaliações
- Cronologia - Histórica - 1960 A 01mai2011Documento1.022 páginasCronologia - Histórica - 1960 A 01mai2011Christian André FerreiraAinda não há avaliações
- De+resumos Ilustrados Gratis CompletoDocumento26 páginasDe+resumos Ilustrados Gratis Completodkwqr98nt5Ainda não há avaliações
- Recuperação JudicialDocumento4 páginasRecuperação JudicialThamires MedinaAinda não há avaliações
- Plano de Leitura Lei Seca 46 DiasDocumento24 páginasPlano de Leitura Lei Seca 46 Diasestefanykelly684Ainda não há avaliações
- Gab Caderno Amarelo Dia1Documento1 páginaGab Caderno Amarelo Dia1Ryan CruzAinda não há avaliações
- Avaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa-5º AnoDocumento5 páginasAvaliação Diagnóstica de Língua Portuguesa-5º AnoFRANCISCA EDIVANIA SILVA SOUZAAinda não há avaliações
- Atividade - Notícia - Galo - Tudo Sala de AulaDocumento2 páginasAtividade - Notícia - Galo - Tudo Sala de AulaJOÃO PROCÓPIO MENDESAinda não há avaliações
- Guia de Transporte DA601500242PTDocumento3 páginasGuia de Transporte DA601500242PTnandopintoAinda não há avaliações
- Calendario 2024 Roraima Retrato MDocumento1 páginaCalendario 2024 Roraima Retrato MDanylo JeanAinda não há avaliações
- Concordância Nominal - Exercício Do AlunoDocumento2 páginasConcordância Nominal - Exercício Do AlunofleezussenaAinda não há avaliações
- 159 PCRJ Auxiliar de Necropsia - Resultado Preliminar Prova Objetiva - Negros e Indios 2022-02-25Documento14 páginas159 PCRJ Auxiliar de Necropsia - Resultado Preliminar Prova Objetiva - Negros e Indios 2022-02-25Higor CardosoAinda não há avaliações
- Endereços e Telefones Rede CEJADocumento12 páginasEndereços e Telefones Rede CEJAalbumigAinda não há avaliações
- MIC EstefaniaDocumento16 páginasMIC EstefaniacabralAinda não há avaliações
- Alfabeto Fonético Da OTANDocumento4 páginasAlfabeto Fonético Da OTANJouer Secenta NoveAinda não há avaliações
- Uni 306410Documento2 páginasUni 306410Eu sendo CLARAAinda não há avaliações
- AraujoDocumento1 páginaAraujoLeyla FerreiraAinda não há avaliações
- Termo de ResponsabilidadeDocumento1 páginaTermo de ResponsabilidadeKaio RamosAinda não há avaliações
- Direitos e Garantias Fundamentais - ResumoDocumento4 páginasDireitos e Garantias Fundamentais - ResumoBrenda StheffanyAinda não há avaliações
- A História de Dois Homens Que Lutaram Na Guerra CivilDocumento2 páginasA História de Dois Homens Que Lutaram Na Guerra CivilDiogo Alves AssisAinda não há avaliações
- Mediação PenalDocumento22 páginasMediação PenalAndré FilipeAinda não há avaliações
- Calendario Academico 2024 Curso AnualDocumento2 páginasCalendario Academico 2024 Curso Anualgabrielmuniz.m2004Ainda não há avaliações
- A Impressionante Ficha Corrida de João DoriaDocumento9 páginasA Impressionante Ficha Corrida de João Doriaeevargas50Ainda não há avaliações
- UECE 2022.1 - 2a Fase - Gabarito 2o DiaDocumento3 páginasUECE 2022.1 - 2a Fase - Gabarito 2o Diafelipe.diego.007iAinda não há avaliações