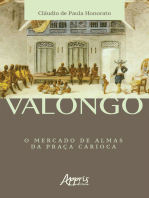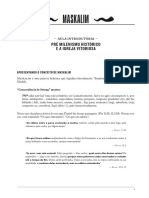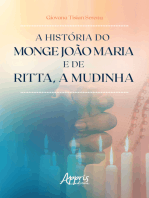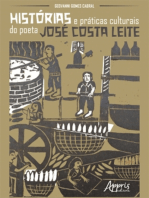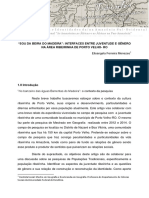Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Dança Dos Possiveis
A Dança Dos Possiveis
Enviado por
Antonio Gouveia0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações114 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
38 visualizações114 páginasA Dança Dos Possiveis
A Dança Dos Possiveis
Enviado por
Antonio GouveiaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 114
Carolina Pucu de Arajo
A Dana dos Possveis: O Fazer de Si e o Fazer do
Outro em Alguns Grupos Tupi
Dissertao de Mestrado apresentada ao Programa de
Ps-Graduao em Antropologia Social do Museu Nacional da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, orientada pelo Prof. Dr.
Carlos Fausto.
Rio de Janeiro
2002
Ficha Catalogrfica
Arajo, Carolina Pucu de.
A Dana dos Possveis: O Fazer de Si e o Fazer do Outro em Alguns Grupos Tupi. Rio de
Janeiro: UFRJ / PPGAS / MN, 2002.
Dissertao Universidade Federal do Rio de Janeiro, PPGAS.
1. Etnologia Indgena 2. Ritual 3. Organizao Social 4. Parentesco 5. Tupi
A Dana dos Possveis: O Fazer de Si e o Fazer do Outro
em Alguns Grupos Tupi
Carolina Pucu de Arajo
Dissertao submetida ao corpo docente do Programa de Ps-Graduao em
Antropologia Social do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de
Janeiro como parte dos requisitos necessrios obteno do grau de mestre.
Aprovada por:
_________________________________________
Prof. Dr. Carlos Fausto (orientador)
_________________________________________
Prof. Dr. Eduardo B. Viveiros de Castro
_________________________________________
Prof. Dr. Carlos E. A. Coimbra Jr.
Rio de Janeiro
2002
primeira esquina, encontro uma cara oca, uma cara
sem caraO melhor, o melhor voltar, o quanto antes, para o
quarto. Com o mximo de cuidado de no olhar, acaso, para o
espelho.
O Citadino
Mrio Quintana
AGRADECIMENTOS
Nestas restritas pginas de agradecimentos devo dar conta de dvidas das mais
variadas espcies e, espero, no cometer muitas injustias. Naturalmente, qualquer
imperfeio nesta dissertao cabe exclusivamente a mim.
Carlos Fausto, meu orientador desde a iniciao cientfica, foi sempre paciente com as
minhas ansiedades. A dedicao com que leu e comentou todas as partes desta dissertao foi
um grande incentivo, e suas (tantas) sugestes certamente fizeram deste um trabalho melhor.
A Capes me concedeu uma bolsa de mestrado durante dois anos de curso.
Os professores do Museu Nacional certamente reconhecero, nesta dissertao, a
formao que me proporcionaram. Aparecida Vilaa acompanhou meus primeiros passos nas
aulas introdutrias no Museu e, talvez, reconhea alguns dos fichamentos de que tanto
reclamvamos e que, afinal, foram to teis. Sem as aulas (e as brigas) de Marcela Coelho de
Souza e Carlos Fausto sobre parentesco eu no teria me dedicado tanto a fazer render
alguns dos pontos tratados aqui. A insistncia de Yonne Leite para que fizssemos todos os
exerccios de lingstica foi fundamental para que desenvolvesse algumas questes na
dissertao e, eu espero ter feito jus aos seus ensinamentos. Foi em um curso de Bruna
Franchetto sobre narrativas e narratividade que comecei a pensar algumas das questes
desenvolvidas aqui notadamente sobre os porcos. Eduardo Viveiros de Castro talvez no
tenha idia de que seu curso, que eu segui enquanto escrevia a dissertao, tenha sido to
importante e sempre instigante. Suas aulas certamente esto aqui, e espero ter conseguido
incorpor-las de maneira adequada.
Luciana Storto e Denny Moore, com um voto de confiana, proporcionaram-me
oportunidades nicas que se refletiram diretamente na dissertao. Os membros do Projeto
Tupi Comparativo tornaram disponveis seus dados.
Sem o interesse e a pacincia de Nelson e de Incio no teria sido possvel dispor de
tantas informaes sobre os Karitiana em to pouco tempo. Agradeo a eles especialmente.
Carlos Coimbra levou-me para uma aldeia xavante no incio da faculdade, despertou
em mim a curiosidade cientfica e, com ele, aprendi a ter rigor ao fazer pesquisa.
Ricardo Santos, talvez mal se lembre, mas foi quem me falou primeiro em
antropologia (ainda para o vestibular) e, sem saber, influenciou minha escolha de vida.
No Museu do ndio agradeo G, que, sempre disposta a me ajudar, foi sempre uma
boa amiga. Penha e Ins, da biblioteca, muito me estimularam com os elogios. Ana Paixo,
ainda quando eu estagiava, contava-me suas histrias com os ndios e me sugeria leituras.
Rosa e Anderson, da secretaria do Museu Nacional, sempre quebraram galhos; Carla e
Cristina, da biblioteca, perdoaram os atrasos com os livros.
Carlos, Bruna e Antnio acolheram-me e cuidaram de mim em Paris. Franoise,
Phillipe, Gino e Fanny fizeram o mesmo em Reims. No College de France tive livre acesso a
um precioso material.
Os amigos que fazem ou no parte desta tese, mas da vida com toda certeza, ajudaram
a aliviar os momentos difceis: do Museu, o apoio de quem estava no mesmo barco Fe,
Gui (comeamos tudo isso juntos!), Tati, Octavio, Luiza, Paulo e Juarez foi crucial em
vrios momentos. Outros amigos, contudo, mal precisavam saber a causa de qualquer
ansiedade para oferecer amparo Anninha e Renata, amigas de tantos anos e outra Renata,
amiga mais recente, mas igualmente querida.
O processo de escrita desta dissertao foi limitado por uma dor, no apenas fsica, de
difcil diagnstico. Agradeo aos meus mdicos, Srgio Carneiro e Carlos Loja, que, se no
dispunham de um remdio novo, tinham sempre, cada qual a sua maneira, uma palavra de
consolo.
Os agradecimentos aos familiares so quase sempre indiretamente ligados ao trabalho
feito, referindo-se ao carinho e, principalmente, pacincia com que as pessoas aturaram
meses de incertezas e insegurana. Os meus no sero diferentes, mas, talvez, minha famlia
seja um pouco mais atuante que a da maioria. J disse o Carlos que parecamos ndios por
na nossa tentativa de fazer de todos nossos parentes, morarmos todos prximos uns dos
outros e, vez ou outra, acreditarmos que os animais so gente.
A Fe, que, de certa maneira, j foi feita parente, ajudou-me em tantos momentos que
seria impossvel enumer-los. Das dezenas de passeios para espairecer ao enlouquecido
final de tese, sua amizade foi sempre em perodo integral.
Tio Arthur e Nvea, padrinhos adotados pela afilhada, deram-me muito mais que o
computador com que escrevo a dissertao; seu afeto foi, em tantas horas, mais do que
essencial.
Tia Lelena, pediatra de gente grande, desde sempre foi uma pessoa com que contei e
eu espero que saiba a admirao que tenho por ela.
Agradecer a ajuda do meu primo Duca com os problemas eternos no computador no
suficiente para tantos anos de cumplicidade e uma certa dose de deboche pela vida alheia.
Vov Cynthia, Vov Olmpio (v, espero no ter errado o portugus!), Tia Marta e
Tia Alceste muito se preocuparam com meu estado durante a escrita. Se tive de faltar
demais aos almoos de domingo, foi sempre com pena de no estar junto de vocs.
Vov Kilda e Vov Pucu me deram tantas ajudas ao longo de todo o mestrado (do
curso de francs aos livros) que at difcil descrev-las; mas agradeo principalmente o
interesse com que acompanharam todo este processo.
Eduardo, meu irmo, at que se comportou e implicou menos e, mesmo diante do meu
inevitvel nervosismo, tentou entender. Valeu.
Elisinha, minha querida irm, sempre difcil expressar em palavras o quanto voc
essencial para mim, porque o que sinto transcende os limites da escrita mas acho que voc
sabe disso.
Meu pai, Adauto, participou de cada linha escrita e guardou, com carinho em seu
computador, cada captulo para que nada pudesse se perder; e minha me, Amlia, contou
muitas histrias dos trs porquinhos quando eu era criana. O apoio incondicional de meus
pais, sem dvida, foi determinante para que tudo corresse bem. Sei que foram muitos os
momentos difceis no apenas ligados a este trabalho , mas vocs sempre souberam como
me ajudar. Contudo, no me suficiente agradec-los apenas nestas poucas pginas e, por
isso, esta dissertao para os dois.
RESUMO
Esta dissertao parte de um recorte lingstico, privilegiando as famlias no-guarani
do tronco tupi, para propor a discusso de algumas questes, cujo rendimento parece ser
maior entre tais povos. Para este fim, no captulo 1 faz-se uma reviso do material existente
para os povos tupi, excetuando-se os tupi-guarani, para situar o leitor nesse conjunto,
fornecendo informaes bsicas sobre as seguintes famlias lingsticas: Arikm, Aweti,
Juruna, Maw, Munduruku, Purubor, Ramarama, Tupari e Tupi-Mond. No captulo 2,
discute-se os modos diversos de construo da identidade que passam por uma via paterna. A
proposta uma anlise comparativa das mltiplas formas de segmentao, assim como dos
mecanismos de produo do parentesco que so apropriados de maneiras diversas, porm
comparveis, pelos povos aqui analisados. J no captulo 3, analisa-se comparativamente os
rituais Munduruku, Juruna e Tupi-Mond com o objetivo de tratar da construo da oposio
entre Ns/Outros e de suas inverses. Alm disso, a proposta tambm a de analisar certos
elementos que funcionam como elementos-chave para os rituais, quais sejam, o porco para os
Cinta-Larga, o cauim para os Juruna e a cabea tomada ao inimigo para os Munduruku. Um
ltimo item ser dedicado figura do porco que ocupa um lugar privilegiado no imaginrio
dos tupi no-guarani.
ABSTRACT
The present dissertation starts from a linguistic outline, giving special consideration to
the non-guarani families of the tupi branch, to propose a discussion of certain issues which
seem to be of greater relevance in relation to these specific peoples. In order to accomplish
this end, chapter 1 presents a review of the existent material on the tupi peoples, except for the
tupi-guarani, to situate the reader in this compilation, providing basic information about the
following linguistic families: Arikm, Aweti, Juruna, Maw, Munduruku, Purubor,
Ramarama, Tupari, and Tupi-Mond. In chapter 2, the various means of construction of the
identity that pass on through the paternal line are discussed. What is proposed is a
comparative analysis of the multiple forms of segmentation, as well as of the mechanisms of
production of the kinship that are appropriated in different, although comparable, ways by the
peoples herein analysed. In chapter 3, the Munduruku, Juruna, and Tupi-Mond rituals are
comparatively analysed with a view to dealing with construction of the opposition between
Us/Others and its inversions. Moreover, this dissertation also proposes to analyse certain
elements that function as key elements for the rituals, knowingly, the pig for the Cinta-Larga,
the cauim for the Juruna and the head taken from the enemy for the Munduruku. A last item
will be dedicated to the figure of the pig, which occupies a privileged position in the
imaginary of non-guarani tupi.
SUMRIO
Introduo 01
Captulo I: [Um]a Breve Histria dos Tupi 06
1.1 O Tronco Tupi e suas divises internas 08
1.2 Os Tupi no-Guarani 15
1.3- Consideraes Finais 27
Anexo: Localizao atual das Terras Indgenas 28
Captulo II: Da Patriorientao Tupi: Tentativas de Segmentao e o
Fazer Parentes 32
2.1- Segmentando os grupos 33
2.2- A produo dos parentes 46
Captulo III: De Porcos, Cauim e Cabeas: A Atualizao do Outro
entre os Cinta-Larga, Juruna e Munduruku 58
3.1 O convite do outro 65
3.2 A me-guerreiro do porco, os bebedores de gente e o porco-festeiro 75
3.3 Os trs porquinhos tupi: as verses Cinta-Larga,
Juruna e Munduruku nos rituais. 79
Concluses 89
Referncias Bibliogrficas 92
INTRODUO
O propsito inicial desta dissertao era fazer uma reviso bibliogrfica do material
tupi no-guarani. Embora j tivesse conhecimento da escassez bibliogrfica existente para
estes povos, se comparados com os tupi-guarani, para algumas famlias a bibliografia revelou-
se praticamente inexistente. Sendo assim, tornou-se difcil fazer uma sntese geral e minha
opo foi privilegiar algumas questes a partir do material disponvel. Naturalmente, sempre
tive em mente que se tratava de um recorte que partia da lingstica e tenho claro que nada
garante que os Tupi no-Guarani sejam mais comparveis entre si do que com os Tupi-
Guarani nem tampouco os lingistas o acham.
O objeto parece se definir pela negativa e, em certo sentido, pela sua
artificialidade os Tupi no-Guarani ao opor uma famlia lingstica (Tupi-Guarani) a um
conjunto artificialmente formado por todas as outras nove do tronco tupi; a saber, as famlias
Arikm, Aweti, Juruna, Maw, Munduruku, Purubor, Ramarama, Tupari e Tupi-Mond. Mas
este um recurso utilizado aqui para que se comece a pensar alguns temas presentes no
conjunto tupi, o qual freqentemente reduzido aos Tupi-Guarani; temas estes que talvez
tenham maior rendimento entre os povos das demais famlias lingsticas. Contudo, tal recorte
tem o propsito de tornar evidente o contraste entre a quantidade de informaes disponveis
para os povos tupi-guarani e a lacuna nos dados sobre as outras famlias. Justamente pela
grande quantidade de anlises sobre eles, a comparao com os tupi-guarani clara e esperada
em grande parte das etnografias analisadas aqui; a oposio como forma comparativa parece
ser quase inevitvel. O que parece torn-la estranha nesta dissertao que ela no se coloca
entre somente um grupo tupi em oposio aos tupi-guarani; mas entre a famlia tupi-guarani e
as outras famlias tupi. Contudo, meu objetivo outro: no se trata de tomar as famlias em
conjunto e em oposio famlia tupi-guarani, mas de comparar os modos de realizao de
algumas questes que me parecem ter um rendimento maior entre os tupi no-guarani, embora
eu deva ressalvar, como veremos, que as maneiras desta realizao so diversas.
Talvez tudo se torne mais claro remetendo s duas noes de limite expostas por
Viveiros de Castro, a partir de Deleuze, como recurso explicativo aplicvel ao objeto desta
dissertao. O recorte lingstico se define, a princpio, pela negao: os tupi que no so
alguma coisa, no caso, que no so guarani. O objeto se constituiria a partir de uma idia
geomtrica de limite como contorno e no vai alm dele. Circunscrevendo o objeto,
2
estabeleceramos seu limite. Contudo, o limite outro: um limite positivo que define o
objeto por sua capacidade de ir alm. Proponho uma anlise sobre a maneira atravs da qual
certos elementos-questes presentes nos Tupi no-Guarani se articulam ou podem se articular
entre si, gerando significado procedimento cuja validade, potencialmente, ultrapassa o
recorte escolhido.
O tronco tupi formado por dez famlias lingsticas assim denominadas: Arikm,
Aweti, Juruna, Maw, Mond, Munduruku, Purubor, Ramarama, Tupi-Guarani e Tupari.
Todas estas famlias, com exceo da Tupi-Guarani, esto localizadas unicamente em estados
brasileiros e h uma concentrao bastante significativa na regio de Rondnia, onde esto
seis das dez famlias lingsticas do tronco tupi.
No primeiro captulo, farei um sobrevo sobre o material etnogrfico existente sobre
cada uma das famlias lingsticas. Primeiramente, mostrarei como se divide atualmente o
tronco tupi e suas famlias lingsticas, tentando deixar claro tambm que a falta de estudos
lingsticos fez com que tal classificao sofresse vrias alteraes com o advento de novas
anlises. Procurarei fornecer ao leitor um quadro das famlias de que temos notcias e dos
povos que as constituem, mesmo os j extintos nos dias de hoje. Ainda neste mesmo item,
farei um quadro resumido sobre o contexto dos povos atuais, com sua populao, localizao
e filiao lingstica.
A ltima parte deste primeiro captulo ser dedicada exclusivamente ao material sobre
as famlias tupi no-guarani. Meu objetivo o de tornar ntida a desigualdade entre os dados
existentes para cada famlia, contando tanto com as informaes etnogrficas atuais como
com as parcas e desiguais informaes dos viajantes. Para este fim, reuni tambm dados
de reas como os da lingstica e da antropologia mdica que por ventura existam sobre os
povos. No final deste captulo, incluirei um anexo com a listagem das Terras Indgenas onde
habitam atualmente cada um dos povos, juntamente com informaes sobre a situao atual, o
nmero aproximado de habitantes e a localizao exata, incluindo o estado e o municpio
onde se encontram.
No segundo captulo, discutirei os modos de realizao da patri-identidade tupi. Optei
por privilegiar determinados povos, posto que, para dar conta das questes apresentadas, era
fundamental dispor dos dados mais precisos. Sendo assim, em dois plos distantes esto os
Munduruku e os Juruna; os primeiros, com cls, metades e fratrias e estes ltimos, sem
qualquer evidncia emprica de segmentao. No meio esto os povos tupi-mond, que
possuem diversas maneiras de classificao e segmentao em grupos. Meu propsito no
poderia jamais ser o de determinar precisamente tais fenmenos, mas propor que as maneiras
3
de sua classificao sejam tomadas em conjunto. Portanto, em um primeiro momento, farei
uma anlise comparativa das formas de segmentao encontradas em alguns grupos tupi que,
se comparados com os tupi-guarani, parecem aqui ter um rendimento maior; embora eu deva
notar, mais uma vez, que a escassez de dados impede uma comparao mais ampla. Neste
item, ainda, procurarei apontar as maneiras mltiplas de classificao internas a cada um dos
povos analisados e sugerir que elas sejam tomadas como princpios de classificao
igualmente vlidos.
Em um segundo momento, tratarei de outras formas de patrifocalizao no mais em
processos de segmentao que se realizam de diversas maneiras para a fabricao do
parentesco. A tendncia tupi para constituio da identidade pela via paterna pode se realizar
em maior ou menor grau dificilmente de modo mecnico e em campos diversos, como o
das normas de casamento e de residncia, do parentesco e da onomstica, e das teorias de
concepo. Todas estas realizaes parecem estar subordinadas a uma patriorientao, cuja
realizao parece ser no mecnica, abrindo espao para que outras formas de fabricao da
identidade sejam igualmente vlidas. A anlise lingstica comparativa de alguns termos de
parentesco ser utilizada para elucidar questes oriundas da onomstica e da teoria da
concepo. Devo esclarecer, portanto, que o isolamento de qualquer um destes aspectos
poderia se revelar pouco produtivo e minha alternativa foi tom-los em conjunto.
No curso da escrita desta dissertao um dos problemas que me incomodavam era o
uso do termo Mesmo em oposio a Outro para designar os processos de produo do
que feito familiar. Fazer o Mesmo soava-me demasiado como fazer um idntico, como
se se produzisse algo de exata e igual identidade. A fabricao dos parentes, por exemplo,
me parecia algo que nunca poderia chegar s vias de fato da completa identidade e o termo
Mesmo parecia trazer embutido nele justamente a idia do que idntico. Preferi utilizar,
no ttulo e ao longo da dissertao, a expresso fazer de Si como substituta da forma fazer
o Mesmo, posto que o Si, gramaticalmente, pressupe um outro falando e no implica na
identidade absoluta. Esta forma, portanto, evitaria uma noo de igual identidade,
substituindo-a por um recurso que poderia proporcionar tambm a idia de que a fabricao
da pessoa subentende uma ao ou interferncia externa.
No terceiro captulo, enfocarei trs rituais de conotao guerreira Munduruku,
Juruna e Cinta-Larga com o objetivo especfico de mostrar formas especficas de
atualizao da figura do Outro. Na verdade, tal realizao parte necessria e inalienvel do
rito, opondo-se, das mais variadas maneiras, ao que se constitui como Ns. No longo ritual
munduruku que segue a caa da cabea do inimigo, nas festas em que os Cinta-Larga matam o
4
porco no lugar de seu anfitrio e nas cauinagens quando os Juruna bebem gente, observa-se
justamente a oposio que se engendra em torno da dade Ns/Outros e a troca de posies ao
longo dos rituais. Meu objetivo aqui analisar a forma como as relaes de identidade e
alteridade se atualizam em cada grupo, quais so os papis assumidos e como eles podem se
inverter ao longo do rito. Veremos ainda que a produo das relaes com a atualizao da
alteridade se realizar de formas diversas. No caso munduruku, a cabea de um inimigo
condio para a realizao do ritual, mas a relao que ela produz atualizada em momentos
outros e por atores diferentes. J com os Cinta-Larga, o papel do Outro caber aldeia
convidada, mas ele se inverter ao longo do rito e, mais ainda, na ocasio da prxima festa,
quando os convidados de hoje se tornaro os anfitries do prximo evento. Ainda entre os
Tupi-Mond, os Suru forjam, no interior de sua prpria aldeia, uma oposio entre
Ns/Outros com a diviso nas metades mato/aldeia. Os Juruna, por sua vez, produzem um
Outro que nada mais do que eles mesmos: bebendo o cauim, matam uma pessoa e tornam-
se canibais, Outros, enfim.
Em seguida, optarei por enfatizar trs figuras-chave de cada ritual o cauim Juruna, a
cabea Munduruku e o porco Cinta-Larga que parecem ocupar posies singulares nos ritos,
pois so substitutos de pessoas. Meu intuito o de tornar evidentes os processos de predao
e de familiarizao aplicados a elas e, tambm, seu potencial de agente/paciente ao longo
dos rituais.
A ltima parte deste terceiro captulo ser dedicada posio que os porcos (queixada)
ocupam em diversos contextos, especialmente no dos rituais analisados. Enquanto o matador
Munduruku dito Me da Queixada, o porco criado pelo anfitrio Cinta-Larga o substitui
como vtima abatida quando finda a festa. J os Juruna contam que convidam os porcos para
sua festa, mas, enganando-os, promovem uma grande caada.
O trabalho aqui apresentado insere-se no contexto de um projeto comparativo das
lnguas tupi, embora nesta dissertao no se possa dispor de anlises etnogrficas para todos
os povos. Tal lacuna tambm evidente no caso da lingstica e, justamente, o Projeto Tupi-
Comparativo tem como objetivo minimizar esta falha.
Enfim, os possveis so muitos e no me cabe pretender abarc-los, j que a
possibilidade de virar outra coisa ou um outro est permanentemente presente; no
jamais possvel ser sempre um mesmo.
5
Normas
As palavras em outras lnguas que no o portugus sero grafadas em itlico e as
tradues em portugus viro entre aspas. Utilizarei o negrito quando precisar destacar
alguma parte da palavra, principalmente quando fizer anlises lingsticas. A grafia das
palavras segue exatamente as formas utilizadas pelos autores das etnografias originais, pois
no seria seguro propor uma grafia que as uniformizasse.
We are coming now rather into the region of guesswork, said Dr. Mortimer.
Say, rather, into the region where we balance probabilities and choose the most
likely. It is the scientific use of the imagination, but we have always some material basis on
which to start our speculations.
The Hound of the Baskervilles
Sir Arthur Conan Doyle
6
CAPTULO I
[Um]a Breve Histria dos Tupi
O primeiro captulo de todas as dissertaes e teses costuma priorizar uma reviso
histrico-bibliogrfica do material existente sobre o objeto de anlise. No ser diferente
aqui; entretanto, dado que o prprio objeto fragmentado, tambm o so as informaes
sobre ele. Neste sentido, preciso chamar ateno no apenas para a diversidade interna dos
povos que formam o tronco tupi, como tambm para a desigualdade das informaes
existentes sobre eles. Esta ressalva aplica-se principalmente aos captulos subseqentes, posto
que as questes tratadas devem, necessariamente, embasar-se nos dados disponveis.
Em um primeiro momento apresentarei a composio do tronco tupi a partir de sua
diviso interna em famlias lingsticas, contemplando, brevemente, a localizao espacial
atual e a composio demogrfica dos grupos. O leitor notar que o processo de depopulao
sofrido pela grande maioria dos grupos provocou o desaparecimento quase total de algumas
das famlias lingsticas descritas aqui. Embora a famlia tupi-guarani no seja o principal
foco desta dissertao, ela ocupa aqui ainda que de maneira assumidamente artificial uma
posio de contraste em relao s demais, devido, em primeiro lugar, riqueza dos dados
etnogrficos disponveis para os povos que a compem. Contudo, no h sentido em refazer a
reviso bibliogrfica do material tupi-guarani, posto que j dispomos da sntese de Viveiros
de Castro (1986: 82-127; 1984/5). A diversidade interna dos tupi torna complicada a extenso
imediata do modelo tupi-guarani proposto pelo autor para as outras famlias, embora, como
veremos, haja vrios pontos anlogos
1
.
Em um outro momento, procurarei fornecer um panorama das informaes de que
dispomos sobre o contato, as oscilaes demogrficas e, principalmente, sobre a bibliografia
que concerne os povos tupi aqui tratados. Tornar-se- explcita para o leitor a quantidade de
informaes disponveis para alguns povos em contraste com a escassez quase completa de
dados para outros. Por esse motivo, no proponho uma sntese geral, posto que ela seria
irrealizvel com dados to desiguais, mas sim, com o conhecimento de que disponho,
apresentar algumas questes de certo modo tambm provocadas pelas informaes e
sugerir discusses que levem em conta a diversidade cultural dos grupos tupi.
1
Como ressalvei na introduo desta dissertao, no pretendo forjar um contraste entre tupi-guarani e tupi-no-
guarani como dois blocos homogneos. Na comparao interna das famlias, nada informa que sejam mais
7
Nos captulos posteriores procurarei sugerir elementos para comear a pensar tais
questes, em dois sentidos: o da organizao social (compreendendo tambm o parentesco e a
construo da pessoa) e o dos rituais com forte conotao guerreira. Sob o tema da
organizao social, meu objetivo o de procurar conceitualizar os processos de
patrisegmentao dos grupos, um tema importante na literatura tupi-guarani e que parece
oscilar entre a fluidez e variao (caso Juruna) at a aparente delimitao em cls (casos
Munduruku e Maw). Todas essas diferenas, contudo, esto subordinadas ao conhecimento
de que dispomos destes povos e sua trajetria histrica, por vezes irrecupervel que,
como o objetivo deste primeiro captulo mostrar, so extremamente dspares. Quanto aos
rituais de conotao guerreira, veremos menos a produo da identidade e mais o jogo entre
identidade/diferena que parece conservar uma srie de elementos comuns ao modelo que
Viveiros de Castro props para os tupi-guarani. Mais uma vez, a escolha por tratar dos rituais
guerreiros implicou na seleo de alguns poucos povos, para os quais temos descries
etnogrficas suficientes para sua comparao.
1.1- O Tronco Tupi e suas divises internas
A concentrao de famlias lingsticas em uma mesma regio e o trabalho
comparativo sugerem aos lingistas que as lnguas tupi se originaram de uma mesma lngua
(que se convencionou chamar de Proto-Tupi) h alguns milnios atrs. Rodrigues (1964)
prope a rea do Guapor, no alto Madeira, como a regio que, provavelmente, foi o centro de
disperso dos tupi (RODRIGUES, 1964: 14); embora seja difcil saber qual a relao deste
momento com o da expanso dos tupi-guarani, para os quais existem vrias hipteses.
2
Urban
sugere que esta ltima expanso teria ocorrido h dois ou trs mil anos, enquanto a dos povos
comparveis entre si do que com os tupi-guarani; contudo, o montante de dados para os ltimos contrasta com a
escassez dos demais tupi.
2
No faltam propostas para as rotas de disperso dos Tupi-Guarani (a partir de um centro comum para os Tupi)
e para as datas dos movimentos e (des)encontros dos grupos. Grosso modo, pode-se dizer que h duas hipteses
principais sobre a migrao dos Tupi-Guarani para o litoral brasileiro e sobre o centro de sua disperso. O
modelo de Mtraux sugere que a disperso Tupi-Guarani inicia-se com um deslocamento da bacia do Guapor-
Madeira na direo da bacia Paran-Paraguai. Nesta regio, os Tupinamb teriam se separado dos Guarani e
rumado para o litoral e norte do Brasil. O outro modelo foi proposto por Brochado e apresenta uma hiptese
inversa, colocando a migrao Tupinamb e a Guarani em rumos inteiramente diferentes, partindo de um centro
comum na Amaznia central. Os Guarani teriam descido em direo sul para o rio Paraguai; j os Tupinamb,
descendo at a foz do Amazonas, seguiram pelo litoral brasileiro no sentido norte-sul, at encontrarem os
Guarani na regio de So Paulo. A hiptese de Brochado pressupe que os Tupinamb e os Guarani teriam se
distanciado h mais tempo do que se imaginava pela proximidade lingstica e cultural que h entre os dois
povos. Para mais informaes sobre as teorias migratrias dos tupi-guarani, ver o debate entre Noelli (1966),
Viveiros de Castro (1996c) e Urban (1996).
8
Macro-Tupi remontaria a at cinco mil anos atrs. Urban sugere ainda que a rea de disperso
tupi situar-se-ia entre os rios Madeira e Xingu, mais provavelmente em regies de cabeceiras
do que nas vrzeas dos grandes rios (URBAN, 1992:92-93).
As notveis migraes dos grupos Tupi-Guarani foram e so objeto de vrias
discusses, mas no se deve pr de lado o processo de disperso das outras famlias Tupi,
dispostas desde Rondnia at o Alto Xingu. Os grupos Tupi ocupam atualmente diferentes
reas ecolgicas uns esto em regies interfluviais (os Tupi-Mond), outros so ribeirinhos
e canoeiros (os Juruna) e ainda h os que estejam em zonas de transio entre o cerrado e a
floresta tropical (os Aweti e os Munduruku). Embora em menor extenso, as migraes das
famlias tupi no-guarani levaram os grupos a ocuparem tal como a famlia tupi-guarani
territrios diferentes e a conhecerem as mais diversas experincias de contato, seja com outros
grupos indgenas seja com os brancos.
Desde muito tempo, costumou-se pensar o conjunto de lnguas tupi a partir da famlia
dominante tupi-guarani, que, por estar dispersa em uma grande rea na faixa litoral do Brasil
e no apenas nesta rea ficou conhecida pelos europeus desde o sculo XVI. A este
motivo est aliado ao fato de que a famlia tupi-guarani no apenas est espalhada pelo Brasil
e por outros pases, como tambm formada por uma quantidade maior de lnguas, se
comparada com as informaes que temos das demais famlias do tronco tupi. Estas,
concentram-se principalmente em Rondnia embora algumas tenham se estendido na
direo leste , uma regio que apenas muito recentemente foi alvo de projetos de colonizao
de seu territrio
3
. Tudo isso levou a um visvel contraste entre a riqueza etnogrfica tupi-
guarani e a escassez das informaes sobre outras famlias. No difcil entender, por tantos
motivos, por qu os grupos da famlia Tupi-Guarani tenham sido mais estudados que os
demais tupi e, de certa maneira, tornaram-se uma espcie de paradigma Tupi.
Os ensaios de classificao interna das lnguas do tronco tupi, dada a escassez de
dados, mostraram-se at aqui bastante hesitantes. Em uma primeira tentativa, o lingista
Aryon Rodrigues (1964, 1958, 1971) situou junto famlia Tupi-Guarani as lnguas Aweti,
Maw, Munduruku e Kuruya. Aps terem incio estudos mais aprofundados sobre o Aweti e
o Maw, Rodrigues (1984/5) separou-os da famlia Tupi-Guarani e afirmou que tanto uma
quanto a outra possuam o estatuto de famlia lingstica, ainda que formadas por apenas uma
lngua. O autor ressaltou que a formao de novas famlias tornou mais forte a
homogeneidade interna das lnguas tupi-guarani, embora isso no possa excluir o fato de que
3
Uma exceo o caso munduruku que possui no apenas uma longa histria de trabalhos etnogrficos, mas
tambm de interao com a sociedade nacional.
9
o Maw e o Aweti parecem ser mais semelhantes s lnguas tupi-guarani que s demais
lnguas do tronco tupi. Rodrigues ([1986] 1994: 46), em um artigo posterior, classifica
tambm as lnguas dos Munduruku e dos Kuruya em uma mesma famlia (Munduruku).
A classificao interna das lnguas da famlia Tupi-Mond tambm sofreu variaes,
devidas tanto ao lento desenvolvimento dos estudos lingsticos como ao processo de
depopulao. Um vocabulrio proposto por Hanke (1950) serviu como base para a
classificao inicial, em um mesmo conjunto, das seguintes lnguas: Mond, Salami (ou
Sanamaik), Aru, Aruashi, Gavio (ou Digt), Suru (ou Pater), Cinta-Larga, Zor e Arara
do Guariba. Para Dal Poz (1991: 29; 1996) os Arara do Guariba seria formado por
remanescentes de outros povos Tupi-Mond. Rodrigues ([1986] 1994), por sua vez, incluiu na
famlia Tupi-Mond os seguintes grupos: Aru, Cinta-Larga, Gavio, Mekm, Mond, Suru e
Zor, embora os Mekm, atualmente, sejam considerados parte da famlia Tupari. Os Aru
ainda so raramente mencionados na literatura antropolgica como parte da famlia Tupi-
Mond e os Mond freqentemente so confundidos com a famlia lingstica de que fazem
parte Tupi-Mond. Moore (1981: 46) afirma que os Cinta-Larga, os Gavio e os Zor falam
dialetos de uma mesma lngua, que tambm seria, de acordo com o autor, semelhante falada
pelos Aru e os Aruashi
4
. Contudo, ainda costuma-se consider-las como lnguas distintas. Os
Suru, ao contrrio, falam uma lngua irm da mesma famlia, que no mutuamente
entendida pelos grupos mencionados antes.
Atualmente, considera-se que o tronco Tupi formado por dez famlias lingsticas
Arikm, Aweti, Juruna, Maw, Mond, Munduruku, Purubor, Ramarama, Tupi-Guarani e
Tupari. Dentre as dez famlias lingsticas que o formam, apenas a Tupi-Guarani compreende
lnguas que se estendem por outros pases da Amrica do Sul
5
; todas as demais se restringem
exclusivamente aos limites brasileiros. Do ponto de vista lingstico-geogrfico, h uma
concentrao lingstica tupi, precisamente na regio de Rondnia (fronteira com Mato-
Grosso), com as famlias Arikm, Tupi-Mond, Ramarama, Purubor (esta, praticamente
extinta) e Tupari, alm da prpria famlia Tupi-Guarani. Devo ressalvar que a proximidade
geogrfica de algumas famlias no implica em uma necessria proximidade lingstica ou
cultural. Na tabela 1, a seguir, mostro a diviso do tronco tupi em suas famlias lingsticas e
4
Os Aruashi, extintos atualmente, so ainda mais ignorados na literatura antropolgica, mesmo aquela especfica
para os Tupi-Mond.
5
H representantes desta famlia no Brasil, na Guiana Francesa, na Venezuela, na Colmbia, no Peru, na
Bolvia, no Paraguai e na Argentina. Das 41 lnguas tupi-guarani, 21 so faladas no Brasil (MONTSERRAT,
1994).
10
lnguas que o formam, acrescentando aquelas j extintas. No caso da famlia Tupi-Guarani,
listo somente as lnguas faladas no Brasil atualmente.
11
TABELA 1
TRONCO TUPI
FAMLI
A
Lnguas DIALETOS
Aweti
Aweti
Arikm
Arikm; Karitiana; Kabixiana
Juruna
Juruna (Yuruna); Xipaya;
Manitsw
Maw
Maw (Satr-Maw)
Mundur
uku
Munduruku; Kuruya
Purubor
Purubor
Ramara
ma
Arara Karo; Itogapuk
Tupari Tupari; Ajuru; Makurp;
Mekm; Sakirabip
Tupi-
Mond
Cinta-Larga; Suru; Zor;
Gavio; Aru; Aruashi
Tupi-
Guarani
Akwwa;
Amanay;
Anamb;
Apiak;
Arawet;
Asurini do Xingu e do
Tocantins; Av-Canoeiro;
Parakan e Suru do
Tocantins
12
Guaj;
Guarani
Kaapor (Urubu Kaapor)
Kamayur
Kayabi
Kawahib
Kokma
Nheengat
Tapirap
Tenetehra
Wayampi (Waipi; Oiampi)
Xet
Zo (Putur)
Kaiow; Mby;
Nhandva
Parintintin; Diahi;
Juma; Karipna; Tenharin;
Uru-eu-wau-wau
Kokma; Omgua
(Kambeba)
Guajajara; Temb
Mesmo com o declnio populacional posterior ao contato e a conseqente extino de
alguns povos, Rondnia continua sendo o estado com a maior concentrao de famlias tupi,
representadas pelos povos Ajuru, Makurp, Mekm, Sakurabiat e Tupari (da famlia Tupari);
Arara Karo (da famlia Ramarama); Aru, Cinta-Larga, Gavio, Suru, Zor (todos da famlia
Mond); Karitiana (da famlia Arikm); Amondawa, Karipna, Tupi-Kawahib, Uru-Eu-Wau-
Wau (da famlia Tupi-Guarani) e Purubor (da famlia de mesmo nome).
Algumas das famlias do tronco tupi possuem apenas uma nica lngua representando-
as atualmente, como o caso Arikm, Purubor, Ramarama (estas trs, como vimos,
localizam-se exclusivamente em Rondnia), Aweti e Maw. A famlia Arikm era composta
pelas lnguas Arikm, Kabixina e Karitiana, mas, atualmente, apenas esta ltima existe,
restando apenas listas de palavras das demais (RODRIGUES 1986: 96-97). A famlia
Ramarama hoje se restringe lngua falada pelos Arara (Karo), tendo sido praticamente
extinta a lngua Itogapuk. Sobre a famlia Purubor as informaes so escassas e h
atualmente pouqussimos falantes. A famlia Maw est localizada em Terras Indgenas nos
estados do Par e Amazonas (entre o baixo Tapajs, o baixo Madeira e o Amazonas) e a
famlia Aweti no Parque Indgena do Xingu. Nota-se, portanto, uma disperso tupi (no-
guarani) tambm na direo leste, com as famlias Aweti, Juruna, Munduruku e Maw.
13
A famlia Juruna, alm da lngua de mesmo nome, compreende tambm o Xipaya e o
Manitsaw, esta ltima j extinta, e dispersava-se pelo baixo e mdio Xingu. Karl von den
Steinen, em sua primeira viagem ao Alto Xingu, coletou uma pequena lista de palavras
Manitsaw, um dos raros registros da lngua. Nimuendaj, em 1920, comparou as lnguas
Juruna, Xipaya e Manitsaw, filiando-as ao tronco tupi e instituindo a famlia Juruna que as
contemplava
6
. Os representantes da famlia Juruna, assim como os Aweti, esto atualmente
restritos rea do Alto Xingu. J os Munduruku esto dispersos em Terras Indgenas do Par,
Mato-Grosso e Amazonas, nos afluentes dos rios Madeira e Tapajs. Desta famlia lingstica
tambm faz parte os Kuruya concentrados hoje em dia em uma s Terra Indgena, no estado
do Par.
Para tornar mais clara a situao atual dos tupi, listarei, na tabela 2, cada um dos
povos (com exceo dos da famlia tupi-guarani), sua famlia lingstica, o estado brasileiro
em que se encontram e sua populao atual.
6
Este trabalho, intitulado Verwandschaften der Yuruna Sprachgruppe, referido por Viveiros de Castro na
introduo publicao de Nimuendaj (1981) como pertencente ao Tomo II do material lingstico indito do
autor.
14
TABELA 2: Lista de Povos indgenas no Brasil Contemporneo: Grupos atuais do
tronco Tupi, excetuando-se a famlia tupi-guarani.
7
Nome Outras grafias Famlia/lngua UF Populao Ano
Ajuru Tupari RO 77 2001
Arara Karo Ramarama RO 184 2000
Aru Mond RO 58 2001
Aweti Aueti Aweti MT 106 1999
Cinta Larga Mattame Mond MT/RO 1032 2001
Gavio Digt Mond RO 436 2000
Juruna Yuruna, Yudj Juruna PA/MT 201 1999
Karitiana Caritiana Arikm RO 206 2001
Kuruya Curuaia Munduruku PA 75 1998
Makurp Macurap Tupari RO 267 2001
Munduruku Mundurucu Munduruku PA 7500 1997
Sakurabiat Mekens,
Sakirabiap,
Sakirabiar
Tupari RO 89 2001
Satr-Maw Sater-Mau Maw AM/PA 7134 2000
Suru Pater Mond RO 765 2000
Tupari Tupari RO 338 2001
Xipaya Shipaya Juruna PA S/I
Zor Pageyen Mond MT 414 2001
7
Fonte: Banco de dados do programa Povos Indgenas no Brasil Instituto Socioambiental, setembro/2001.
15
1.2- Os Tupi no-Guarani
A bibliografia que concerne os grupos no-guarani do Tronco Tupi no forma um
conjunto homogneo. A qualidade dos dados varia de grupo para grupo, mas, para vrios
deles, temos um material consistente em reas como a lingstica e a antropologia mdica,
embora as anlises em antropologia social sejam algo raras. Procurarei fazer aqui uma
exposio abreviada do material existente sobre os grupos dando nfase s anlises
antropolgicas, mas tambm me referindo interface com outras reas de estudo
8
e situando o
leitor no contexto atual dos grupos
9
. A lingstica, ademais, conta com um projeto de grande
porte, o Projeto Tupi Comparativo, coordenado por Denny Moore, cujos participantes
estudam concomitantemente vrias lnguas do tronco tupi
10
. No curso da dissertao
descreverei outros aspectos sobre os grupos, pertinentes a questes especficas da dissertao
e, por este motivo, no me alongarei demasiado em sua descrio. Comecemos ento pelo
provvel centro de disperso Tupi: vamos aos povos de Rondnia.
Como vimos anteriormente, em Rondnia est concentrada a maioria das famlias do
Tronco Tupi, embora, devido ao difcil processo de demarcao das terras indgenas, as
populaes no apenas perderam muito de seu antigo territrio como sofreram um forte
declnio populacional decorrente dos conflitos e das epidemias que se seguiram. Um exemplo
da depopulao sofrida por todos os povos aliada a uma penosa demarcao do territrio o
que acontece na Terra Indgena Rio Guapor onde h apenas 407 habitantes e 10 etnias:
Ajuru, Aikana, Aru, Uari, Kanoe, Makurp, Mequm, Jaboti, Tupari e Arikapu.
As Linhas Telegrficas, instaladas pela Comisso Rondon entre os anos de 1912 e
1915, que ligavam Cuiab a Santo Antnio do Madeira, iniciaram um processo de ocupao
daquela rea e de reconhecimento dos povos indgenas da regio, que compreendia grupos
como os Kepkiriwat, Paranawat, Takwatip, Ipotewat entre tantos outros (cf. RONDON,
1946). Os Tupi-Kawahb (famlia tupi-guarani), por exemplo, foram alcunhados de os Tupi
do Ji-Paran e supe-se que somavam em torno de 2000 pessoas (DAL POZ et alii, 1987)
8
Farei meno s publicaes mais importantes para a antropologia social quando tratar de autores de outras
reas. Ao longo da dissertao, outros artigos dos mesmos autores sero citados.
9
Carlos Coimbra desenvolve atualmente um site que fornecer informaes bsicas e atualizadas sobre todos os
povos de Rondnia.
10
Os participantes do Projeto so: Carmem Rodrigues (Xipaya, famlia Juruna), Luciana Storto (Karitiana,
famlia Arikm), Srgio Meira (Maw, famlia Maw), Sebastian Drude (Aweti, famlia Aweti), Vilacy Galcio
(Mekns, famlia Tupari), Denny Moore (Gavio e Suru, famlia Tupi-Mond), Nilson Gabas Jnior (Karo,
famlia Ramarama), e Gessiane Lobato Picano (Munduruku, famlia Munduruku). O Projeto Tupi-Comparativo
financiado pela Wenner-Gren Foundation.
16
reduzidas a menos de 150 na ocasio da estada de Lvi-Strauss em 1938 (cf. LVI-
STRAUSS, 1948). Atualmente, estes povos tupi so considerados extintos (ARNAUD E
CORTEZ, 1976 apud DAL POZ et alii, 1987).
Os povos Tupi Mond, localizados a leste de Rondnia e a noroeste do Mato-Grosso,
contudo, no sofreram um impacto to grande face s mudanas provocadas pela linha
telegrfica e mantiveram-se at fins da dcada de 50 em um relativo isolamento (DAL POZ,
1991; 20). Conforme se intensificava seu contato com os brancos, sofreram uma aguda perda
populacional derivada tanto de epidemias como de disputas territoriais. Os Cinta-Larga, por
exemplo, at o final da dcada de 60 podiam ser estimados em 1000 a 2000 pessoas, nmero
reduzido em um tero (DAL POZ, 1991: 35) aps entrarem em contato com as frentes de
expanso
11
. Para os Zor, Brunelli supe que houvesse de 1000 a 1500 pessoas no perodo
imediatamente anterior ao contato, mas em 1990, a populao era cinco vezes menor
(BRUNELLI, 1989: 143). A partir das dcadas de 60 e 70, cerca de 75% dos Suru pereceram
em conseqncia de doenas como sarampo, gripe e tuberculose (cf. COIMBRA JR., 1989).
A legalizao da rea onde esto os Tupi-Mond deu-se com a criao do Parque Indgena do
Aripuan em 1969, cujos limites foram bastante modificados desde ento. Antes do contato
freqente com os brancos, costumava-se atribuir indistintamente aos diferentes povos Tupi-
Mond a denominao de Cinta-Larga ou Cinturo-Largo, em uma referncia ao adorno
que usavam na cintura. Os Gavio, que no final da dcada de 60 participavam das expedies
da FUNAI, insistiram para que se diferenciasse os povos Tupi-Mond, o que resultou em uma
profuso de designaes algo estranhas ao grupo que a recebe. Os Zor, por exemplo, j
receberam diversos nomes, como Monshoro, Cabea Seca, Majur, Munxar, Shoro e, mesmo o
nome pelo qual so conhecidos atualmente Zor , no corresponde antiga denominao
de Pangueyen, mas a derivao de uma palavra suru. Os Suru, por sua vez, receberam esta
designao de seringueiros, em nada semelhante autodenominao Pater. Para os Cinta-
Larga, restou o antigo rtulo (DAL POZ, 1991: 31). Tanto a denominao vinda de outro
grupo indgena ou mesmo dos brancos, como a juno em um s nome de conjuntos de
segmentos de grupos parecem mascarar, especialmente no caso Tupi-Mond, as variaes nos
seus modos de classificao
12
.
11
Lembro as propores do genocdio conhecido como Massacre do Paralelo 11, em 1963, patrocinado pela
firma Arruda & Junqueira, no qual vrios Cinta-Larga (entre homens, mulheres e crianas) foram cruelmente
assassinados. Deve-se notar que a chacina s foi tornada pblica porque um de seus participantes, furioso por
no ter sido pago o combinado, fez as denncias contra seus mandantes (cf. JUNQUEIRA, 1981: 57).
12
Veremos no captulo II como estas mltiplas classificaes podem se realizar.
17
O grupo que hoje conhecido como Cinta-Larga est localizado no noroeste de Mato
Grosso e sudeste de Rondnia, nas Terras Indgenas Parque Aripuan, Roosevelt e Serra
Morena. Os prprios Cinta-Larga, porm, dividem sua populao em trs agrupamentos: no
sul, nas redondezas dos rios Tenente Marques e Eugnia, esto as aldeias dos Pabiey (os de
cima) ou biey (os das cabeceiras). Os Pabirey (os do meio) esto prximos
confluncia do rio Capito Cardoso com o rio Roosevelt. Ao norte, nos rios Vermelho,
Amarelo e Branco, localizam-se os Papiey (os de baixo) (cf. DAL POZ, 1991: 32). Sua
populao total no ano de 2001 era de 1032 pessoas.
A Comisso Rondon, com a turma de explorao do rio Ananaz, estabeleceu o
primeiro contato oficial com os Cinta-Larga, nas estaes telegrficas de Vilhena, Jos
Bonifcio, Baro de Melgao e Pimenta Bueno, entre os anos de 1912 e 1915. Quanto s
pesquisas etnogrficas, Carmen Junqueira iniciou seu trabalho de campo entre os Cinta-Larga
em 1979, orientando-o para as relaes entre tal povo e o Estado (JUNQUEIRA, 1984/5;
1981). Os Cinta-Larga tambm foram estudados por Dal Poz (1991, 1993) que enfocou, em
sua dissertao de mestrado, um ritual especfico do grupo e suas relaes com a mitologia e
com o contexto etnogrfico. O enfoque de Priscila Ermel (1988) recai sobre a musicologia dos
Cinta-Larga. Devo destacar ainda a coletnea de mitos e narrativas contados por Pichuvy
Cinta-Larga (1988).
Em 1977, os Zor contataram alguns pees de uma fazenda no rio Branco e, no
mesmo ano, a FUNAI foi ao seu encontro na sede da mesma fazenda, auxiliada pelos Gavio,
Cinta-Larga e Suru. Em 1978, os Zor passaram para as terras Gavio, em conseqncia de
um ataque suru e, apenas dois anos depois, voltaram para sua rea. Brunelli (1989: 140)
afirma que, antes do contato permanente, os Zor no poderiam ser vistos como um grupo
estruturado, como so considerados atualmente, mas como um grande conjunto de pequenos
agrupamentos autnomos econmica e politicamente que mantinham tanto relaes de guerra
como de aliana. Atualmente, habitam um territrio compreendido entre o Rio Roosevelt, a
leste e o rio Branco a oeste a Terra Indgena Zor uma regio coberta pela floresta tropical
e densa, no noroeste de Mato Grosso, fronteira com Rondnia, e somavam 414 pessoas no
ano de 2001.
Brunelli (1989), em seus estudos sobre os Zor, focalizou a etnomedicina e suas
relaes com a medicina ocidental, mas tambm abordou, ainda que rapidamente, algumas
questes acerca do xamanismo (1988), das mudanas na conduta da caa (1985) e das
migraes zor (1986). O estudo de Cloutier (1988) incide sobre a musicologia zor. H
tambm vrios estudos com nfase na antropologia mdica (FREITAS 1996; SANTOS 1991;
18
SANTOS & COIMBRA 1996) e alguns estudos lingsticos (TRESSMANN 1994; MOORE
1981). Brunelli tambm escreveu sua tese de doutorado, qual no tive acesso.
Os Gavio, tambm chamados Ikolen, vivem fora da extenso do Parque Aripuan, na
Terra Indgena de Lourdes, demarcada em 1977, onde tambm vivem os Arara, falantes da
lngua Karo (famlia Ramarama). Os informantes de Mindlin (2001: 241) relatam que as
antigas aldeias gavio localizavam-se na regio dos afluentes do rio Ji-Paran, onde hoje a
reserva do Jaru, e no rio Madeirinha. Nas primeiras dcadas do sculo XX, foram contatado e
fotografados pela Comisso Rondon, fazendo parte posteriormente do lbum fotogrfico
ndios do Brasil (RONDON, 1946) como os ndios Urumi. Em 1953, Harald Schultz
esteve entre os Arara e os Gavio, poca em que estes dois povos comeavam a aprender a
fazer borracha (SCHULTZ, 1955: 81-97). Schultz chamou os Gavio de Digt, nome de um
de seus informantes, cuja traduo esconderijo de caa. No ano de 1966, os missionrios
do New Tribes Missions estiveram na rea, onde estimaram em menos de 100 gavio e 50
arara, a populao restante (MOORE, 1981: 48).
A lngua Gavio foi estudada em profundidade por Moore (1984) que elaborou sua
descrio gramatical e ainda hoje trabalha tanto com os Gavio como com os outros povos
Tupi-Mond. Lovold e Forseth estiveram em campo entre os anos de 1980 e 1981 e
focalizaram seus trabalhos na mitologia, cosmologia e xamanismo (cf. DAL POZ, 1991: 23).
13
H ainda algumas narrativas de mitos coletados por Mindlin (2001) reunidos em uma
coletnea temtica.
Os Suru esto localizados no sudeste de Rondnia e noroeste do Mato-Grosso,
na Terra Indgena Sete de Setembro, com estimativa de 765 habitantes no ano 2000. Mindlin
(1985: 26) relata que seus informantes lembram que no sculo XIX teriam emigrado de Mato-
Grosso para Rondnia. Em junho de 1969, os Suru estiveram no posto Sete de Setembro,
quando foram estimados em 800 pessoas. Moore relata (1981: 50) que a pacificao dos
Suru, da qual participaram os Gavio, resultou em dezenas de mortes. Em 1976, seu territrio
foi demarcado (MINDLIN, 1981: 153).
A lngua Suru foi estudada primeiramente pelos missionrios do Summer Institute of
Linguistics (SIL) W. & C. Bontkes (BONTKES, 1974, 1978 apud MOORE, 1984: 8).
Mindlin esteve entre os Suru nos anos de 1979 a 1983 e desde ento produziu vrios livros
cujos enfoques variam de uma descrio en passant do seu modo de vida (MINDLIN, 1985)
at a reunio de mitos narrados por seus informantes (1996). Coimbra Jr. desde 1979 tem feito
13
Infelizmente, no tive acesso aos artigos mimeografados destes autores.
19
pesquisa sobre ecologia humana entre os Suru e outros povos da regio (COIMBRA JR.
1985; 1989; SANTOS & COIMBRA JR.,1994). J o enfoque de Santos (1991) recai
principalmente sobre a antropologia biolgica.
As informaes sobre os Mond so bastante raras e no dispomos de informaes
atualizadas sobre eles. A primeira meno dos Mond na literatura etnogrfica de 1938,
quando Lvi-Strauss esteve em uma aldeia de 25 pessoas no alto rio Pimenta Bueno que se
autodenominavam Mond (LVI-STRAUSS, [1955] 1996: 314). A missionria W. Hanke,
no final da dcada de 40, visitou trs famlias Mond que haviam migrado para o alto
Guapor, e coletou uma lista de palavras
14
(HANKE, 1950) que serviu, como vimos antes,
para classificar as lnguas dos grupos prximos aos Mond.
Quanto aos Aru, temos algumas informaes de Snethlage quando, na dcada de 30,
encontrou tanto estes ndios como os Aruashi no rio Branco do Guapor (SNETHLAGE,
1937 apud DAL POZ, 1991: 22). H ainda uma lista de palavras coletada pelo missionrio
Robert Campbelle (1968). Atualmente, os Aru vivem nas terras indgenas Rio Guapor e Rio
Branco junto a vrios outros grupos.
Os Arara (de lngua Karo), da famlia Ramarama, possuem uma longa histria de
contato com os povos Tupi-Mond. Contudo, no h etnografias sobre os Arara e so escassas
as referncias famlia Ramarama, de modo geral. Segundo Mtraux (1948: 407) os Itogapuk
viviam no alto rio Madeirinha, um dos afluentes do rio Roosevelt, e os Ramarama, nesta
mesma poca, estariam quase extintos e os remanescentes viveriam no rio Machadinho.
Nimuendaj (1925: 144), que esteve entre os Itogapuk (Netogapd ou Intogapid) em 1921,
coletou uma pequena lista de palavras da lngua a partir de entrevistas com duas crianas. O
autor compara esta lista com uma feita por Horta Barbosa da Comisso Rondon para os
Rama-rama e conclui haver uma perfeita identidade lingstica entre as duas
(NIMUENDAJ, 1925: 144). Os sobreviventes atuais desta famlia so apenas os Arara, para
os quais h trabalhos lingsticos desenvolvidos principalmente por Moore (1981) e Gabas Jr.
(1989; 1994). Segundo Gabas Jr (1994: 136), os Arara parecem ter habitado a regio que vai
do rio Machado (ou Ji-Paran) ao rio Branco. Atualmente, vivem na Terra Indgena Igarap
Lourdes, junto com os Gavio, e somavam 184 pessoas no ano 2000.
Tambm em Rondnia esto os Karitiana, ltimos remanescentes de uma populao
maior pertencente famlia Arikm, que, como vimos, englobava outras lnguas atualmente
20
extintas. Os Karitiana atribuem o nome pelo qual so conhecidos aos seringueiros e aos
caucheiros com os quais trabalharam no incio do sculo XX (LUCIO, 1996: 37). De acordo
com o mapa etno-histrico de Curt Nimuendaj ([1944] 1981), os grupos da famlia Arikm
ocupavam a rea ao sul da bacia do rio Madeira. Mtraux (1948: 406), por sua vez, relata que
dominavam a rea das cabeceiras dos rios Jamari, Candeias e Massangana, afluentes do rio
Madeira. Na ocasio de seu encontro com a Comisso Rondon, eram cerca de sessenta
pessoas distribudas entre quatro aldeias. Alguns pesquisadores sugerem um contato estreito
entre os Karitiana e os povos Aymara da Bolvia, j que ambos praticavam a deformao
craniana por meio de um aparato de madeira e algodo que, se usado desde cedo nas crianas,
produz o achatamento da poro frontal do crnio (cf. SOUZA, 1994) e, ao contrrio de
outros grupos Tupi, os Karitiana no produzem farinha de mandioca, mas sim a farinha de
milho, processada em um pilo horizontal com a pedra retangular tpicos de povos vizinhos
bolivianos.
A primeira aluso aos Karitiana na literatura data de 1909 atravs do Capito Manoel
Teophilo da Costa Pinheiro, da Comisso Rondon, que os localiza na altura do rio Jaciparan.
Em 1910, o prprio Rondon relata os servios dos Karitiana prestados aos seringueiros
naquela regio. O padre salesiano Victor Hugo esteve entre eles em 1959 e escreveu o livro
Desbravadores (sobre a pacificao e a catequizao dos ndios da regio), contendo uma
lista com nomes e idades dos Karitiana batizados pelos missionrios e tambm um lxico
Karitiana (HUGO, [1959] 1992). David e Rachel Landin, missionrios do Summer Institute of
Linguistics (SIL), viveram entre os Karitiana de 1972 a 1978, e foram os primeiros a estudar
sua lngua (cf. LANDIN, 1989). Tambm a lingista Luciana Storto (cf. STORTO, 1999) tem
se dedicado descrio e anlise da lngua Karitiana desde 1991 e, atualmente, desenvolve
um projeto de educao e documentao da lngua. Uma etnografia recente a dissertao de
mestrado de Carlos Frederico Lucio (1996) cujo objetivo fazer uma comparao entre o que
o autor define como trs sistemas classificatrios, a saber: a genealogia, o sistema
onomstico e o sistema de parentesco (LUCIO, 1996: 3). Tive a oportunidade de entrevistar
dois Karitiana, Incio e Nlson, no perodo de uma semana
15
.
14
A autora dividiu as palavras por temas que ela define como: parentesco, partes do corpo humano,
natureza, animais e seus derivados, adjetivos, advrbios, verbos e frases. O artigo inclui ainda uma
anlise de desenhos feitos por um informante.
15
Atravs do Projeto Tupi Comparativo, passei uma semana em So Paulo, na companhia da lingista Luciana
Storto e do foneticista Didier Demolin, com o intuito de coletar dados e termos do parentesco Karitiana. Estas
informaes estaro no presente trabalho, embora eu tenha clareza de que se trata de informaes ainda
preliminares. Agradeo aqui, mais uma vez, a oportunidade que me foi oferecida pelos integrantes do projeto.
21
Os Karitiana sofreram um declnio populacional atroz que impulsionou uma
endogamia exacerbada, cujo resultado o de que praticamente toda a populao Karitiana
atual descendente de um nico homem, um antigo chefe chamado Antnio Moraes (LUCIO
1991: 141). Atualmente, vivem na Terra Indgena Karitiana no Rio das Garas, entre os Rios
Candeias e Jaciparan, sua aldeia fica prxima cidade de Porto Velho e, no ano de 2001, os
Karitiana somavam 206 pessoas.
Ainda em Rondnia, os Tupari vivem atualmente na Terra Indgena Rio Branco,
demarcada em 1983 pela FUNAI, onde tambm se encontram remanescentes dos grupos
Ajuru, Makurp e Mekns, da famlia Tupari, nas Terras Indgenas do Rio Branco e do Rio
Guapor
16
. Em 1927, os Tupari entraram em contato com alguns seringueiros que trabalhavam
com outros ndios da regio. Sete anos mais tarde, Snethlage esteve entre os Tupari por uma
semana, quando os estimou em cerca de 250 pessoas. Lvi-Strauss (1948: 372), em um artigo
no Handbook of South American Indians, relata que os Aru e os Makurp j viviam no rio
Branco, mas os Tupari localizavam-se junto aos Kepkiriwat nas cabeceiras dos afluentes ao
sul do rio Machado (Ji-Paran). Caspar (1957: 148) relata que, na ocasio de seu primeiro
contato com os Tupari, em 1948, havia aproximadamente 200 pessoas, nmero reduzido para
66 em 1954, devido a uma epidemia de sarampo. preciso notar que a estimativa do mesmo
autor para a poca pr-contato era de cerca de 3000 pessoas. Aps suas viagens em 1948 e
1954, Caspar produziu o material etnogrfico que at hoje constitui praticamente as nicas
referncias etnolgicas sobre os Tupari. Infelizmente no me foi possvel consultar o clssico
livro de Franz Caspar (1975), Die Tupar. Ein Indianerstamm in Westbrasilien, devido
minha inaptido com a lngua alem e tambm dada a urgncia dos prazos ao fato de no
ter podido solicitar sua traduo. Consultei, no obstante, outras obras do mesmo autor
(CASPAR 1953, 1957, 1958). Mindlin (1993) reuniu as fotos de Caspar narrativas em
portugus coletadas pela autora, dividindo-as por temas em uma publicao sobre os Tupari.
Quanto famlia Purubor, dispomos de algumas informaes da segunda dcada do
sculo XX de Koch-Grnberg e h ainda uma lista de palavras coletada por Bontkes (1968).
Rodrigues (1986: 96) relata que os Purubor viviam no rio So Miguel, um afluente do rio
Guapor. A classificao do purubor passou pelas mais variadas tentativas de comparao
com outras lnguas. Lvi-Strauss (1948: 372), por exemplo, afirmou que os Massak do rio
Corumbiara seriam lingisticamente ligados aos Purubor e estes no fariam parte do
conjunto tupi. De acordo com Snethlage (1937 apud LVI-STRAUSS, 1948: 372), os
16
Nestas mesmas reas h tambm remanescentes dos seguintes povos: Arikapu; Kanoe; Columbiara; Aru;
Jaboti; Aikana e Uari.
22
Purubor seriam similares aos Kepikiriwat, aos Amniap, aos Guaratgaja e aos Tupari.
Finalmente, Rodrigues (1986: 42) classificou-a como uma famlia do tronco tupi, com uma
nica lngua isolada. Os pesquisadores do Projeto Tupi-Comparativo recentemente
contactaram alguns remanescentes purubor em Rondnia.
Esgotados os povos de Rondnia, concentremo-nos agora nos povos que se
dispersaram. Passemos para as famlias Maw, Munduruku, Juruna e Aweti.
A ocupao da Amaznia pelos portugueses iniciou-se efetivamente em 1616, quando
foi fundada uma fortaleza no onde a cidade de Belm, no Par. A fundao da Misso
Jesuta dos Tupinambaranas, em 1669, impulsionou o primeiro contato dos Maw com os
brancos (NIMUENDAJ, 1948: 245) e, j em 1691, aparecem no mapa elaborado pelo padre
Samuel Fritz como mabus e situados a oeste do rio Tapajs. Os Maw (ou Sater-Maw)
antes habitavam um grande territrio entre os rios Madeira e Tapajs, que foi bastante
reduzido aps as permanentes guerras com os vizinhos Munduruku e Parintintin e tambm
depois do contato. Nimuendaj relata que os Andir e os Maragu, que aparecem na
literatura, eram, provavelmente, subgrupos Maw.
No obstante seu contato antigo, os Maw no foram objeto de muitas descries
etnogrficas. Sobre eles escreve Nimuendaj (1948: 245-246) que, em 1923, esteve entre os
Maw da regio do Mariaqu. Nunes Pereira, talvez o mais conhecido etnlogo dos Maw,
esteve na regio do rio Andir, no ano de 1939 e, posteriormente, escreveu Os ndios
Maus (NUNES PEREIRA, 1954), onde os compara com outros grupos principalmente
com os Munduruku e descreve, bastante sucintamente e nos moldes do Handbook, o que
chama de aspectos gerais da cultura dos ndios Maus. Entre 1956 e 1957, Leacock esteve
entre os Maw do Andir e produziu um artigo sobre as relaes entre estrutura social e
mudanas econmicas impulsionadas pela aquisio de bens (LEACOCK, 1964). A
dissertao de mestrado de Romano (1982) versa sobre as migraes de um grupo Maw, na
dcada de 70, para a cidade de Manaus, enfocando as relaes com seu novo contexto urbano.
Lorenz (1992), por sua vez, escreveu um pequeno livro onde descreve o desenvolvimento do
projeto Sater, do qual fazia parte, que tinha por objetivo a demarcao do territrio indgena
e a organizao para produo e comercializao autnomas do guaran. Uma monografia
recente e que fornece um bom nmero de novos dados, a de Giraldo Figueroa (1997), que
tem por objetivo principal descrever as representaes dos Maw sobre as doenas, o mal e a
morte (GIRALDO FIGUEROA, 1997: 1). Os Maw habitam atualmente a Terra Indgena
Andir-Marau, no mdio rio Amazonas, entre os estados do Amazonas e Par, e somavam
7134 pessoas no ano 2000.
23
No sculo XVIII, os Munduruku iniciaram um processo de expanso de seu territrio
pela rea do rio Tapajs e adjacncias, que durou at meados do sculo XIX. De acordo com
Santos (1999: 126), o territrio original dos Munduruku era no alto de um pequeno monte que
se elevava em meio a terra plana, no alto curso do rio Cururu, um dos rios formadores do
Tapajs, que lhes forneceria uma posio privilegiada e mais segura contra os ataques
inimigos. A expanso dos Munduruku para a regio do antigo Estado do Gro-Par e Rio
Negro, a partir da rea do alto rio Tapajs, levou-os a um inevitvel conflito tanto com os
demais povos indgenas, como com os ndios aldeados e os brancos. O embate causado fez
com que as autoridades coloniais decidissem pela guerra e cativeiro contra os Munduruku;
contudo, no lhes foi possvel empreender o extermnio, posto que no dispunham nem de
soldados suficientes, tampouco de misses religiosas (SANTOS, 1999: 174/175)
17
. Por volta
do ano de 1790, contudo, firmou-se um tratado de paz entre os colonizadores e os
Munduruku que, por sua vez, aliaram-se aos portugueses participando do processo de captura
de outros povos indgenas para realizar os descimentos. Procedimento semelhante ocorreu
durante a Cabanagem, j no sculo XIX, em que os Munduruku capturavam os rebeldes
cabanos enquanto os Mura lutavam junto aos ltimos (id.).
A primeira referncia aos Munduruku data de 1768, quando o padre Jos Monteiro de
Noronha, vigrio geral da capitania de so Jos do Rio Negro, listou os Maturucu entre as
tribos do rio Maus (SANTOS, 1999: 134). As misses religiosas estabeleceram-se na rea do
Tapajs em 1799 e na regio do rio Madeira em 1811 (HORTON, 1948: 272). O termo
Munduruku o nome dado pelos Parintintin a uma espcie de formiga (STRMER 1932
apud HORTON, 1948); a autodenominao do grupo Weidyenye, que significa nosso
povo de acordo com Kruse (1934: 52). Este ltimo autor (KRUSE, 1954:51) prope uma
diviso dos Munduruku em 4 grupos principais: os primeiros seriam os habitantes do rio
Tapajs; em seguida, haveria os moradores de uma rea do rio Madeira, que foram visitados
por Martius; j os Munduruku do Xingu seriam denominados Kuruya e os que habitavam a
regio do Juruena seriam chamados de Njambikwras estas duas ltimas classificaes
so notadas como equivocadas por Murphy (1960:7).
Os etngrafos Robert e Yolanda Murphy estiveram entre os Munduruku nos anos de
1952 e 1953 e produziram etnografias que se tornaram clssicas na Antropologia. Em sua
primeira monografia, Mundurucu Religion (1958), Murphy descreve rituais e narra vrios
fragmentos de mitos. Posteriormente, escreveu o ensaio Headhunters Heritage (1960), no
17
Nesta mesma poca, os portugueses tambm estavam em guerra contra os Muras.
24
qual enfocava as mudanas na estrutura social e econmica dos Munduruku. Junto com sua
esposa, Yolanda Murphy, publicou Women of the Forest (1974), no qual ambos os autores
trataram enfocaram o papel da mulher em diferentes contextos. Os dados etnogrficos
coletados por estes autores serviram desde ento para diversas anlises de outros
pesquisadores. Nadelson (1981) examinou seis mitos munduruku a partir dos dados de
Murphy; e Menget (1993), por sua vez, analisou as diversas etapas do ritual guerreiro dos
Munduruku. Contudo, no h dados etnogrficos atuais. Nos dias de hoje, os Munduruku
somavam 7500 pessoas em 1997, dispersas em oito terras indgenas nos estados do Par,
Amazonas e Mato-Grosso.
Os kuruya tambm pertencem famlia lingstica Munduruku e, atualmente, vivem
nas terras indgenas Xipaya (ainda em processo de identificao) e Curu, ambas no estado do
Par, onde somavam 75 pessoas em 1998. Nimuendaj (1948: 221) relata que os kuruya
eram chamados Caravares, por volta dos anos de 1682 a 1685 e que consideram como seu
territrio os afluentes da margem direita do rio Curu, onde foram encontrados no sculo XX.
Snethlage esteve entre eles em 1909 e 1913, quando elaborou um vocabulrio comparativo
Xipaya/kuruya (SNETHLAGE, 1910: 93-99), apresentou fotografias dos dois povos e fez
vrias descries que incluam descries sobre o dia-a-dia, curas xamnicas e descries
fsicas. Em 1934, sofreram ataques dos Kayap e uma parte do grupo migrou da foz do
Riozinho do Iriri para o rio Tapajs e a outra parte passou para o mdio Iriri. No h
etnografias sobre este grupo.
As relaes dos kuruya com os grupos da famlia Juruna, seja de guerra, seja de
aliana, so bastante antigas. Os kuruya eram considerados pelos Juruna como parte da
civilizao do cauim (LIMA, 1995: 338) por serem canibais. Tambm os Xipaya os
incluem em vrias de suas narrativas mticas e, em uma delas, contam a origem dos Kuruya
(NIMUENDAJ, 1981: 44-5).
As primeiras notcias sobre os Juruna datam do sculo XVII, quando eles ocupavam,
com outros povos, um vasto territrio na bacia do rito Xingu que se estendia da foz do rio Iriri
ao rio Bacaj, no Par. Quanto aos contatos dos Juruna, pode-se dizer, resumidamente, que
cabe ao padre jesuta Torquato Antnio de Souza Fontes a primeira nota etnogrfica, efetuada
em 1842, quando estimou a populao Juruna em 2000 pessoas distribudas entre nove
aldeias. J Karl Von Den Steinen, em 1884, calculou 230 habitantes em 5 aldeias e, em 1896,
Henri Coudreau estimou-os em 150 habitantes distribudos em dois grupos
18
. Lima (1995: 62)
18
C.f. Lima (1995: 61-63) e Nimuendaj (1948: 218) para uma sntese mais completa dos contatos Juruna.
25
relata que os Juruna por ela estudados descendem de um destes grupos observados por
Coudreau os que estavam situados na desembocadura do rio Fresco at a Cachoeira
Comprida. No final do sculo XIX os Juruna migraram das ilhas do Mdio Xingu para a
Cachoeira Von Martius, no alto rio Xingu, fugindo da ltima onda de homicdios do mesmo
sculo (op.cit.: 6). Na dcada de 40 do sculo XX, com o processo de pacificao iniciado
pelos Villas-Boas, os Juruna foram quase extintos (FRANCHETTO, 1987: 149). Atualmente
h uma aldeia, chamada Tubatuba, na foz do rio Maritszw, cuja populao, em 1999, era de
201 pessoas. Na Terra Indgena Paquiamba, a jusante de Altamira, h uma outra aldeia que
contava com 35 habitantes em 1998.
Do ponto de vista etnolgico, os Xipya foram estudados por Curt Nimuendaj (1948,
1981) e os Juruna por Adlia Oliveira (1968, 1969, 1970a, 1970b) e posteriormente por Tnia
Lima (1986, 1995, 1996). Esta ltima autora, em sua tese de doutorado, relata que seus
informantes contaram-lhe sobre a existncia de outros grupos Juruna chamados de Arupaya,
Peapya, Aoku e Taku)mdikat (LIMA 1995: 6), mas as informaes sobre estes grupos so
bastante escassas ou mesmo nulas. H algum conhecimento sobre os Arupaya que, segundo
Adalberto von Preussen (apud NIMUENDAJ 1948: 220), eram tradicionais inimigos dos
Juruna. Foram tambm denominados como Urupaya ou Arupa palavra derivada do xipya
arup ou aguay, de acordo com Nimuendaj no Handbook of South American Indians
(op.cit.1948: 220). Coube a Brusque (1863 apud STEWARD, 1948) o ltimo relato sobre
estes ndios, no qual h informaes sobre sua economia de subsistncia e as relaes com os
Tucunapeuas (Takunyap), pois, quando da viagem de Von den Steinen ao Xingu em 1884,
os Arupaya no mais existiam. Sobre os Peapya, h informaes de Adalberto von Preussen
(1865: 685 apud SNETHLAGE, 1910) que afirma serem eles os principais inimigos dos
Juruna. Nimuendaj (1981: 45-6) relata uma expedio guerreira dos Xipaya contra os
Peapya.
Os Xipaya habitavam as ilhas do Rio Iriri, na foz do rio Curu, e, com o padre jesuta
Roque Klundertpfund, estabeleceram seu primeiro contato oficial. O prncipe Adalberto von
Preussen faz um interessante relato sobre a covardia dos Xipaya (do qual discorda
veementemente Emlia Snethlage):
Vem depois os Axipai [Xipaya], que so pouco numerosos; elles so mansos, pouco
hbeis e cobardes na guerra e por causa disto foram sempre repellidos. Ao contrrio os Peapai
[Peapya] so numerosos e so elles os inimigos principaes dos Juruna e Tacanhapz. O
mesmo pode-se dizer dos Curierai [Kuruaya], prximos visinhos das trs primeiras tribs s
26
quaes elles movem uma guerra contnua (PREUSSEN, 1857: 685 apud SNETHLAGE,
1910).
Snethlage esteve entre os Xipaya e entre os Kuruya nos anos de 1909 e 1913 quando
coletou uma lista de palavras da lngua (SNETHLAGE, 1910). Foi no ano de 1913 que os
Xipya dividiram-se em dois grupos um no baixo Iriri e outro no Curu aps um
confronto com seringueiros (NIMUENDAJ 1948: 219). Um ataque Kayap obrigou o grupo
do Iriri a deslocarem-se para o Curu. H ainda uma publicao que rene mitos e narrativas
Xipaya, coletados por Nimuendaj (1981). Atualmente, os Xipya esto localizados nas
Terras Indgenas de Curu e Xipya.
A aldeia Aweti est localizada no mdio curso do rio Tuatuari, no Mato-Grosso. A
primeira referncia ao grupo encontra-se no mapa de Karl von den Steinen (1942: 255)
desenhado por um Suy em 1884, que os localizava no Culiseu, prximos aos Arauiti, fato
que o etngrafo confirmou em sua segunda viagem em 1887. Os Aweti vivem hoje na mesma
regio onde Steinen os encontrou. Outros pesquisadores estiveram entre os Aweti, como H.
Meyer, em expedies nos anos de 1895-1896 e 1898-1899; e M. Schmidt em uma expedio
no ano de 1900-1901 (COELHO DE SOUZA 2001: 359). Em 1924, o Capito Vicente de
Paulo Vasconcelos, da Comisso Rondon, encontrou o chefe Aweti Avaiat (Awajatu) que,
na mesma ocasio foi fotografado pelo Major Reis. A partir desta mesma data os Aweti
sofreram um declnio populacional intenso (COELHO DE SOUZA, 2001: 360) e, quando da
visita de Pedro Lima em 1947, restavam apenas 27 pessoas (LIMA, 1955: 164, 169). Oberg,
no ano seguinte recenseou-os em 30 pessoas (OBERG, 1953: 3-4) e Zarur (1975) em 1971
estimou-os em 45. Charlotte Emmerich e Ruth Montserrat (1972) efetuaram um trabalho
sobre a fonologia da lngua aweti que auxiliou sua classificao como famlia lingstica e
no mais como parte da famlia Tupi-Guarani. Atualmente, Sebastian Drude realiza pesquisas
lingsticas entre os Aweti, no contexto do Projeto Tupi Comparativo.
Embora tanto os Juruna como os Aweti vivam atualmente em uma mesma reas
indgena, eles inserem-se de maneira diferente no contexto alto-xinguano. Enquanto os Juruna
ocupam uma posio marginal (LIMA, 1995: 7), os Aweti fazem parte do sistema
sociocultural do Alto Xingu. Por este motivo, sua comparao com os outros Tupi me parece
mais complicada, posto que sua insero no contexto do Alto-Xingu implica necessariamente
em um estudo deste sistema alm de maiores informaes sobre os prprios Aweti antes
de qualquer tipo de avaliao. Sendo assim, preferi no incorporar os dados sobre os Aweti na
dissertao.
27
1.3- Consideraes Finais
A escassez de trabalhos consistentes que dem conta das famlias tupi reflete-se em
um obscurecimento das diferenas e semelhanas entre os povos. Por este motivo, seria
pretensioso fazer aqui um trabalho comparativo incluindo na anlise os Tupi-Guarani em
conjuno aos outros povos, no em oposio a eles , visto que os dados so tanto escassos
como discrepantes em sua qualidade. Portanto, meu intuito neste primeiro captulo foi fazer
um sobrevo sobre o material tupi, tornando visveis os contrastes na qualidade e quantidade
das informaes e, desta maneira, justificar a opo por privilegiar determinados povos nas
anlises posteriores. Minha proposta, ento, a de concentrar a anlise em questes-chave
que nos levem a pensar sobre certos temas recorrentes na literatura Tupi, apoiando-me nos
dados mais precisos e cuidadosos de que dispomos.
28
ANEXO
Localizao e situao atuais das Terras Indgenas. Fonte: Banco de dados do
programa Povos Indgenas no Brasil Instituto Socioambiental, setembro/2001
Arara Karo
Terra Indgena Igarap Lourdes 556 habitantes (Arara e Gavio)
(Funasa:1999) Registrada 185.534 ha Municpio de Ji- Paran RO
Aru
Terra Indgena Rio Branco 320 habitantes (Makurp, Arikapu/Kanoe,
Columbiara/Aru, Jaboti/Tupari) (Funai:94) Registrada 236.137 ha Municpio de Costa
Marques RO.
Terra Indgena Rio Guapor 407 habitantes (Ajuru/ Aikana/ Aru/ Uari/ Kanoe/
makurp/ Mequm/ Jaboti/ Tupari/ Arikapu) (Funai: ADR / G. Mirim: 98) Homologada
115.788 ha Municpio de Guajar Mirim RO
Cinta-Larga:
Terra Indgena Parque Aripuan 360 habitantes (FUNAI:1989) Homologada
1603.246 ha Municpio de Ariquemes RO/MT
Terra Indgena Parque Aripuan 132 habitantes (CIMI-RO: 1995)
Homologada 750.649 ha Municpio Juna Aripuan MT.
Terra Indgena Roosevelt 306 habitantes (CIMI-RO: 1995) Homologada
230.826 ha Municpios de Aripuan e Espigo dOeste MT/RO.
Terra Indgena Serra Morena 145 habitantes (I. Hargreaves: 1993) 147.836
ha Municpio de Juna MT.
29
Gavio
Terra Indgena Igarap Lourdes 556 habitantes (Arara e Gavio) (Funasa:1999)
Registrada 185.534 ha Municpio de Ji- Paran RO
Juruna
Terra Indgena Paquiamba 35 habitantes (Funai-Altamira: 98) Registrada 4.348
ha Municpio de Se. Jos Porfrio PA.
Karitiana
Terra Indgena Karipna 20 habitantes (Karitiana e karipna) (Funai Porto
Velho: 2000) Homologada 152.930 ha Porto Velho RO.
Terra Indgena Karitiana 220 habitantes (Funai: 99) Registrada 89.682 ha
Porto Velho RO.
Kuruya
Terra Indgena Curu 91 habitantes (Xipya/ Kuruya) (Funai-Altamira: 99)
Delimitada 19.450 ha Municpio de Altamira PA
Terra Indgena xipya - 67 habitantes (xipya/kuruya) (Funai-Altamira: 99) Em
identificao Municpio de Altamira PA
Makurp
Terra Indgena Rio Branco 320 habitantes (makurp, Arikapu/Kanoe,
Columbiara/Aru, Jaboti/Tupari) (Funai:94) Registrada 236.137 ha Municpio de Costa
Marques RO.
Terra Indgena Rio Guapor 407 habitantes (Ajuru/ Aikana/ Aru/ Uari/ Kanoe/
makurp/ Mequm/ Jaboti/ Tupari/ Arikapu) (Funai: ADR / G. Mirim: 98) Registrada
115.788 ha Municpio de Guajar Mirim RO
Terra Indgena Rio Mequns 137 habitantes (Sakirabip/ makurp) (Funasa:
95) Registrada 107.553ha Municpio de Colorado do Oeste-Cerejeira RO
Terra Indgena Posto Fiscal a identificar RO
30
Munduruku
Terra Indgena Apiak-Kayabi 85 habitantes (Munduruku, Apiak, Kayabi) (Funasa:
99) Homologada 109.245 ha Municpio de Juara MT.
Terra Indgena Alto Rio Guam 922 habitantes (Kreje, Kaapor, Guaj, Temb,
Munduruku) (Funai: 99) Homologada 279.897 ha Municpio de Paragominas-
W.Esperana do Piri, Santa Luzia do Par PA.
Terra Indgena Kayabi 387 habitantes (Munduruku, Kayabi, Apiak,) (Funai:
Itaituba: 00) Identificada/Aprovada/FUNAI 1.408.00 ha Municpio de Jacareacanga
Apiacs, MT/PA.
Terra Indgena Coat-Laranjal 1.768 habitantes (Munduruku, Sater-Maw)
(GT/Funai:97) Declarada 1.121.300 ha Municpio de Borba AM.
Terra Indgena Munduruku 5.075 habitantes (Parecer Funai: 95) Declarada
2.340.30 ha Municpio de Jacareacanga PA.
Terra Indgena Praia do ndio 65 habitantes (Funai-Itaituba: 00) Reservada 28 ha
Municpio de Itaituba PA.
Terra Indgena Praia do Mangue 115 habitantes (Funai-Itaituba: 00) Reservada 30
ha Municpio de Itaituba PA
Terra Indgena Sai Cinza 1.022 habitantes (Funai-Itaituba:00) Registrada
125.552 ha Municpio de Itaituba PA.
Sakirabip
Terra Indgena Rio Mequns Registrada RO
Sater-Maw
Terra Indgena Andir-Marau 7.134 habitantes (Funai-Parintins: 00) Homologada
788.528 ha Municpio de Itaituba, Barreirinha, Arintins, Aveiro, Maus PA, AM, AM,
PA, AM.
Terra Indgena Jacar Xipaca Em Identificao AM .
Suru-Paiter
31
Terra Indgena Sete de Setembro 605 habitantes (CIMI-RO: 95) Registrada
247.870 ha Municpio de Aripuan-Cacoal MT/RO
Tupari
Terra Indgena Rio Branco 320 habitantes (Makurp, Arikapu/Kanoe,
Columbiara/Aru, Jaboti/Tupari) (Funai:94) Registrada 236.137 ha Municpio de Costa
Marques RO.
Terra Indgena Rio Guapor 407 habitantes (Ajuru/ Aikana/ Aru/ Uari/ Kanoe/
makurp/ Mequm/ Jaboti/ Tupari/ Arikapu) (Funai: ADR / G. Mirim: 98) Registrada
115.788 ha Municpio de Guajar Mirim RO
Xipaya
Terra Indgena Curu 91 habitantes (xipya/ kuruya) (Funai-Altamira: 99)
Delimitada 19.450 ha Municpio de Altamira PA
Terra Indgena Xipaya - 67 habitantes (xipya/kuruya) (Funai-Altamira: 99) Em
identificao Municpio de Altamira PA
Zor
Terra Indgena Zor 400 habitantes (Funai-Porto Velho: 00) Registrada 355.789
ha Municpio de Aripuan MT.
E, naturalmente, de um absurdo pode-se inferir qualquer coisa. Ex absurdo sequitur
quolibet. E dessa confuso pueril extrai a sugesto de um universo incompreensvel, uma
espcie de parbola mpia. Qualquer estudante sabe e at me atreveria a conjecturar (como
diria Borges) que a realizao de todos os possveis ao mesmo tempo impossvel
Sobre Heris e Tumbas
Ernesto Sbato
32
CAPTULO II
Da Patriorientao Tupi: Tentativas de Segmentao e o Fazer Parentes.
O objetivo deste captulo tentar reunir em conjunto os processos de produo de
identidade que, embora se realizem de modos diferentes em cada grupo tupi aqui estudado,
obedecem a um princpio de constituio que passa pela linha paterna. O que procurarei
discutir o estatuto destas evidncias de patrifocalizao, seja em termos da constituio de
grupos, seja em domnios como o da onomstica, da terminologia ou da teoria da concepo.
Devo esclarecer que os tomarei em conjunto, sem estabelecer recortes pr-determinados que
creio descosturar artificialmente os meandros do fazer de Si.
interessante notar que os grupos tupi apresentam em vrios campos uma tendncia
patri-identitria, mas, ao mesmo tempo, ela dificilmente se realiza de modo mecnico.
Ademais, observa-se uma interferncia entre os fenmenos da residncia, de constituio dos
grupos e de produo da pessoa. Discutirei estas questes privilegiando o caso dos Karitiana,
dos grupos Tupi-Mond e de dois plos mais extremos, os Munduruku (que possuem cls,
linhagens e metades) e os Juruna (que no possuem evidncias de segmentao)
19
.
Concentrarei a anlise em algumas monografias mais substantivas, embora saiba que a
comparao com os outros grupos tupi seria um passo importante e provavelmente revelador;
infelizmente no h elementos suficientes para isso. evidente que os dados que utilizarei
aqui pertencem a anlises de autores mais ou menos preocupados com tais questes, portanto,
natural que, dada a especificidade das informaes, elas nem sempre tenham sido tratadas
de modo extenso pelos etngrafos. Trata-se de um duplo problema: ao mesmo tempo em que
os grupos atualizam a patriorientao de modo variado, os prprios etngrafos realizam
suas anlises de acordo com orientaes e questes especficas de seu tempo. Se um dos
problemas de Murphy para os Munduruku era a aparente inadequao da patrilinearidade
dos cls e da uxorilocalidade era porque tinha em mente um problema caracterstico de sua
poca (LVI-STRAUSS, 1982: 237) que os etngrafos atuais parecem dar pouca importncia.
Nos dois casos, produz-se uma certa artificialidade: ou por uma tentativa de ajustar a
etnografia aos pressupostos especficos da formao do autor ou pelo movimento contrrio,
uma fuga radical do modelo da descendncia em nome da adoo de novos paradigmas
analticos. Esta tomada de posio implica uma relativa negligncia de determinadas questes
33
por serem ao mesmo tempo pouco pronunciadas no contexto etnogrfico e alvo recente de
crticas , que so deixadas de lado em benefcio de outras, as quais corresponderiam mais
diretamente s preocupaes atuais da etnologia indgena.
Entre os grupos Tupi que aqui sero analisados parece figurar o que Fausto (1991,
1995, 2001) chama, para os Parakan, de uma concepo patrilinear de transmisso de
identidade, na qual se herda a identidade pela via paterna. Contudo, os modos de realizao
desta patrilinearidade so distintos e parecem estar aliados a mecanismos outros de
classificao. Entretanto, salta aos olhos a grande variabilidade interna dos grupos Tupi, no
que toca sua organizao social e o parentesco. Observamos, como disse, desde o sistema
indiferenciado dos Juruna, at as caractersticas dos Munduruku pouco comuns a grupos Tupi
(diviso em metades e cls patrilineares associados a uma uxorilocalidade mecnica),
passando pelos grupos Tupi Mond com seus classificadores ou subgrupos ou divises
ou cls patrilineares
20
. Neste ltimo caso, nota-se uma dificuldade generalizada na
classificao dos mecanismos de segmentao que Tupi-Mond em maior ou menor grau
apresentam. As inmeras tentativas de conceitualizao variam da confirmao de existncia
de cls, metades, linhagens at a afirmao de seu baixo rendimento analtico e conseqente
desateno a estas questes. No posso aqui pretender determinar sua natureza; minha
tentativa ser a de fazer render a questo da patrisegmentao de uma maneira outra,
optando no por isol-la tornaria-a, neste movimento, pouco produtiva mas por conjug-la
a problemticas que, aparentemente, so de outra ordem, como a onomstica, a terminologia
de parentesco e as regras de casamento e residncia
21
.
2.1- Segmentando os grupos
Neste item pretendo tratar de formas de segmentao entre alguns grupos tupi e sua
relao com a residncia e a localizao geogrfica. Certas dificuldades se apresentam
19
Sempre que for possvel, no entanto, farei referncia aos outros grupos do tronco Tupi.
20
No intuito de deixar clara esta dificuldade em sua conceitualizao utilizarei, ao longo do texto, as formas
adotadas por cada autor e, quando for o caso, apresentarei suas justificativas.
21
Deve ser notado, obviamente, que a histria do contato de todos estes grupos das mais cruis e turbulentas.
Para alm da perda macia dos territrios originais e dos agrupamentos artificialmente forjados pela demarcao
arbitrria de terras, todos os grupos sofreram um processo de depopulao intenso. Este ltimo fator traz uma
dificuldade adicional para a anlise da questo da patri-segmentao e torna qualquer tentativa de comparao
uma tarefa ingrata. Fica difcil avaliar o motivo da existncia ou no destas formas e o estatuto por elas ocupado
quando o contingente populacional atual muitas vezes no permite sua manifestao emprica.
34
execuo desta tarefa, tais como a escassez de dados sobre a situao anterior ao contato, as
grandes perdas demogrficas e os deslocamentos espaciais. Tais dificuldades, entretanto, no
anulam as possibilidades comparativas, mesmo por que essas dinmicas geram, elas mesmas,
novas possibilidades de atualizao do fazer de Si.
Entre os Munduruku e os Maw observam-se formas mais substantivas de
segmentao. Enquanto os Maw possuiriam apenas cls patrilineares (GIRALDO
FIGUEROA, 1997: 269-276), para os Munduruku, relata-se a existncia de metades, cls
patrilineares e linhagens (MURPHY 1958, 1960; KRUSE, 1934). J no caso dos grupos
Tupi-Mond no h um consenso entre os autores e so abundantes e diversas as
interpretaes acerca do modo como se dividem. Os Juruna, por sua vez, constituem um caso
extremo se comparado aos Munduruku, posto serem o grupo do conjunto aqui analisado que
no apresenta qualquer evidncia de segmentao. Para este enfoque especfico no temos
dados sobre os Karitiana.
Vejamos primeiramente o que acontece com os Tupi-Mond em geral. O modelo
guians (cf. RIVIRE,1984) freqentemente utilizado na descrio dos povos Tupi-Mond,
cuja organizao social assemelhar-se-ia quela dos caribe da Guiana: grupos locais instveis,
pequenos e quase autnomos, aglutinados em torno de um homem de prestgio uma figura
de sogro ou pai forte capaz de fazer valer a uxorilocalidade para seus genros e, ao mesmo
tempo, reter seus filhos homens. Esse modelo parece aplicar-se, inclusive, aos Cinta-Larga,
como assinala Dal Poz (1991: 38), embora, ao contrrio dos demais Tupi-Mond, a escolha
residencial deste grupo seja patrilocal.
Atualmente, as aldeias dos Cinta-Larga costumam manter-se prximas
geograficamente (em mdia de 10 a 15 km). Na regio pesquisada pelo autor a rea do
Aripuan havia de trs a cinco famlias nucleares compreendendo o dono da casa, suas
esposas, seus filhos casados ou solteiros, suas filhas solteiras e suas noras. Poderia-se incluir,
ainda, seus irmos e as respectivas famlias e, s vezes, suas filhas casadas e os genros. Todos
moram juntos at a morte do dono da casa, chamado de zpiway, o homem de prestgio
(DAL POZ, 1991) a quem cabe no apenas a iniciativa da construo de uma nova casa
22
, mas
tambm a promoo de festas e a abertura de roas. O tempo de utilizao de uma aldeia
cinta-larga de aproximadamente cinco anos; abandonada quando se esgotam os recursos
ecolgicos da regio e tambm os recursos polticos para manter a aldeia unida.
22
Zp o termo tanto para o local onde se far a nova casa como para sua construo.
35
Quanto situao pr-contato das aldeias Tupi-Mond, Dal Poz (op.cit.: 37) e Brunelli
(1989: 139) formulam hipteses equivalentes para a sua dimenso e distribuio. Ambos
consideram que pequenas unidades sociais espalhadas pelo territrio so caractersticas do
tipo de sociedade estudado e, remetendo s hipteses que formulam para explicar a situao
anterior ao contato, os autores buscam justificar o carter disperso destas unidades
praticamente auto-suficientes, bem como sua acentuada mobilidade. Dal Poz defende ento
que as aldeias ou malocas cinta-larga poderiam conter de 50 a 100 pessoas e no mais do que
isso (cf. BRUNELLI,1989, para uma concluso semelhante em relao aos Zor, Arara e
Gavio).
No primeiro captulo, mencionou-se a diviso dos Cinta-Larga em trs grandes blocos
territoriais (Pabiey ou biey, Pabirey e Papiey)
23
definidos por um critrio geogrfico:
Os Cinta-Larga parecem pensar sua distribuio espacial tomando como eixo a
direo em que correm as guas dos rios Aripuan e Roosevelt que, neste trecho, seguem
quase paralelamente do sul ao norte. Para isso, empregam as categorias alto/mdio/baixo, que
regem um espao orientado em declive, distinguindo os agrupamentos, uns em relao aos
outros, de acordo com a posio geogrfica que ocupam (DAL POZ, 1991: 32).
Alm desta classificao geogrfica, os Cinta-Larga possuem recortes sociais regidos
dados pela linha paterna. Dal Poz sugere o termo divises patrilineares para dar conta de
um sistema de designaes que se transmitem patrilinearmente, sem contudo definir grupos
de descendncia corporados (descent groups) ou semelhantes (1991: 42), j que o sistema de
divises no se refletiria em nenhum tipo de ao econmica ou ritual. As trs divises
Mamey, Kakney e Kabney so classificadoras de tipos de gente (DAL POZ, 1991: 43) e
o pertencimento a elas d-se por via paterna. Cada uma se subdivide ainda em outras tantas:
Mmderey, Mmgpey, Mndoley e Mmjipwpey, no caso dos Mamey; os Kakin se
decompem em Kakindet, Kakngp, Kaknjt e Kakn waptet e os Kabn formam uma
nica linha. O autor, entretanto, no explicita quais so as implicaes de tais subdivises,
nem tampouco como elas se formam.
No mito de origem das divises (DAL POZ 1991: 341; PICHUVY CINTA-LARGA
1988: 18-19), o heri cultural Gor (ou seu neto, na verso de Pichuvy Cinta-Larga) mantm
relaes sexuais com a rvore Kabn, com a castanheira Man e com o cip Kakin, e desses
vegetais saem os primeiros homens, formando-se assim os Mn, Kakn e kabn. Dal Poz
36
relata que os Cinta-Larga atribuiriam, a cada das divises, determinadas particularidades
fsicas, lingsticas e sociais que, para o autor, funcionariam, no como elementos
importantes de classificao, mas como caractersticas mais ou menos associadas s divises.
A cor da pele, por exemplo, um tipo de classificao possvel: os Kabn e Kakn seriam
brancos em oposio aos Mn, morenos, e aos Mnjipwp, pretos. Outras
caractersticas, como a diversidade dialetal e uns serem mais briguentos e outros mais
mansos contribuem igualmente para sua definio.
Dal Poz supe que tais caractersticas teriam sido mais ntidas e mais significativas no
passado, quando a localizao geogrfica de cada diviso era melhor delimitada: de fato,
no h motivo para que se discorde disso, o que, entretanto, no nos autoriza a tratar tais
elementos como subordinados a um classificador principal, ao invs de conferir-lhes um
estatuto de classificadores eles prprios. Tomar apenas um princpio classificador como
significativo, embutindo nele todos os demais, pode levar a um eclipsamento das concepes
nativas, uma vez que, no raro, tal atitude constitui-se mais em uma opo dos etngrafos (em
funo das questes de sua poca) que de caractersticas do contexto analisado.
Segundo Dal Poz (1991: 47), o rendimento das divises patrilineares remeter-se-ia
ordem conceitual, elas seriam categorias do pensamento. A opo por assim defini-las tem a
vantagem de permitir ao autor evitar tom-las como cls ou patrilinhagens, isto , com grupos
substantivos definidos pela descendncia. Sua soluo baseia-se em procedimento anlogo ao
de Alcida Ramos (1974:12) para os Munduruku, e constitui-se em tomar as divises como
classificadores sociais, ou, em suas palavras, um sistema de idias que organiza os fatos
sociais tanto no tempo quanto no espao (DAL POZ, 1991: 47). O autor supe que as
divises patrilineares corresponderiam a uma distribuio geogrfica mais ntida, j que os
Cinta-Larga utilizam ambas na comunicao de fatos no tempo ou no espao: foram os Mn
que atacaram os Enawene-Nawe, ou no rio Vermelho moravam os Kabn (op.cit.: 41). Se
tais divises efetivamente podem ser tomadas como classificadores, importante, como
vimos, ter a clareza de posicion-las como princpios de classificao entre outros, talvez de
semelhante importncia. Embora o autor, em funo talvez de suas preocupaes serem
outras, no tenha dado particular enfoque a essa multiplicidade de classificadores, aqui seu
rendimento se revelar mais amplo, na comparao com os outros Tupi-Mond.
23
Os Pabiey (os de cima) ou biey (os das cabeceiras) situam-se prximos aos rios Tenente Marques e
Eugnia; os Pabirey (os do meio) esto a pouca distncia da juno dos rio Capito Cardoso e Roosevelt e os
Papiey (os de baixo) localizam-se nos rios Vermelho, Amarelo e Branco (DAL POZ 1991: 32).
37
No caso de outro grupo Tupi-Mond, os Suru, conta-se com trs grupos
patrilineares (MINDLIN, 1985: 27) ou cls patrilineares (COIMBRA JR. 1989): os
G)amep (uma espcie de marimbondo), os G)amir (tambm uma espcie de marimbondo) e
os Makor (um tipo de bambu do qual se fazem as pontas de flechas). H um quarto grupo
comum aos Cinta-Larga, os kabn, que justamente originou-se de uma mulher roubada aos
Cinta-Larga, e atualmente ligado aos G)amep. Fausto relata um caso semelhante entre os
Parakan, que criaram um patrigrupo a partir de um dos descendentes de uma mulher
raptada. Nas palavras do autor:
Internamente, a identidade masculina sobrepe-se feminina, mas esta, quando vinda
de fora, sobrepe-se quela em todas as situaes. As mulheres raptadas, pela sua condio de
estrangeiras, so dotadas de uma potncia masculina: assim como os homens, elas trazem
nomes, cantos e (seus prprios) corpos do exterior, alm de definirem a identidade de seus
filhos (FAUSTO, 2001: 180)
A hiptese de Mindlin (op.cit. 27) que os trs grupos Suru G)amep, G)amir e
Makor que hoje vivem juntos estivessem geograficamente separados nos tempos anteriores
ao contato. Embora a autora no fornea maiores informaes sobre o contexto que descreve,
Mindlin (op.cit. 29) relata que os G)amir e os G)amep j moraram em uma mesma aldeia, mas
suas casas se agrupavam de acordo com a diviso entre os grupos: at 1981, eram dois
conjuntos de malocas, todas se voltavam para o nascer do sol e havia, para cada conjunto, dois
ptios para as festas; aps 1981, foram construdas novas casas, mas a diviso foi mantida por
uma estrada que passava entre os dois conjuntos de malocas. Isto me parece uma soluo dada
pelos Suru para, mesmo tendo de viver reunidos, continuarem separados como duas aldeias
dentro de uma. Cada um dos grupos patrilineares possua linhagens exogmicas tambm
patrilineares, embora, atualmente, Mindlin relate que apenas entre os G)amep haja ainda duas
linhagens (op.cit.: 35). Entretanto, so estas duas linhagens restantes que produzem uma
diviso em metades, uma correspondendo ao mato (metare) e outra roa ou aldeia
(wai)
24
, na ocasio de certos rituais. Uma das metades instala-se durante a estao seca no
metare (uma clareira ou mato ralo) longe da aldeia, onde a outra metade proibida de ir. Em
anos alternados, revezam-se as posies. importante ressaltar que o que marca o
pertencimento de um homem a uma metade ter um cunhado na outra; portanto, penso que
24
No estou certa se a utilizao do termo metade, por Mindlin, seja a melhor forma de tratar estas divises. A
oposio mato/roa, como veremos no prximo captulo, estruturalmente semelhante a que os Cinta-Larga
estabelecem entre anfitrio/convidados na ocasio de um de seus rituais e, portanto, reversveis. Isto ,
convidados sero anfitries assim como os da mata no ritual seguinte ocuparo a posio de os da roa.
38
no se trata de uma idia de filiao imutvel (como a noo de patrilinearidade poderia
sugerir), mas de uma posio que muda conforme as relaes de afinidade que se estabelece
com outrem. Os membros dos outros grupos ou se ligaram a uma das linhagens G)amep (caso
dos G)amir) ou no fazem parte da diviso (caso dos Makor). Segundo Mindlin (1985: 48), na
poca anterior ao contato, provvel que os G)amep, G)amir e Makor vivessem em aldeias
separadas, cada uma com sua diviso mato / aldeia. No h regra exogmica e, como
entre os Cinta-Larga, os casamentos so realizados dentro e fora das divises (op.cit. 1985:
27).
Para os Zor, Brunelli (1989: 143) especula sobre a existncia de cerca de dez grupos
locais patrilineares e no exogmicos, nos anos compreendidos entre 1950 e 1960.
Infelizmente, o autor no traduz o nome dos grupos, e tampouco relata se h mesmo traduo
possvel. So eles: Nzabe-Ap Wey, Njoiki Wey, Njey-Wey, Pama-Kangim Wey, Mantchin Wey,
Ii-Andarey, Pewey (Pep no singular), Angoiey, Kirey e, por fim, os Pangeyen tere
25
. Os
Nzabe-Ap Wey viviam em trs malocas, os Pangeyen Tere em cinco e todos os outros viviam
em apenas uma. Neste ltimo caso, cada um dos grupos locais corresponderia ao grupo de co-
habitantes reunidos em torno de um homem de prestgio a semelhana com o caso cinta-
larga patente.
Quanto ao grupo denominado Kirey, Brunelli levanta dvidas e hipteses sobre sua
real classificao como grupo local ou como metade, posto que o termo tambm indicava
todos aqueles que no eram Pewey, um outro grupo Zor. Lovold (1986 apud BRUNELLI,
1989), por sua vez, considera os Kirey como um grupo local exatamente como os demais. A
dvida de Brunelli, entretanto, se os Kirey constituem mais um grupo local ou se, junto aos
outros, se opem aos Pewey, formando metades. Tal oposio tambm se baseia na cor da
pele: traduz-se Kirey como gente branca, e Pewey, como gente escura. O autor chegou a
pensar na existncia de metades, quando um de seus informantes lhe disse que todos os
grupos locais, salvo os Pewey, eram Kirey. Abandonou esta hiptese, entretanto, quando
25
O leitor deve ter notado a semelhana final que encontramos em vrias palavras Tupi. Nos subgrupos Zor e
Cinta-Larga a terminao ey ou way um coletivizador. Na lngua Juruna, Lima afirma que o sufixo away
refere-se ao grupo, tribo, famlia, turma, bando ou, como dizem, o pessoal (LIMA, 1995: 344). Observa-se
uma ocorrncia semelhante na designao de outros grupos da famlia Juruna, como os Xipaya, os Arupaya e os
Peapaya, e tambm nos Kuruaya, da famlia Munduruku. Minha impresso que se trata de um coletivizador
que funcionalmente o mesmo naquelas lnguas e cujo rendimento pode ser dependente ao que ele se agrega e,
talvez, poderia ser aplicado no apenas aos grupos e subgrupos exemplificados aqui mas, por exemplo, aos
termos para dono da casa em Cinta-Larga Zapiway e Zor Nza Wiyai. Se zap o termo Cinta-Larga para
o local ou a construo da casa, way o coletivizador que indica que a pessoa stands for o ncleo familiar.
Parece o mesmo entre os Juruna para quem a identificao individual e coletiva se faz por meio do termo
away, precedido seja por um afixo de posse seja por um nome prprio, que indicam por si mesmos a ordem de
39
soube que a classificao remetia cor clara ou escura da pele, o que julgou pouco relevante
para atestar as metades, j que, alm disso, nenhuma razo de complementaridade ou
oposio ritual, econmica ou relacionada com o matrimnio, justifica a existncia de duas
metades nos Zor (traduo minha, BRUNELLI, 1989: 143). Como vimos, no entanto, um
sistema de metades rituais aparece entre os Suru e um sistema de classificao por cor de
pele tambm est presente entre os Cinta-Larga. Trata-se, mais uma vez, dos mltiplos
classificadores a que me referi. Comparando os grupos Tupi-Mond, observa-se uma notvel
recorrncia de certos tipos de classificao, que, se no parecem to manifestos em um ou
outro grupo, nem por isso deixa de nos permitir supor que um dia foram (e a depopulao
aqui mascararia isso) elementos essenciais na construo de uma identidade produzida atravs
de sobreposies de classificadores.
Um dos grupos locais Zor, os Pangeyen Tere, constitui um exemplo interessante
sobre como o sistema poderia ser flexvel. Trata-se de um grupo que ocupava cinco malocas,
contrastando com a maioria dos demais, moradores de apenas uma. Poder-se-ia fazer uma
traduo canhestra, posto que o termo Pangeyen a autodenominao zor e tere significa
autntico, verdadeiro. Entretanto, Brunelli chama ateno para que no se faa do termo
Pangeyen um auto-referente to rgido. Segundo o autor, o termo Pangeyen era utilizado em
oposio a quem no era Pangeyen ou Tupi-Mond. Eles se auto-designavam Pangeyen em
oposio aos no-Tupi-Mond, mas no interior deste conjunto, era mais freqente o uso de
outros tipos de classificadores, notadamente relativos s identidades e solidariedades locais.
Parece tratar-se, portanto, mais de um modo de classificao contextual, que pressupe
necessariamente uma relao com algum.
A traduo para Pangeyen Tere, se tomada literalmente, deveria ser os Pangeyen
verdadeiros, mas Brunelli prope que seu significado apreendido de maneira mais clara se
traduzido como unicamente ou apenas, designando aqueles que so apenas Pangeyen
(BRUNELLI, 1985: 145). Isto compreendido mais facilmente quando observamos a
heterogeneidade na composio do grupo. Tratava-se da reunio de pessoas que por algum
motivo no tinham o que o autor chama de uma identidade local especial, seja por terem
perdido ou abandonado a sua, seja por no terem ascendncia zor por linha paterna que lhes
assegurasse pertencimento a outro grupo. Entre os membros dos Pangeyen Tere contam-se,
por exemplo, pessoas cuja ascendncia paterna gavio ou suru no lhes associava a nenhum
outro grupo local, embora fossem consideradas Zor por matrimnio intertnico. Havia
grandeza e o tipo de grupo. A oposio entre o que individual e o que coletivo parece no ser adequada para
tratar desta questo.
40
tambm aqueles que abandonavam uma maloca sem se unir a outra, como os jovens que,
tendo deixado a maloca do pai ou do sogro, no tinham um nmero suficiente de
descendentes para formar seu prprio grupo. O autor relata que, atualmente, os Pangeyen
Tere so os sobreviventes de outros grupos locais, aps as epidemias e conflitos que os
dizimaram.
Deve-se notar ainda que o movimento de fracionamento e aglutinao dos grupos no
se limita apenas ao grupo Pangeyen Tere. Os grupos locais so constitudos de modo
dinmico, e podem se fragmentar quando excessivamente grandes. Estamos diante de grupos
continuamente em formao e de fenmenos muito dinmicos, sempre inacabados, de
definio e redefinio de grupos locais (traduo minha, BRUNELLI, 1989: 141). Segundo
Brunelli (ibid.), o prprio sistema de parentesco sugere que a incessante reformulao dos
grupos locais faa parte da estrutura social profunda destas sociedades, j que a identidade se
transmite patrilinearmente e a residncia uxorilocal, mas no mecnica.
O que se pode perceber a partir dos exemplos de fragmentao e constituio dos
grupos, que os Zor, antes do contato permanente, no poderiam ser tomados como um
grupo, como o so atualmente (do nosso ponto de vista, naturalmente): no existiam Os
Zor. Eram mais um conjunto de grupos locais, de dimenses demogrficas muito
variveis, dotados de autonomia econmica e poltica, e com relaes de guerra e alianas
flutuantes (traduo minha, op.cit.: 140). O chefe o Nza Wiyai liderava a maloca do
grupo local, economicamente auto-suficiente, a qual pertenciam pessoas ligadas pelo
parentesco e pela aliana. Nas palavras de Brunelli:
() se h cem, cinqenta ou mesmo vinte e cinco anos, tivesse sido perguntado a
uma pessoa identificada atualmente como 'Zor' qual era sua 'tribo', ela provavelmente teria
respondido fazendo referncia a seu grupo local, ao lugar onde nascera ou, em alguns casos,
ao grupo no qual havia se casado. (traduo minha, op.cit. 140).
Portanto, podemos notar que o lugar de nascimento e o casamento constituem
princpios de classificao to relevantes quanto a identidade herdada pela linha paterna.
Ressalto mais uma vez que, como parece acontecer entre todos os Tupi-Mond (de uma
maneira ou de outra), o que est explcito no sistema a pluralidade de classificaes. A
dinmica social pressupe, portanto, uma multiplicidade ou sobreposio de fatores
classificatrios.
Na verdade, perguntar o que considerado sua sociedade pode esclarecer muito
sobre a natureza dos grupos. Nunca houve uma autodenominao como os Cinta-Larga.
Enquanto grupo, surgiram h pouco com o contato e, nas palavras deles: A gente no
41
chama, nome quem d os outros (DAL POZ, 1991: 49). Quanto aos Zor, como j vimos,
a antiga autodenominao (Pangeyen) foi abandonada em favor de Zor, atribuda pelos
brancos aps o contato, a partir de um termo suru. O abandono de um nome em favor de
outro Pangeyen por Zor parece seguir a sentena cinta-larga: se so os outros que nos
chamam, seguiremos o nome que nos do. por este motivo que o termo Pangeyen era
utilizado quando se queria opor aos no-Pangeyen ou aos no-Tupi Mond. No poderia
haver um tipo de identidade fixa, imutvel e nica, mas sim algo que se molda em uma
relao com o outro.
Como os subgrupos tupi-mond podem nos ajudar a compreender o que se passa e o
que se poderia extrair de significativo da comparao entre os patrigrupos tupi? Se prestarmos
ateno sua aparente falta de definio ou mesmo ao lugar pouco expressivo que
comumente esta questo ocupa nas etnografias, perceberemos que se tomarmos apenas um
conceito, seja o de descendncia, aliana, residncia ou qualquer outro, para dar conta do
processo de produo da identidade, no seremos capazes de compreende-lo. Por exemplo, o
padro de residncia e suas regras podem oferecer chaves de abordagem essenciais mas no
todas para entendermos o que so os patrigrupos tupi. A pergunta que deveramos fazer se
estes grupos patrilineares no s os dos Tupi-Mond, mas dos Tupi em geral , que sempre
apresentam dificuldade para a anlise antropolgica, dado o seu rendimento insuficiente pelo
conceito de descendncia, podem ser entendidos por meio de uma anlise que leve em conta a
sobreposio de mecanismos de classificao.
Se entre os Tupi-Mond os etngrafos descrevem a inflexo patrilinear e a diviso em
grupos como fluidas (e, portanto, com baixo potencial analtico), entre os Munduruku e os
Maw, a patrisegmentao, aparentemente, se realizaria de uma maneira mais concreta. Os
etngrafos destes dois grupos costumam no ter tantos pudores em sublinhar o que
identificam como uma manifestao mais evidente da descendncia e da segmentao. Nada
impede que o carter mais pronunciado de tais elementos seja fruto menos da realidade
etnogrfica que das preocupaes em voga no momento em que as etnografias foram feitas
entretanto, nada impede tampouco o contrrio.
Os dados so escassos e pouco analisados no que se refere a como a patrisegmentao
se d entre os Maw, embora tal questo no seja esquecida de todo, nem sequer nessas
condies o que talvez possa ser um indcio de sua importncia, posto que mesmo aqueles
que no esto diretamente preocupados com ela, no deixam de mencion-la. Em 1820,
Martius (NIMUENDAJ, 1946: 249) contou 12 hordas entre os Maw. J Giraldo Figueroa
(1997: 269-276), que realizou sua pesquisa entre 1994-5, relata a existncia de 38 cls.
42
importante ressaltar que, embora esta autora atribua aos cls uma regra de sucesso
patrilinear, ao mesmo tempo no deixa de mencionar que haveria excees. Para os prprios
Maw, entretanto, a melhor traduo de sua patrisegmentao no seria hordas nem cls,
mas naes. Este termo nao no seria especfico ao domnio humano; abrigaria tambm
uma pluralidade de outros seres. Existem, por exemplo, naes de mandioca, que
corresponderiam aos tipos de mandioca de que dispem. A linguagem da descendncia, aqui,
pelo menos se entendida em seu uso mais comum, no parece dar conta da complexidade
encerrada no que se entende por esta noo entre os Maw. Interpretar sua segmentao
atravs de uma terminologia dos cls pode obscurecer a paridade possvel entre essas
classificaes: naes de humanos e de mandiocas podem muito bem ter o mesmo estatuto;
no nos cabe determin-lo a priori.
H ainda um outro aspecto interessante deste autodenominar-se (ou auto-segmentar-
se) como nao, que tornaria explcita a imbricao entre o processo de diviso e a
linhagem paterna. Nas palavras da informante de Giraldo Figueroa (op.cit.: 269): O pai tem a
fora, o poder de ywania [este o termo traduzido pelos Maw como nao]. Talvez seja
possvel tomar o pai como uma espcie de mediador entre a nao e o filho: por ter o
poder da nao, ele o proporciona ao filho. Com isso, entretanto, no estou afirmando que
se trate de uma descendncia rigidamente vertical; parece-me, ao contrrio, que este um
processo de mo-dupla, de mtua definio. Se o pai pode funcionar como intermedirio para
o filho por ter o poder da nao, ele s o tem por ter um filho. Isto subverteria a linguagem
da descendncia tal como costuma ser usada, j que esta se funda em uma relao unilateral
hierrquica, na qual causa e efeito so desempenhados apenas por um dos termos: aqui,
porm, parece que os dois implicados pai e filho so, cada um deles, ora causa ora efeito.
No sistema munduruku, os cls assumiriam uma forma particularmente mais
manifesta em relao aos demais aqui analisados. Como bem se sabe, o grupo tem suas
divises aparentemente mais rgidas e definidas, embora isso no signifique que sejam de
fcil entendimento. O grupo seria marcado por uma certa continuidade vertical (dada pela via
paterna) dos cls, que, entretanto, ainda assim se dispersam, em funo de uma regra
uxorilocal mecnica. Kruse (1934: 51-57) e Murphy (1960: 71) relatam a existncia de duas
metades exogmicas
26
, Vermelha e Branca
27
, que, por sua vez, subdividem-se em cls
patrilineares tambm exogmicos.
26
J. B. Rodrigues (1882: 28), contudo, divide os Munduruku em trs segmentos: Ipapacate (vermelho), Aririch
(branco) e Iasumpaguate (preto), que usavam enfeites vermelhos, amarelos e azuis respectivamente.
43
O nome de cada cl dado por um determinado esprito ancestral (tub, termo
que designa os heris culturais traduzido por Murphy como grande ancestral) que oferece
proteo a toda a aldeia. Semelhantemente ao que Dal Poz relatou para o incio mtico das
divises patrilineares dos Cinta-Larga, tambm no mito de origem dos cls munduruku
o demiurgo, neste caso de nome Karusakaib, quem cria os segmentos do grupo, nomeando-
os em seguida (MURPHY, 1960: 73). Tal diviso clnica parece ter existncia social e
simblica mais forte que a verificada em outros grupos: aqui os cls so exogmicos e
nominados o nome de cada um associado a determinado ancestral, o que supe uma
origem vertical. Alm disso, diferentemente de outros Tupi, existem objetos cerimoniais
especficos que so propriedade de um determinado cl e habitados por seu esprito
ancestral. na casa dos homens, onde os adolescentes dormem, que se encontra um
compartimento utilizado para guardar o conjunto de trs flautas sagradas (kark), habitadas
pelo esprito ancestral (tub) de cada cl e pelos seres sobrenaturais chamados de
companheiros dos instrumentos, os kark ejewt. A posse do instrumento pelo cl d-se
por meio do esprito que nele habita, o qual, por sua vez, fornece o nome do cl: notem que
a prpria dificuldade em descrever a relao sem que se repita a palavra cl evidencia seu
carter circular e recursivo.
importante destacar outros dados, aparentemente menores, sobre os instrumentos e a
relao dos cls com eles, que parecem contribuir de maneira similar para entendermos sua
posio no sistema. Certas informaes a respeito da relao entre os instrumentos e os cls
na etnografia de Murphy (1958: 135) parecem conter uma contradio. Por um lado,
afirmado que a associao entre ambos rgida, mas, por outro, a simples posse do
instrumento no proporciona nem determina o imediato pertencimento a um cl, j que, nas
palavras do autor, as flautas so tocadas por qualquer homem de qualquer cl ou metade que
viva na aldeia ou por qualquer Munduruku que esteja na aldeia (MURPHY, 1960: 73). O
ponto me parece ser que as flautas de uma aldeia so e no so do cl. Isto , elas so de um
cl, mas a aldeia no habitada por um deles. Isto parece apontar para a possvel existncia de
um conjunto de vetores classificatrios, e no apenas o da descendncia patrilinear
semelhante ao que vem sendo ressaltado em relao aos demais grupos Tupi. Nesta mesma
direo, gostaria de sublinhar algo que talvez no seja uma mera curiosidade: a traduo do
termo para cl na lngua munduruku, diwat, significa moradores do rio (MENGET, 1993:
313). Ou seja, o termo parece remeter antes a um critrio geogrfico que ao de linhas de
27
As relaes entre as metades incluem a reciprocidade, a rivalidade e a jocosidade, mas, durante cerimnias e
festividades, as brincadeiras intersexuais entre membros de metades opostas so aceitveis e esperadas.
44
descendncia o que talvez permita perguntar se a expresso cl patrilinear para definir
estritamente essa forma de segmentao de fato a mais adequada. Isto porque tal escolha
poderia mascarar um possvel carter multifacetado e multiclassificatrio ao privilegiar a
descendncia patrilinear como definidor dos segmentos. O critrio geogrfico revelado pelo
significado do termo nos remete a uma classificao semelhante a verificada entre os grupos
Tupi-Mond, baseadas em noes de temporalidade e espacialidade.
28
A uxorilocalidade munduruku provocava a disperso dos membros dos cls
patrilineares, j que pais, filhos e irmos so separados. Os filhos de chefe, entretanto,
estavam geralmente excludos da regra uxorilocal. A hiptese de Murphy (1960: 74) baseia-
se na idia de uma mudana das regras de residncia: onde h uxorilocalidade
(matrilocalidade), antes teria havido uma patrilocalidade, o que, a seu ver, seria mais
coerente com a patrilinearidade dos cls. Ramos (1974) discorda da posio de Murphy e
argumenta ser possvel a existncia da uxorilocalidade associada a um regime patrilinear. A
patrilinearidade combinada residncia uxorilocal no constituiria um problema
29
como cr
Murphy se pensarmos nos grupos locais como conjuntos dinmicos de pessoas
continuamente em movimento. No caso munduruku, a uxorilocalidade aliada ao regime
patrilinear pode ter, ademais, favorecido o mpeto guerreiro que lhes deu a fama de
combativos e hostis. Nas palavras de Fausto (2000: 246):
Murphy procurou evitar [est]a contradio afirmando um suposto passado
inteiramente patrilinear e descrevendo um presente no qual as instituies masculinas seriam
meras iluses compensatrias para uma real falta de poder. No entanto, o sistema Munduruku
parece ter retirado sua fora blica precisamente da contradio entre patrilinearidade e
uxorilocalidade, que permitia articular politicamente grupos locais e grupos de descendncia.
O que parece acontecer entre os Munduruku que uma srie de classificadores
parecem concorrer para a produo do Si. A residncia e a patrilinearidade se incluem entre
eles, mas no necessariamente so os nicos j que no se esgotam a as possibilidades deste
fabricar-se. Neste sentido, talvez seja interessante retornar a alguns dos grupos Tupi-
Mond, bem como aludir aos Juruna, que embora no tenham qualquer forma de
segmentao, segundo Lima (1995), so uxorilocais como os demais aqui analisados.
28
possvel tambm levantar a hiptese que, no passado, eles teriam sido mais parecidos com o sistema Tupi-
Mond, mas foram se enrijecendo.
29
No s no constituiria um problema como talvez at mesmo poderia ter maiores desdobramentos que o
critrio da descendncia basta lembrar a sugesto de Viveiros de Castro (1995: 13) de que tanto na Amaznia
quanto no Brasil Central o princpio de residncia obteria um rendimento estrutural maior que o princpio de
descendncia.
45
Entre os Cinta-Larga, o pai e seus filhos formam o ncleo duro da aldeia e este o
grupo-chave que operacionaliza os acordos matrimoniais. Dal Poz (1991: 40-41) afirma que a
preferncia residencial dos Cinta-Larga patrilocal, embora ressalve que, se o grupo de
agnatos for forte, poder impor aos seus genros uma residncia uxorilocal. Alm disso, o
servio-da-noiva costuma conduzir a uma uxorilocalidade temporria. Portanto, o sistema
funciona de forma semelhante queles uxorilocais sem regra mecnica de residncia, isto ,
aqueles em que a uxorilocalidade um atrator social (VIVEIROS DE CASTRO, 1986: 97).
Se a residncia dos Cinta-Larga parece ser preferencialmente patrilocal, tanto para os
Zor como para os Suru, ela nitidamente uxorilocal, ainda que de modo temporrio. Talvez
a aparente diferena entre a norma residencial destes grupos Tupi-Mond pudesse ser melhor
compreendida se inserida no complexo de relaes nela pressupostos e implicados.
No caso Zor, por exemplo, a figura do dono da casa Nza Wiyai concentra seu
poder principalmente sobre filhos, filhas e esposa, alm de estabelecer relaes de
colaborao e aliana com os outros habitantes, embora este poder no se estenda a priori
para todo o grupo local. Por vezes um xam ww pode fundar uma casa e tornar-se
dono dela, aumentando sua influncia sobre os demais. Parece tratar-se mais de um
acrscimo de influncia ser xam e dono da casa do que de uma relao forte de poder
sobre o grupo inteiro. Algo semelhante pode ser verificado entre os Cinta-Larga para quem os
arranjos matrimoniais so operados pelo dono da casa o zpiway que forma, junto com
seus filhos um ncleo central que perdura at o provvel esfacelamento do grupo original
aps sua morte.
30
No que se refere aos Juruna, Lima (1995: 76) define a relao entre o sogro e o genro
31
como aquela que gera o poder e define a aldeia e que, ao mesmo tempo, seria a relao de
solidariedade por excelncia.
A formao de um grupo local novo depende das relaes de aliana, no das
relaes de consanginidade, porque, disse-me Mareaji, os irmos de um homem no podem
acompanh-lo j que devem solidariedade aos seus prprios cunhados e sogro (ibid.).
Um dos informantes de Lima (ibid.) relata que a fora de um homem pode ser
medida pela quantidade de irms e primos e/ou filhas e sobrinhos que trazem consigo novas
30
A palavra chefe parece-me inadequada como traduo de Zpiway,no caso Cinta-Larga, ou de Nza Wijai, no
caso Zor, j que ela traz consigo uma srie de pr-noes sobre poder, direitos e autoridade que podem ou no
fazer parte do que estes grupos definem como tal. Sugiro seguir uma das inmeras definies que fazem tanto
Dal Poz como Brunelli, e utilizar dono da casa como alternativa, deixando claro que ela no esgota os
meandros de sua posio.
31
a relao entre os uaha que compreende as seguintes posies: MB-ZS, WF-DH, FZH-WBS, ZH-WB.
46
relaes de aliana, essenciais para a fundao das aldeias. A uxorilocalidade temporria e o
genro deve prestar servios ao sogro. Um homem abre sua primeira roa, contgua do sogro,
apenas depois do casamento e deve tanto pescar para ele como plantar mandioca para os
cunhados o casal s sai da casa do sogro depois do terceiro ou quarto filho. Nas palavras de
Lima (op.cit.: 156):
Uxorilocalidade temporria, acompanhada de tendncia manuteno de lao
uxorilocal depois que o casal parte para morar em nova casa; portanto tendncia, muito tnue
porm, para o surgimento das chamadas sees residenciais.
De acordo com o que se acaba de descrever, os modelos de conexes que estruturam
estes grupos Tupi parecem caracterizar-se por uma configurao de relaes simtricas e
assimtricas variadas que fundamentam a unidade local destes sistemas, seja a aldeia, a
maloca ou o grupo. Nos exemplos tratados aqui, as relaes principais que estruturam os
grupos so as relaes de consanginidade simtrica entre irmos (laos de germanidade), as
relaes de afinidade assimtrica entre genro e sogro (uxorilocalidade) e as de
consanginidade assimtrica entre pai e filho (patrilinearidade). Como vimos, elas raramente
se realizam de modo mecnico e, comumente, seu modo de atualizao variante.
2.2- A produo dos parentes
Se o item anterior foi dedicado aos modos de patrisegmentao dos grupos, neste
pretendo tratar de como a patrifocalizao (FAUSTO, comunicao pessoal) se realiza em
outros domnios, tais como a onomstica, a terminologia de parentesco, as teorias de
concepo e o casamento
32
.
Quando abordamos o regime de aliana, torna-se notvel o baixo rendimento dos
patrigrupos na regulamentao dos casamentos. O que h, na verdade, uma possvel
afinidade entre uma regra matrimonial, o patriavunculato, e as patri-segmentaes. O carter
patriorientado da fabricao do parentesco, da identidade ou da concepo no impede que
outros mecanismos ligados comensalidade e convivialidade concorram igualmente para a
produo do Si.
32
Entretanto, talvez seja bom dizer que tais domnios no so bem domnios, na medida em que no so
separveis, mas sim interimplicados por este motivo sero aqui tratados em conjunto.
47
Para grande parte dos grupos aqui analisados, com exceo dos Juruna e dos
Munduruku, o avunculato o casamento preferencial isso verdade pelo menos para todos
os Tupi-Mond e para os Karitiana e h para todos, agora sem excees, o casamento entre
primos cruzados. Sugiro, seguindo Fausto (1991, 1995, 2000), que o avunculato combinado
com o patrilaterato uma caracterstica fundamental para definir os grupos Tupi. Podemos
pensar, como Murphy, que os Munduruku em algum momento de sua histria aceitaram e
praticaram o casamento avuncular, embora o rejeitem hoje, visto que encontramos em sua
terminologia de parentesco equaes condizentes com o casamento avuncular. Os Munduruku
no praticavam este tipo casamento na poca de Murphy e o classificavam como incestuoso
33
.
O autor enfatiza que o casamento com uma pessoa da metade oposta a de Ego a nica
regulamentao do sistema. O resultado da regra que qualquer unio com uma pessoa da
mesma gerao e do grupo oposto ao de Ego ser com um primo cruzado real ou
classificatrio, e a preferncia que seja de primeiro grau (op.cit. 88). Os Juruna, por sua vez,
tambm rejeitam avunculato, considerando-o incestuoso: Os Juruna querem crer que o
casamento com a filha da irm to aberrante quanto o casamento com a irm (LIMA, 1995:
323).
Se, de um lado, podemos identificar tais grupos com pavor avuncular mesmo que
a terminologia munduruku seja avuncular , de outro temos os Tupi-Mond e os Karitiana
que parecem considerar o casamento com a sobrinha como a melhor forma de aliana
possvel. Dos casamentos observados por Brunelli para os Zor temos casos de unies com
Cinta-Larga, Suru, Gavio e Arara, alm do casamento preferencial de tipo avuncular e do
casamento com primos cruzados (1989: 148). O mesmo ocorre entre os Suru (MINDLIN,
1985: 33), para quem o avunculato tambm a unio preferencial ao lado do casamento de
primos cruzados.
Entre os Cinta-Larga, onde tambm se observa uma preferncia pelo avunculato,
existem outras possibilidades. O casamento com a neta permitido, mesmo que a
classificao do av/neta seja na mesma diviso patrilinear (FF kia; DD ou SD zrit)
o que em outras circunstncias poderia ser motivo para acusaes de incesto, de acordo com
Dal Poz (1991: 109-114). Os avs so identificados com os tios, visto que h um s termo
33
Viveiros de Castro (1995: 161, 196) afirma que aparentemente, os nicos avunculares sem complexo das
terras baixas seriam alguns povos Tupi, tais como os Tupinamb, os Parakan e os Mond. Acrescento os
Karitiana lista.
48
para FF, MF e MB odrit e um s termo para FM, MM, FZ zobey.
34
O que os Cinta-
Larga definem como a categoria boa para casar a pakay, que rene as seguintes posies:
ZD, FZD
35
, SD, DD (op.cit.: 109). Vemos aqui um exemplo claro do patriavunculato,
embora ele esteja aliado a uma rara forma de casamento entre av e neta o que para Dal Poz
(op.cit.: 112) enfatizaria a natureza centrpeta da estratgia matrimonial. No deixa de ser
significativo que os dois povos que rejeitam o casamento avuncular sejam, de um lado, aquele
que no apresenta qualquer segmentao os Juruna e, de outro, aquele em que a
patrisegmentao parece ter alcanado maior realizao emprica os Munduruku. Talvez se
possa dizer, assim, que o casamento avuncular funcione como um mecanismo de
patrifocalizao, ausente no caso juruna, desnecessrio no caso munduruku. No caso
karitiana, porm, temos avunculato e nenhuma evidncia de patrisegmentao. Gostaria de
aventar a hiptese que temos aqui outro mecanismo, associado terminologia e onomstica.
Vejamos.
Entre os Karitiana, um pai chama seu filho e o filho chama seu pai de yit ( it a
palavra para esperma). O termo y'it [/it], portanto, equivale tanto a "meu pai" como a "meu
filho(a)" de Ego masculino
36
.
34
Mais adiante, quando passarmos mais diretamente para as questes de terminologia, retomarei o que aqui me
parece ser um pequeno engano do autor: a meu ver, as posies que correspondem a zobey e odrit parecem estar
trocadas.
35
Dal Poz argumenta que o sistema no admite casamento entre primos cruzados, embora em seguida afirme que
o casamento com a FZD seja permitido. (DAL POZ, 1991: 109)
36
O prefixo possessivo marcador de primeira pessoa aparece em todos os termos do parentesco Karitiana.
Tambm os termos de parentesco em Juruna foram documentados por Lima sempre em co-ocorrncia com o
prefixo possessivo de 1
a
. pessoa, uma vez que estas razes, na lngua, so inalienveis, e nunca ocorrem sem
marcao de posse. Trata-se de um fato bastante comum nas sociedades indgenas, entretanto usualmente
destaca-se este prefixo da palavra sem tematiz-lo mais demoradamente, excetuando-se talvez as discusses
lingsticas. Durante as entrevistas com Incio Karitiana perguntei-lhe vrias vezes se poderia usar a palavra sem
a idia de posse o prefixo y, neste caso. Para ele pareceu totalmente inconcebvel tal dissociao e, mesmo
quando eu tentava peg-lo de surpresa formulando frases sem o prefixo voc chama este homem de syymbo
(cunhado)? ele prontamente me corrigia enfatizando ser impossvel chamar algum de syymbo, seria
necessariamente ysyymbo! Minha impresso que se a marcao de posse indissocivel dos termos de
parentesco porque o Outro dado imediatamente em relao ao Eu. No existem Eu/Outro que no estejam em
relao, da a necessidade do marcador de posse. Pai uma palavra vazia de contedo, nem mesmo uma
palavra no entendimento Karitiana, mas meu pai implica em uma relao recproca, portanto faz todo sentido.
Tarde ([1893] 1999: 86-88) nos proporcionaria uma forma de tratar o problema: para ele, o verbo ser,
intransitivo, est fechado em si mesmo e deve ser substitudo pelo verbo ter que pressupe necessariamente um
objeto direto e, por conseguinte, uma relao. Se algum tem, subentende-se a posse de algo e, portanto, o sujeito
no se encerra em si mesmo. Embora tudo pressuponha uma relao e uma noo de propriedade de um objeto
qualquer, no caso dos termos de parentesco o objeto um tipo de sujeito. O que se poderia concluir que os
termos do parentesco Karitiana e no apenas dos Karitiana so indissociveis do prefixo de posse no apenas
porque a pressupem, mas, principalmente, porque marcam uma possesso recproca entre dois sujeitos de uma
relao. certo que, para vrios grupos, tambm os termos para as partes do corpo so indissociveis do prefixo
de posse na maioria das sociedades amerndias. Aparentemente, seriam situaes distintas, j que no caso dos
termos de parentesco a relao seria externa ao sujeito e no caso das partes do corpo, internas. Costuma-se
49
O filho de um homem seu iit porque fruto de seu esperma; por outro lado, uma
vez que ele simboliza a renovao do F desse mesmo homem, recebendo seu nome, ento ele
chamar seu prprio F pelo mesmo termo, j que filho de seu homnimo (Lucio, 1996:
104).
J os termos Karitiana para eFB e yFB (ego masculino) so diferentes daquele para F.
Eles no derivam da raiz it, mas da raiz syp, meu pai para ego feminino: eFB = ySypyty;
yFB = ySypyet (meu pai grande e meu pai pequeno, literalmente). Os termos em
karitiana derivados da palavra ysyp, so utilizados para designar os irmos do pai mais novos
que Ego (ysypy'et [sp/t] para Ego masculino e ysypysin [spsin] para Ego feminino) ou
mais velhos que Ego (ysypyty [spt]). importante observar que tanto para os irmos do
pai de Ego masculino quanto para Ego feminino os termos so derivados de uma mesma raiz
syp; nenhum deles deriva-se da palavra para pai ('it) para Ego masculino. A raiz 'it, a
princpio, parece restrita categoria de pai do ponto de vista do Ego masculino. Somente a
raiz syp, contudo, cognata de outras palavras do tronco tupi para pai. Assim, poderia ter
existido um nico termo para pai (syp) tanto para Ego Feminino quanto para Ego
Masculino, o que congruente com a reconstruo do termo syp em Proto-Tupi (STORTO &
ARAJO, 2001).
Vejamos primeiramente os cognatos para pai em Proto-Tupi
37
:
Karitiana (fam. Arikm): -sip (ego: F)
38
pensar as formas do corpo como formas possudas, no transferveis. Entretanto, como alerta Strathern (1988)
para vrias outras categorias, pode estar implicada nesta distino um uso inexplcito de concepes ocidentais.
Segundo a autora (op.cit. 135), no Ocidente a nica relao interna a da pessoa com as partes de seu corpo;
todas as demais seriam externas. Mas isto no Ocidente; no contexto indgena as relaes parecem ser
relaes de relaes; logo, necessariamente forjadas na interface com o exterior. No caso karitiana, implica na
relao entre av-pai-filho: ego tem um filho, mas, por sua vez, tambm um filho de algum. Ningum um
parente imediato o pai mas sim um parente em relao meu pai implica em meu filho.
37
Os termos de Zor (famlia Mond) foram retirados de Brunelli (1989) e esto representados ortograficamente,
assim como os termos Cinta-Larga da monografia de Dal Poz (1991). Agradeo aos participantes do Projeto
Tupi Comparativo, coordenado por Denny Moore, pelos dados das outras lnguas Tupi citadas: Carmem
Rodrigues (Xipaya, famlia Juruna), Srgio Meira (Maw, famlia Maw), Sebastian Drude (Aweti, famlia
Aweti), Vilacy Galcio (Mekns, famlia Tupari), Denny Moore (Gavio e Suru da famlia Mond), Nilson
Gabas Jnior (Arara Karo, famlia Ramarama), e Gessiane Lobato Picano (Munduruku, famlia Munduruku).
Os dados comparativos esto transcritos fonemicamente, com exceo de Xipaya e Karitiana, cuja transcrio
fontica.
38
Sabe-se que a vogal do termo para pai de Ego Feminino em Karitiana tem a mesma origem da vogal do
termo para "pai" nas outras lnguas aqui citadas, pois houve uma mudana voclica em cadeia do Proto-Tupi
para o Proto-Arikm que gerou a transformao das vogais u e o das lnguas Tupi na vogal central alta i em
Karitiana (RODRIGUES 1986, STORTO & BALDI 1994). Assim, temos a vogal i do cognato para "pai" em
50
Juruna (fam. Juruna): u-pa
Xipaya (fam. Juruna): -tupa/-pa
39
Mekns (fam. Tupari): -top
Zor (fam. Mond): -zup
Gavio (fam. Mond): -sop
Suru (fam. Mond): -lop
Aweti (fam. Aweti): -up
Cinta-Larga (fam. Mond) -zop
Todavia, deve-se pensar melhor no significado atual da palavra pai quando
traduzida como smen, comumente associado substncia responsvel pela formao da
criana. Viveiros de Castro (comunicao pessoal) sugeriu-me inverter a relao e pensar em
smen como a palavra que designa pai e no o contrrio.
40
Fazendo a inverso, talvez
ambas as razes para pai em karitiana signifiquem smen primeiramente. O exemplo
Cinta-Larga pode ser bastante elucidativo nesta questo.
Dal Poz (1991:104) sugere que os termos do parentesco Cinta-Larga zop (F), ne)top
(S) e zobey (FM, MM, FZ) so cognatos de esperma (zop). O autor no justifica nem
explica a relao destas posies com o significado do cognato e, sem dispor dos dados de
morfologia difcil dizer se isso realmente se aplica. Em tais condies, fica difcil entender
como as posies de FM, MM e FZ podem ser associadas raiz zop, esperma. Diz o autor
que zop o smbolo da masculinidade por excelncia (ibid.); entretanto, no vejo como
relacionar uma tal definio s posies zobey. No caso da MM no h nem mesmo a
possibilidade de justificar tal associao tomando como mediador o pai, como poderia, ainda
que hipoteticamente, ser o caso da FM e da FZ. Uma justificativa mais imediata, porm, seria
que o autor apenas trocou as posies genealgicas entre zobey e derit, talvez por engano,
como j foi mencionado.
Karitiana correspondendo s vogais u na famlia Juruna, o na lngua Mekns da famlia Tupari, e u e o,
respectivamente em Zor e Gavio, ambos da famlia Mond.
39
Apenas os segmentos em negrito fazem parte dos cognatos. A vogal a que ocorre no final de palavras em
Xipaya uma inovao tpica da famlia Juruna, que no permite palavras terminadas em consoantes
(comunicao pessoal, Carmem Rodrigues), portanto, no faz parte do cognato. provvel que o mesmo ocorra
na lngua Juruna.
40
No disponho dos dados para tratar desta questo nos demais povos tupi, para os quais temos os cognatos da
palavra para pai; resta saber se a correspondncia se aplica.
51
Como no h dados suficientes para dar conta da posio zobey, prefiro aqui me
restringir ao que pode ser comparvel com as posies de pai e filho entre os Karitiana.
Como vimos, a palavra pai em karitiana difere conforme seja o Ego masculino ou feminino
e apenas o termo syp (pai para Ego feminino) reconstri no Proto-Tupi, assim como a raiz
cinta-larga zop, que a mesma palavra para smen. importante notar especialmente a
reteno do significado de smen como pai nas lnguas karitiana e cinta-larga. Syp, para
Ego feminino, cognato de zop, pai e smen na lngua cinta-larga. A palavra 'it, para Ego
masculino em karitiana, significa smen, mas no cognato da palavra pai nas outras
lnguas. O que importante notar que ambas, no importa se Ego feminino ou masculino,
significam smen. Portanto, o que est em jogo uma teoria da concepo que tem como
base a idia de que o smen o formador primeiro da criana
41
. Vejamos agora o papel da
me neste processo.
Para os Cinta-Larga, Dal Poz sugere que os termos di (M, MZ) e derit (MB, MF,
FF) derivam de ti, raiz traduzida pelo autor como uma espcie de princpio divino da pessoa
humana, posto que a fertilidade das mulheres cinta-larga seria derivada diretamente da ao
do demiurgo Gor. Por este motivo, Dal Poz afirma que o princpio divino corresponderia
reproduo feminina
42
. No estou certa se a aproximao sugerida pelo autor realmente
correta, posto que aparentemente no h dados suficientes para afirm-la. Repete-se, aqui, a
situao j verificada para os cognatos de zop: mais uma vez, o autor no explicita a conexo
possvel entre este princpio divino e as posies terminolgicas correspondentes. Prefiro
reter-me palavra que reconstri no Proto-Tupi como me: di.
A palavra yti tambm significa me em karitiana, cognato para o mesmo termo na
lngua cinta-larga. Os Juruna, por sua vez, chamam a me de uja. Aparentemente as
palavras para me nestas duas lnguas no parecem ter uma origem comum: ti em karitiana
e ja em juruna. No entanto, encontramos em outras lnguas Tupi cognatos para ambas as
formas. Na lngua mekns, da famlia Tupari, as duas formas ocorrem, uma delas sendo
utilizada apenas como um termo vocativo.
H, portanto, duas razes em Proto-Tupi para a palavra me:
Karitiana: -ti Juruna: -ja
Suru: -ti Xipya: -d a
41
Por no dispor de informaes precisas sobre a concepo e sobre a dade pai/smen no possvel, por
enquanto, fazer maiores aproximaes.
52
Gavio: -ti Purubor: -aj
Mekns: -si Mekns: -) ) ) )a (vocativo)
Munduruku: - i Proto-Tupari: -) ) ) )a
Cinta-Larga: -di
A filiao cinta-larga patrilinear, entretanto a possibilidade de co-paternidade torna
este modelo bem mais malevel: se mais de um homem tomou parte da concepo de um
indivduo, ele pertencer s divises respectivas daqueles homens, ter uma filiao, enfim,
no mnimo dupla.
43
Entretanto, fundamental reter que a diviso principal dos filhos desta
pessoa poder ser traada a partir seja da diviso do marido da me do seu pai (FMH) seja
do marido da me (MH); isto , a criana far parte da mesma diviso que o seu av paterno
porque esta foi preponderante na formao do pai dela. Podemos entender por esta via
tambm o que Dal Poz (1991: 42) chama de dupla filiao cinta-larga: penso que no se
trata apenas de uma transmisso patrilinear stricto sensu, mas antes de um caso em que o
marido da me (MH), apesar de ser pai junto com outro homem, participou mais
acentuadamente do crescimento do filho, conviveu com ele de modo mais intenso e, por isso,
trocou com ele mais do que smen. Ao nascer, o menino recebe um nome de seu kok (MB)
ou de seu kia (FF, MF); se menina, de sua zobey (FM, MM) mas ambos ao longo da vida,
recebem outros nomes de parentes. Os apelidos so sempre jocosos.
Os Zor, por sua vez, tambm apresentam uma tendncia patrilinear de transmisso de
identidade: os filhos so tidos como pertencentes ao grupo do pai, embora algumas crianas
possam ser consideradas parte do grupo onde haviam nascido recordo que a regra de
residncia uxorilocal. (BRUNELLI, 1989: 184). O autor no explicita quais os critrios que
regulam o pertencimento da criana ao grupo do pai ou ao grupo onde nasceu. Penso que
possvel formular uma hiptese: como tenho procurado mostrar, o princpio de residncia
parece ter um rendimento equivalente ao da patrilinearidade. Tanto a residncia uxorilocal
quanto a patrilinearidade contribuem para a determinao da filiao da criana posto que
ambos participaram de sua fabricao. O pai da criana o responsvel por sua constituio
fsica conduzida atravs do smen
44
, a substncia formadora por excelncia. Por outro lado, no
42
Nas palavras do autor: Aparentemente a pessoa cinta larga estaria constituda por um princpio masculino,
simbolizado pelo esperma, e por um princpio divino, que responde pelo atributo feminino da reproduo (DAL
POZ, 1991: 105).
43
Retomarei este ponto mais adiante, quando tratar do que Dal Poz chama de casos de dupla filiao. Por hora
gostaria apenas de mencionar que a possibilidade de co-paternidade d margem para que a filiao seja,
eventualmente, mais do que dupla mais do que dois homens podem participar da fabricao da criana.
44
J vimos os cognatos para pai e sua traduo como smen.
53
local onde a criana nasce e criada esto pessoas que estabelecero com ela relaes de
convivialidade e comensalidade. As prescries e proibies que devem ser cumpridas
quando nasce algum no se restringem ao pai e me, embora estes as cumpram com mais
intensidade; envolvem, ao contrrio, todo um conjunto de parentes. Portanto, nesta complexa
troca de substncias, temos no somente o smen do pai, mas toda uma srie de relaes de
troca que no so apenas substanciais entre a criana e seus parentes maternos, no caso da
residncia uxorilocal.
Lima (1995: 338) tambm no concorda que a identidade tribal dos Juruna seja
transmitida patrilinearmente de modo automtico, como afirma Oliveira (1970). A autora
afirma que, ainda que os Juruna considerem que as crianas pertencem tribo do pai, esta
regra no pode ser tomada to mecanicamente, posto que a classificao de filhos de pai ou
me ndio (no-Juruna) extremamente fluida, moldando-se conforme o contexto: Os
nascidos de pai ndio so ndios, mas, muito provavelmente, nascem entre os Juruna, falam a
lngua dos Juruna e so plenamente Juruna, exceto quando fazem alguma coisa errada (ibid.).
J a definio Juruna para a formao da criana , a princpio, bastante precisa:
O pai nos faz de seu smen e nos nomeia com o nome de seus avs ou mesmo de
seus pais se j esto mortos. A me nos concede o abrigo uterino onde podemos tomar forma,
e o leite de que nos alimentamos (LIMA, 1986: 90).
claro que, como para os Cinta-Larga, a idia de co-paternidade no pode ser posta
de lado. Para os Juruna como para os Cinta-Larga, entre tantos outros, os etngrafos recorrem
principalmente ao conceito de concepo mltipla, atravs do qual uma criana pode ter
tantos pais quanto forem os homens com quem sua me teve relaes sexuais. Varia, claro,
o tipo de classificao futura do indivduo conforme o grupo em questo.
O smen tambm responsvel pela formao e definio da criana como Karitiana.
Ela pode incorporar tanto a substncia paterna como a de outros homens que com sua me
tiveram relaes sexuais at mais ou menos os trs meses de sua gestao (LUCIO, 1996:
104). De acordo com Lucio (op.cit.: 81), os Karitiana afirmam que seus filhos renovam seus
ancestrais, fazendo-os nascer novamente e o smen o responsvel por este processo. Yogot
o termo pelo qual o FF chama seu SS e a FM chama sua SD e comumente traduzido como
meu eu novo ou meu eu renovado (ibid.); os netos, por sua vez, chamam seus respectivos
nominadores de ombyj, que poderia ser traduzido como meu chefe
45
(LUCIO, 1996).
45
Note que o prefixo o- pode ser uma reteno do possessivo de 1
a
. pessoa singular do Proto-Tupi e byj o
termo que se usa para o demiurgo e para chefe. Por este motivo ombyj poderia ser parafraseado como "meu
chefe" (STORTO & ARAJO, 2001).
54
Poderamos pensar, inversamente e seguindo outra sugesto de Viveiros de Castro
(comunicao pessoal) que chefe uma espcie de av
46
, e no o contrrio. E isto
congruente com a reconstruo karitiana da palavra av no Proto-Tupi, visto que se fosse o
av uma espcie de chefe e no o chefe uma espcie de av, ento no haveria
correspondncia. Os seguintes cognatos podem ser reconstrudos para av no Proto-Tupi:
Karitiana (fam. Arikm): o1 11 1mbiy
Juruna (fam. Juruna): wemi
Suru (fam. Mond): -amo# ## #
Aweti (fam. Aweti): -amuj) )) )
Entre os Karitiana, a onomstica transmite uma identidade por via paterna: no caso,
contudo, o pai um elemento mediador, ela patrifiliativa e no patrilinear, para usar
novamente uma sugesto de Fausto (1991). Tal como nos sistemas Pano
47
h forte identidade
entre as geraes alternas, mas penso que o pai, no caso karitiana, tambm se encontra em
uma posio de mediador da relao. Como vimos, os Karitiana recebem o nome atravs do
FF (no caso de um menino) e da FM (no caso de uma menina), no sendo, exatamente, uma
transmisso patrilinear, j que a menina no recebe o nome da FFZ (LUCIO, 1996: 105)
48
.
Entretanto, o que mais interessante no sistema de transmisso de nomes que a anlise dos
termos de parentesco deve ser efetuada a partir da onomstica. Por exemplo: o termo para
FM, SD e W o mesmo ysooj traduzido como minha esposa
49
. Se pensarmos estes
termos exclusivamente pela terminologia de parentesco e pelas regras matrimoniais, no
conseguiremos explicar porqu um homem karitiana chama sua FM de esposa. Proponho
que os pensemos atravs da onomstica, na seguinte formulao: Ego chama sua FM de ysooj
porque recebeu o nome de seu FF que, por sua vez, o marido da FM de Ego. Ora, se Ego
uma representao do av nada mais lgico do que chamar a mulher deste av pelo mesmo
termo que ele a chama: esposa. Por outro lado, a SD de Ego tambm chamada de ysooj j
que ela recebeu o nome da W
50
de Ego. Se evitarmos pensar nos termos de uma transmisso
46
As definies ancestral, antepassado e velho tambm podem se aplicar.
47
As geraes alternas, entre os grupos Pano podem ser expressas ou no na terminologia de parentesco, mas
cristalizam-se em sees matrimoniais de clara feio australiana, sem deixar de apresentar caractersticas
comuns ao dravidianato amaznico. (VIVEIROS DE CASTRO, 1995: 161).
48
Para Landin, contudo, os nomes karitiana so herdados patrilinearmente (LANDIN, 1989: 25).
49
Infelizmente esta questo no problematizada por Lucio.
55
patrilinear stricto sensu que no o caso e mais nas relaes envolvidas, podemos supor
que um casal de irmos (ego masculino e feminino) reproduz um outro casal, o de seus avs
paternos. Ego masculino, ao receber o nome de seu FF, torna-se como ele e o mesmo
acontece com a irm de ego, que recebe o nome da FM
51
. Os netos mais assumem o ponto de
vista destes avs paternos e, a partir desta perspectiva, passam a classificar todos os outros
parentes, do que so uma representao dos avs.
Para Lucio tudo se passa como se houvesse uma manipulao da onomstica na
terminologia de parentesco, porque nem sempre o clculo feito atravs da onomstica. No
h uma regra irrevogvel. Ao contrrio, imagino que se trata antes de algo que faz parte da
prpria estrutura interna da sociedade. Classificar alter do ponto de vista do av no apenas
manipular a terminologia em favor de algo, trata-se de uma possibilidade de classificao
mltipla interna ao sistema. Se Ego pode ou no fazer o clculo terminolgico partindo do
nome que herdou, isso abre para ele realizaes classificatrias diferentes
52
que, por
conseguinte, podem aumentar suas possibilidades de aliana.
No se esgotaram completamente, porm, a comparao das razes da palavra para av
gostaria, portanto, de retornar a ela. Sem pretender dar qualquer palavra final, minha
inteno apenas a de oferecer uma hiptese que me parece potencialmente vlida. Chamo
ateno para a reconstruo apresentada antes, a da palavra para av em Juruna como cognato
da mesma palavra em karitiana. Se pensarmos a nominao juruna a partir daquela karitiana,
talvez possamos identificar tambm a um mecanismo de patrifocalizao, mesmo estando os
Juruna no plo menos patri do conjunto tupi.
O processo de nominao juruna exige que os vivos furtem um nome dos mortos para
conced-lo a uma pessoa. Lima (1995: 228) ressalta que o que est implcito na lgica deste
50
Ao ser questionado sobre a possibilidade de casamento com a neta ou com a av, Nelson Karitiana no negou
de maneira alguma a possibilidade, embora achasse a primeira muito nova e a segunda muito velha. Lucio
(1991) no registra casos de casamentos com netos.
51
Podemos tambm perceber semelhanas entre esta questo da nominao karitiana e no processo de
nominao suru. Diferentemente dos Karitiana, nos Suru um menino recebe o nome de seu MB, FF ou MF e
uma menina nomeada por sua FZ, MM ou FM (MINDLIN, 1985: 91-93). Entretanto, o que comparvel aqui
o significado de receber um nome e no ele em si, j que ele no parece ter um significado fechado em si
mesmo, o nome s funciona em relao a outrem. Em ambos os casos karitiana e suru trata-se de uma
transferncia de posio: o nomeado passa a ocupar o lugar do nominador e classifica todos os outros parentes
do ponto de vista dele, embora quem o nominador difira nos dois grupos.
52
Foi o que encontrei nas entrevistas com os dois Karitiana. Eu dispunha do mapa genealgico dos Karitiana
feito por Lucio em sua dissertao e, por ele, classifiquei a princpio algumas pessoas de acordo com o que sabia
do sistema de parentesco. Incio e Nelson vrias vezes apresentavam outras classificaes ou mesmo duas
classificaes para a mesma pessoa. Frente s minhas dvidas, insistiam que at podia classificar assim ou eu
chamava assim antes dela casar. Enfim, uma resposta nica s era obtida quando eles j estavam cansados de
tantas perguntas.
56
sistema a apropriao dos nomes dos mortos revelia deles. Isto justifica que a transmisso
ideal seja a dos nomes de pessoas falecidas h tempos, pois elas j estariam bem adaptadas ao
mundo dos mortos e no teriam cime de seu nome. Como a autora afirma, preciso evitar o
incmodo do morto com a usurpao de seu nome, portanto, ainda melhor que estes mortos
doadores de nomes sejam os prprios avs ou bisavs da criana que, certamente, no lhe
faro mal algum.
Se o nome dos avs ou bisavs so os melhores para a nomeao da criana Juruna,
no se trata do nome de qualquer um dos avs. Os homens tm direito sobre os nomes de seus
avs (paternos ou maternos) para que os dem a seus filhos. Portanto, uma criana deve
receber o nome dos avs pela linha paterna e, se o nome de um parente do lado materno lhe
dado, pode-se fazer uma acusao de roubo, visto que tal nome poderia nomear os filhos do
irmo da me desta criana, mas no ela mesma. Outra conseqncia deste sistema a
situao em que a criana possui um pai desconhecido, pois permanece sem nome e, mais
especificamente, sem direito a um nome (LIMA, 1995: 294).
As relaes familiares mais antigas trariam consigo, idealmente, um conjunto de
nomes que se conectariam entre si a reproduo das relaes entre as famlias se daria
preferencialmente atravs do mesmo processo de nominao. O av morto d o nome ao seu
neto e assim, seguindo o sistema de geraes alternadas, assegura a existncia nominal da
sociedade. No podemos esquecer, apesar da descrio acima, da advertncia de Lima quanto
ao sistema de nominao Juruna: na descrio da autora (op.cit. 295) temos exemplos de
pessoas que no aceitam os nomes que recebem e, por isso, ficam sem nome e outras que no
se importam por no ter um nome
53
.
H alguns princpios a serem seguidos pelos Juruna na onomstica. Por exemplo, duas
pessoas vivas no devem portar o mesmo nome e a transmisso ou o emprstimo de nome de
um irmo para outro permitida. Embora Lima afirme que os nomes no so vinculados a
nenhum papel social especfico, a situao ideal para os Juruna a de que os nomes sejam
ligados uns aos outros por relaes familiares definidas desde sempre ou que as famlias
tenham uma existncia nominal contnua, reproduzindo-se indefinidamente por meio dos
nomes (ibid.).
Se escolhermos pensar aqui nos aspectos da nominao juruna menos enfatizados por
Lima, como a transmisso nominal via avs paternos, sem, claro, esquecer a nfase da
53
Talvez os Karitiana ajam de maneira semelhante em certos contextos. Para eles, os nomes tm uma grande
importncia, pois determinam o clculo da terminologia de relaes. Contudo, tomando-os isoladamente, os
57
autora na usurpao dos nomes dos mortos, poderemos refletir sobre outros problemas. Quero
sugerir, aqui, que tomemos a questo dos nomes juruna pela via da comparao com os
Karitiana. Ora, sabemos que um menino Karitiana herda seu nome do av paterno e a menina
da av paterna. No seria um caso semelhante, feitas as devidas ressalvas, o que ocorre entre
os Juruna? Seja dos avs ou dos bisavs, os nomes juruna devem ser transmitidos pela via
paterna o pai o elemento mediador; a nominao seria patrifiliativa e no patrilinear. A
usurpao, mecanismo caracterstico dos sistemas exonmicos (VIVEIROS DE CASTRO,
1986: 384), combinar-se-ia aqui com uma transmisso patrifiliativa interna ao grupo. certo
que Lima chama a ateno para a exterioridade dos mortos; os mortos so outros, verdade.
No entanto, o nome vem preferencialmente de outros paternos e no maternos, e os Juruna
dizem que o fazem para que eles no se zanguem com os vivos. Se for para um neto ou
bisneto, afinal, est tudo em famlia. Os Juruna estariam, assim, a meio caminho de um
sistema patrifiliativo de transmisso de nomes, como os karitiana, e um sistema canibal como
o Parakan (FAUSTO, 2001). Caso semelhante encontramos entre os Munduruku, se o
analisarmos tendo em vista o papel mediador do pai: um menino recebe o nome de seu FFF e
uma menina, o nome de sua FMM (MURPHY, 1960: 83). Se em todos estes casos a
transmisso parece se dar por via paterna, no , entretanto, estritamente patrilinear.
claro que para descrever a forma do mundo a primeira coisa a fazer estabelecer
em que posio me encontro, no estou dizendo o lugar, mas o modo em que estou orientado,
porque o mundo de que estou falando tem isso de diferente de outros mundos possveis.
Do Opaco
talo Calvino
nomes no tem importncia acentuada, no possuem uma funo marcadora do indivduo na sociedade e no tem
funo classificadora como nas sociedades de grupos corporados (LUCIO, 1996: 153).
58
CAPTULO III
De Porcos, Cauim e Cabeas: A Atualizao do Outro entre os Cinta-Larga,
Juruna e Munduruku
No captulo anterior, focalizei os modos de realizao dos elementos
patriorientados, destacando os mecanismos de constituio e de produo da identidade. No
presente captulo, procurarei explorar algumas das possibilidades de atualizao da figura do
Outro por meio da anlise de rituais de forte conotao guerreira dos Munduruku, dos Juruna
e dos grupos Tupi-Mond. Deve-se ressaltar, contudo, que apenas no primeiro caso o rito
pressupe uma guerra real; nos demais, trata-se antes de rituais que, de uma maneira ou outra,
utilizam-se de uma nova simbologia guerreira.
Da discusso do captulo anterior, deve-se reter a multiplicidade de modos de
conceber e fabricar a identidade, bem como sua tendncia patrifocal. No plano do rito, os
classificadores sociais se atualizam de modo diverso, mas so tambm mltiplos e, por isso,
difceis de precisar. Sendo assim, se no captulo anterior procurei dar conta dos princpios que
conformam uma transmisso vertical da identidade, neste enfatizarei as oposies horizontais
no ritual.
Para este fim, tanto focalizarei as relaes de oposio simtrica e suas transformaes
durante o ritual, como alguns de seus elementos-chave. Devo deixar claro, contudo, que no
pretendo esgotar as possibilidades analticas, mas sim, enfatizar alguns pontos que me
interessam mais de perto para tratar de outra dimenso do fazer de Si e do Outro, as quais
mobilizam oposies como presa/predador, parente/inimigo de ordem diversa daquela que
analisamos no captulo dois. Ao longo do argumento, procurarei destacar, ainda, a posio
ambivalente que os porcos selvagens ocupam nos rituais.
Para conforto do leitor, farei a seguir um breve resumo dos trs rituais sobre os quais
concentrarei minha anlise; a saber, Cinta-Larga, Juruna e Munduruku.
O ritual cinta-larga tratado aqui corresponde ao que Dal Poz chamou de evento social
mais significativo desta sociedade, o nico capaz de mobilizar um grande contingente de
pessoas e tambm de recursos (DAL POZ, 1991: 2). As festas como traduzido pelos
Cinta-Larga constituem-se sobre o que o autor (op.cit.: 157) chamou de mdulo ritual
mnimo, no qual esto contidas as condies necessrias para sua realizao: a casa, a roa, o
xerimbabo e os convidados. Para o ritual, preciso capturar e dar um nome a um filhote de
59
queixada o animal por excelncia destinado ao sacrifcio
54
que criado pela esposa ou
pela filha do dono da festa. Uma casa nova constitui no apenas o espao prprio
indispensvel para a realizao da festa, mas tambm o prprio motivo do rito e o
reconhecimento social (op.cit.: 189) da moradia recm-inaugurada. J a roa deve ser
grande o suficiente para sustentar tanto os excessos dos convidados como a fabricao da
chicha a ser bebida e vomitada em grandes quantidades ao longo do ritual. Durante a festa,
cabe aos anfitries apenas servir a chicha e oferecer refeies aos visitantes de outras aldeias
cinta-larga; no lhes cabe cantar, beber ou danar no ritual. Tais funes pertencem aos
convidados da festa, que chegam simulando um ataque guerreiro e so os responsveis por
todos os excessos rituais, alimentares ou no. O final do ritual marcado pela morte do
animal, precedida da encenao do anfitrio que imita um porco.
Os Juruna, por sua vez, no matam porcos em seu ritual, mas so mortos pela
prpria bebida que fabricam, o cauim. Os donos do cauim so um homem, que produz a
mandioca e tambm dono da roa, e sua mulher, a responsvel pelo processamento da
bebida. Ambos respondem ainda pelo bom desenrolar da festa e no podem embriagar-se
permitido, contudo, que bebam do cauim desde que algum os sirva dizendo tome aqui seu
filho (LIMA, 1995: 377). Os Juruna classificam o cauim bebido durante o ritual como cauim
dubia, traduzido como ser humano e, com base nisso, Lima (id.) afirma que a cauinagem
uma forma legtima de antropofagia
55
. Para os Juruna, justamente o fato de beberem cauim
e, especificamente, o tipo de cauim que chamam de ser humano, que os torna diferentes
cultural e politicamente dos outros grupos. O cauim , portanto, um signo privilegiado da
especificidade Juruna.
O longo ritual guerreiro munduruku era celebrado durante trs a quatro anos
em mdia, aps a imprescindvel caa da cabea inimiga. Na primeira fase, enfeitava-se a
cabea com penas prprias dos cls e o matador, por sua vez, assumia a posio de Me do
Queixada (o dajeboishi) iniciando um longo perodo de resguardo. Despelando a cabea
a traduo de Yashegon, a segunda fase do ritual, na qual se cozinhava e despelava a cabea
do inimigo. Na grande festa Taimetorm, a ltima etapa ritual, os donos da cabea
convidavam seus aliados para comerem o couro da caa do dajeboishi. Era ainda a ocasio
em que os homens adultos perseguiam pela mata os jovens da metade oposta e os
54
Dal Poz (1991: 5) adverte para o uso do conceito de sacrifcio , tal como foi compreendido por Mauss &
Hubert (1981 [1899]: 223) e por Evans-Pritchard (1956: 224), e sugere conceb-lo sem a participao divina.
55
As bebidas fermentadas dos Juruna foram divididas por Lima em dois grupos: os cauins que se fazem em
pequena quantidade de 20 a 60 litros para matar a sede da famlia, e o que fazem para se beber socialmente
60
reconduziam de volta para a aldeia. Havia um grande banquete coletivo seguido dos cantos
masculinos e o fim do resguardo e do poder do matador e da cabea.
Estas brevssimas descries dos rituais apenas introduzem o contexto das questes
que sero tomadas aqui; espero esclarec-las melhor ao longo da anlise. Discutirei aspectos
especficos dos rituais com nfase no modo atravs do qual as relaes envolvidas se
atualizam e se tornam visveis nas figuras do porco, do cauim e da cabea do inimigo. Se as
cabeas caadas pelos Munduruku eram mesmo aquelas de seus inimigos, o cauim feito pelos
Juruna chamado de ser humano e pode matar durante o ritual. J o anfitrio de uma
festa cinta-larga animalizado como porco e comido pelos seus convidados ao final do
ritual. Pretendo tematizar a maneira atravs da qual tais elementos se articulam ou podem se
articular entre si, como veculos-sgnicos (GELL, 1998: 37) da intencionalidade operante
nas relaes:
As relaes somente so acessveis na medida em que tm veculos-sgnicos no
mundo sensvel, os quais revelam sua presena. Termos e relaes so impalpveis,
significaes ideais, que so dadas a conhecer somente na medida em que algo palpvel as
codifique. Este pode ser chamado de FENMENO. (ibid.; nfase original; traduo minha).
Porcos, cauim e cabeas no so as relaes, mas sim como ndices ou fenmenos
apontam para elas.
3.1 O convite do outro
Chama ateno na descrio dos rituais amaznicos e tambm em determinados
mitos a idia de que um convite ao Outro indispensvel para o exerccio das relaes ali
tematizadas. As cerimnias munduruku, as festas cinta-larga e as bebedeiras juruna tm em
comum, entre outras coisas, uma constante tematizao da diferena, a tentativa de opor
identidades que, por outro lado, so mltiplas, mutveis e permeveis. Se se convida o Outro
porque ele condio sine qua non para a reproduo interna do grupo
56
. Meu objetivo aqui
at a embriaguez (LIMA, 1995: 159). As bebidas embriagantes tm como base o cauim dubia (ser humano),
feito de puba fresca.
56
Caspar (1958: 50), no relato de sua viagem aldeia Tupari, transcreve um dilogo
com seu informante Regino, no qual este o convidava para uma festa em que tambm
estariam outros grupos (como os Mequm) nem sempre em relaes amistosas. No intuito de
convencer Caspar a ir festa, Regino esclarece que onde h chicha, esquecem-se de todos
61
analisar a forma como as relaes de identidade e alteridade se atualizam em cada grupo,
quais so os papis assumidos e como eles podem se inverter ao longo do rito.
O incio oficial do ritual cinta-larga d-se quando da chegada abrupta e ameaadora
dos visitantes. Anteriormente, o dono da festa j havia feito um convite formal ao zpiway de
outra aldeia chamando-o festa como seu convidado de honra. Caber a ele escolher o
vegetal com que a aldeia anfitri far a chicha, estimular os outros habitantes da aldeia a
participarem da festa e entoar os cantos principais durante o sacrifcio do animal. A
invaso da aldeia anfitri pelos convidados inaugura oficialmente a festa sob a forma de um
ataque guerreiro simulado. No desenrolar do ritual, o excesso, a embriaguez, a avidez por
alimentos e, especialmente, a brutalidade com que tudo conseguido, daro o tom da festa.
Danar, cantar e beber so funes exclusivas dos convidados.
Dal Poz (1991; 1993) sugere condensar as festas cinta-larga em um modelo ritual
mnimo, formado pela trade beber chicha danar matar uma vtima animal. Entretanto,
antes de beber a chicha preciso que cheguem os convidados, visto que so eles a condio
social necessria e fundamental para o ritual. A conduta dos convidados ao longo do rito
comer, beber, danar, tudo em excesso o que parece viabilizar sua transformao final em
donos da festa, a partir de sua entrada violenta no incio do rito. Estas funes so
executadas em excesso, alm dos limites. Como os convidados invadem a aldeia anfitri
simulando um ataque, preciso que recorram de modo excessivo a tais recursos, a fim de
forjar sua humanidade (ARAJO, 2001: 5) e, no mximo de sua socializao, do a chicha
para o anfitrio beber ao final; logo, tornam-se donos da chicha e donos da festa, matando o
porco (op.cit.: 9). Nota-se que ocorre uma inverso: se no incio era o anfitrio, como dono da
chicha e da festa, quem oferecia bebida aos convidados, ao final estes assumem o papel
daquele. Com isso, os convidados tornados donos da festa no apenas saem definitivamente
de sua condio animal, mas alam-se ao mximo da condio humana: viram predadores e
caam o porco. Trata-se precisamente da inverso e alternncia dos papis de presa e predador
entre anfitrio e convidados.
Nesta ltima fase do ritual, as oposies e inverses no s ficam mais evidentes
como instveis. Primeiramente, os homens, e no as mulheres, vo roa colher o vegetal
com que faro a chicha doce a ser bebida aps a morte do animal. Fazem-no de modo pouco
feminino, ou seja, violentamente e sem maiores cuidados, atuao que verbalmente
os receios e inimizades. Seria um desafio no aceitar o convite para uma festa. Finalmente,
nem sempre algum envenenado.
62
censurada pelas mulheres: Que estrago que esses homens fizeram!
57
Na mesma noite, as
mulheres danaro e bebero chicha tal como o fizeram antes os danarinos homens, mas no
sem uma dose de deboche. Dal Poz sugere que os homens ocupam a posio dos anfitries
moradores e as mulheres, a dos convidados que vieram de fora (1991: 244). No se pode
esquecer, todavia, do grau de humor que perpassa todas essas transformaes. A zombaria das
mulheres cinta-larga ao danar e a proposital falta de cuidado dos homens com a mandioca
mostram com clareza que, se a inverso de papis ocorre, ela de outra natureza o deboche
produz o distanciamento. As mulheres no danam perfeitamente como os homens e nem eles
colhem a mandioca cuidadosamente como elas o fazem; tudo feito toscamente com o
objetivo de marcar um afastamento do real. Trata-se precisamente do exerccio de papis
especficos em um contexto onde o humor d o tom da diferena. H inverso de papis, sim,
mas ela no tem o mesmo estatuto que a representao dos convidados como inimigos possui.
Nesta, assume-se um papel que resvala para o real, visto que a possibilidade de uma
emboscada latente festa
58
. No caso da oposio homem/mulher, o deboche marca o carter
outro desta atitude a representao da representao assinala esta diferena a alterao
de gnero nunca completa e, por isso, constitui-se como um motivo para escrnio.
Dizem os Cinta-Larga que os convidados sofrem por ter de danar, cantar e beber
59
e, por conseguinte, vingam-se do anfitrio transformando-o em um animal e executando-o
simbolicamente. Se ao chegar festa os convidados ocupavam a posio de inimigos,
simulando um ataque, no final do rito h uma inverso em que passam a ocupar a posio de
caadores-guerreiros, enquanto o anfitrio, na condio de presa, produz-se como caa na
imitao de um porco afirmando, por conseguinte, a capacidade predatria dos outros. Os
convidados, por sua vez, assumem a posio primeva do anfitrio no incio da festa, qual seja,
a de dono da bebida fermentada que faz sofrer os convidados/inimigos (DAL POZ, 1991:
249). Lembro que o anfitrio s bebe chicha no final da festa, dada justamente pelos
convidados e momentos antes da vtima animal ser sacrificada
60
. Neste momento exato do
ritual, o anfitrio literalmente imita um porco selvagem e os convidados correm para ca-lo e
57
Repare que o comportamento dos homens semelhante ao dos porcos na roa. Os homens devem apanhar a
mandioca, mas o fazem tal como os porcos; portanto, no a colhem, mas a arrancam.
58
Dizem os Cinta-Larga que nas festas de antigamente a festa podia ser uma emboscada para os convidados,
mortos pela aldeia anfitri.
59
Este sofrimento deve-se ao carter excessivo e coercitivo com que tudo isto feito. Quem est bebendo
castiga o dono da festa, o castigo dele, diz um informante de Dal Poz. (1991: 246)
60
De acordo com Dal Poz (1991:251), a chicha possui, neste caso, uma funo transformadora que ativa o
processo de domesticao.
63
cozinh-lo. O anfitrio s bebe quando se torna verdadeiramente uma presa, agindo como o
animal, de maneira anloga ao que ocorria com os convidados no incio da festa. Depois do
sacrifcio e da refeio, o anfitrio oferece chicha doce aos convidados que cantam e
danam sem desperdcio, sem vmitos, sem flautas.
Do ponto de vista dos convidados, o anfitrio transfigurado em porco passa a ocupar a
posio de inimigo-presa; entretanto, a morte do animal produz a passagem para uma relao
simtrica marcada pela troca e pelo consumo no excessivo. Os convidados-predadores
passam a se situar como devedores do Outro, personificado pelo prprio anfitrio que, neste
momento, ocupa uma posio de sogro (DAL POZ, 1991: 262). em um contexto de
reciprocidade e aliana (OLIVEIRA CASTRO, 1994) que Dal Poz entende a seqncia
ritual de retribuio sob a forma de flechas deixadas pelos convidados. A contrapartida das
flechas insuficiente para saldar a dvida criada; ela apenas um paliativo para o momento da
festa. Ao promover uma festa, chamando para elas convidados que so Outros, tero estes que
retribuir o convite com outra festa, que funciona como sua real contrapartida. Os membros da
aldeia anfitri de hoje sero os convidados da prxima festa. A permuta das posies, operada
internamente no ritual, repete-se, portanto, em um nvel mais amplo. Notem que esta situao
estruturalmente semelhante das metades suru, que se alternam a cada ano entre mato
e aldeia e se encontram na ocasio dos rituais
61
.
A festa suru se organiza em torno da distino em metades mato/aldeia
(metare/wai), de acordo com Mindlin (1985: 58-60). Em linhas gerais, a festa suru do
Mapima descrita no relato da autora (id.) da maneira que se segue. Os donos da bebida
62
pertencem sempre metade wai e a chicha fermentada, que sustentar os convidados da
festa, provm das roas de grupos de irmos. Os convidados da metade metare por vezes
invadem, antes do incio oficial da festa, a aldeia onde os preparativos esto sendo feitos e,
danando, cantando, bebendo e vomitando, acabam com toda a bebida. Sucede que os donos
da festa devem comear todo o processo novamente, produzindo ainda mais bebida. Os do
metare, por sua vez, ocupam-se com o preparo dos presentes que daro aos seus anfitries:
cocares, colares, flechas, artesanato e, quando chegam festa, esto totalmente pintados com
jenipapo contrastando com a outra metade dos wai cujos membros quase no se
pintam. Enquanto os anfitries da festa descansam em suas casas, os outros promovem uma
grande derrubada para uma nova roa. Logo a seguir tm incio as comemoraes: interditada
61
A descrio que temos da festa Mapima dos Suru no tem a riqueza de detalhes da festa Cinta-Larga descrita
por Dal Poz (1991), entretanto, parece tratar-se de um ritual bastante semelhante.
64
aos anfitries, a bebida amplamente consumida pelos convidados que, se conseguirem beber
sem embriagar-se, levaro consigo os presentes feitos por eles e destinados aos donos da festa
desnecessrio dizer que a embriaguez parte essencial da festa e ningum leva de volta os
presentes. Em seguida h uma situao em que o grupo do metare esfora-se por flechar um
animal pendurado na maloca wai. Em retribuio, distribuem flechas como presente ao outro
grupo. noite do mesmo dia, oferecem oficialmente mais presentes em um ambiente ainda de
msica, dana e bebedeira. Poucos dias depois, d-se incio a uma caada ritual (MINDLIN
1985: 60), na qual os dois grupos caam juntos e em seguida h uma distribuio da carne.
Restringindo-me precisamente ao ritual, suponho que as metades so exatamente a
expresso sociolgica de uma necessidade estrutural do Outro, tal como vimos na festa cinta-
larga. Enquanto os Cinta-Larga chamam membros de outras aldeias a assumir o papel de
convidados, o que ocorre com os Suru a produo de um Outro interno ao grupo que se
atualiza conforme a configurao das relaes, visto que, para pertencer a uma metade,
deve-se possuir um cunhado na outra. O idioma da afinidade parece ser uma linguagem mais
correta para tratar desta oposio, j que a lgica do pertencimento a uma ou a outra metade
e a possibilidade de mudana pressuposta em sua estrutura
63
, baseiam-se no em conceitos
fixos de descendncia, mas na oposio simtrica a um Outro. Os procedimentos de invaso
anteriores ao incio oficial da festa suru marcam justamente uma postura no-autorizada e
descomedida, semelhante que se espera dos convidados cinta-larga. Nota-se ainda que os
convidados suru vm do mato (metare), ou seja, do mesmo domnio dos animais. A
metade metare, para os Suru, portanto, assumiria um papel semelhante ao dos convidados
cinta-larga, ambos sendo provenientes do mesmo lugar, o exterior
64
. A ao aparentemente
descontrolada efetuada com o roubo antecipado da bebida anloga simulao de ataque
que os convidados cinta-larga tm como encargo fazer. Ambos os comportamentos afirmam
uma posio invasiva necessria tanto para dar incio ao ritual como para assinalar de
imediato o antagonismo em relao queles que convidam. A oposio anfitrio/convidados
marca comportamentos distintos entre si e equivalentes nos dois grupos Tupi-Mond. Tal
conduta reforada pelo descomedimento dos convidados ao longo da festa; espera-se deles o
excesso ritual explicitado na avidez alimentar, na bebedeira, na vomitao e na ansiedade
62
Mais frente falarei sobre as vrias tradues para os termos que designam as metades.
63
Tanto ocorre o revezamento coletivo entre mato/aldeia, como a mudana individual em que se pode deixar ou
voltar a uma metade desde que se respeite a regra de pertencimento oposto ao do cunhado.
64
Uma classificao semelhante parece se dar entre os Juruna, para os quais Lima (1995: 128-9) identifica uma
oposio entre rio e floresta que aponta para o par civilizao/selvageria, embora esta oposio no se atualize
ritualmente.
65
prxima violncia com que atuam. A atuao ou talvez apario, para usar a expresso
de Gell (1998) da alteridade o signo que marca a diferena entre o grupo do mato
(metare) e o da aldeia (wai), no exemplo suru enquanto apario-fenmeno, atravs
dela (ou nela) que a relao aparece (op.cit. 37-39).
Consideremos tambm as palavras que os dois grupos Tupi-Mond utilizam para
designar a oposio dual entre anfitrio e convidado. O anfitrio cinta-larga pode ser chamado
de dono do ptio, miway, ou dono da chicha, iway (DAL POZ, 1991: 199). Para os
Suru as definies possveis para esta mesma posio so vrias, a julgar pela descrio de
Mindlin (1985: 46-47): os da aldeia, os da comida, os da bebida ou da chicha e ainda
os da roa. Parece-me, porm, que dono da chicha (way) seria a mais apropriada, j que
a palavra para a bebida e way, um coletivizador, exatamente como ocorre entre os Cinta-
Larga. Os convidados dos Cinta-Larga so chamados de mmarey, traduzido como os
outros por Dal Poz acatando o entendimento de P. Dandberg (1979/80: 289 apud DAL POZ,
1991), em oposio ao termo pmarey, os nossos, relativo aldeia anfitri. Os convidados
dos Suru so do grupo metare, os do mato, responsveis pela confeco do artesanato. e
so tambm os afins por excelncia, os cunhados necessrios da outra metade. A expresso
metades utilizada por Mindlin (1985) obscurece um pouco dois aspectos essenciais das
oposies, que se realizam tambm, embora de outra forma, entre os Cinta-Larga. O primeiro
destes aspectos diz respeito ao carter permutvel das metades, visto que elas se alternam
entre mato e aldeia a cada ano; o segundo o seu elemento definidor, a presena de um
cunhado na outra metade e a possibilidade de, caso isso no ocorra, sair da metade a que
se pertence. As metades suru soam estruturalmente semelhantes oposio
convidados/anfitries dos Cinta-Larga: elas se atualizam no momento do ritual e com o
objetivo pragmtico de marcar a oposio entre Ns/Outros. O que ocorre que os Cinta-
Larga buscam nas outras aldeias seu antagonista, enquanto os Suru os produzem
internamente.
Se os membros da outra metade dos Suru figuram-se como os convidados por
excelncia, no caso munduruku, definir quem ocupa este lugar no ritual um pouco mais
complexo. Embora tambm aqui as alianas e oposies no sejam fixas, h uma
particularidade: estas dependem mais do exato momento ritual vivenciado.
O conhecido ritual munduruku que sucede a caa de cabeas, descrito por Murphy
(1958), j foi equiparado por alguns autores (MENGET, 1993; FAUSTO, 2001; OLIVEIRA
CASTRO, 1994) ao paradigmtico canibalismo ritual dos Tupinamb, embora cada um dos
autores tenha em mente questes especficas. Oliveira Castro compara um certo nmero de
66
rituais e mitos de sociedades indgenas amaznicas os Munduruku includos enfocando as
relaes de afinidade e aliana que os permeiam. Partindo do contexto parakan, Fausto
(2001: 458-460) emprega a descrio do ritual munduruku como exemplo para seu modelo da
predao familiarizante, valendo-se da anlise de Menget para o mesmo rito. Este ltimo
autor sugere que o resguardo obrigatrio pelo qual passa o matador munduruku anlogo
quele da couvade: o matador passaria por uma supercouvade ao tomar a cabea de outrem
(MENGET, 1993: 315). Fausto (2001: 459) completa o raciocnio afirmando tratar-se
justamente de um modelo de reproduo masculina, j que se produz vida por meio da
cabea tomada ao inimigo, realizada atravs da guerra. Minha inteno quanto aos
Munduruku no a de re-analisar as anlises dos autores citados, mas sim novamente dar
nfase ao convite inevitvel ao Outro, embora aqui ele tome outra forma. Fase por fase,
vejamos o que acontece neste longo ritual.
A etapa chamada de decorando as orelhas Inyenborotaptam inaugura o ritual. Os
membros das aldeias vizinhas so convidados para a cerimnia e a aldeia do matador os
recebe com abundncia de vveres estocados previamente. tambm nesta etapa que o
matador recebe o ttulo de Me da Queixada (dajeboishi). Os visitantes convidados
desempenharo um papel crucial neste momento do ritual: a decorao das orelhas nada
mais do que a ornamentao da cabea com penas prprias aos diferentes cls.
Os enfeites de cinco espcies de pssaros foram usados na ornamentao, sendo cada
tipo de enfeite colocado somente pelos cls Kiris&, Akai, Chunyn e Paraw, e os do mutum
pelo cl Witm. O cl e o subcl Kar, o subcl Sau, e o cl e o subcl Waru usaram os
enfeites de arara vermelha, o cl Kaba colocou enfeites de papagaio e o cl Boron contribuiu
com aqueles de gavio tawato. Os cls que usaram os mesmos enfeites so os que esto
ligados pelo pertencimento a uma mesma fratria, e as espcies de pssaros apropriadas eram
comumente um epnimo do esprito clnico de pelo menos um dos grupos. (MURPHY,
1958: 55; traduo minha).
Se cada cl coloca suas prprias penas na cabea daquele inimigo, transformando-o,
em certa medida, em um Munduruku, parece acontecer tambm uma forma de coletivizao
do trofu. Para Menget (1993: 315), a cabea socializada como Munduruku e como homem,
j que um dos processos de decorao era a masculinizao da cabea
65
. O autor tambm
65
O autor cita L. van Velthen que, ao observar algumas das cabeas Munduruku, notou que no padro estilstico
dos trofus havia um padra de tatuagem tpico dos Munduruku. Menget (1993: 315) afirma que se procurava
forjar, na cabea, um indivduo masculino, nem que para tanto fosse preciso colocar-lhe um aplique de cabelos.
Esta masculinizao to deliberada que em duas cabeas examinadas havia uma peruca de cabelos humanos
em cima de um crnio calvo (ibid.).
67
compara a condio da cabea nesta fase do ritual com a do cativo Tupinamb, visto passarem
ambos por processos semelhantes de coletivizao, socializao e virilizao. Sem
discordar de Menget, acrescento que a decorao da cabea com penas de todos os cls
produz no apenas sua socializao como Munduruku, mas principalmente como um
Munduruku genrico. A cabea recebe penas de todos os cls em um mesmo momento do
ritual, logo, simultaneamente coletivizada e tambm tornada no-especfica. O trofu
contm em si mesmo todos os cls, o que pode significar seu pertencimento a nenhum cl em
especial. Talvez seja como aquele subgrupo Zor que analisamos anteriormente: os Pengeyen
Tere eram os verdadeiros Zor porque eram apenas Pangeyen. Os Munduruku socializam
a cabea como somente Munduruku, pois colocando enfeites de todos os cls, no
determinam com exatido que Munduruku aquele. Se de fato no havia no trofu nenhuma
marcao do cl especfico do matador, isto sugere que o ritual era um modo de reproduo
generalizada, no apropriado particularmente pelos cls patrilineares; no era motivo de
segmentao, portanto, mas de totalizao. O trofu representa a unidade mltipla e a
representao desta unidade s possvel na cabea do inimigo.
fcil concluir que os convidados, nesta fase do ritual, so absolutamente necessrios
para a decorao da cabea; entretanto, sua posio no antagnica da aldeia anfitri,
como no caso Tupi-Mond. Trata-se, aqui, de uma oposio entre os cls Munduruku e a
cabea em si, que deve ser coletivizada, generalizada e masculinizada. Os convidados, aqui,
no se opem aldeia anfitri; as cabeas (e talvez o matador) ocupam este lugar.
66
A cabea
e o matador so identificados entre si e em oposio sociedade ou, para no usarmos tal
termo, aos cls Munduruku tomados em conjunto. A oposio, como disse, no permanece
imutvel ao longo do rito; pelo contrrio, se atualiza em diferentes nveis e com atores
variados.
O objetivo da segunda fase do ritual, realizada no inverno seguinte, era, literalmente, o
de tirar a pele da cabea, traduo de Yashegon. Os homens calvos
67
da aldeia anfitri e das
aldeias convidadas reuniam-se para dar fim aos derradeiros vestgios de carne da cabea,
66
Seria um equvoco concluir apressadamente que apenas por serem em ambos os casos,Tupi-Mond e
Munduruku, os convidados convidados, estes ocupariam a mesma posio necessariamente nos respectivos
rituais. Talvez se possa utilizar o alerta de Strathern (1988) de que a comparabilidade do gnero na teoria social
melansia com a ocidental, depende de que se perceba que o seu contraponto no Ocidente deve ser procurado
no necessariamente no gnero ocidental, mas naquilo que aqui ocuparia o mesmo lugar estrutural. No caso aqui
analisado, no se trata de uma teoria, mas a ressalva da autora continua vlida.
67
Murphy (1958: 56) nota que a calvcie dos velhos depende mais da classificao alheia do que da falta de
cabelos na cabea. porque representam os urubus e os urubus so calvos que os velhos precisam ser ditos,
eles tambm, calvos.
68
atravs de seu cozimento e esfolamento. Nesta ocasio, h uma aliana entre convidados e
anfitries, mas com uma seleo pela faixa etria: so os velhos, indistintamente
convidados ou anfitries, e apenas eles, que assumiro o papel de urubu no ritual. Para
tanto, jogavam a cabea no cho e nela batiam fortemente, para retirar totalmente a carne. Os
homens calvos so apelidados de urubus e, simbolicamente, opem-se cabea de cabelos
compridos, j transfigurada no mesmo estilo dos guerreiros e xams Munduruku. Os homens
idosos e sem cabelos tornados urubus terminam com o que resta do morto, devoram uma
carnia, enfim. Menget (1993:317) sugere para a oposio etria configurada nesta fase que
o rendimento simblico da cabea poderia ter sido diferencialmente apropriado segundo as
classes de idade. Aqui, portanto, a oposio-mor d-se pelo distanciamento etrio entre
velhos e outros. Note-se que as outras faixas etrias no se definem neste momento do ritual,
apenas aquela dos velhos urubus, reunio de todos os homens calvos.
Na fase denominada suspendendo os dentes Taimetorm o matador extraa os
dentes da cabea e os costurava em um cinto de algodo, guardado em sua casa. Nesta
ocasio, os Munduruku se separavam em trs grupos de idade. Um deles era o grupo
68
Muchacha, onde ficavam os velhos, antigos matadores que personificaram os urubus da
fase anterior. So eles que lideravam a festa e no poderiam beber nem comer nas mesmas
vasilhas que o grupo seguinte sob pena dos membros deste virarem urubus quando
morressem. Em seguida, viria o grupo Darekshi ou as Mes do arco, composta pelos
guerreiros casados de ambas as metades, que usavam cabelos compridos tal como a cabea
aps a primeira fase ritual. O matador me da queixada liderava-os e era o responsvel por
enviar o convite da festa s outras aldeias Munduruku, enunciado como Venham, comam a
pele da caa do Dajeboishi. Venham, bebam wer e mr. apenas um pedao, mas venham
(MURPHY, 1958: 57; traduo minha). Por ltimo, teramos o grupo dos jovens, que so
caados e pintados pelos guerreiros.
Os velhos davam um sinal e os guerreiros mes do arco saam em busca dos jovens
da metade oposta para captur-los. Antes disso, porm, estes jovens j haviam sido pintados e
tido seus cabelos raspados o que, a meu ver, seria um modo de diferenciar captor e
capturados; se o primeiro tem o cabelo comprido, os segundos s podem t-lo curto ou, mais
que isso, serem tornados carecas. Algo significativo pode ser extrado da, se lembrarmos que
tambm os velhos, chamados de urubus na segunda fase do ritual, so ditos carecas. Os
guerreiros me do arco personificam a posio ideal para os Munduruku e tm os
68
Murphy ora os descreve como sociedade, ora como grupo. Menget os designa como sociedade.
69
cabelos compridos. Tambm a cabea, identificada com eles, deve ter cabelos compridos:
caso no os tenha originalmente, recebe necessariamente um aplique. Parece que as posies,
que por um motivo ou outro, resvalam para a animalidade os velhos por serem ditos
urubus e os jovens por serem tornados caa , so marcadas pela ausncia de cabelos, em
oposio ao lugar da humanidade, marcado pela presena de cabelos.
69
A anlise de Menget (1993) sobre esta captura bastante interessante:
(...) evidente assim que cada homem obtm um anti-filho (j que ele me,
justifica-se a filiao do jovem metade oposta), ilustrando novamente o duplo aspecto da
potncia da cabea: fonte de filhos cativos fora da reproduo familiar, negao da
sexualidade comum a classe inteira de Me do arco devia se abster de sexo antes da festa.
(op.cit.: 317)
Acrescento, todavia, que o jovem capturado poderia figurar simbolicamente tambm
como um inimigo e genro potencial caado por seu sogro necessariamente da metade
oposta. As atitudes de uma metade em relao outra eram de jocosidade e hostilidade,
marcando uma diferena intrnseca. A hostilidade se expressava de maneira forte quando da
morte de um guerreiro na batalha. Nesta ocasio, era um homem da metade oposta dele
quem deveria seccionar seu mero. Nas palavras de Murphy (1958: 58): O enterro do mero
do guerreiro morto na batalha era a ocasio mais importante para a expresso da hostilidade
ritual entre metades. Capturar algum mais jovem da metade oposta parece-me uma
procura por algum que ainda no se casou, marido em potencial para mulheres da metade
do captor e, nesta medida, tambm potencialmente genro para este captor.
70
Antes de retornarem aldeia como capturados, os jovens so tambm enfeitados com
colares, cintos de contas e de dentes de macaco (MURPHY, 1958:57). Este procedimento
lembra o da primeira fase do ritual, quando se decorava a cabea tomada ao inimigo. Ora, ao
que me parece, enfeitar a cabea inimiga ou o jovem capturado uma forma de produzir
semelhana, tornar familiar o diferente. (FAUSTO, 2001) Tanto um como outro so
capturados e enfeitados e, embora em diferentes nveis, tornam-se fontes de reproduo
social.
O modelo Tupinamb pode nos ajudar aqui a compreender o que se passa no
desenvolvimento do ritual. A famlia do matador Tupinamb adotava seu cativo,
considerando-o como um animal de estimao (VIVEIROS DE CASTRO, 1992 a: 280). s
69
Lembro que o cativo Tupinamb tambm sofria um processo de depilao e tosquia, embora neste caso o
objetivo fosse identific-lo genericamente ao grupo que o capturara, e no diferenci-lo.
70
vsperas de sua morte, o cativo era solto proporcionando uma nova captura ou, talvez, uma
atualizao da que j havia sido feita que tinha como fim sua morte e consumo; o resultado
do homicdio era a multiplicao dos nomes e de cantos. A posio dos jovens Munduruku
caados pelas Mes do Arco anloga do cativo liberto que deve lutar pela liberdade,
mas acaba recapturado e morto (FAUSTO, 2001: 459). Correr, fugir, ser caado so aes
marcadoras de alteridade e, mais especificamente, da animalidade que se confunde com o
papel de inimigo. O anfitrio Cinta-Larga corre desembestado imitando o queixada e
capturado depois pelos convidados. O jovem Munduruku corre pelo mato at ser capturado
pelo guerreiro da metade oposta sua. O cativo Tupinamb solto e recapturado. Trata-se,
enfim, de uma tomada do exterior como parte constitutiva das relaes internas.
71
O ritual Munduruku, em meu entender, compe-se como um ciclo, como uma srie de
movimentos que partem de um ponto inicial e terminam com a recorrncia deste. Fausto
(2001: 457-458) elabora um modelo para o que chama de predao familiarizante entre os
Parakan sob a forma de uma linha direcionada, a qual, para o autor, teria aplicabilidade
tambm entre os Munduruku. Por ora, penso nas conexes entre as fases e no puramente nos
aspectos simblicos da cabea. Meu ponto que as fases do ritual representam etapas de um
ciclo e, deste modo, podem ser conectadas. Resumirei ento os pontos principais da cerimnia
com o objetivo de estabelecer as relaes entre as fases.
Em primeiro lugar imprescindvel que haja uma guerra para que se obtenha a cabea.
Este fato anterior ao incio do ritual com a conduo da cabea aldeia e sua posterior
familiarizao (FAUSTO, 2001) como um Munduruku genrico. Na segunda fase, como
vimos, os velhos (urubus) espancam (comem) a carne da cabea (carnia). A ltima fase do
ciclo marcada pela fuga e captura dos jovens da metade oposta dos guerreiros que os
prendem; tudo isto executado aps terem pendurado os dentes da cabea. A meu ver, a
posio do jovem capturado a mesma da cabea tomada no incio do ritual: ambos so
caados, enfeitados e representaro o incio de um perodo de fertilidade. Fausto (2001: 459),
ao analisar o mesmo ritual, cr que a situao vivida pelos jovens Munduruku exatamente a
de reinimizao e captura. Se pensarmos na idia de um ciclo, teramos seu incio na
captura da cabea do inimigo e sua conduo aldeia, acompanhada da decorao da cabea.
Segue-se o consumo da carnia, a retirada dos dentes da cabea, a captura dos jovens e sua
70
Viveiros de Castro j chamou ateno para a relao potencialmente canibal entre genro (presa) e sogro
(predador). A captura do genro pelo sogro seria uma figurao da uxorilocalidade.
71
Para uma anlise comparativa deste processo de reinimizao, ver Fausto (2001:456-463) e para o tema da
capacidade de reproduo ritual masculina ver Taylor (1994).
71
decorao, o retorno aldeia e, por fim, a perda da potncia fertilizadora da cabea e do
matador, finalizando o ritual
72
.
Resta-nos saber exatamente o qu o trofu-cabea proporciona aos Munduruku.
Menget (1993: 320) defende que o trofu ocupa uma posio singular, pois potencializa a
obteno de caa e de filhos j que se costumava capturar crianas e cri-las como
Mundurukus e, ainda, aumenta as chances de se conseguir novas cabeas atravs do colar
feito de seus dentes
73
, em uma reproduo por autogerao, para usar a expresso do autor.
Minha impresso que pendurar os dentes da cabea no por acaso a mesma fase da
captura dos jovens. O aumentar da potncia capturante dos guerreiros com o pendurar dos
dentes encenado justamente na captura dos jovens de metade oposta que, aqui, fazem o
papel de futuras cabeas, genros ou inimigos em potencial. O ciclo ritual comea e termina
na captura do Outro, mesmo tendo um incio real com o trofu-cabea obtido na guerra, e um
trmino interpretado com os jovens capturados. Se a cabea , na fase inicial do ritual, feita
Munduruku, o jovem capturado na ltima fase , por sua vez, feito caa. Se para tornar a
cabea um Munduruku preciso pr-lhe cabelos, para tornar o jovem uma caa preciso
tornar-lhe careca. Mas os papis tambm se invertem, e a cabea j foi caa, assim como o
jovem, antes da transformao ritual, era Munduruku. O carter cclico de todo o processo
patente. Mais que isso: o fato de serem ora presa ora predador os define como
necessariamente meio, oscilando entre o Si e o Outro.
O trofu dos Munduruku potencializa a captura do Outro e isso atualizado com a
captura dos jovens. Tal como ocorre entre os Suru, trata-se tambm de produzir um Outro
interno que far as vezes de inimigo. Os Munduruku, sim, capturam um Outro externo, mas o
tornam familiar ao decor-lo. No serve qualquer cabea, assim como no serve qualquer
convidado. Tanto um como outro devem estar a uma distncia tima (TAYLOR, 1985) e
por este motivo que o porco-queixada dos Cinta-Larga deve ser domesticado antes do ritual e
a morte de um Munduruku no proporcionaria um trofu-cabea.
72
O procedimento de perda da potncia do trofu lembra a anlise de Gell (1988) para os objetos rituais
malangan: o ritual o momento de memorizao do morto. O bem ceremonial no o objeto em si, mas
a memria de sua imagem. Quando memorizado, se torna cognio, e pode ser jogado fora, visto que o objeto
um invlucro para a energia potencial dispersa do morto. Quando esta muda de invlucro, passando para a
mente das pessoas, o malangan perde sua funo. Similarmente, a cabea Munduruku, enquanto invlucro,
perde sua potncia no momento em que aquilo que abriga tranfere-se para os jovens caados, movimento que os
torna, por sua vez, invlucros. A cabea desprezada quando findo o ritual (RODRIGUES, J. 1882: 45).
73
Minha impresso que os dentes concentram em si a potncia de seu dono, como nos casos Ygua
(CHAUMEIL, 1985) ou Miraa (KARADIMAS, 1999). Tambm os Juruna retiravam os dentes de seu trofu:
A riqueza dos Juruna de outrora consistia em dentes de ndios (LIMA, 1995: 203).
72
Resta ainda a questo de serem jovens os Munduruku caados. preciso,
primeiramente, pensar no que representa outras classes de pessoas, como as Mes do
Arco: so guerreiros, matadores caadores de trofu, homens casados e, eu arriscaria dizer, o
ideal Munduruku. Em um grupo acima esto os velhos, antigos matadores, que se
transformaro em urubus no ritual. Ora, os velhos j foram e no so mais tudo o que os
guerreiros agora so, comem carnia porque o que sobra, no caam os jovens porque no
mais precisam de genros. A potncia fertilizadora do trofu no ser por eles utilizada
apenas desfrutada como a caa alheia. E o que so os jovens caados? Mundurukus ideais em
potencial, eles ainda no caam cabeas, no se casaram, portanto, no possuem sogros, so
incompletos, poderamos dizer. Os guerreiros so os predadores de porcos (Mes da
Queixada); os velhos so urubus, predadores do podre ao comerem a carnia-cabea; os
jovens, por fim, so a prpria caa: so os porcos
74
. Veremos mais frente seus aspectos
simblicos.
Deixemos os Munduruku agora e passemos aos Juruna que, em sua cauinagem, no
tm convidados que atualizem a posio do Outro. A princpio parecem escapar anlise
proposta aqui, mas veremos que no. A produo da alteridade se atualiza de vrias maneiras
possveis, seja utilizando o que lido como explicitamente externo, seja replicando essa
exterioridade no sistema o que, no caso dos Juruna, significa que eles mesmos so seus
prprios convidados.
Viveiros de Castro (1992b: 53) j exps a conexo que existe entre canibalismo e
bebida fermentada, e, nesta direo, a cauinagem Juruna um exemplo privilegiado, visto que
j em si uma forma de antropofagia (cf. LIMA, 1995). A prpria interpretao Juruna sobre
a cauinagem semelhante da caa de cabeas que efetuavam em outros tempos: ambas
alegram, matam e causam embriaguez. Acrescento que os Juruna de hoje lembram que a
antiga cauinagem a verdadeira cauinagem tinha como pice uma morte real
75
. Lima,
entretanto, cr que as representaes acerca da cauinagem antiga merecem ser consideradas
menos como eventos do que como signos de uma estrutura (1995: 412). Minha impresso
74
Horton relata que Farabee (1917 apud HORTON, 1946: 279) descreve uma festa munduruku que celebrava a
caada aps o nascimento da primeira ninhada de pecaris. Depois da festa em que se comiam filhotes de pecaris,
havia uma dana na qual os danarinos imitavam uma vara de pecaris. As crianas corriam entre os danarinos
como filhotes de porcos, enquanto os mais velhos imitavam o som dos pecaris comendo; um danarino,
representando um velho pecari macho e protetor da vara, lutava contra outro danarino, que fazia a parte do
jaguar. O pecari, contudo, conseguia manter o jaguar distncia enquanto a vara de pecaris escapava.
75
Nimuendaj (1946:221) conta que o portugus Gonalves Paes de Araujo foi convidado para uma festa no
Xingu junto com alguns portugueses e com os Caravares (Kuruaya) e outros ndios seus amigos. A festa era
uma emboscada dos Yuruna (Juruna) e dos Tacunyap, cujo saldo foi a morte de um portugus, de todos os
ndios amigos do portugus e de 30 Caravare.
73
que a possibilidade da morte era latente, ela realmente poderia ocorrer, embora isso no fosse
regra.
Dizem os Juruna que, no passado, convidavam as aldeias vizinhas, atravs de seus
chefes, para a noite de encerramento da cauinagem. Os convidados das outras aldeias no
eram obrigados a ir e, normalmente, quem era dono de ndio aqueles que tinham sob sua
guarda um inimigo capturado no ia festa com medo de que matassem seu cativo. Os
Juruna enfatizam que a cauinagem reunia os matadores e, por esse motivo, todos os outros
tinham medo de participar e acabar sendo devorados. O que est implcito aqui que o
homicdio poderia ocorrer, ainda mais se estivesse presente na festa um verdadeiro inimigo,
um cativo. Entretanto, se existia um medo real do homicdio na festa, porque as vtimas em
potencial sabiam ser possvel que os matadores as enxergassem como inimigo e as
matassem.
Na anlise de Viveiros de Castro (1996b) para o canibalismo Arawet, o matador
assumia uma perspectiva externa e passava a enxergar seus parentes como inimigos
precisamente quando, aps matar algum, enchia-se de seu sangue. O autor enfatiza que
no se trata de estabelecer quem o sujeito e quem o objeto da relao; as posies so
permutveis e, por este motivo, h no processo de predao um momento em que o matador
objetificado e sua vtima torna-se o sujeito da relao. O ponto de vista assumido pelo
matador torna irrealizvel a determinao precisa de quem o sujeito e quem o objeto,
quem controla quem, enfim (Viveiros de Castro 1996: 97).
O que parece acontecer com os matadores/bebedores de cauim Juruna que, ao ingerir
a bebida fermentada, eles consomem uma pessoa e assumem fortemente a perspectiva do
Outro, se levarmos em conta que os matadores que devoram a cauim-pessoa no cumprem o
resguardo necessrio aps a captura do inimigo. Como disse Lima (1995: 422), no preciso
haver homicdio para dar cunho de real ao que se passa na realidade. Poder-se-ia pensar que,
com o ponto de vista do inimigo, dado pela ingesto do cauim, o matador no reconhece seus
concidados como tal e tudo pode terminar em morte real: parentes podem se tornar inimigos
para quem assume a postura de Outro. O ciclo se completa: o cativo-cauim proporciona aos
matadores vtimas imediatas.
O discurso atual dos Juruna sobre o convite a outras aldeias para a cauinagem de que
se tratava de um procedimento pouco recomendvel e, mesmo quando h convidados, sua
posio ritual no antagnica dos Juruna, mas est em conjuno deles. Ao comparar a
postura daqueles que fazem o papel dos convidados dos Cinta-Larga e dos Suru, percebe-se
uma atitude propositadamente descomedida, marcada pelo excesso, violncia e avidez, em
74
tudo semelhante ao comportamento dos prprios Juruna durante a cauinagem. A cauinagem
Juruna no exige convidados e, se eles l aparecem, para se juntarem aos Juruna. Partindo
da anlise de Lima (1995), parece-me que so os prprios Juruna os convidados e so,
precisamente, os convidados do cauim e de seu dono. Dado que, ao beber cauim esto
praticando um ato de canibalismo, eles assumem uma postura semelhante dos convidados
Cinta-Larga e Suru. O dono do cauim Juruna e tambm seu pai quem oferece a
bebida aos outros e, neste sentido, tem um papel semelhante ao de anfitrio: no deve se
embriagar, embora beba quando lhe ofeream: Tome aqui seu filho (op.cit.: 127, 377).
Os Juruna no convidam outra aldeia, como os Cinta-Larga, nem, como os Suru, os
produzem internamente localizando-os na metade oposta. A produo do que entre os
Juruna ocupar o lugar dos convidados tambm interna, mas se d de uma maneira
totalmente diversa: o cauim quem convida os Juruna. Nos grupos Tupi-Mond, o anfitrio
da festa tambm o dono da bebida fermentada; no caso Juruna, o cauim possui um pai e uma
me. H uma construo simblica da alteridade semelhante para os Juruna, mesmo que sua
cauinagem no tenha ou no precise de convidados.
singular entre os Juruna a alteridade, na verdade, atualizada ainda mais
internamente que no caso Suru, com o convite da bebida queles que a produziram. Os
Juruna afirmam ainda que o cauim os mata e, mais uma vez, devemos nos referir anlise
de Viveiros de Castro (1996b) para entendermos que o canibalismo Juruna como os outros
marca uma intensa transformabilidade de perspectivas, e nunca se sabe ao certo quem o
sujeito da relao, se o cauim ou se os Juruna.
Em todos os rituais analisados, e de diversas maneiras, produz-se relaes
movimento cuja visibilidade atualizada por cada grupo em um contnuo replicar destas
mesmas relaes. Dos Munduruku aos Juruna, parece-me haver uma diminuio do potencial
vindo do exterior mas no de alteridade nos rituais, explicvel talvez pela brutal queda
populacional, mas no necessariamente. Os Munduruku tomam cabeas no exterior e
encenam internamente as relaes que ela produz. A aldeia anfitri Cinta-Larga convida
outras aldeias que fazem o papel do Outro. Os Suru, por sua vez, produzem um Outro interno
aldeia, com a diviso em mato/aldeia
76
, em uma oposio semelhante dos Cinta-Larga. Os
Juruna, atualmente, so seu prprio Outro. Ou seja, so dois casos extremos, Munduruku e
76
Talvez, se realmente pensarmos a metade way dos Suru como a dos donos da chicha, a metade metare,
como os Juruna, tambm convidada por sua prpria bebida fermentada. A bebida fermentada um filho do
dono do cauim e pode ser pensada como uma parte dele ou seu substituto, maneira do porco dos Cinta-Larga.
Fausto j mostrou como as relaes de familiarizao se expressam como filiao adotiva, isto , como relao
entre pais e filho e/ou entre senhor-xerimbabo.
75
Juruna, sendo o caso Tupi-Mond o intermedirio, em um contnuo que vai do encontro do
Outro no inimigo (Munduruku), passando por sua localizao na aldeia vizinha (Cinta-Larga)
ou atravs da diviso interna da aldeia (Suru), at chegar na identificao de si mesmo como
o outro (Juruna). Em todos os casos, porm, uma vez encontrado ou forjado este externo,
segue-se de imediato sua interiorizao.
3.2 A me-guerreiro do porco, os bebedores de gente e o porco festeiro.
Meu objetivo neste sub-item concentrar a anlise nos aspectos simblicos de certos
fenmenos (GELL,1998) dos rituais j analisados, quais sejam, o porco Cinta-Larga, a
cabea Munduruku e o cauim Juruna, enfatizando as idias de predao e de familiarizao
(FAUSTO, 2001) que os trs elementos compreendem.
O ritual Munduruku, como vimos, divide-se em trs partes extremamente marcadas e
que pressupem uma ao anterior: a caa da cabea. Ela sofrer uma ao ritual cujo
objetivo, com a decorao das orelhas, seria o de torn-la familiar. Como vimos, as penas
que servem para decorar o trofu so fornecidas por vrios cls, o que anula a
especificidade do cl do matador; os enfeites tornam a cabea do inimigo um Munduruku.
Repare que o processo de construo do familiar subentende a predao da cabea e tal
situao ser novamente posta em cena quando da captura dos jovens. Como afirmou Fausto
(2001: 459) para o mesmo ritual, os jovens Munduruku so reinimizados, capturados e
reintroduzidos na aldeia, aps terem sido pintados pelos guerreiros captores, uma situao
que, a meu ver, semelhante sofrida pela cabea. Lembremos da posio do porco nos
Cinta-Larga: o animal criado e domesticado pela filha ou pela esposa do anfitrio antes de
ser morto no ritual. Quem solto e foge no o porco, mas seu substituto, o anfitrio da
festa, que corre pelo ptio grunhindo alto. Como expus antes, o porco ocupa uma posio
estrutural semelhante do cativo tupinamb: um xerimbabo adotado pela famlia do
matador e depois solto e novamente caado o que certamente insere-se no modelo de
predao familiarizante de Fausto. Talvez tambm possamos pensar o cauim Juruna no
mesmo modelo: a bebida criada pela esposa do anfitrio da festa, e os dois so os pais
do cauim. O cauim, quando solto (bebido) pode matar os Juruna, ele um substituo de
pessoa e, por conseguinte, um substituto do cativo. O porco, o cauim e a cabea so
substitutos de pessoas estruturalmente semelhantes ao cativo Tupinamb e ora so agentes
ora pacientes das relaes de que fazem parte, para usar os termos de Gell (1998).
76
Dizem os convidados dos Cinta-Larga para seu anfitrio, aps a morte do animal:
meu parente, j matei para voc e repartem entre si a carne. O anfitrio no a recebe, pois
no pode comer o animal que o substitui
77
, o que, segundo Dal Poz, configura uma
interdio ao canibalismo (1991: 265). Talvez fosse mais preciso falar em uma interdio ao
auto-canibalismo, para que no se coma a si mesmo, dado que o porco um substituto do
festeiro. Os convidados, estes sim, so canibais.
Em retribuio carne, os convidados oferecem tanto as flechas bem feitas como as
confeccionadas com visvel inteno de deboche, jogadas com desdm sobre o corpo do
animal morto, antes de seu esquartejamento. O anfitrio de certo modo torna-se um sogro
(DAL POZ, 1991: 262), pois recebe as flechas, tal como ocorreria em uma situao
matrimonial. Entre os Suru, tambm a retribuio da festa d-se sob a forma de presentes
artesanais flechas principalmente, mas tambm colares, panelas e outros utenslios. A
vingana pelo sofrimento da festa , em ambos os casos, ritualizada com uma vtima
animal, embora os Suru no a comam. Dispomos de uma descrio minuciosa, atravs da
monografia de Dal Poz (1991), na qual os convidados dos Cinta-Larga animalizam seu
anfitrio e o devoram simbolicamente. Infelizmente, no possumos uma exposio to
detalhada deste momento do ritual Suru. Entretanto, nota-se uma estrutura semelhante: em
dado momento o grupo metare dos Suru atira em animais pendurados na casa de seus
anfitries, matando-os e deixando flechas em troca.
Os do metare deveriam acertar [no animal pendurado]. Depois atirava-se as flechas,
como presente, nos troncos novos dentro das casas: os iam, smbolo das malocas. Nos
troncos, os peixes pintados com urucum eram em imagem mortos pelas flechas-presentes
(MINDLIN, 1985: 60).
Tal procedimento semelhante morte do queixada no ritual Cinta-Larga. Ao invs
do anfitrio ser animalizado como porco e, inclusive, assumir sua postura, o animal preso
casa Suru simboliza o prprio dono da casa, que, no ao acaso, tambm o dono da chicha e
dono da festa. Pendurar o animal justamente em frente casa do anfitrio parece-me
estruturalmente semelhante domesticao do porco dos Cinta-Larga. Neste ltimo caso, o
processo se complexifica: o porco criado desde filhote pela filha ou esposa do dono da festa
e recebe um nome, pelo qual ficar conhecido o ritual. No se sabe ao certo se isso acontece
77
Substitui no sentido de que aponta para ele, ou, mais precisamente, para a relao entre anfitrio e convidado,
que, com a morte do animal, desdobra-se em uma relao sogro/genro relao que, embora same sex,
pressupe necessariamente uma mulher, ou seja, subentende uma relao cross-sex (W-H; F-D) embutida.
Assim, seria possvel, talvez, aproximar a substituio identificada aqui do uso de eclipsamento com que Gell
(1999) caracteriza as figuras de substituio em Strathern (1988: 183-184).
77
com o animal dos Suru, mas ao ser preso casa do dono da festa, une-se um ao outro,
procura-se criar um vnculo, marcar um pertencimento. Em outra festa, dizem os Suru que
convidam os cunhados para matar o bicho que criaram (DAL POZ, 1991: 278).
Lamentavelmente no temos quaisquer descries detalhadas desta festa.
A retribuio com flechas semelhante nos dois casos e Dal Poz a interpreta, para o
caso Cinta-Larga, tanto como uma forma de retribuio pela carne do animal abatido, quanto
como uma passagem do estado de animal do anfitrio para uma posio de sogro, recebedor
das flechas dos genros (op.cit. 262, 296). Contudo, mais uma vez tudo se passa em meio a
grande deboche, humor e ironia. Os comentrios dos convidados sobre as flechas, descritos na
etnografia de Dal Poz (op.cit. 263), ou versam sobre a pouca eficincia das flechas, apesar de
bem fabricadas sogro, esta flecha no presta!, voc me desculpe, no consegui fazer esta
flecha muito bem ou so explicitamente debochados como uma flecha feita com a cabea
de um peixe com o alegado objetivo de no errar o tiro. Se a flecha boa, dizem que no
presta, se propositadamente mal feita, flechar bem. A inverso clara, portanto. Implcito
ao deboche das flechas, os convidados zombam do sogro que, como veremos adiante, traz
em si a afirmao de uma perspectiva. O escrnio e o humor que envolvem o oferecimento
das flechas no so ao acaso: zombando das flechas, os convidados debocham de seu sogro,
mas, realmente, o porco morto est longe de ser um equivalente da mulher tomada. Parece
no haver problema em debochar deste sogro ritual, j que este no um sogro que
proporcionou uma mulher, como o habitual, mas to somente a carne de um porco por isso a
retribuio vem sob a forma de deboche; trata-se aqui de pagar pelo porco e no pela mulher.
Dal Poz (ibid.) argumenta que a festa implica um contexto de guerra, seja ela
simblica ou no, ao articular a oposio guerreiros versus inimigos. Nos cantos que
antecediam as guerras, os Cinta-Larga no especificavam que iam guerrear e matar inimigos,
mas cantavam que matariam animais. A caa uma guerra; ao matar um animal e,
especialmente, o porco queixada, mata-se o inimigo. Com efeito, nas festas comemorativas de
guerra h abundncia de carne de caa para todos comerem, mas no h o sacrifcio do
animal domstico, como em outros rituais. A maneira de tratar a carne seja humana seja
animal a mesma, tanto do ponto de vista culinrio ela gorda, macia e gostosa
quanto do ponto de vista do esquartejamento do corpo na seleo de determinadas partes
boas para comer (op.cit.: 270). Entretanto, h uma hora e uma maneira especficas para se
comer a carne humana, o que inverte mais uma vez os papis rituais. O depoimento de um
Cinta-Larga, registrado na dissertao de Dal Poz, ilustra perfeitamente a conduta social
adequada:
78
No, porque no toda hora, tem hora para comer gente. Ningum come qualquer
hora no. Tem hora certinha. Se no for na hora certa, a todo mundo se d mal, morre tudo.
assim tarde, cinco horas, a pode comer. No bicho, gente mesmo. Eu ouvi falar assim,
eu no vi: remedando como urubu, antes de comer gente. A turma sentava em cima do pau
assim, remedando urubu. Eu ouvi falar. Antes de comer tem que remedar urubu. Quem no
faz assim, todo mundo fica doente (op.cit.: 271).
Se os Cinta-Larga se produzem como urubus e, assim, se produzem tambm como
predadores, entre os Munduruku a referncia aos urubus se d em um contexto outro;
associados aos velhos, os urubus aqui comem o resto, a carnia, e no o corpo. Dal Poz, por
sua vez, conclui que se a vtima animal no bicho, gente, ento quem vai comer no
(op.cit. 271).
No caso Munduruku, a primeira fase do ritual aps a tomada da cabea marca a
passagem da posio do matador para a de Me do Queixada, posio esta que o obriga a
cumprir restries semelhantes s da couvade. Menget, como vimos, afirma tratar-se de uma
supercouvade do matador e de sua esposa, aparentemente sem criana, indispensvel para a
reproduo do grupo. Lembro aqui que o anfitrio Cinta-Larga e sua famlia estavam
impedidos de comerem a carne do queixada abatido, em funo da j mencionada restrio a
um autocanibalismo. Tanto o matador Munduruku quanto o anfitrio Cinta-Larga, bem
como suas respectivas famlias, encontram-se em posies singulares em relao ao resto do
grupo. O primeiro, torna-se Me do Queixada ao tomar uma cabea e, por isso, deve
obedecer ao resguardo. O segundo, domestica um porco que ser morto em seu lugar e no o
come. O processo de predaofamiliarizao anlogo. Anfitrio e matador trazem do
exterior um, o porco, o outro, a cabea, e os familiarizam, cada qual ao seu modo, mas ambos
tratam-no como filho ou se tratam como pais. O anfitrio Cinta-Larga d um nome ao
porco, deixa que sua esposa o filha o crie e cuida do animal desde pequeno. O matador
Munduruku e sua mulher sofrem as restries da couvade, como se tivessem um filho. Trata-
se de situaes estruturalmente idnticas e, no por acaso Dal Poz e Menget compararam os
rituais Cinta-Larga e Munduruku com o rito antropofgico dos Tupinamb.
79
3.3 Os trs porquinhos tupi: as verses Cinta-Larga, Juruna e Munduruku
nos rituais
A figura do porco, como vimos, revelou-se importante nos rituais analisados
anteriormente. A centralidade dos porcos-queixada no pensamento amerndio um assunto
que sempre me pareceu potencialmente interessante. Minha inteno no a de fazer uma
sntese das elaboraes acerca desta figura-chave no contexto amerndio embora seja
tentador pensar nesta proposta para o futuro , mas a de destacar, em trs contextos diferentes,
como ela situada e refletir sobre o que torna sua conexo com o humano possvel. Minha
impresso que, comparativamente, os porcos parecem ter mais importncia para os grupos
analisados que para os Tupi-Guarani. Obviamente, os Cinta-Larga constituem um exemplo
privilegiado ao substituir uma pessoa pelo porco no ritual, mas outros grupos tambm
reservam para os porcos um lugar particular. Vamos, pois, aos porcos.
Os Munduruku acreditam que os animais costumam possuir mestres que levam o
nome de Me, a quem se deve agradar para obter fartura de caa
78
; diz-se tambm que o
matador Munduruku Me da Queixada quando ele toma a cabea do inimigo. A questo
que se coloca por que o chamam de Me da Queixada e no de Me da Cabea, como
seria de se esperar. Parece-me claro que porque cabea e queixada so equivalentes.
Portanto, o matador se posicionaria como um Mestre da Cabea. Por que o queixada o
animal que cumpre perfeitamente o papel que cabe cabea do inimigo? J foi dito que a
comparao dos queixadas com os humanos, comum nas sociedades amerndias, devia-se s
suas caractersticas de animal gregrio e violento quando ameaado. evidente que estas
caractersticas so definidoras do complexo imaginrio que existe sobre os porcos. Mas, a
meu ver, o queixada to mais humano por estar, precisamente, entre-domnios: ele presa
e predador (FAUSTO, 2002), tal como o so os humanos e, por isso, constituem inimigos por
excelncia dos mesmos ao contrrio do jaguar, o predador por excelncia, ou do mutum,
uma presa to menor que considerada caa de mulher pelos Cinta-Larga. O queixada um
78
Gell (1998:186) afirma que o ndice pode causar a causa que o causou; ele recursivo. Neste sentido, a cabea
Munduruku causa o aumento da disponibilidade de caa que causou sua morte. A cabea no causa caa, ela
media as relaes entre os Munduruku e as Mes da Caa que ficam felizes quando estes tomam uma cabea.
Uma hiptese para esta felicidade das Mes da Caa poderia ser formulada a partir do mesmo princpio que
rege o papel dos convidados Tupi-Mond: eles vm de fora, do mato e agem como animais. Talvez o
inimigo morto pelos Munduruku viesse de um domnio das Mes da Caa e assim seria um de seus filhos. A
felicidade das Mes com a captura de seus filhos poderia ser explicada pela transformao do trofu em
Munduruku. Este tornar-se gente desejado e elas, felizes, liberam mais caa.
80
exemplo privilegiado para a idia de permutao de posies: ora caa ora caador,
depende de quem foi definido como senhor da relao
79
.
A caa aos porcos uma caa perigosa, que exige cuidado: os queixada vivem em
bando, so imprevisveis e podem ser extremamente violentos. Mas no estamos aqui para
falar exatamente dos porcos; o foco o que os humanos pensam sobre os porcos e, talvez, o
que isso informa sobre o humano (VIVEIROS DE CASTRO, 2001, mimeo.). Os Juruna no
aconselham qualquer manifestao ruidosa ao ouvir uma vara de porcos. Ter medo, gritar e
tambm debochar faz com que a alma do caador o abandone e v viver entre os porcos. O
deboche e a falta de cuidados com a linguagem faz com que os caadores afirmem o ponto de
vista da caa o ponto de vista dos porcos, a caa por excelncia (LIMA 1986; 1995).
Tambm os convidados dos Cinta-Larga debocham de seu anfitrio quando matam a vtima
animal; do flechas boas dizendo que so ruins ou ruins dizendo que so boas. Dar flechas ao
sogro faz parte dos tributos que o genro deve pagar a ele, fato que levou Dal Poz a concluir
que o anfitrio como um sogro. Eu acrescentaria, novamente chamando ateno para o
humor amerndio, que debochar das flechas debochar do anfitrio: propositadamente
assumir o ponto de vista do porco e afirmar que ele mesmo o sogro, ainda que com uma boa
dose de ironia. Viveiros de Castro (1996a: 126-127) afirma que, ao referirem-se aos animais
como pessoas, os ndios os tornam sujeitos, conferindo-lhes tanto potencial como agentes
como capacidades de intencionalidade consciente. Na festa Cinta-Larga, colocar o porco na
posio de sujeito ainda que provisoriamente ao aceit-lo como sogro, uma ao
intencional, algo que somente tem espao em um contexto ritual; mas ao pred-lo, os
convidados colocam-no na posio de objeto.
As conseqncias do deboche so bem exemplificadas pelos Juruna, que contam a
triste histria de um caador que, ao zombar dos porcos, teve a alma capturada pelos animais
(LIMA 1995: 112). O convvio entre os porcos transformou-o em seu companheiro e chefe,
mas principalmente, em um mestre dos porcos, que atendia ao chamado do xam Juruna
levando os porcos para onde estavam os caadores
80
. Como as mes da caa dos
79
Em um artigo sobre a caa Zor, Brunelli refuta os argumentos do determinismo ecolgico que reduzem o
animal caado a um montante de protenas e a tcnica da caa como um meio de consegui-las, afirmando: Si
une protine dorigine animale quivaut une autre protine dorigine animale, pourquoi, alors, les Amrindiens
se donneraient-ils tant de peine et de travail pour trouver un couchon sauvage plutt quun singe? Ou bien, un
tapir plutt quun jaguar? (BRUNELLI, 1985: 46) O autor, entretanto, restringe-se ao estudo das tcnicas de
caa e o emprego atual do fuzil em seu artigo.
80
J os Gavio da famlia Tupi-Mond contam a histria de um homem que, exigindo apenas porcos gordos e
debochando dos magros, capturado por um porco-esprito, passa a viajar em suas costas e, aos poucos, comea
a virar porco: cresciam-lhe plos, andava de quatro e grunhia como um queixada. O caador Gavio, contudo,
teve mais sorte que o Juruna e, enganando o porco-esprito, conseguiu voltar para sua aldeia. Os queixadas
81
Munduruku que, quando agradadas, liberam sua criao, este Juruna-porco podia liberar seus
subordinados para desfrute dos antigos companheiros. A perda da alma possvel porque as
brincadeiras ditas por um caador em inteno dos porcos possibilitam a concretizao do
ponto de vista e do desejo destes ltimos (LIMA 1995: 113). Lima (1996) afirma que se os
porcos pensam que so humanos, a caa o momento ideal para a captura de inimigos: os
humanos so os Outros dos porcos, mas os porcos tambm pensam que so humanos
81
.
Entre os Cinta-Larga, a caa uma atividade estritamente masculina e individual, mas
particularmente a caa ao queixada uma exceo, exigindo necessariamente a cooperao de
vrios caadores. Ela pode se configurar como uma caada ritual, j que sempre coletiva
tal como as caadas promovidas em ocasies de festas. Se pensarmos em um nvel mais
amplo, ambas a caa ao queixada e a caa efetuada no ritual refletem aes guerreiras e,
mais claramente: a caa uma guerra e o queixada o melhor inimigo. Os humanos capturam
seus inimigos nas guerras e fazem deles cativos, em uma atitude semelhante dos porcos, e
este potencial de agente exclusivo de alguns animais: ningum espera virar presa de
minhocas, embora com isso no pretenda afirmar que isto seja logicamente impossvel.
Talvez no seja demais repetir que o queixada a comparao perfeita porque se parece com
os humanos: gregrio e pode ser violento; como os homens, est a meio caminho entre ser
presa e predador, vive em sociedade, mas pode enfurecer-se e capturar humanos. O potencial
de ao de ambos, humanos e porcos, semelhante.
82
O riso e o deboche no so inofensivos; trazem conseqncias que, em contextos
especficos, podem ser desastrosas e, mesmo no caso em que parecem no ter conseqncias
fora da esfera ritual como entre os Cinta-Larga , so marcadores de atitudes. No exemplo
Juruna, h um comportamento especfico a ser seguido antes da caa sob risco de perda da
alma. Trata-se de uma situao na qual para caar preciso que se obedea a uma conduta
adequada, pois de outra maneira, afirma-se o potencial de agncia da presa e,
conseqentemente, ao invs de ser o agente da relao, o caador passa a ser aquele que ser
caado: a presa dos porcos, seu cativo. O que seria a caa para os Juruna guerra para os
vinham procur-lo em sua maloca, mas ele se escondia. Deixou seu corpo de porco apenas com a ajuda do xam
(MINDLIN, 2001: 168).
81
Viveiros de Castro refere-se ao esprito do animal como capaz de uma intencionalidade ou subjetividade
formalmente idntica conscincia humana, materializvel, digamos assim, em um esquema corporal humano
oculto sob a mscara animal (1996: 117).
82
Outros animais merecem destaque no imaginrio indgena: o jaguar j foi objeto de anlise de vrios autores e
ocupa uma posio singular no contexto amerndio; a anta, para o contexto sexual principalmente, e o urubu,
como vimos brevemente aqui.
82
porcos e, debochando deles, aceita-se sua verso da histria, ou melhor, aceita-se o mundo em
que vivem (LIMA, 1996).
No ritual Cinta-Larga, o riso e o deboche dos convidados no trazem aparentemente
maiores conseqncias; entretanto, no se pode subestimar seu potencial como definidor de
relaes. Os convidados e suas flechas mal feitas ou ditas mal feitas de certa maneira
debocham do sogro que as recebe, mas este sogro naquele momento um porco. Aqui, ao
contrrio dos Juruna, procura-se, propositadamente, afirmar o ponto de vista do Outro, o do
sogro-porco. A inverso parece ntida: durante a caa, os Juruna no debocham ou acabaro
como cativos na guerra dos porcos; no ritual Cinta-Larga, os convidados podem debochar e
concordar que o porco , de fato, seu sogro, porque estamos em um domnio no qual, como
Bakhtin (1999: 141-142) afirmou para os carnavais medievais e renascentistas, o riso no
ofende nem arriscado, porque sua punio mesma seria risvel. Trata-se do que o autor
chamou de garantia de impunidade do discurso cmico (ibid.).
Se da perspectiva dos porcos eles so humanos, como dizem os Juruna (LIMA, 1996),
talvez com os Cinta-Larga tudo se passe de maneira semelhante, embora transformada. No
ritual, a vez da afirmao da perspectiva dos porcos, uma ocasio em que se pode assumir o
corpo do porco com a imitao do anfitrio e concordar que ele sogro atitude dos
convidados. Entretanto, h limites: so os convidados que mataro o porco e no o contrrio.
O animal o prottipo extra-humano do Outro, mantendo uma relao privilegiada com
outras figuras prototpicas da alteridade, como os afins (ERIKSON, 1984: 110-112;
DESCOLA, 1986: 317-330) (VIVEIROS DE CASTRO, 1996: 119).
Nas festas Cinta-Larga que antecediam as guerras, apenas os guerreiros danavam
com seus arcos e flechas nas mos. O canto que entoavam na ocasio antecipava a ttica
guerreira, mas era importante que no se dissesse nem quem eram os inimigos, nem que os
inimigos eram gente; tambm falavam de si mesmos como se fossem animais caadores. O
discurso de que iam matar porco ou matar macaco ou ainda sair para uma caada. Trata-
se de ou animalizar o inimigo ou de animalizar a si prprio: ambas as atitudes afastam o
perigo de comer o que similar, pondo distante a possibilidade canibal. interessante
comparar as tticas de guerra e caa dos Cinta-Larga com as dos Yanomami, estudados por
Lizot (1988), apesar de no serem um grupo tupi. Quando avistavam porcos, os Yanomami
diziam que viram guerreiros; jamais afirmavam que viram os animais ou eles
desapareceriam. Os Cinta-Larga, quando avistavam guerreiros, diziam que viram porcos,
jamais afirmavam que eram gente. Aparentemente, trata-se de uma inverso: para a guerra os
Cinta-Larga chamam de animais os seus inimigos e, para a caa, os Yanomami chamam de
83
guerreiros a sua caa. Mas Lizot (1988: 1) narra a histria de um estrangeiro que, aps dizer
para a me que iria caar porcos-do-mato, partira para matar um Yanomami. Voltando com o
corpo, sua me lhe diz: Ah! Meu filho matou um porco-do-mato!, e ambos comem o morto.
Quando os outros Yanomami descobrem o ocorrido, matam o estrangeiro, levam sua me
como esposa e adotam um menino. Mas este menino, tempos depois, mata e devora um
companheiro Yanomami que, por sua vez, acaba decapitado.
Em todos os casos, caa e guerra so atos equivalentes; o que muda a maneira de
tratar a presa. No se trata exatamente de uma inverso: o estrangeiro, quando vai matar um
Yanomami, tambm diz que vai matar porco. O que deve ser evitado a afirmao do ponto
de vista do Outro, ou mais exatamente, o descontrole da prpria perspectiva. Vejamos os
exemplos. Na guerra, os Cinta-Larga dizem que seus adversrios so animais para que o
potencial de sujeito seja dos Cinta-Larga e no de seus inimigos. Afirmar que os inimigos so
guerreiros dar potencial de agncia a eles e assumir seu estatuto, correndo o risco de que a
relao se inverta e eles se vejam convertidos em pacientes-presas. o mesmo caso do
estrangeiro que vai matar o Yanomami e diz que vai caar porco-do-mato se admitir
explicitamente que vai matar o Yanomami, o potencial de agncia se transferiria para este
ltimo. Contudo, quando os Yanomami caam os porcos, dizem que eles so inimigos para
com isto afirmar que a caa uma guerra e manter os porcos presentes, j que, como dizem,
se os chamassem de porcos, eles desapareceriam.
Poderia-se argumentar que isto contradiz o exemplo Juruna, mas s seria assim se as
sutilezas de cada caso fossem deixadas de lado em benefcio de uma automatizao dos
pontos de vista envolvidos, ou seja, se desprezarmos a inteno que h por trs do discurso. O
que acontece no caso Yanomami uma afirmao momentnea e controlada do ponto de vista
do Outro, em tudo diferente da falta de cuidado com a linguagem do caador Juruna. No se
deve gritar durante a caada Juruna e tampouco temer os porcos, j que ambas as atitudes
causam a perda da alma do caador. Os Yanomami tambm controlam sua linguagem, pois,
apesar de atriburem agncia aos porcos, fazem-no calculadamente, o que esvazia seu prprio
potencial como presa. Veremos como a situao semelhante em outro caso Juruna, no qual
os porcos so convidados para a festa, sem que isto implique em ameaa para os Juruna;
muito pelo contrrio, uma emboscada para os porcos, o que os reafirma como presas.
Os porcos, segundo os Juruna, fazem parte de uma sociedade com chefia, cauim e
xam, so Outros e com caractersticas bastante humanas.
84
Os porcos vivem em comunidades divididas em famlias e organizadas em torno de
um chefe dotado de poder xamnico. Habitam aldeias subterrneas e so produtores de cauim,
o qual, na perspectiva humana, nada mais que uma argila finssima (...) (LIMA, 1996: 22).
A caa aos porcos estava ligada ao do xam Juruna, que devia cham-los tocando
um apito que imitava o dos porcos. Estes, ansiosos pela promessa de abundncia de bebida e
de dana das festas Juruna, iam ao seu encontro e os ndios aproveitavam para promover uma
enorme matana dos porcos, satisfazendo seu desejo por carne de caa. preciso ento que os
Juruna enganem os porcos assumindo, provisria e intencionalmente, sua perspectiva. Com o
convite aos porcos, a festa Juruna necessariamente uma emboscada, ela apenas esconde a
real inteno dos anfitries: a morte dos convidados. Os porcos assemelham-se aos humanos e
so convidados pelos Juruna para beber e danar nas festas. essencial reter aqui a idia de
convite aos porcos na narrativa (para beber e danar), o carter de emboscada do chamado e o
sacrifcio ou caada final. Se compararmos com a festa Cinta-Larga, a condio para a
realizao dos rituais parece-me ser o convite indispensvel aos afins potenciais
(convidados/porcos) e a possibilidade, sempre latente, de tudo terminar ou comear em
homicdio. Tambm os Cinta-Larga dizem que antigamente a festa podia ser mesmo uma
emboscada e, ao invs de matarem uma vtima animal, os anfitries promoviam a morte de
vrios, ou somente um, dos inimigos convidados. Neste caso, os convidados ocupavam a
mesma funo dos porcos quanto ao sacrifcio final, embora aqui no pudesse haver
reciprocidade, pois o que garante isto a inverso de perspectivas: o anfitrio morto como
porco. clara aqui a analogia com a narrativa Juruna, com a diferena de que, neste ltimo
caso, os caados eram mesmo os porcos
83
.
Mas se os porcos se pensam humanos, o qu eles matam quando caam ou
guerreiam? A caa representa, em sua viso, uma ocasio perfeita para captura de
estrangeiros, pois matar um caador assemelha-se a uma captura. O caador capturado, por
83
As verses mticas sobre a origem dos porcos selvagens, amplamente difundidas nas sociedades indgenas das
terras baixas sul-americanas, foram objeto de anlise no cotejo de mitos Munduruku (ver tambm Murphy,
1958), Tenetehara, Warrau, Kayap-Kubenkranken, Kashinaw, Bororo e Kariri, em Le Cru et le Cuit (1964),
de Lvi-Strauss. Tambm entre os Xipaya encontramos uma verso do mesmo mito (Nimuendaju, 1981). No h
espao aqui para reter-nos neste domnio, entretanto, gostaria de mencionar brevemente como a verso Juruna
pode ser instigante. De acordo com Lima (1986: 39/44) o mito de origem dos Brancos corresponde, para os
Juruna, ao que em outros grupos o da origem dos porcos. A autora compara a verso Juruna com a Munduruku
e conclui que os primeiros simplificam de maneira to extremada o mito de origem dos porcos que a origem
deles no mais a questo; o que o mito Juruna procura explicar a origem dos Brancos. O ponto aqui parece
ser o de que Brancos e porcos possuem um mesmo estatuto ontolgico e pouco importa contar a origem de um
ou de outro. No toa que tambm os Cinta-Larga, ao narrarem sua verso do mito de origem dos porcos,
iniciam-no dizendo Tem gente que foi l, quando civilizado sumiu: Ah, vou atrs do civilizado. Vou encontrar
civilizado agora. Quando foram, muita gente, a mataram porco, muito mesmo (DAL POZ, 1991: 347;
apndice 2b).
85
sua vez, procuraria adaptar-se sociedade dos porcos, agindo como eles e assumindo,
inclusive, seu aspecto fsico. Segundo Lima (1995: 113), a possibilidade desta relao
aproxima porcos e homens como dois grupos equivalentes. Ademais, afirma que os cuidados
com a linguagem e com a conduta to indispensveis na caa, so paralelos queles para com
os primos cruzados e amigos estrangeiros. justo porque possvel haver uma tal relao
de afinidade com os porcos que o cuidado com a linguagem necessrio na caa, com a
finalidade de inibir a atualizao desta relao (op.cit.: 114).
Mas pouco nos referimos ainda sobre os seres que, ao mesmo tempo em que protegem
a caa, tambm a liberam para os predadores. Os mestres dos animais so aqueles que
propiciam a caa, mas, no exemplo Juruna, podem ser humanos que foram caados pelos
porcos e se tornaram seus chefes. Lima (1986: 158) relata que, quando os Juruna queriam
combinar suas caadas com o xam dos porcos (huza e)kia), faziam-no atravs de uma planta
chamada remdio de porco (huza uaha). Tambm vimos que o silncio essencial no trato
com os porcos, do contrrio o infrator perderia a alma e se tornaria um porco e,
posteriormente, aquele que negociar as caadas com os humanos: um xam dos porcos.
Trata-se antes de tudo de uma posio oscilante e hbrida: aquele que antes era caador torna-
se tanto o protetor de suas ex-presas como quem negociar sua liberao para a caa alheia.
Segundo os Juruna, a vara de porcos no pode ser totalmente exterminada, pois se deve deixar
fugir o porco-xam, cuja existncia garante a comunicao e a relao entre os homens e os
porcos, mediada por ele. Para Lima, o xam dos porcos pode ser comparado figura do
cunhado. Em suas palavras: O huza e)kia uma espcie de cunhado doador de carne que
recebe como contraprestao, revelia dos homens, a mandioca (1986:158). O porco-xam
tambm um dos espritos auxiliares obtidos pelo xam Juruna em sua iniciao. A alma
deste porco-xam, se acidentalmente morre em uma caada, viver junto s almas dos mortos
Juruna.
Quanto aos Munduruku, h vrias Mes dos animais de caa (queixada, anta, veado
etc.) para quem so feitos rituais especficos para que haja abundncia de caa. Como afirma
Menget (1993: 316), no ritual que sucede a caa de cabeas, so os homens que se
transformam em Mes: O simbolismo, flagrante aqui, o de conjugao dos papis de me e
pai para a produo de uma sociedade completa. O matador Me da queixada e seu trofu
agradavam s Mes da caa e, por conseguinte, garantiam abundncia alimentar. Menget
afirma que o ritual de caa seria uma inverso do longo ritual efetuado aps a caa de cabea.
Os Cinta-Larga contam um mito em que os caadores matam todos os porcos do
dono dos porcos que, furioso, os transforma nestes animais inserindo um coco de babau no
86
lugar de seus dentes
84
. O dono dos porcos pune a caa descomedida porque o excesso no
a regra com a transformao dos caadores em porcos, futura caa de outros caadores. O
que interessante que o mestre faz uma mediao importante entre animais e humanos;
entretanto h tambm uma figura semelhante para os humanos. No qualquer pessoa que
far a comunicao entre os seres, mas sim o xam dos humanos, que pode assumir a
perspectiva dos animais sem tornar-se um igual e, principalmente, voltar para contar a
histria (VIVEIROS DE CASTRO, 1996a: 120). Aps a necessria comunicao entre os
xams, os mestres dos animais deixam que cacem seus subordinados. Contudo, exigindo
que os caadores cumpram determinadas regras, no permitem o aniquilamento total de seus
animais.
Tambm se deve agradar aos mestres dos Munduruku as Mes da caa com rituais
especficos liderados pelo xam. A posio tambm parece ambgua: os mestres so
simultaneamente chefes dos animais e seus protetores, mas ao mesmo tempo so aqueles com
quem, por intermdio dos xams, combina-se uma caada. O Mestre dos animais deve ser
agradado e no se pode desrespeitar os limites que impe. Menget (1993: 318) nota que a
cabea tomada fornece a futura abundncia de caa porque agrada s Mes dos animais. No
ritual em homenagem s Mes das caas, os Munduruku enfileiravam ordenadamente os
crnio de animais (do maior ao menor), e alimentavam os espritos de cada espcie. Cabia
aos xams mexer nos crnios para extrair pontas de flechas dos espritos. Tudo era feito em
meio a cantos e danas em homenagem s Mes, que poderiam caar as almas humanas,
principalmente a dos cantadores. O risco de perda da alma maior entre os cantadores porque,
a meu ver, se trata de uma situao semelhante das exigncias nos cuidados com a
linguagem durante a caa Juruna: a afirmao do ponto de vista do Outro e de sua
capacidade como agente. Cantar para as Mes da caa estabelece um vnculo forte e torna os
cantadores mais vulnerveis sua ao.
85
84
curioso notar a importncia dos dentes como operadores transformacionais. Como vimos, tanto os
Munduruku como os Juruna retiravam os dentes da cabea do Inimigo morto e os guardavam em um cinto que
poderia ser o potencializador de novas capturas. Em outro contexto, so os dentes que operacionalizam as
transformaes. No mito Cinta-Larga e em vrios outros a mudana dos dentes que produz a metamorfose em
Outro: homens viram porcos quando o dono-dos-porcos coloca neles coco de babau forte e duro simbolizando
os dentes de queixada no lugar de seus dentes. J os dentes humanos so constantemente comparados ao milho,
frgeis e que ficam podres facilmente. Para os Juruna, dentes humanos so gros de milho colocados por Sen
, depois de vrias experincias com dentes de outros animais (LIMA, 1986: 30). Quanto aos outros animais
dizem que o demiurgo deu os dentes de jaguar ao jaguar e os dentes de porco aos porcos, os quais so fortes e
lhes caram bem por serem eles os donos.
85
Outro ponto interessante o modo como o roubo da alma pelas Mes se efetua. A alma passa de um crnio
de animal a outro (do maior ao menor, aparentemente) at chegar ao ltimo (o dos peixes pequenos) quando
morre definitivamente. O xam s poderia traz-la de volta se detectasse em que animal est. Os animais so
87
O roubo da alma pelos animais ainda pode render algo mais em uma comparao com
os Cinta-Larga. A morte de um Cinta-Larga desencadeia a matana de todos os animais da
aldeia que so comidos coletivamente (DAL POZ, 1991: 296). Os xerimbabos so mortos
porque os Cinta-Larga ficam com raiva dos animais. Carmen Junqueira (1981: 51-52)
tambm descreve o sacrifcio de um porco efetuado aps a morte de uma criana: o animal
foi atado, os homens danaram ao som das flautas e flecharam-no, deixando para o seu dono
as flechas. Processo semelhante ocorre para os Zor:
Segundo Brunelli, a morte ritual de um porco, amarrado numa estaca e flechado pelos
homens, marcou o fim do perodo de luto (cerca de 10 dias) dos pais de uma criana morta, os
quais at ento se mantinham afastados da convivncia diria, recolhidos a um canto da casa
(apud DAL POZ, 1991: 297).
Dal Poz (op.cit.: 259) descreve ainda uma festa a partir de um trecho de vdeo de
Amado Paixo no qual matam um jacar a porretadas:
(...) amarrado e imobilizado (com uma espcie de ala), o jacar era carregado por
um homem que, antes de jog-lo pela porta adentro, libertava seu focinho. Caindo no interior
da maloca, outro homem batia-lhe imediatamente com o porrete na cabea e, atirando-lhe para
o lado, postava-se aguardando o seguinte.
O autor destaca a inverso da seqncia da festa Cinta-Larga: o convidado que
associado ao animal e abatido pelo anfitrio. Ao que parece, a morte interna ao grupo
desencadeia um processo de vingana contra os animais porque seria deles a culpa pelo
ocorrido. Se lembrarmos do roubo das almas pelos animais, talvez a anlise esteja correta: os
animais roubaram a alma do morto. O roubo da alma levando morte a maneira de sua
predao e, claro, cabe aos humanos se vingarem disso, matando seus xerimbabos. Apesar
de domsticos, os animais da aldeia conservam uma potncia de alteridade que pode
ocasionar esta possibilidade de predao. por este motivo que os matam da mesma maneira
que o fazem nas festas j descritas; mas no funeral os animais da aldeia tornam-se os
inimigos.
aparentemente hierarquizados de acordo com seu tamanho (MENGET, 1993: 319), mas talvez seja mais
produtivo pensar no potencial de ao de cada animal. A alma passa da anta sobrenatural ao queixada e dele
para o veado at os menores peixes. claro que precisaramos de descries especficas sobre o lugar destes
animais na sociedade Munduruku e, se compararmos com outros grupos, talvez seja trabalho para outra tese
mas quero sugerir apenas que no se perde a alma definitivamente com os peixes apenas porque eles so
pequenos. A meu ver, eles so menos prximo dos humanos que a anta, o queixada e o veado, tambm por serem
pequenos, mas principalmente, por no serem sujeitos de relaes na caa. Os peixes esto no solo de uma
cadeia de subjetivizao.
88
Os mestres dos animais ou xams, ou pais, ou mes, no importa parecem ocupar
sempre uma oposio hbrida.
86
Ele incorpora o papel de um pai ou Me, no caso
Munduruku social, mas isto ocorre de maneira singular, visto que ele d seus filhos para
outros comerem. Aquele que incorpora o papel da proteo tambm media o domnio dos
animais e o dos homens. No caso dos pais de uma criana, faz-se de tudo para torn-la
humana, retirar qualquer vestgio de animalidade que nela persista e, por este motivo,
cumprem tantas regras de proteo. No caso do protetor dos animais, ele tambm um
mediador entre animalidade/humanidade, mas de modo diverso, no entanto: ele fornece a caa
aos humanos porque quer afirmar o estatuto de animalidade de seus protegidos. As crianas
so seres humanos incompletos, devem ser tornadas humanas e no so, por conseguinte,
seres autnomos: dependem da ao alheia para se tornarem pessoas. O mestre dos porcos
encontra-se na mesma posio estrutural dos pais da criana, mas ao contrrio dos ltimos, ele
afirma a animalidade dos filhos ao liber-los para os caadores. O que importante reter a
idia de mediao entre domnios e, neste sentido, podemos pensar os papis de Me da
queixada (ou da cabea), pais do porco e pais do cauim. O matador Munduruku media as
relaes entre o restante do grupo e as Mes dos animais (que propiciam a caa) por meio do
trofu. O anfitrio da festa Cinta-Larga e sua mulher mediam as relaes entre convidados e
aldeia anfitri por meio do porco. O dono do cauim e sua mulher mediam as relaes entre os
prprios Juruna por meio do cauim.
86
No domino a discusso nem a bibliografia sobre a questo dos mestres dos animais. O que apresento aqui,
portanto, so apenas algumas impresses que tive ao tratar do assunto dos porcos em geral, sem qualquer
pretenso de chegar a respostas definitivas.
89
CONCLUSES
Ao longo desta dissertao procurei sugerir algumas discusses a partir dos dados
disponveis para os povos tupi no-guarani. A construo do objeto segundo um critrio
lingstico (os Tupi), acrescido de uma clusula restritiva (que exclui sua famlia mais
conhecida), justifica-se pela tentativa de enfrentar o material etnogrfico sem reduzi-lo, de
sada, a uma verso dos modelos tupi-guarani existentes. Na maioria das (poucas) etnografias
sobre povos tupi no-guarani costuma-se comparar o grupo estudado com os Tupi-Guarani,
muitas vezes obscurecendo certas questes e supervalorizando outras. Ao enfrentar o escasso
material tupi no-guarani, busquei ressaltar os elementos que me pareciam mais relevantes,
embora seja evidente que a disparidade quantitativa e qualitativa da literatura torne a
referncia aos Tupi-Guarani e seus modelos, inescapvel. Volto a afirmar, no entanto, que no
pressuponho aqui que os tupi no-guarani sejam mais comparveis entre si do que com os
tupi-guarani, idia compartilhada tambm pelos lingistas que se utilizam do mesmo recorte.
Nesta dissertao busquei sistematizar dados em torno de algumas questes que
pareciam ter um rendimento maior entre os Tupi no-guarani (ou que rendiam de maneira
diferente) do que entre os Tupi-Guarani. Trata-se de um experimento que, na verdade, visa
preparar-me para uma pesquisa de campo de longa durao entre algum povo tupi
(naturalmente, no-guarani), tendo em mente algumas das questes discutidas nesta
dissertao.
Dada pouca visibilidade dos Tupi no-guarani na literatura, tive que iniciar esta
dissertao por uma reviso concisa do material etnogrfico, a fim de fornecer informaes
bsicas sobre cada uma das famlias lingsticas do tronco tupi. Procurei tornar ntido para o
leitor que os dados disponveis eram extremamente desiguais, impossibilitando uma sntese
ampla e sistemtica. Contudo, foi possvel discutir algumas questes que me pareceram
significativas para alguns povos tupi.
As questes propostas foram divididas em duas grandes partes principais, que
correspondem aos captulos dois e trs da dissertao: na primeira, tratou-se dos modos
diversos de construo da identidade que passam pela via paterna; em uma segunda parte,
procurou-se contemplar as formas de constituio da alteridade nos rituais.
90
O objetivo do segundo captulo foi o de, primeiramente, analisar as maneiras mltiplas
da realizao de uma patri-identidade tupi. Os variados processos de segmentao dos grupos
foram objeto de uma primeira abordagem, na qual privilegiou-se trs maneiras principais
desta realizao: Munduruku, Juruna e Tupi-Mond. No primeiro caso, vimos descries de
cls, metades e fratrias; j para o segundo, no havia quaisquer evidncias de segmentao; os
ltimos contavam com vrias formas de descrio e de classificao das suas formas de
segmentao. No pretendi, neste item, propor um denominador comum para estes dados,
mas sim, propor que as formas de classificao oriundas deste processo de segmentao
sejam tomadas conjunta e comparativamente, para que se possa ter maior clareza sobre a
natureza deste processo e de suas reais implicaes. Ainda neste segundo captulo, enfoquei
outras maneiras de realizao da patriorientao tupi, notadamente as que implicam na
fabricao do parentesco. Como vimos, embora haja uma ntida tendncia tupi para
constituio da identidade pela via paterna, ela dificilmente uma forma mecnica e sua
realizao varia conforme as regras do casamento, da residncia, da constituio do
parentesco, da onomstica e das teorias de concepo.
O terceiro captulo teve como enfoque trs rituais de conotao guerreira
Munduruku, Juruna e Cinta-Larga para uma anlise das formas diversas de constituio da
alteridade como parte necessria e indispensvel ao rito construda sempre em uma
oposio ao que se constituiu como Ns. Ressaltou-se, ainda, que tais posies no so
rgidas e sofrem inverses ao longo dos rituais: mudam-se os termos, mas permanecem as
mesmas relaes. No caso, a relao de alteridade/identidade o que move os rituais, e os
termos que a constituem variam conforme seu andamento. Contudo, no se pode esquecer
daquilo que os motiva: o fazer do cauim para os Juruna, a tomada da cabea do inimigo para
Munduruku e a criao do porco para os Cinta-Larga; so eles pontos de partida e apontam
para as relaes que so performatizadas nos respectivos rituais, funcionando nestes ora como
agentes, ora como pacientes.
Finalmente, na ltima parte da dissertao procurei fazer algumas consideraes sobre
a posio simblica dos porcos em alguns contextos tupi no-guarani. Tais sugestes
derivaram da observao do rendimento da figura dos porcos para os grupos analisados.
Contudo, fiz aqui apenas algumas observaes que me pareceram relevantes para o contexto e
gostaria de explorar este tema em outra oportunidade.
As questes desenvolvidas na dissertao esto longe de esgotar as possibilidades que
se configuram na comparao dos dados. certo que h limites impostos pela escassez de
informaes, mas, ainda assim, deve-se sempre fazer escolhas de determinadas questes em
91
detrimento de outras. Embora contasse com dados suficientes para tratar comparativamente da
oposio homem/mulher nos rituais, j que os autores das etnografias aqui analisadas do um
especial enfoque a este ponto, no poderia faz-lo sem compor um novo captulo,
ultrapassando assim os limites exigidos para uma dissertao de mestrado. Portanto, em
minha escolha, no privilegiei a questo do gnero por achar que ela poderia render, talvez,
uma outra dissertao. O que diz Lvi-Strauss para a anlise mtica parece, pois, aplicar-se
precisamente ao fim deste trabalho:
No h um verdadeiro trmino na anlise mtica, nenhuma unidade
secreta que se possa atingir ao final do trabalho de decomposio. Os temas se
desdobram ao infinito. Quando acreditamos ter desembaraado e isolado uns dos
outros, verificamos, na verdade, que eles se reagrupam, respondendo solicitao
de afinidades imprevistas. (LVI-STRAUSS, 1991: 15).
92
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ARAJO, C. Matando porcos selvagens: uma anlise comparativa dos mitos e rituais
mmmdos grupos indgenas Cinta-Larga e Juruna. Mimeo. 2001.
BAKHTIN, M. A cultura popular na Idade Mdia e no Renascimento: o contexto
mmmde Franois Rabelais. So Paulo-Braslia: Hucitec-EdUnb. 1999.
BONTKES, W. Purubor wordlist. Archives of the SIL, Braslia. 1968.
BRUNELLI, G. Bebe! Bebe! Jikkoi! Les Zors vont la chasse. Recherches
mmmAmrindiennes au Qubec, v. 15, n.3, p. 45-57. 1985.
_______, G. Migrations, guerres et identits: faits ethno-historiques Zor. GRAL
MmmGroupe de recherche sur lAmerique Latine, Montral: Universit de mmmMontreal
p. 1-41. 1986.
_______, G. De los espiritus a los microbios: salud y sociedad em
mmmtransformacin entre los Zor de la Amazona Brazilea. Quito/Roma: mmmABYA-
YALA/MLAL, Coleccin 500 aos, n 10. 1989.
_______, G. Matres de l'invisible: notes et rflexions sur le chamanisme tupi-
mmmmond. Recherches Amrindiennes au Qubec, v.XVIII, n. 2-3: 127-43.1988
CAMPBELLE, R. Aru wordlist. Archives of the SIL, Braslia. 1968.
CASPAR, F. A aculturao da tribo Tupari. Revista de Antropologia, v. 5, n.2, p.
145-mmm72. 1957.
_______, F. Tupari (entre os ndios, nas florestas brasileiras). So Paulo:
mmmEdies Melhoramentos. 1958.
93
CHAUMEIL, J. Lchange dnergie: guerre, indentit et reproduction sociale chez
les mmmYagua de lAmazonie Pruvienne. Journal de la Socit des Amricanistes, v. 71,
mmmp. 143-157. 1985.
CLOUTIER, S. Les Instruments Musicaux des Indiens Zors-pangueyens.
Recherches mmmAmrindiennes au Qubec, v. 18, n. 4, p. 75-86. 1988.
COELHO DE SOUZA, M. Virando gente: notas a uma histria aweti. In B.
mmmFRANCHETTO & M. HECKENBERGER, Os Povos do Alto Xingu: Histria e
mmmCultura, Rio de Janeiro: Editora da UFRJ. pp.358-400. 2001.
COIMBRA JR., C. Estudos de ecologia humana entre os Suru do Parque
mmmIndgena Aripuan, Rondnia: I. Elementos de etnozoologia. II. Plantas de
mmmimportncia econmica. III. Aspectos alimentares. Boletim do Museu Paraense
mmmEmlio Gldi: srie antropologia, Belm: vol. 2, n.1: p. 1-87. 1985.
_______, C. From shifting cultivation to coffee farming: the impact of change on
mmmthe health and ecology of Suru Indians in Brazilian Amazon. Indiana: Indiana
mmmUniversity. 1989.
DAL POZ, J. et.alli. Os Povos Tupi-Mond. Dossi ndios em Mato-Grosso. Cuiab:
mmmOPAN/CIMI. p. 102-119. 1987.
DAL POZ, J. No Pas Dos Cinta Larga: uma etnografia do ritual. So Paulo:
mmmUSP. 1991. 354 pp.
_______,J. Homens, Animais, inimigos: simetrias entre Mito e Rito nos Cinta Larga.
mmmRevista de Antropologia n. 36, p. 177-206. 1993.
_______, J. A etnia e a terra: notas para uma etnologia dos ndios Arara
mmm(Aripuan-MT). (Srie Antropolgica, 4), Cuiab : UFMT. 1996.
DESCOLA, P. La Nature Domestique: symbolisme et praxis dans l'cologie des
mmmAchuar. Paris: Maison des Sciences de l'Homme. 1986.
94
EMMERICH, C., MONTSERRAT, R. Sbre a fonologia da lngua aweti (Tupi).
mmmBoletim do Museu Nacional, Nova Srie: Antropologia, Rio de Janeiro, v. 25, 18
mmmp. 1972.
ERIKSON, P. De l'apprivoisement l'approvisionnement: chasse, alliance et
mmmfamiliarisation en Amazonie amrindienne. Techniques et Cultures, n. 9, p. 105-
mmm140. 1984.
ERMEL, P. O Sentido Mtico do Som: ressonncias estticas da msica tribal dos
mmmndios Cinta-Larga. So Paulo: PUC/SP, 266 p. 1988.
EVANS-PRITCHARD, E. Nuer Religion. Londres: Oxford University Press. 1956.
FAUSTO, C. Os Parakan: casamento avuncular e dravidianato na Amaznia.
MmmRio de Janeiro: PPGAS / Museu Nacional / UFRJ. 1991.
_______, C. De primos e sobrinhas: terminologia e aliana entre os Parakan
mmm(Tupi) do Par. VIVEIROS DE CASTRO, E. Antropologia do Parentesco:
mmmEstudos Amerndios. Rio de Janeiro, Editora UFRJ: 61-120. 1995
_______, C. Os Enemies and pets: Warfare and Shamanism in Amazonia.
mmmAmerican Ethnologist 26(4): 933-956. 1999.
_______, C. Os ndios antes do Brasil. Rio de Janeiro: Zahar ed. 2000.
_______,C. Inimigos Fiis. Histria, guerra e xamanismo na Amaznia. So Paulo:
Editora da USP. 2001.
_______, C. La Predation de la Personne: Chasse aux Humains ou Guerre aux
mmmAnimaux? mimeo2002
95
FRANCHETTO, B. Os Aweti. Dossi ndios em Mato-Grosso. Cuiab:
OPAN/CIMI. mmm1987.
_______, B. Os Juruna (tupi). Dossi ndios em Mato-Grosso. Cuiab: Operao
mmmAnchieta. CIMI/MT. 1987.
FREITAS, L. Changement Social et Sant chez les Tupi-Mond de Rondnia
mmm(Brsil). Paris: Universit de Paris X. 1996.
GABAS JR., N. Estudo fonolgico da lngua Karo (Arara de Rondnia). Campinas:
mmmUnicamp. 1989.
_______,N. O Sistema Pronominal de Marcao de Pessoa na Lngua Karo (Arara de
mmmRondnia). Revista Latinoamericana de Estdios Etnolinguisticos. Lima, v.
mmmVIII. 1994.
GELL, A. Art and Agency: an anthropological theory. Oxford: Clarendon. 1998.
_______, A. Strathernograms: or, the semiotics of mixed metaphors. The art of
mmmanthropology. Londres: Athlone. 1999.
GIRALDO FIGUEROA, A. Guerriers de lcriture et commerants du monde
mmmenchant: histoire, identit et traitement du mal chez ls Sater-Maw mmm(Amazonie
centrale, Brsil). Paris: Ecole des Hautes Etudes en Sciences mmmSociales. 1997.
HANKE, W. Breves notas sobre os ndios Mond e o seu idioma. Dusenia, Curitiba:
mmmvol. 1, n. 4, p. 216-228. 1950.
HORTON, D. The Munduruku. In: STEWARD, J. Handbook of South American
mmmIndians. Berkeley: University of California Press, vol. 3, p. 271-279. 1948.
HOWARD, C. Pawana: a farsa dos visitantes entre os Waiwai da Amaznia
mmmsetentrional. In: M. CARNEIRO DA CUNHA; E. VIVEIROS DE CASTRO.
96
mmmAmaznia: Etnologia e Histria Indgena. So Paulo: Ncleo de Histria
mmmIndgena e do Indigenismo da USP/FAPESP: 229-64. 1993
HUGO, V. Desbravadores. So Paulo: Misso Salesiana de Humaiat. 1959.
JUNQUEIRA, C. Os Cinta-Larga. Revista de Antropologia n.27-28: 213-32. 1984-
85.
_______, C. The Cinta-Larga. In the Path of Polonoroeste: Endangered peoples
mmmof Western Brazil, Cultural Survival Occasional Paper. 6: 55-58. 1981
KARADIMAS, D. Limpossible Qute dun Kalos Thanatos chez les Miraa
mmmdAmazonie Colombienne. Journal de la Socit des Amricanistes, v. 85, p. 387-
mmm398. 1999.
KRUSE, A. Munduruk Moieties. Primitive Man. Washington: Catholic
mmmAnthropological Conference, v. VII, n, 4, p. 51-57. 1934.
LANDIN, R. Kinship and Naming Among the Karitiana of Northwestern mmmBrazil.
Arlington: University of Texas. 1989.
_______, R. Nature and culture in four Karitiana legends. In: MERRIFIELD, W. Five
mmmamazonian studies : on world view and cultural change. Dallas : International
mmmMuseum of Cultures, p.59-70. 1985.
LEACOCK, S. Economic life of the Mau indians. Boletim do Museu Goeldi, nova
mmmsrie: Antropologia, Belm, v. 19, 30p. 1964.
LVI-STRAUSS, C. The Tupi-Cawahib. STEWARD, J. Handbook of South
mmmAmerican Indians, vol. III. Washington: Smithsonian Institution/Bureau of
mmmAmerican Ethnology, p. 299-305. 1948.
97
_______, C. Tribes of the Right Bank of the Guapor River. STEWARD, J.
mmmHandbook of South American Indians, vol. III. Washington: Smithsonian
mmmInstitution/Bureau of American Ethnology. 1948.
_______, C. Tristes trpicos. So Paulo: Companhia das Letras, [1955] 1996.
_______, C. O Cru e o Cozido. So Paulo: Brasiliense. [1964] 1991.
_______, C. Regimes Harmnicos e Regimes Desarmnicos. As Estruturas
mmmElementares do Parentesco. Petrpolis: Vozes, p. 237-265. [1967] 1982.
LIMA, P. Distribuio dos grupos indgenas do Alto Xingu. XXXI Congresso
mmmInternacional dos Americanistas, So Paulo. 1955.
LIMA, T. A Vida Social entre os Yudj: elementos de sua tica alimentar. Rio
mmmde Janeiro: PPGAS / Museu Nacional / UFRJ. 1986.
_______, T. A Parte do Cauim: etnografia Juruna. Rio de Janeiro: PPGAS / Museu
mmmNacional / UFRJ. 1995.
_______, T. O Dois e Seu Mltiplo: Reflexes sobre o Perspectivismo em uma
mmmCosmologia Tupi. MANA: Estudos de Antropologia Social. Rio de Janeiro: vol.
mmm2, n. 2, p. 21- 48. 1996
LIZOT, J. O Crculo dos Fogos: feitos de ditos Yanomami. So Paulo: Martins
mmmFontes. 1988.
LORENZ, S. Satr-Maw: os filhos do guaran. So Paulo: Centro de Trabalho
mmmIndigenista. 1992.
LUCIO, C. Sobre algumas formas de classificao social. Etnografia sobre os
mmmKaritiana de Rondnia (Tupi-Arikn). Universidade Estadual de Campinas. mmm1996.
98
MAUSS, M.& HUBERT, H. Ensaio sobre a Natureza e a Funo do Sacrifcio (1899).
mmmIn: MAUSS, M. Ensaios de Sociologia. So Paulo: Perspectiva, p. 141-227. 1981.
MENGET, P. Temps de natre, temps d'tre: la couvade. In: P. SMITH La Fonction
mmmSymbolique. Paris, Gallimard: 245-64. 1979
_______, P. Notas sobre as cabeas Munduruku. In: VIVEIROS DE CASTRO, E.
mmmCARNEIRO DA CUNHA, M. Amaznia : etnologia e histria indgena. So
mmmPaulo: USP-NHII; Fapesp, p. 311-22.1993.
MTRAUX, A. Tribes of the Eastern Bolvia and the Madeira Headwaters.
Handbook mmmof South American Indians. Berkeley: University of California Press, vol.
3, p. mmm281-454. 1948.
MINDLIN, B. The Suru. In the Path of Polonoroeste: Endangered peoples of
mmmWestern Brazil, Cultural Survival Occasional Paper. 6: 53-54. 1981
_______, B. Os Suru da Rondnia: entre a floresta e a colheita. Revista de
mmmAntropologia, n.27-28: 203-11.1984-85
_______, B. Tuparis e Tarups : narrativas dos ndios Tuparis de Rondnia. So
mmmPaulo: Brasiliense ; Edusp ; Iam. 1993.
_______, B. Antologia de mitos dos povos Ajuru, Arara, Arikapu, Aru, Kanoe,
mmmJabuti e Makurap. So Paulo : Iam. 1995.
_______, B. Vozes da origem, estrias sem escrita : narrativas dos ndios Suru
mmmde Rondnia. So Paulo : tica/Iam. 1996.
_______, B. O Couro dos Espritos: namoro, pajs e cura entre os ndios Gavio-
Ikolen de Rondnia. So Paulo: Editora SENAC/Editora Terceiro Nome. 2001.
99
MONSERRAT, R. Lnguas Indgenas no Brasil Contemporneo. In: L. D.
mmmGrupioni. ndios no Brasil. Braslia, Ministrio da Educao e do Desporto: 93-
mmm104. 1994.
MOORE, D. The Gavio, Zor and Arara Indians. In the Path of Polonoroeste:
mmmEndangered peoples of Western Brazil, Cultural Survival Occasional Paper. 6:
mmm46-52. 1981.
_______, D. Syntax of the language of the Gavio Indians of Rondnia, Brazil.
mmmNew York, 1984.
MURPHY, R. Mundurucu Religion. Berkeley: University of California Press. 1958.
_______, R. Headhunter's Heritage. Berkeley: University of California Press. 1960.
_______, R., MURPHY, Y. Women of the Forest. New York: Columbia
mmmUniversity Press. 1974.
NADELSON, L. Pigs, women, and the men's house in Amazonia: an analysis of
mmmsix Munduruku myths. In: WHITEHEAD, Sexual Meanings. New York:
mmmCambridge University Press: 217-40. 1981.
NIMUENDAJ, C. As tribus dos Alto Madeira. Journal de la Socit des
mmmAmricanistes. Paris: vol. 17: 137-172. 1925.
_______, C. Tribes of the Lower and Middle Xingu River. Handbook of South
mmmAmerican Indians. Berkeley: University of California Press, vol. 3, p. 213-243.
mmm1948.
_______, C. The Maue and Aripium. Handbook of South American Indians.
mmmBerkeley: University of California Press, vol. 3, p. 245-254. 1948.
100
_______, C. Fragmentos de religio e tradio dos ndios Shipia. Religo mmme
mmmSociedade, Rio de Janeiro, vol 7: 11-47. 1981.
_______, C. Mapa etno-histrico de Curt Nimuendaj. Rio de Janeiro: IBGE. [1944]
mmm1981.
NOELLI, F. S. As hipteses sobre o centro de origem e rotas de expanso dos
mmmTupi. Revista de Antropologia, v. 39, n.2, p. 7-53.1996.
NUNES PEREIRA, N. Os ndios Maus. Rio de Janeiro, Edio da Organizao
mmmSimes, 1954.
OBERG, K. Indian Tribes of Northern Matto Grosso, Brazil. Washington,
mmmSmithsonian Institution. 1953.
OLIVEIRA, A. E. Os ndios Juruna e sua cultura nos dias atuais. Boletim do
mmmMuseu Paraense Emlio Goeldi - Antropologia, v.35. 1968
_______, A.E., GALVO, E. A cermica dos ndios Juruna (Rio Xingu). Boletim do
mmmMuseu Paraense Emlio Goeldi, Antropologia , v. 41, p. 1-19. 1969.
_______, A.E. Os ndios Juruna do Alto Xingu. So Paulo: Museu de
mmmArqueologia e Etnologia, USP. 1970a.
_______, A. E. Parentesco Juruna. Boletim do Museu Paraense Emlio mmmGoeldi
Antropologia, v. 45. 1970b.
OLIVEIRA CASTRO, A. Mito, Rito e a Questo da Afinidade na Amaznia:
mmmum exerccio de reanlise etnogrfica. Rio de Janeiro: PPGAS / Museu mmmNacional /
UFRJ. 1994.
PICHUVY CINTA LARGA. Mantere Ma Kw Tinhin: Histrias de Maloca
mmmAntigamente. Belo Horizonte: SEGRAC / CIMI. 1988.
101
RAMOS, A. R. Mundurucu: mudana social ou falso problema? Braslia: Fundao
mmmUniversidade de Braslia, srie Antropologia, n. 10, p. 1-22. 1974.
RIVIRE, P. Individual and Society in Guiana: a comparative study of mmmAmeridian
social organization. Cambridge: Cambridge University Press. 1984.
RODRIGUES, J. B. Tribu dos Munduruku: 1. trages. 2. cabea mumificada. 3. a festa
mmmda Pariuate-ran. Revista da Exposio Anthropologica Brasileira. 1882.
RODRIGUES, A. A classificao do tronco lingstico Tupi. So Paulo, Revista de
mmmAntropologia, v. 12, p. 99-104. 1964.
_______, A. Classificao da lngua dos Cinta-Larga. So Paulo: Revista de
mmmAntropologia, v. 14, p. 27-30. 1966.
_______, A. Relaes internas na famlia lingstica tupi-guarani. Revista de
mmmAntropologia, v. 27/28, p. 33-53. 1984-85.
_______, A. Lnguas brasileiras: para o conhecimento das lnguas mmmindgenas.
So Paulo: Edies Loyola. [1986] 1994.
ROMANO, J. ndios proletrios en Manaus: el caso de los Sater-Maw citadinos.
mmmUnB Braslia. 1981.
RONDON, C. ndios do Brasil. Rio de Janeiro: Conselho Nacional de Proteo aos
mmmndios, v. 1. 1946
SANTOS, R. Coping with change in native Amazonia: a bioanthropological study
mmmof the Gavio, Suru, and Zor, Tupi-Monde speaking societies from Brazil.
mmmIndiana: Indiana University. 1991.
_______, COIMBRA JNIOR, C. E. A. Contato, mudanas socioeconmicas e a
mmmbioantropologia dos Tup-Mond da Amaznia brasileira. In: SANTOS, Ricardo
102
mmmVentura; COIMBRA JNIOR, Carlos E. A., orgs. Sade e povos indgenas. Rio
mmmde Janeiro : Fiocruz, p. 189-211.1994.
SANTOS, F. J. Alm da Conquista: Guerras e rebelies indgena na Amaznia
mmmpombalina. Manaus: Governo do Estado do Amazonas / Secretaria de Estado da
mmmCultura e Turismo / Editora da Universidade do Amazonas. 1999.
SCHULTZ, H. Vocabulrios Uruku e Digut. Journal de la socit des
mmmAmericanistes de Paris, n. 44: 81-97. 1955.
SOUZA, S. M. Deformao craniana entre os ndios Karitiana: anlise de fotos de
mmmarquivo. Boletim do Museu Goeldi, Srie Antropologia, Belm: v. 10, n. 1, p.
mmm43-56, jul. 1994.
SNETHLAGE, E. A travessia entre o Xingu e o Tapajs. Boletim do Museu Goeldi,
mmmBelm: vol. 7, p. 49-99. 1910.
STEINEN, K. O Brasil Central. Expedio em 1984 para a explorao do rio
mmmXingu. So Paulo, Companhia Editora Nacional. 1942.
STORTO, L. & ARAJO, C. Terminologia de parentesco Karitiana e Juruna:
mmmuma comparao de algumas equaes entre categorias paralelas e geraes
mmmalternas. Mimeo. 2001.
_______, L. Aspects of a Karitiana Grammar. Massachusetts: Institute of
mmmTechnology. 1999.
_______, L. & P. Baldi. The Proto-Arikm Vowel Shift. In: Encontro anual mmmda
Linguistic Society of America. 1994
STRATHERN, M. The Gender of the Gift: problems with women and problems
mmmwith society in Melanesia. Berkeley: University of California Press. 1988.
103
TARDE, G. OEvres de Gabriel Tarde, volume I: Monadologie et sociologie. Le
mmmPlessis-Robinson: Institut Synthlabo. [1893] 1999.
TAYLOR, A.-C. L'art de la rduction. La guerre et les mcanismes de la mmmdiffrenciation
tribal dans la culture Jivaro. Journal de la Societ des mmmAmricanistes LXXI: 159-173.
1985.
_______, A.-C. Les bons ennemis et les mauvais parents: Le traitement mmmsymbolique de
l'alliance dans les rituels de chasse aux ttes des Jivaros de mmml'Equateur. In: F.
HRITIER-AUG. Les Complexits de L'Alliance, IV mmm(conomie, Politique et
Fondements Symboliques de L'Alliance). Paris, mmmArchives Contemporaines: 73-105.
1994.
TRESSMANN, I. Pangyjej Kue Sep : a nossa lngua escrita no papel. s.l. :
mmmComin/Neiro, 1994.
URBAN, G. On the geographical origins and dispersions of tupian languages.
mmmRevista de Antropologia, v. 39, n.2, p. 61-104. 1996.
VIVEIROS DE CASTRO, E. Arawet: os deuses canibais. Rio de Janeiro: Jorge
mmmZahar Ed. / ANPOCS. 1986.
_______, E. B. From the Enemy's Point of View: humanity and divinity in an
mmmAmazonian society. Chicago: The University of Chicago Press. 1992a.
_______, E. B. O mrmore e a murta: sobre a inconstncia da alma selvagem. Revista
mmmde Antropologia, v. 35, p. 21-74. 1992b.
_______, E. B. Alguns aspectos da afinidade no dravidianato amaznico. In: M.
MMMCARNEIRO DA CUNHA; E. VIVEIROS DE CASTRO. Amaznia: Etnologia mmm
e Histria Indgena. So Paulo, Ncleo de Histria Indgena e do Indigenismo mmm da
USP/FAPESP: 149-210. 1993.
104
_______, E. B., Antropologia do Parentesco: estudos amerndios. Rio de
mmmJaneiro: Editora da UFRJ. 1995
_______, E. B., Os pronomes cosmolgicos e o perspectivismo amerndio.
mmmMANA: Estudos de Antropologia Social, v. 2, n.2, p. 115-143.1996a.
_______, E. B. Le meurtrier et son double chez les Arawet: un exemple de fusion
mmmrituelle. In: M. CARTRY AND M. DETIENNE. Destins de meurtriers. Paris,
mmmcole Pratique des Hautes tudes: 77-104. 1996b.
_______, E. B. Comentrios ao artigo de Francisco Noelli. Revista de
mmmAntropologia, v. 39, n. 2, p. 55-60. 1996c.
_______, E. B. Atualizao e contra-efetuao do virtual na socialidade
mmmamaznica: o processo de parentesco. ILHA - revista de Antropologia, v. 2, n. 1,
mmmp. 6-46. 2000.
_______, E. B. A propriedade do conceito. ANPOCS, mimeo. 2001.
ZARUR, George de C. Leite. Parentesco, ritual e economia no Alto Xingu. Rio de
mmmJaneiro : UFRJ-Museu Nacional. 1972.
Você também pode gostar
- Mini Mental State ExaminationDocumento2 páginasMini Mental State ExaminationAna Catarina SimõesAinda não há avaliações
- Ae Eureka Ficha Trimestral 1Documento9 páginasAe Eureka Ficha Trimestral 1CláudiaRolo88% (8)
- Valongo: O Mercado de Almas da Praça CariocaNo EverandValongo: O Mercado de Almas da Praça CariocaAinda não há avaliações
- Aula Introdutória - MASKALIM PDFDocumento2 páginasAula Introdutória - MASKALIM PDFcarla mesquita100% (2)
- A Flecha Do Ciúme. O Parentesco e Seu Avesso Segundo Os AwetDocumento455 páginasA Flecha Do Ciúme. O Parentesco e Seu Avesso Segundo Os AwetBernard AlvesAinda não há avaliações
- Dissertaçao LARISSA BARCELLOSDocumento171 páginasDissertaçao LARISSA BARCELLOSjoaonitAinda não há avaliações
- 2009bruno Casseb PessotiDocumento283 páginas2009bruno Casseb PessotiJairo XavierAinda não há avaliações
- Famílias Plurais: Uniões Mistas e Mestiçagens na Comarca de Sabará (1720-1800)No EverandFamílias Plurais: Uniões Mistas e Mestiçagens na Comarca de Sabará (1720-1800)Ainda não há avaliações
- Aos Confins Dos SelvagensDocumento103 páginasAos Confins Dos SelvagenssoniapalmaAinda não há avaliações
- Dissertação Tempos de Revolta Versão DigitalDocumento272 páginasDissertação Tempos de Revolta Versão Digitalh9jrbs5r97Ainda não há avaliações
- DOUTORAdDocumento251 páginasDOUTORAdBiaAinda não há avaliações
- Dissertacao de Mestrado de Andre LopesDocumento258 páginasDissertacao de Mestrado de Andre LopesAMMAinda não há avaliações
- Ancestrais e Suas Sombras: Uma Etnografia Da Chefia Kalapalo e Seu Ritual MortuárioDocumento511 páginasAncestrais e Suas Sombras: Uma Etnografia Da Chefia Kalapalo e Seu Ritual Mortuáriojrguerreiro_84Ainda não há avaliações
- "... e Eles Viveram Felizes Até Seu Fim": Narrativas sobre a Morte na Literatura Infantil BrasileiraNo Everand"... e Eles Viveram Felizes Até Seu Fim": Narrativas sobre a Morte na Literatura Infantil BrasileiraAinda não há avaliações
- Traz a Cuia, Vem Beber Caxiri!: Ebriedades Indígenas na Amazônia e a Coerção em Tempos de Diretório (1754 – 1802)No EverandTraz a Cuia, Vem Beber Caxiri!: Ebriedades Indígenas na Amazônia e a Coerção em Tempos de Diretório (1754 – 1802)Ainda não há avaliações
- Questões de Adaptação Na Transposição Fílmica Japonesa de Assassinato No Expresso Do OrienteDocumento107 páginasQuestões de Adaptação Na Transposição Fílmica Japonesa de Assassinato No Expresso Do OrienteMorgana RebecaAinda não há avaliações
- 2015 AruaSilvaDeLima VOrigDocumento251 páginas2015 AruaSilvaDeLima VOrigJoão Vitor Santos OliveiraAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO para Depósito Exemplar DefinitivoDocumento243 páginasDISSERTAÇÃO para Depósito Exemplar DefinitivoOtávio JúniorAinda não há avaliações
- Arquivo3358 1Documento159 páginasArquivo3358 1Carlos CopiobaAinda não há avaliações
- Sobre Mulheres Brabas, Parentes Inconstantes e A Vida Entre OutrosDocumento338 páginasSobre Mulheres Brabas, Parentes Inconstantes e A Vida Entre OutrosCandyhoneyAinda não há avaliações
- Capitães e Mateus - Brusantin Beatriz de Miranda DDocumento511 páginasCapitães e Mateus - Brusantin Beatriz de Miranda DAlan MonteiroAinda não há avaliações
- Yano - A Fisiologia Do PensarDocumento145 páginasYano - A Fisiologia Do PensarMarina PadilhaAinda não há avaliações
- BONATO, Tiago. Articulando Escalas: Cartografia e Conhecimento Geográfico Da Bacia Platina (1515-1628)Documento354 páginasBONATO, Tiago. Articulando Escalas: Cartografia e Conhecimento Geográfico Da Bacia Platina (1515-1628)Tiago BonatoAinda não há avaliações
- Banto - Reafricanização Do Candomblé Da Nação de AngolaDocumento130 páginasBanto - Reafricanização Do Candomblé Da Nação de AngolaJulio Guimarães100% (3)
- A Eugenia No Humor Da Revista Ilustrada PDFDocumento316 páginasA Eugenia No Humor Da Revista Ilustrada PDFMarcelo Almeida100% (1)
- 23 Tecendo-MemoriaDocumento176 páginas23 Tecendo-MemoriaSimone RosaAinda não há avaliações
- Constituição da(s) identidade(s) profissional(is) de jovens universitários(as) pedagogos(as): fatores impeditivos e facilitadores de autoriaNo EverandConstituição da(s) identidade(s) profissional(is) de jovens universitários(as) pedagogos(as): fatores impeditivos e facilitadores de autoriaAinda não há avaliações
- Tese Rafaela Andrade Deiab PDFDocumento296 páginasTese Rafaela Andrade Deiab PDFSarahDume100% (1)
- Conflitos e Negociações No Campo Durante o Primeiro Governo de Miguel Arraes em PernambucoDocumento241 páginasConflitos e Negociações No Campo Durante o Primeiro Governo de Miguel Arraes em PernambucoGRACIELE MARIA COELHO DE ANDRADE GOMESAinda não há avaliações
- Crime e Escravidão Na Comarca de Castro (1853-1888) PDFDocumento163 páginasCrime e Escravidão Na Comarca de Castro (1853-1888) PDFJohnny DanielAinda não há avaliações
- Zooarqueologia e o Estudo Dos Grupos Con PDFDocumento245 páginasZooarqueologia e o Estudo Dos Grupos Con PDFgtametalAinda não há avaliações
- FARAGE, N. - As Flores Da Fala (Parte I)Documento144 páginasFARAGE, N. - As Flores Da Fala (Parte I)Graziele Dainese100% (1)
- Em tudo semelhante, em nada parecido: Uma análise comparativa dos planos urbanos das missões jesuíticas de Mojos, Chiquitos, Guarani e Maynas (1607 – 1767)No EverandEm tudo semelhante, em nada parecido: Uma análise comparativa dos planos urbanos das missões jesuíticas de Mojos, Chiquitos, Guarani e Maynas (1607 – 1767)Ainda não há avaliações
- O Feitico Da Preta Velha Tem Re ExistencDocumento213 páginasO Feitico Da Preta Velha Tem Re ExistencNatanael AccioliAinda não há avaliações
- NASCIMENTO - Jogo Nas Sombras, Vozes Misturadas ANGOLA PDFDocumento326 páginasNASCIMENTO - Jogo Nas Sombras, Vozes Misturadas ANGOLA PDFMarçal De Menezes ParedesAinda não há avaliações
- T - Andreazza, Maria Luiza PDFDocumento412 páginasT - Andreazza, Maria Luiza PDFAnderson Ricardo Ferreira de AndradeAinda não há avaliações
- Dissertação - Raul ContrerasDocumento281 páginasDissertação - Raul ContrerasDiego MarquesAinda não há avaliações
- Marcos ASQDocumento268 páginasMarcos ASQpaulAinda não há avaliações
- A Ditadura nos Trilhos: O Cotidiano dos Ferroviários entre a Repressão e Consenso (1964-1974)No EverandA Ditadura nos Trilhos: O Cotidiano dos Ferroviários entre a Repressão e Consenso (1964-1974)Ainda não há avaliações
- Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer !: A Seção Brasileira Do Partido Nazista e A Questão NacionalDocumento273 páginasEin Volk, Ein Reich, Ein Führer !: A Seção Brasileira Do Partido Nazista e A Questão NacionalvitorhugofariasmacielAinda não há avaliações
- Negro Porém RepublicanoDocumento131 páginasNegro Porém Republicanonannasantos1973Ainda não há avaliações
- NogueiraNadia Flores RarasDocumento315 páginasNogueiraNadia Flores Rarasalfonsopc100% (1)
- Tese PDFDocumento210 páginasTese PDFEstelamaris DezordiAinda não há avaliações
- Entre crianças, personagens e monstros: Uma etnografia de brincadeiras infantisNo EverandEntre crianças, personagens e monstros: Uma etnografia de brincadeiras infantisAinda não há avaliações
- COSTA, C. A Influência Do Colégio Dos Jesuítas Na ConfiguraçãoDocumento169 páginasCOSTA, C. A Influência Do Colégio Dos Jesuítas Na ConfiguraçãoJoseli GonçalvesAinda não há avaliações
- Hedonismo Competente - Antropologia de Urbanos AfetosDocumento560 páginasHedonismo Competente - Antropologia de Urbanos AfetosMatheus AlmeidaAinda não há avaliações
- Dissertação PossidonioDocumento183 páginasDissertação PossidonioLídia RafaelaAinda não há avaliações
- Eduardo Guilherme PiacsekDocumento208 páginasEduardo Guilherme PiacsekLetícia RibeiroAinda não há avaliações
- 2015 MariaTherezaDavidJoao VOrigDocumento282 páginas2015 MariaTherezaDavidJoao VOrigRodrigo RainhaAinda não há avaliações
- 2013 WashingtonSantosNascimento VCorr PDFDocumento235 páginas2013 WashingtonSantosNascimento VCorr PDFMarcelino CurimenhaAinda não há avaliações
- No Rendilhado do Cotidiano:: A Família dos Libertos e seus Descendentes em Minas Gerais (C. 1770 – C. 1850)No EverandNo Rendilhado do Cotidiano:: A Família dos Libertos e seus Descendentes em Minas Gerais (C. 1770 – C. 1850)Ainda não há avaliações
- Do Poder Do Sangue e Da Chicha - Os Wajuru Do Guapore (Rondonia)Documento220 páginasDo Poder Do Sangue e Da Chicha - Os Wajuru Do Guapore (Rondonia)Joäo Santos AiyetoroAinda não há avaliações
- A História do Monge João Maria e de Ritta, a MudinhaNo EverandA História do Monge João Maria e de Ritta, a MudinhaAinda não há avaliações
- TESE LUIZ BLUME - "Viver de Tudo Que Tem Na Maré" Ilhéus BA 1960-2008Documento202 páginasTESE LUIZ BLUME - "Viver de Tudo Que Tem Na Maré" Ilhéus BA 1960-2008Luiz Henrique BlumeAinda não há avaliações
- Kety Carla MarchDocumento306 páginasKety Carla MarchValdemirAinda não há avaliações
- Garimpando pistas para desmontar racismos e potencializar movimentos instituintes na escolaNo EverandGarimpando pistas para desmontar racismos e potencializar movimentos instituintes na escolaAinda não há avaliações
- Frederico FernandesDocumento230 páginasFrederico FernandesGUlherme ReszendeAinda não há avaliações
- A Vida e Um Jogo para Quem Tem Ancas UmDocumento208 páginasA Vida e Um Jogo para Quem Tem Ancas UmNila Michele Bastos SantosAinda não há avaliações
- Histórias e Práticas Culturais do Poeta José Costa LeiteNo EverandHistórias e Práticas Culturais do Poeta José Costa LeiteAinda não há avaliações
- (M) - BARBOSA, Renata Bezerra de Freitas - 2015 - Ser Artífifice Na América Portuguesa - Trabalho e Organização Laboral No Recife Setencentista (O Caso Da Irmandade de São José)Documento301 páginas(M) - BARBOSA, Renata Bezerra de Freitas - 2015 - Ser Artífifice Na América Portuguesa - Trabalho e Organização Laboral No Recife Setencentista (O Caso Da Irmandade de São José)pedrofsetteAinda não há avaliações
- Aninhá Vaguretê: Corpo e Simbologia no Ritual do Torém dos Índios TremembéNo EverandAninhá Vaguretê: Corpo e Simbologia no Ritual do Torém dos Índios TremembéAinda não há avaliações
- Traçado de Uma História - Ebook PDFDocumento338 páginasTraçado de Uma História - Ebook PDFJuan Pablo MartínAinda não há avaliações
- Ervas e Curas em NazaréDocumento142 páginasErvas e Curas em NazaréBrena Barros0% (1)
- Elisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFDocumento15 páginasElisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFBrena BarrosAinda não há avaliações
- Elisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFDocumento15 páginasElisângela Ferreira - Interfaces Entre Juventude e Gênero PDFBrena BarrosAinda não há avaliações
- A Expulsão de Ribeirinhos de Belo Monte - Manuela Da Cunha e Sônia MagalhãesDocumento449 páginasA Expulsão de Ribeirinhos de Belo Monte - Manuela Da Cunha e Sônia MagalhãesBrena BarrosAinda não há avaliações
- Revista de Arqueologia PúblicaDocumento257 páginasRevista de Arqueologia PúblicaBrena BarrosAinda não há avaliações
- A Metodologia Dialética em Sala de Aula - FilosofiaDocumento4 páginasA Metodologia Dialética em Sala de Aula - Filosofiaveracastel4637Ainda não há avaliações
- Criar Ou Alterar Uma Barra de Ferramentas em AutoCADDocumento2 páginasCriar Ou Alterar Uma Barra de Ferramentas em AutoCADConstantini EngenhariaAinda não há avaliações
- Ajoelhados Diante Da VerdadeDocumento16 páginasAjoelhados Diante Da VerdadeMatheusOmena1213Ainda não há avaliações
- Java (Linguagem de Programação) PDFDocumento8 páginasJava (Linguagem de Programação) PDFRafael AraujoAinda não há avaliações
- Ser Estoico - Eterno Aprendiz - Ward Farnsworth - PDF Versão 1Documento478 páginasSer Estoico - Eterno Aprendiz - Ward Farnsworth - PDF Versão 1Yan Pereira100% (4)
- Conjuntos Numéricos - Atividade InterativaDocumento6 páginasConjuntos Numéricos - Atividade InterativaJuliete MadalenaAinda não há avaliações
- O Avivamento No Novo TestamentoDocumento3 páginasO Avivamento No Novo TestamentoPedro HenriqueAinda não há avaliações
- Análise Do Discurso - Discurso PolíticoDocumento3 páginasAnálise Do Discurso - Discurso PolíticoEloana CarlaAinda não há avaliações
- O VELHO DO RESTELODocumento5 páginasO VELHO DO RESTELOsusanavbbAinda não há avaliações
- Alinhamento 2 Ano - InglêsDocumento7 páginasAlinhamento 2 Ano - InglêsMitchellFelixAinda não há avaliações
- Reformador Maio/2004 (Revista Espírita)Documento41 páginasReformador Maio/2004 (Revista Espírita)marismfAinda não há avaliações
- 65 Sete Coisas Que Voce Precisa Saber para Entender A Profecia Dos Tempos Finais Parte 1Documento6 páginas65 Sete Coisas Que Voce Precisa Saber para Entender A Profecia Dos Tempos Finais Parte 1Renato FonsecaAinda não há avaliações
- Livro de Canto Quaresma e Tríduo PascalDocumento50 páginasLivro de Canto Quaresma e Tríduo PascalJacob MoraesAinda não há avaliações
- Manual Do TCC 2Documento27 páginasManual Do TCC 2Pétis PétisAinda não há avaliações
- Síntese Bernardo SoaresDocumento9 páginasSíntese Bernardo SoaresMatilde CunhaAinda não há avaliações
- MD 8º Ano 1 BimDocumento14 páginasMD 8º Ano 1 BimANA PAULA NAGATA DO VAUAinda não há avaliações
- Preconceito LinguisticoDocumento3 páginasPreconceito Linguisticoadauto simõesAinda não há avaliações
- Theilin - SalmosDocumento12 páginasTheilin - SalmosGustavo MarquesAinda não há avaliações
- Processo RaízesDocumento53 páginasProcesso RaízesSamuel Alves SilvaAinda não há avaliações
- B70a0 Pericia Grafotecnica Aula 1Documento4 páginasB70a0 Pericia Grafotecnica Aula 1Paula Sousa SousaAinda não há avaliações
- Cartilha Do Médium Umbandista - Noberto PeixotoDocumento103 páginasCartilha Do Médium Umbandista - Noberto PeixotoDaniela Bernardes100% (2)
- Apontamentos Decima Primeira Actualizado 2022Documento56 páginasApontamentos Decima Primeira Actualizado 2022TemboAinda não há avaliações
- 16 - Scanner de VulnerabilidadeDocumento18 páginas16 - Scanner de VulnerabilidadeFabiano AnjosAinda não há avaliações
- AdorareiDocumento3 páginasAdorareiKaren OliveiraAinda não há avaliações
- A Formula de Magia Salomonica e Muito SiDocumento2 páginasA Formula de Magia Salomonica e Muito SiCaio AndradeAinda não há avaliações
- CartazesDocumento38 páginasCartazesVivi MenezesAinda não há avaliações
- Levy Da Costa Bastos Fervorosa Inteligência Introdução A Teologia WesleyanaDocumento44 páginasLevy Da Costa Bastos Fervorosa Inteligência Introdução A Teologia WesleyanaRobert CaetanoAinda não há avaliações