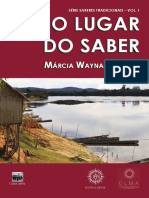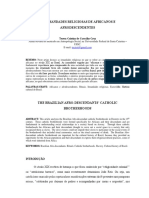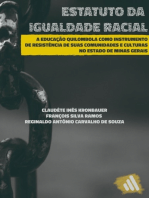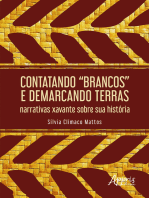Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Barth Fredrik
Barth Fredrik
Enviado por
Regina EggerDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Barth Fredrik
Barth Fredrik
Enviado por
Regina EggerDireitos autorais:
Formatos disponíveis
MANA 7(1):165-190, 2001
RESENHAS
AGIER, Michel. 2000. Anthropologie du
Carnaval: La Ville, la Fte et l'Afrique
Bahia. Marseille/Paris: Parntheses
Eds. 253 pp.
Hermano Vianna
Doutor, PPGAS-MN-UFRJ
Para quem abre pela primeira vez este livro, o ttulo Anthropologie du Carnaval pode parecer enganoso. Mesmo o
subttulo La Ville, la Fte et lAfrique
Bahia sugere uma abordagem muito
mais abrangente do que aquela que se
apresenta de imediato ao leitor. Aparentemente, no estamos diante de um
tratado geral sobre rituais carnavalescos, como a capa indica, mas sim de
uma cuidadosa e densa etnografia sobre as atividades de um nico grupo
carnavalesco soteropolitano, o Il Aiy.
Porm, quem chega ao final da leitura
compreende a pertinncia do ttulo. Na
verdade, o livro uma importante lio
de como, do detalhe etnogrfico de fenmenos muito particulares das sociedades complexas contemporneas, podemos chegar teoria mais abstrata,
iluminando no caminho questes centrais para o trabalho de qualquer antroplogo. Em Anthropologie du Carnaval,
teoria e empiria e tambm minudncia e generalidade combinam-se
de maneira elegante e enriquecedora.
Todos os aspectos principais da organizao do Il Aiy so detalhados
em diferentes captulos. O captulo 3 comea com uma descrio da Liberdade
(o bairro onde surgiu esse grupo carnavalesco), em seguida apresenta os fundadores do bloco e termina narrando
seu primeiro desfile de carnaval. No captulo 4, encontramos a histria do Il
Aiy dividida em trs perodos, nos
quais o bloco passa a se definir e ser
definido primeiro como movimento
cultural e depois como empresa. O captulo 5 dedicado a uma anlise das
posies sociais dos membros do Il
Aiy, sobretudo a partir de suas trajetrias profissionais e relaes de parentesco. O calendrio anual de festas, a
mitologia inventada pelo grupo e o
desfile de carnaval propriamente dito
so estudados no captulo 6; seu estilo
musical e potico no captulo 7 e, finalmente, sua insero poltica nos movimentos negros baiano e brasileiro no
captulo 8. O restante do livro formado por dois captulos introdutrios, uma
concluso e um posfcio terico.
Fiz questo de enumerar todos esses assuntos para dar uma idia do grau
de comprometimento do autor com o
pormenor etnogrfico, do peso que os
fatos tm na organizao do livro. Nada escapa ao seu olhar: o padro grfico das vestimentas dos folies; o nmero de tocadores de cuca entre os percussionistas; as relaes de gnero atualizadas no desfile e nos ensaios; a conexo com o candombl; a economia e os
conflitos administrativos do bloco; a
166
RESENHAS
personalidade dos membros da diretoria. O resultado uma das mais completas descries do intricado conjunto de
mecanismos que produz o carnaval brasileiro a partir do ponto de vista e das
atividades de um nico grupo. A profuso de detalhes pouco a pouco vai se
justificando em teses ousadas que modificam nossa compreenso da festa e
questionam o alcance das teorias do
carnaval mais conhecidas.
Para Michel Agier, o carnaval
uma instituio-chave para falar da
sociedade e seu conjunto (:7), produzindo o duplo da cidade que o abriga, e instaurando nela uma fbrica de
identidades. Muitos estudiosos da folia carnavalesca j escreveram coisas
parecidas, mas com intuitos diferentes.
O carnaval tambm seria um duplo liminar que inverteria ou reforaria a ordem da vida ordinria, da vida no
carnavalesca. Michel Agier prope uma
maneira mais complexa de pensar essa
duplicidade da folia, em que a festa
no tem o mesmo significado (seja inverso ou reafirmao) para todos os
grupos e indivduos que dela participam, nem o conjunto da sociedade
visto como um todo homogneo organizado em torno de uma nica ordem
que pode ser invertida ou reforada em apenas um sentido.
Na histria do carnaval de Salvador, o aparecimento do Il Aiy, em meados dos anos 70, foi um fenmeno decisivo. quase possvel pensar a folia
em dois tempos: antes e depois do Il
Aiy. Michel Agier denomina o processo, do qual o Il Aiy elemento central, de reafricanizao da folia baiana. Realmente: foi para designar o tipo
de grupo carnavalesco criado pelo Il
Aiy que se criou a expresso bloco
afro. Muitos blocos afros surgiram em
outros bairros, seguindo o exemplo da
Liberdade, buscando tambm temati-
zar e cultuar a herana africana e o
orgulho negro. Alguns deles se tornaram conhecidos nacionalmente, como o Olodum ou o Ara Ketu (um bloco
com trajetria muito peculiar sendo
conhecido hoje mais como um grupo de
pagode e pouco presente neste livro).
Uma das caractersticas mais polmicas do Il Aiy a de permitir apenas a participao de negros em seus
desfiles. Sua definio de quem negro
e quem no no tem a ver com a regra do one-drop-of-blood popular nos
Estados Unidos e que adotada por alguns setores do movimento negro brasileiro para se livrar das tendncias
conformistas do elogio da mestiagem. Ouvi vrias histrias de mulatos
escuros a quem foram negados seus pedidos de ingresso no bloco. Nunca consegui entender a lgica dessas negativas, j que via gente de pele mais clara
desfilando. Esta Anthropologie du Carnaval vem esclarecer vrios pontos da
minha questo: no basta ser bem
negro para fazer parte do Il Aiy,
preciso ter outros vnculos com seu
universo relacional e afetivo denso
(:109), sempre dirigido a um segmento
social especfico entre os negros de Salvador, aquele que possui uma real insero socioprofissional nos diferentes
setores do trabalho urbano (:188) e
que quer se elevar socialmente (:197).
Em resumo: A distncia tnica, de aparncia atemporal, , nesse caso, uma
forma de distino social. (:193)
Michel Agier faz outra observao
interessante, que deve causar surpresa
para aqueles que pensam que o carnaval um ritual homogneo usado por
todos os folies para atingir os mesmos
objetivos ou que, pelo menos, o carnaval dos blocos afro de Salvador seja
um ritual homogneo usado por todos
os folies soteropolitanos, negros e pobres para atingir os mesmos objetivos.
RESENHAS
A partir de entrevistas e da aplicao de
um questionrio, descobriu que a maioria dos componentes do Il Aiy nunca
desfilaria no Olodum, por exemplo, e isto no por uma rivalidade competitiva
entre blocos afro, e sim por causa de
uma diferena social: os negros que
desfilam no Olodum pertencem a um
outro segmento social; o Olodum criticado pelo pessoal do Il Aiy como um
bloco afro descaracterizado, comercial
e no to africano e negro como deveria ser ou como o Il Aiy .
Portanto, a definio de quem negro o suficiente para entrar para o Il
Aiy deve ser vista mais como uma
modalidade de posicionamento social do que como um retorno etnia
(:197), sendo melhor compreendida como uma retrica identitria atual e
no como o resgate do passado, ou como a conservao da memria africana. Em outras palavras: o africanismo
no depende de uma ligao direta com
a frica, ele se transformou num instrumento de posicionamento social moderno. (:197) Nesse sentido, o tradicionalismo do Il Aiy , na verdade, um
neotradicionalismo urbano (:141), a
inveno de uma nova tradio, de uma
nova identidade para um grupo contemporneo, que s poderia existir em
uma cidade contempornea, que talvez
at j tivesse existncia como grupo,
mas que no tinha autoconscincia dessa existncia, e a criao dessa autoconscincia vai acontecer no carnaval.
Nesse sentido, tambm, que o carnaval pode ser pensado como fbrica
de identidades, territrio que tem uma
capacidade suplementar de criar identidade (:87), de exibir um excesso ou
abundncia de identidade (:53). Ento, a folia no abole as fronteiras que
ordenam a vida ordinria da cidade ou
da sociedade, mas ela tambm no fortifica os limites grupais j existentes.
Seu trabalho mais ambguo; como
um espelho que distorce a ordem preexistente, deslocando fronteiras, destruindo alguns limites e inventando
outros. um travestissement da realidade, que a deforma, manifestando as
tenses e ao mesmo tempo permitindo
transformaes, que, por sua vez, tero
conseqncias muitas vezes profundas na vida no carnavalesca, que sero reprocessadas novamente pela mquina identitria do carnaval e assim
por diante.
Toda essa produo carnavalesca
esfuziante faz Michel Agier nos lembrar do paradoxo atual (:226) revelado por um nmero cada vez maior de
trabalhos de campo, realizados entre
todos os tipos de culturas, em todo o
planeta: ao mesmo tempo que os antroplogos desconstroem as noes de
identidade, revelando seu processo de
inveno e seu carter fluido/no essencialista, as sociedades as reconstroem e a elas se apegam com maior vigor e criatividade. Pode ser conveniente que seja assim, e assim continue por muito tempo. Ao contrrio do
que pensavam os pais de nossa disciplina, seu objeto no est desaparecendo. Temos cada vez mais diferenas e tradicionalismos para saciar nossa sede de conhecimento. Mas lano
uma razo mais pragmtica para me
alegrar com tal paradoxo: se todo mundo fosse antroplogo antiessencialista
e anticulturalista, bem capaz que no
existisse mais carnaval.
167
168
RESENHAS
BARTH, Fredrik. 2000. O Guru, o Iniciador e Outras Variaes Antropolgicas (organizao de Tomke Lask).
Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria.
243 pp.
Eliane Cantarino ODwyer
Professora, UFF
A publicao de uma coletnea de textos do antroplogo Fredrik Barth no Brasil vem brindar-nos com uma obra instigante, crtica dos dogmas e pressupostos tericos da disciplina, que abre
novos horizontes para a prtica da pesquisa antropolgica em outros universos sociais e culturais reconhecidamente complexos, diferenciados e sincrticos como o nosso. Autor de uma produo internacionalmente consagrada,
Barth tem sido lido e divulgado no Brasil, basicamente, atravs da Introduo ao livro Grupos tnicos e suas
Fronteiras, contribuio inestimvel aos
pesquisadores que trabalham com sociedades indgenas e outros grupos tnicos e minorias. Principalmente, nos
casos em que a fraca diferenciao cultural desses grupos, imersos em uma
estrutura de interao com outros subgrupos de fortes marcadores regionais
(como no Nordeste), desqualifica, do
ponto de vista do observador externo,
as identidades tnicas assumidas como
indgenas ou comunidades de afro-descendentes que reivindicam do Estado
brasileiro, na atualidade, o reconhecimento do territrio que ocupam e de
um status tnico distinto, de acordo
com determinados preceitos constitucionais. Desse modo, a problemtica da
definio de um grupo tnico, de acordo com as reflexes de Barth, tem sido
largamente empregada pelos antroplogos que esto envolvidos com a elaborao de laudos periciais nesse con-
texto de aplicao dos direitos constitucionais.
A edio em portugus dessa coletnea permite, igualmente, sua divulgao para um pblico mais amplo, de
estudantes e de especialistas que atuam em outras reas do saber em suas
interfaces com a antropologia, como o
campo disciplinar do direito. Para os
antroplogos profissionais, o ttulo do livro faz jus a seu autor, mesmo que guru
e iniciador tenham sido termos originalmente empregados por Barth no contexto de uma reflexo comparativa entre duas grandes regies etnogrficas, o
Sudeste da sia e a Melansia, sobre as
noes de uma sociologia do conhecimento que ajudam a esclarecer o modo
pelo qual as idias so moldadas pelo
meio social em que se desenvolvem
(:143). As categorias nativas de guru e
iniciador so usadas, respectivamente,
para indicar formas distintas de compartilhar idias e tradies de conhecimento, atravs da falao ou do ocultamento, e podem ser pensadas como
equivalentes ao papel assumido por
Barth no campo do saber antropolgico de enfrentar novos desafios tericos (:207) e participar do debate a partir do material etnogrfico coligido nas
suas pesquisas em diferentes regies,
como a sia, Oceania e parte da frica, que serviram igualmente de ancoragem s teorias e aos grandes temas da
disciplina.
Nos estudos sobre grupos tnicos no
Brasil, inclusive nas condies de produo do laudo antropolgico, privilegiar o trabalho de campo tem permitido
romper, a partir da investigao dos fatos empricos, ao se levar em conta os
argumentos e conceitos comuns propostos por Barth, com a premissa do
raciocnio antropolgico de que a variao cultural descontnua (:25). possvel, igualmente, abandonar a viso
RESENHAS
simplista de que os isolamentos social e
geogrfico foram os fatores cruciais para a manuteno da diversidade cultural (:26). Na concepo do autor no se
deve considerar como caracterstica
primria dos grupos tnicos seu aspecto
de unidades portadoras de cultura
(:29). Para Barth, ao se enfocar aquilo
que socialmente efetivo, os grupos tnicos passam a ser vistos como uma forma de organizao social (:31). Nesse
caso, a caracterstica crtica na definio desses grupos passa a ser a atribuio de uma identidade ou categoria tnica (:32) determinada por uma
origem comum presumida e destinos
compartilhados.
A organizadora da coletnea, Tomke Lask, na apresentao do livro (:723), faz referncia s tomadas de posio de Barth, ao seu empenho pessoal
em promover o papel do antroplogo
na vida pblica (:15). Sugere ainda
que isso se aplicaria ao papel que os antroplogos no Brasil tm assumido em
relao ao reconhecimento dos direitos
indgenas como grupos tnicos diferenciados. Pode-se considerar igualmente
ilustrativo, no contexto desta resenha,
pensar as implicaes tericas e metodolgicas do pensamento de Barth
quando aplicado ao reconhecimento dos
direitos constitucionais de outra minoria tnica, os chamados remanescentes de quilombos, termo de origem jurdica que a princpio parece mais afeito
s definies historiogrficas e comprovaes arqueolgicas. Afinal, at recentemente, o termo quilombo era de uso
quase restrito a historiadores e demais
especialistas que, atravs de documentao disponvel ou indita, procuravam construir novas abordagens e interpretaes sobre o nosso passado como nao. A partir da Constituio de
1988, quilombo adquire uma significao atualizada, ao conferir direitos cons-
titucionais aos remanescentes de quilombos que, segundo o texto constitucional, estejam ocupando suas terras.
Como no se trata de uma expresso
verbal que denomine indivduos, grupos ou populaes no contexto atual,
seu emprego na Constituio levanta
uma questo de fundo: quem so os chamados remanescentes de quilombos
que tm seus direitos atribudos pelo
dispositivo legal?
Pode parecer paradoxal que os antroplogos, justamente eles que marcaram suas distncias e rupturas com a
historiografia ao definirem seu campo
de estudos por um corte sincrnico no
presente etnogrfico, tenham sido colocados no epicentro dos debates sobre
a conceituao de quilombo e a identificao daqueles qualificados como remanescentes de quilombos para fins de
aplicao do preceito constitucional.
Acontece, porm, que o texto constitucional no evoca apenas uma identidade histrica que pode ser assumida e
acionada na forma da lei. preciso, sobretudo, que esses sujeitos histricos
presumveis existam no presente. O fato
de o pressuposto legal estar referido a
um conjunto possvel de indivduos ou
atores sociais organizados segundo sua
situao atual, permite conceitu-los,
segundo a teoria antropolgica mais recente, como grupos tnicos que existem
ou persistem ao longo da histria como
um tipo organizacional, atravs de
processos de excluso e incluso que
permitem definir os limites entre os considerados de dentro e os de fora.
A persistncia dos limites entre os
grupos deixa de ser colocada por Barth
em termos dos contedos culturais que
encerram e definem suas diferenas.
No captulo Grupos tnicos e suas
Fronteiras (:25-67), o problema da contrastividade cultural passa a no depender mais de um observador externo, que
169
170
RESENHAS
contabilize as diferenas ditas objetivas, mas unicamente dos sinais diacrticos, isto , as diferenas que os prprios atores consideram como significativas. Embora as diferenas possam
mudar, permanece a dicotomia entre
eles e ns, marcada pelos seus critrios de pertencimento. Barth enfatiza
que grupos tnicos so categorias atributivas e identificadoras empregadas
pelos prprios atores; conseqentemente, tm como caracterstica organizar as
interaes entre as pessoas (:27).
A centralidade dos conceitos de grupo tnico e de etnicidade na leitura da
obra de Barth, no esgota a novidade
de suas contribuies, que possibilitam
desnaturalizar o mundo social, mas tambm os instrumentos do fazer antropolgico. o que ocorre com as concepes antropolgicas convencionais de
cultura. No captulo inicial do livro, vemos que os pressupostos implcitos no
uso desse conceito so transgredidos na
relao de no-correspondncia estabelecida por Barth entre os limites sociais das unidades tnicas e o compartilhamento de uma cultura comum, que
deixa de ser considerada uma caracterstica primria e definitiva na organizao de um grupo. A necessidade para a antropologia de remodelar suas
afirmaes explicitamente colocada
no captulo A Anlise da Cultura nas
Sociedades Complexas (:107-139). Os
pressupostos do holismo e da integrao (:105) da maioria dos conceitos antropolgicos, como sociedade e cultura,
so questionados. O uso equivocado do
termo cultura deve ser testado na anlise da vida real tal como ela ocorre em
determinado lugar do mundo (:108). A
ilha de Bali passa a ser o local escolhido
para refletir sobre a prxis antropolgica. A diversidade de atividades, assim como a mistura do novo com o velho em um cenrio cultural sincrtico,
permite questionar a linguagem do estruturalismo com sua nfase nas conexes e o pressuposto de uma coerncia
lgica generalizada. Para Barth, na medida em que as realidades das pessoas
so culturalmente construdas [], o
que os antroplogos chamam de cultura de fato torna-se fundamental para
entender a humanidade e os mundos
habitados pelos seres humanos (:111).
Mas, em vez de focar a anlise no interior de universos fechados e de culturas
distintivas, preciso explorar a variedade de fontes dos padres culturais,
que podem ser resultado de processos
sociais especficos. Em lugar de descartarmos as incoerncias observadas
nossa volta, devemos confrontar o que
problemtico e realizar a tradicional
tarefa naturalista da antropologia de
constituir uma cuidadosa e meticulosa
descrio de uma ampla gama de dados (:114). A viso da cultura como fluxo e correntes simultneas de tradies
culturais (:123) defendida por Barth,
no recoloca a questo das culturas
feitas de retalhos e remendos do difusionismo. O que importa nesse argumento so as interpretaes e os esquemas de significao que s podem ser
entendidos corretamente quando relacionados ao contexto, prxis e inteno comunicativa (:131).
Ao ziguezaguear entre as sees do
livro, sem obedecer ordem de sua exposio, seguimos outra possibilidade
de leitura, sugerida pela prpria reunio dos textos na coletnea, que no
pedem para ser compreendidos atravs de uma disposio linear do menos
ao mais inclusivo. Trata-se, ao contrrio,
de diferentes e variados planos de temas e questes que se entrecruzam na
interseo dos seus argumentos e reflexes crticas.
As possibilidades criativas e os usos
inovadores de Barth podem ainda rom-
RESENHAS
per fronteiras entre disciplinas e tradies de conhecimento. No posfcio
(:239-243), escrito pelo cientista poltico
Marco Martiniello, a questo da etnicidade como problema social a ser enfrentado na atualidade, ao reverter a
crena de que raa e etnicidade desapareceriam no contexto da modernizao e ps-colonialismo, convida os cientistas polticos a colocar a obra de
Barth na agenda de sua disciplina. Outras fronteiras internas antropologia,
que separam o conhecimento produzido de outras formas de saberes aplicados, tm sido rompidas atravs da problemtica proposta por Barth no Brasil, mediante a noo de uma antropologia da ao em que, diferentemente
da chamada antropologia aplicada,
menos comprometida com as populaes s quais se refere, o antroplogo
no perde sua base acadmica, como
portador de slida formao na disciplina, avaliado e reconhecido pelos seus
pares da comunidade cientfica.
Em entrevista publicada na coletnea (:201-228), Barth concorda que faamos uso de nossos insights para agir
no mundo e transform-lo (:218), mas
adverte que devemos deixar de enfatizar tanto a etnicidade, pois ela pode representar apenas um pequeno setor
da herana cultural de uma pessoa
(:217). Por outro lado, participamos de
outras comunidades de cultura que no
podem ser descritas como tnicas
(:217). Sobre a politizao desmedida
das identidades tnicas, Barth critica os
chamados empreendedores tnicos,
pois eles utilizam de maneira inadequada uma idia excessivamente unidimensional de cultura e de identidade
advogando-a para seus prprios fins
polticos (:219).
FAUSTO, Carlos. 2000. Os ndios antes
do Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar
Editor. 93 pp.
Francisco Noelli
Professor, Universidade Estadual de Maring
Este pequeno livro, voltado para a divulgao da arqueologia e etnologia
indgenas, apresenta com brilhantismo
e erudio as linhas gerais da ltima
grande sntese do campo, assim como
as perspectivas mais contemporneas
sobre os povos situados na Amrica do
Sul e no Brasil. Muito bem redigido, Os
ndios antes do Brasil no est centrado
na descrio, mas em modelos e problemticas, proporcionando a interessados
e iniciantes um resumo da espinha dorsal das teorias e debates que regeram
a heterognea comunidade americanista nas ltimas cinco dcadas. Carlos
Fausto parte do princpio de que Tudo
somado, possvel dizer que vivemos
em uma ilha de conhecimento rodeada
por um oceano de ignorncia. Sabemos
menos do que deveramos, mas felizmente ainda podemos saber mais. Para
avanar, cumpre fazer as perguntas
certas (:9).
O livro apresenta as perguntas
atualmente consideradas certas, contrapostas s perguntas erradas. Estas,
em parte, foram formuladas durante o
perodo colonial e elaboradas definitivamente no grandioso modelo de Julian
Steward no Handbook of South American Indians, a partir de 1946.
A obra de Fausto uma compacta
histria das idias americanistas, pois
disseca as estruturas tericas e expe as
principais questes em debate nas ltimas dcadas. Revelando como Steward
e seus discpulos formularam hipteses,
desenvolveram suas pesquisas e chegaram a determinadas concluses, Fausto
171
172
RESENHAS
mostra como aqueles que no seguiram
o determinismo ecolgico stewardiano
conseguiram, a partir de outras perguntas, abordagens e metodologias, question-lo e torn-lo obsoleto ou, pelo menos, expor suas fragilidades, contribuindo para barrar diversas simplificaes
reproduzidas na academia.
Dentre os temas enfocados por Fausto, destaca-se a crtica da tipologia evolucionista das populaes indgenas
desde uma viso continental. mostrado como Steward elaborou sua classificao de cima para baixo a partir do
modelo do imprio Inca, exemplo do
pice do desenvolvimento no continente, definindo as demais populaes
da Amrica do Sul pela carncia, levando caracterizao dos povos das
terras baixas pela negativa (:15). Dessa forma, segundo Fausto, restringiram-se os problemas a serem enfrentados pela arqueologia a duas perguntas
bsicas: ser que todos os povos das terras baixas, de fato, no tinham aquilo
que os incas tinham? E por que no tinham? (:15)
Baseado em pesquisas recentes, o
autor apresenta contrapontos s concepes de Steward no que se refere a
demografia, desenvolvimento da agricultura, subsistncia, explorao/manejo dos recursos naturais, criao da cultura material, tipos de sociedade e de
organizao poltica. Traa, assim, um
panorama sugestivo da variabilidade
dos povos indgenas, superando chaves em torno de sua falaciosa uniformidade sociopoltica, econmica, cultural e demogrfica.
Fausto revela como a relao entre
ambiente e nveis de desenvolvimento
cultural, to cara a Steward, foi tratada de modo superficial e apriorstico,
atravs dos simplificados conceitos
de rea marginal e rea de floresta
tropical, elaborados em funo de uma
suposta (mas no investigada naquele
momento) predominncia de solos pobres para a agricultura, bem como de
um imaginrio falacioso sobre a escassez de protenas longe dos cursos dgua.
Essas deficincias, tal como acreditaram erroneamente Steward e muitos
outros, especialmente Betty Meggers,
levariam as populaes a uma constante procura por comida em ambientes
pouco produtivos e no permitiriam o
desenvolvimento cultural, social e poltico, forando-as a permanecer nos estgios mais baixos da imaginada cadeia
evolutiva das populaes da Amrica
do Sul. Apesar de algumas noes centrais do determinismo ecolgico terem
sido testadas e criticadas por Robert
Carneiro menos de uma dcada aps o
lanamento do Handbook, em tese defendida em 1957, a influncia das idias
de Steward permaneceu forte no Brasil
at os anos 90. Mesmo com as novas
idias e fatos de Carneiro, a reviso
do determinismo ecolgico s ganhou
adeptos no final dos anos 60, com as publicaes nessa linha tornando-se visveis aps 1975.
Outro aspecto de Os ndios antes do
Brasil o debate sobre a expanso dos
povos tupi. Aqui cabe um comentrio,
pois Fausto faz uma discusso em contraponto a um estudo meu publicado
em 1996, na Revista de Antropologia,
intitulado As Hipteses sobre os Centros de Origem e as Rotas de Expanso
dos Tupi. Fausto segue parcialmente a
argumentao de Eduardo Viveiros de
Castro, apresentada em comentrio s
teses do meu artigo. O foco da discusso
a validade de certos aspectos da teoria da pina de Jos Brochado, baseada na hiptese de que parte das expanses tupi, especificamente as dos povos
falantes do tupinamb, teria colonizado
a costa brasileira rumo ao Sul, partindo
da foz do Amazonas. Fausto e Viveiros
RESENHAS
de Castro entendem, olhando para os
dados presentes, que, dada a falta de
informaes arqueolgicas entre a foz
do Amazonas e o Rio Grande do Norte,
bem como a existncia de dataes antigas no Rio de Janeiro, fica difcil crer
que tenha havido uma expanso do
Norte para o Sul (a no ser que recuemos muito a cronologia desse movimento) (:74). Fausto reconhece que isto est longe de ser resolvido (:74),
afirmando contudo que o centro de expanso pode ter sido a bacia do rio
Tiet (:74).
Concordo que a questo est longe de ser resolvida. Quanto sugesto
de Fausto, porm, h to poucos dados
sobre a bacia do Tiet quanto sobre a
regio entre a foz do Amazonas e o Rio
Grande do Norte (sendo que ele no
menciona os dados do interior do Piau,
Pernambuco, Alagoas...). Fausto defende a primeira hiptese sobre a expanso dos Tupi, sugerida por von Martius
na dcada de 1830 e reciclada vrias
vezes at a sua mais influente formulao por Alfred Mtraux (1928). Como
mostrei em 1996, estes venerveis pesquisadores no dispunham dos dados
arqueolgicos, lingsticos e etnolgicos obtidos a partir dos anos 60. Apesar
dessas novidades, muitos pesquisadores atuais, como Fausto, reproduziram
acriticamente a hiptese original e as
reciclagens feitas at Mtraux sem realizar uma sntese complexa e crtica que
integrasse todos os dados disponveis.
Enfim, posso repetir que houve poucas
pesquisas no Nordeste brasileiro, comparando-se com a situao no Sudeste
e Sul, resultando em um mapa arqueolgico desigual, forosamente distorcido, vulnervel confirmao de uma
expanso do Sul para o Norte. Repetirei, resumidamente, concluses minhas
e de outros pesquisadores j publicadas
que reforam a teoria da pina, ques-
tionando conclusivamente a hiptese
da origem dos Tupinamb na bacia do
Paran-Tiet: 1) o horizonte arqueolgico nos atuais estados de So Paulo,
Mato Grosso do Sul e Paran, bem como no Paraguai, no apresenta detalhes caractersticos da cermica tupinamb que so comuns, por outro lado,
no baixo Amazonas. Nessa rea meridional s existe, considerando povos tupi, evidncias histricas e arqueolgicas dos Guarani, Guarayo, Xet e Guayaki; 2) possvel e seguro estabelecer
a continuidade histrica entre o registro
arqueolgico e os povos historicamente
descritos como tupinamb na costa e interior, assim como no caso dos Guarani;
3) lingisticamente, o tupinamb distinto do guarani. A hiptese da origem
meridional ignora a relao da lngua
tupinamb com as lnguas faladas por
povos situados apenas na Amaznia,
assim como desconsidera a rea de origem do tronco tupi proposta e, at agora, no questionada.
A questo do sentido da rota dos Tupinamb ser respondida quando existirem novos dados arqueolgicos entre
a foz do Amazonas e o Piau. O desafio
realizar isto sem cair em explicaes
superadas, como aquelas do culturalismo germnico e do difusionismo aplicados aos povos indo-europeus. necessrio banir as concluses baseadas apenas na lgica ou na tradio estabelecida por Martius, pois elas apenas consideram deslocamentos no espao em
funo da posio historicamente determinada dos povos tupi.
Finalmente, h esperana de que
este livro de Carlos Fausto seja a semente de um atualizado e completo manual em lngua portuguesa sobre as populaes indgenas no Brasil, to necessrio para substituir os clssicos que j
cumpriram sua tarefa e agora merecem
ir para o rol dos livros teis pesquisa
173
174
RESENHAS
da histria da etnologia e da arqueologia americanista. Sem dvida, com a escrita desse outro livro, teremos uma obra
com os mais novos conhecimentos e, especialmente, a possibilidade de suscitar
mais e necessrios debates.
FELDMAN-BIANCO, Bela e CAPINHA,
Graa (orgs.). 2000. Identidades. Estudos de Cultura e Poder. So Paulo: Hucitec. 175 pp.
Giralda Seyferth
Professora, PPGAS-MN-UFRJ
Esta coletnea apresenta resultados de
pesquisas que focalizam populaes em
dispora, enfatizando as relaes entre
processos de globalizao e reconfiguraes de identidade. Alguns dos trabalhos que a compem foram originalmente apresentados na mesa-redonda
Globalizao, Estado e Embates de
Identidades I Conferncia Internacional sobre Identidade tnica e Relaes Raciais, realizada simultaneamente com a XX Reunio Brasileira de Antropologia (Salvador, abril de 1996). O
livro uma reedio, no Brasil, do volume temtico sobre identidades da Revista Crtica de Cincias Sociais (no 48,
junho de 1997) publicao do Centro
de Estudos Sociais da Faculdade de
Economia da Universidade de Coimbra
(Portugal). Contm uma introduo, intitulada Identidades, de Bela Feldman-Bianco, e cinco textos, resultantes
do dilogo entre pesquisadores do Brasil, de Portugal e dos Estados Unidos,
precedidos por um artigo de Boaventura de Sousa Santos dedicado ao tema
dos direitos humanos. Esses textos tm
em comum, conforme registrado na introduo, o desafio terico-metodolgico de examinar criticamente a produ-
o contempornea de polticas culturais e das identidades como poltica, no
contexto das (mltiplas) intersees entre processos de reestruturao do capitalismo global e reconfiguraes da
cultura e da poltica (:14). Apesar da
abrangncia sugerida nessa definio
de objetivos, os autores, valendo-se de
uma perspectiva comparativa, procuraram apreciar as tenses subjacentes aos
processos de formao e reconfigurao
de identidades (de raa, de classe, de
gnero etc.), especialmente no contexto
do Estado-nao transnacional, bem como os significados e limites das polticas identitrias, apontando para formas
de resistncia e contestao s ideologias hegemnicas de dominao.
O ensaio de Boaventura de Sousa
Santos, Por uma Concepo Multicultural de Direitos Humanos, aparece na
antologia como introduo de natureza
terica, por problematizar algumas temticas analisadas no demais textos, notadamente a questo da globalizao e
suas diversas dimenses, o multiculturalismo, os direitos humanos e seu potencial emancipatrio. Identifica as tenses dialticas que informam a modernidade ocidental basicamente, a tenso entre regulao social e emancipao social, entre o Estado e a sociedade
civil, e entre o Estado-nao e a globalizao para chegar a uma proposta
de reconceitualizao multicultural dos
direitos humanos, partindo do princpio
da incompletude das culturas singulares. O autor afasta-se de uma definio
hegemnica de globalizao, usando o
termo no plural para afirmar que, como
processo, nada mais do que a imposio bem-sucedida de um determinado
localismo localismo globalizado (processo pelo qual um fenmeno local
globalizado com sucesso) e globalismo
localizado (o impacto das prticas e dos
imperativos transnacionais nas condi-
RESENHAS
es locais). Nesse sentido, os direitos
humanos concebidos como universais
so impositivos, da a sugesto de transform-los em um projeto cosmopolita
que leve em conta o multiculturalismo
enquanto pr-condio de uma relao equilibrada e mutuamente potenciadora entre a competncia global e a
legitimidade global (:26). A dignidade
humana condicionadora da transformao cosmopolita requer o reconhecimento das incompletudes culturais mtuas.
O problema da dominao, subjacente discusso sobre os direitos humanos, est presente nos demais textos,
que abordam construes identitrias
da perspectiva transnacional. Sob este
aspecto, o trabalho de Nina Glick Schiller e Georges Fouron, Laos de Sangue: Os Fundamentos Raciais do Estado-Nao Transnacional, aponta para
uma identidade racial assente na suposta relao entre raa e nao, elaborada por imigrantes haitianos nos Estados Unidos e legitimada em um Haiti
redefinido como Estado-nao transnacional. Os autores fazem um estudo do
caso haitiano, mas sugerem que dirigentes polticos de alguns pases de emigrao Mxico, Portugal, Colmbia
etc. tm procurado definir os respectivos Estados como transnacionais, para
poder incorporar suas populaes da
dispora.
O conceito de raa simbolizando a
identidade nacional, bem como o seu
uso na arena transnacional envolvendo
populaes migrantes, no novidade
da ps-modernidade, conforme mostram
os numerosos estudos sobre o nacionalismo. O jus sanguinis que embasa a cidadania em muitos Estados nacionais
a contrapartida legal dessa premissa
biolgica de natureza primordialista. A
no ser por uma breve incurso histrica ao desenvolvimento das idias de
nao e raa, os autores no se preocu-
param com a continuidade desse tipo
de ideologia, presente em muitos contextos imigratrios desde o sculo XIX.
No entanto, com base em dados de minuciosa pesquisa realizada em Nova
Iorque com imigrantes do Haiti, definiram um modelo de identidade nacional
conformado pela idia de raa enquanto trao distintivo suficiente na situao
transnacional. Mostram que a reconceitualizao do Estado-nao atravs da
idia de transnacionalidade uma
construo ideolgica da qual participam tanto as lideranas dos imigrantes
na dispora, quanto polticos e detentores de cargos oficiais teve como resultado a formulao de uma identidade
nacional especificamente racial, baseada em linha de descendncia e laos de
sangue, na qual outros atributos da nacionalidade, tais como lngua comum,
histria compartilhada, territrio ou
mesmo cultura, desaparecem da simblica constitutiva da nao. Apesar das
possibilidades de construir mltiplas inter-relaes da vida cotidiana dos imigrantes, visto que as redes transnacionais produzem importantes relaes sociais entre os que emigram e os que ficam, esse tipo de nacionalismo racializado que produz identidade criticamente analisado como forma problemtica de resistncia ao preconceito e dominao.
O trabalho de Angela Gilliam, Globalizao, Identidade e os Ataques
Igualdade nos Estados Unidos: Esboo
de uma Perspectiva para o Brasil,
aborda alguns aspectos das atuais representaes sobre raa nos Estados
Unidos e no Brasil, bem como as diversas reformulaes do conceito de affirmative action e as tenses relacionadas
identidade racial. Explora as implicaes da globalizao da economia sobre o princpio de igualdade, o problema do trabalho no remunerado nas pri-
175
176
RESENHAS
ses dos Estados Unidos, a retrica do
daltonismo cultural (vinculada superao do racismo) reapropriada pela
direita americana para neutralizar a
questo racial, o debate sobre quem
negro no Brasil, para mostrar as atuais
disputas relacionadas igualdade de
direitos e cidadania envolvendo classificaes raciais e o programa de affirmative action. No caso brasileiro, enuncia
o apadrinhamento neoliberal, contraditrio, da affirmative action que, por
essa razo, no identificada com a luta dos negros pela cidadania e contra o
racismo.
A questo da affirmative action serve de mote para criticar algumas anlises acadmicas relativas identidade
racial, especialmente aquelas que recorrem s ambigidades de um sistema
classificatrio multipolar vinculado
mestiagem. Comete alguns excessos
retricos como o uso dos termos negrlogos e porteiros da academia
(:99-100) para referir-se posio hegemnica de brancos falando de relaes
raciais nos meios acadmicos brasileiros mas, indubitavelmente, sua crtica
perspectiva multipolar ajuda a pensar
sobre polticas pblicas e racismo.
Em um trabalho extremamente interessante sobre a poesia produzida por
imigrantes portugueses no Rio de Janeiro e So Paulo, intitulado A Poesia
dos Imigrantes Portugueses no Brasil:
Fices Crveis no Campo da(s) Identidade(s), Graa Capinha analisa o processo de contnua reelaborao da identidade portuguesa na dispora, em uma
situao subjetivada e contraditria de
fronteira cultural indiferenciada. Trata
da identidade (cultural) como um processo de articulao e representao,
simultaneamente lingstico e literrio,
atravs da anlise textual, para mostrar
as ambigidades predominantes nas
categorizaes identitrias em que os
portugueses aparecem ora como colonizadores (e parte da histria formativa
do Brasil), ora como imigrantes. Nesse
contexto mais propriamente literrio, a
idia de raa no tem importncia, prevalecendo a retrica da irmandade luso-brasileira e da lngua compartilhada que, supostamente, deveriam igualar, mas que o sotaque e outros indicadores da nacionalidade diferenciam na
configurao do lugar subalterno do
imigrante na situao ps-colonial.
Conforme registra a autora, na poesia
so encontradas as identidades que
resultam da interseo de culturas que,
mesmo quando definidas pelo Mesmo
que a Lngua, teimaro sempre em trazer o Outro e a Diferena (:112).
O artigo trata da poesia como veculo para externalizar configuraes identitrias mutveis, cujos referenciais so,
por um lado, a terra ptria, muitas vezes definida pela regio e no pela nao, a saudade, a grandeza passada de
Portugal (a retrica do Imprio), e, por
outro, a irmandade, a integrao Portugal-Brasil, a prpria identidade lusobrasileira eventualmente abalada pelos
esteretipos que desqualificam o portuga como ambicioso, burro, inculto, e
a colonizao portuguesa como causa
do atraso brasileiro. A poesia como forma de expresso da nacionalidade (ou,
nos termos de Herder, do esprito nacional) um importante reflexo da
questo tnica no mbito dos processos
migratrios desde os tempos do romantismo, observvel em outras situaes
histricas. o caso, por exemplo, da poesia produzida por imigrantes alemes
no sul do Brasil desde meados do sculo XIX, atravs da qual se afirmou uma
identidade teuto-brasileira simultaneamente a uma vinculao, pela lngua e
pelo jus sanguinis, nao alem. Como no caso dos portugueses, a celebrao da lngua o elemento central des-
RESENHAS
sa poesia, assim como a nostalgia, no
propriamente do Estado-nao, mas
do local de provenincia (a provncia,
a aldeia, a terra no seu sentido mais restrito).
No ltimo artigo, Transidentidades
no Local Globalizado. No Identidades,
Margens e Fronteiras: Vozes de Mulheres Latinas nos E.U.A, Mary Garcia
Castro aborda o debate sobre poder e
subalternidade na situao transnacional, enfocando, especialmente, textos
produzidos por mulheres identificadas
como latinas e/ou negras nos Estados Unidos. A escolha dessas vozes
permitiu autora lidar com subalternidades mltiplas de raa, de classe, de
gnero, de opo sexual , problematizando o conceito de identidade latina
na medida em que a literatura em questo, produzida por escritoras e militantes de diferentes movimentos, algumas
feministas, negras e/ou homossexuais,
vai alm das fronteiras identitrias, em
um desafio discriminao e opresso.
Investiga temas menos explorados nas
situaes de dispora, presentes nos
textos dessas mulheres: o corpo e a sexualidade, por exemplo, ou combinaes entre polticas de classe, raa, etnicidade, gnero, nacionalismo etc., que
levam recusa do enquadramento em
polticas de identidades unvocas.
Os artigos reunidos na antologia
do subsdios importantes para o entendimento das contradies, subjetividades, simbolismos e paradoxos subjacentes s concepes de identidade nas situaes de transnacionalidade marcadas pela redefinio do modelo de Estado-nao. So estudos que focalizam
processos atuais de reconfigurao identitria; no obstante, seria til a comparao com processos imigratrios de outros perodos histricos, sobretudo porque o Estado-nao transnacional est
longe de ser um fenmeno recente so-
bretudo quando acionado um princpio
do nacionalismo cuja premissa primordialista em um sentido biolgico.
Por outro lado, o multiculturalismo no
est suficientemente problematizado.
Segundo alguns dos seus crticos, especialmente aqueles identificados com os
interesses de minorias, a distintividade
cultural pode ser transformada em nova
metfora da desigualdade, atravs do
discurso de legitimao da diferena.
As controvrsias so muitas e, certamente, as contribuies contidas no livro ajudam a elucidar os meandros das
identidades enquanto poltica, em um
mundo globalizado onde persiste o local na forma do Estado-nao.
GOLDMAN, Marcio. 1999. Alguma Antropologia. Rio de Janeiro: Relume Dumar. 178 pp.
Pablo Semn
Doutor, CONICET/Universidad Nacional
de General San Martn
Os treze artigos que compem Alguma
Antropologia recobrem mais de vinte
anos de uma trajetria diversificada em
objetos e perspectivas. Por isso, cada
um deles apresenta rendimentos prprios e especficos. O conjunto, todavia,
encadeia um argumento em trs ncleos: com a discusso das noes de
pessoa e de antropologia das sociedades complexas, prope-se a antropologia como histria; com a discusso de
certos conceitos-chave nas obras de
Deleuze, Descartes, Foucault, LviStrauss, e com a identificao de algumas falcias no raciocnio antropolgico, elaboram-se as determinaes do
objeto da antropologia; o estudo dos
processos eleitorais, o terceiro ncleo,
ser um campo de verificao das con-
177
178
RESENHAS
cepes e debates precedentes. Examinarei cada um desses ncleos na ordem
aqui enunciada.
No artigo Uma Categoria do Pensamento Antropolgico: A Noo de Pessoa, afirma-se: curioso que os antroplogos aceitem a idia de um individualismo ocidental e, ao mesmo tempo, dediquem todos os seus esforos a
encontrar entre ns representaes que
no obedecem a esse modelo supostamente dominante (:25). Tal contradio depende da fuso indevida entre a
necessria desnaturalizao do agente
e sua concepo em termos da interao indivduo-sociedade. Esta, subentendendo o indivduo em vez de coloclo entre parnteses, duplica o imaginrio ocidental que pretende interpretar.
Todavia, preservar a problematizao
do agente no significa buscar, em uma
regresso ad infinitum, o efeito de ideologias constituintes, mas investigar o
plano de articulao contingente de regras, discursos e objetos no qual as
ideologias so derivadas e se tornam
eficazes. por isso que se sustenta que
s teorias que buscam captar a substncia de ideologias englobantes, seria
preciso opor uma analtica dos processos imanentes s mltiplas prticas
(:35). Abrindo-se contingncia, tornase central o elemento histrico que o
autor tenta realar na prtica e no objeto da antropologia. Essa operao se
prolonga e esclarece com o giro que se
efetua em Antropologia Contempornea, Sociedades Complexas. Sociedade complexa uma noo onipresente na prtica dos antroplogos, que
a ope s simples, objeto prprio da
antropologia, ou a define delimitando
as condies e aspiraes do exerccio
antropolgico nas sociedades ocidentais modernas. Em ambos os casos, a
antropologia clssica e moderna, corpo
de saberes derivados da constncia de
uma prtica, consagra essa constncia
na iluso de correspondncia com um
objeto. Este constitui especularmente a
antropologia como cincia dos objetos
de pequena escala. A alternativa pensar que qualquer sociedade , ontolgica e epistemologicamente, histria. No
se trata de apostar no conhecimento
idiogrfico ou de afiliar-se ao plo romntico da tenso constitutiva das cincias sociais, mas sim de distinguir entre
o plano da gerao social das instituies e o plano que configura o conjunto
delas, j institudas, privilegiando o primeiro. A distino refere-se a lgicas de
anlise diferentes e, se bvio que a
gerao social de instituies recicla o
previamente cristalizado, tambm o
que o dispositivo no a mesma coisa
que o j disposto, que no ser a mesma coisa estudar criadores e criaturas.
Essa noo, tributria de Veyne e Foucault, entende como histria o estudo e
a produo de tramas que se tecem
aqum da necessidade, do tempo e do
espao transcendentais. Na interseo
de temporalidades conflitivas que nunca sero a Histria e de espaos precariamente fixados que nunca sero substncia, so decididas e condensadas as
singularidades: ponto de articulao de
provenincias e emergncias, terreno
de engendramento dos universais que
esses mecanismos de gerao tornam
sempre precrios. Assim a antropologia, prtica transversal s cincias formalizadas, transita em mbito sublunar que no implica miniaturizao,
mas delimitao de um plano em que
operam variveis diferentes das que
reinam no campo em que os objetos so
engendrados.
Essa mudana de perspectiva, por
sua vez, conduz a uma reflexo crucial
sobre o mtodo. O objeto sociedades
complexas ilumina um problema que,
j presente nas sociedades simples, era
RESENHAS
ativamente desconhecido pela suposio de que estas ltimas eram passveis
de cognies totais. A complexidade de
qualquer forma social se impe a qualquer pretenso de registro total, associada ilusoriamente s aspiraes da
longa durao das observaes e suposta imediatez das mesmas. No se
trata de abandonar o rigor da etnografia: o treinamento prprio da disciplina
no caduca, mas suas aspiraes se
vem dimensionadas pela elucidao
da ontologia do social que estava sendo
encoberta.
A problematizao dessa ontologia
se realiza de duas maneiras. Primeiro,
como crtica das maneiras de conhecer;
segundo, como elaborao das determinaes tericas do objeto. A primeira,
desenvolvida em Como se Faz um
Grande Divisor? (em co-autoria com
Tnia Stolze), assinala um produto contraditrio das anlises antropolgicas: a
recusa oposio ns/eles desconhece a lgica que a sustenta e a reproduz
em outros nveis ao postular as separaes entre, por exemplo, mundos holistas e individualistas, oralidade e escrita.
Em primeiro lugar, preciso entender
que a pergunta o que, em geral, nos
aproxima e/ou distingue dos outros
(:85), supe a realidade de unidades e
diferenas cuja existncia deveria ser
objeto de suspeita. Em segundo lugar,
chama-se a ateno para as condies
lgicas sob as quais se realizam os raciocnios comparativos. Como demonstram os autores, um verdadeiro arsenal
de falcias pesa sobre os raciocnios antropolgicos e volta a colocar perguntas
generalizantes sem necessidade de
enunci-las.
A segunda linha de anlise desenvolvida em As Lentes de Descartes,
Razo e Cultura, Lvi-Strauss e os
Sentidos da Histria e Objetivao e
Subjetivao no ltimo Foucault. Nes-
tes artigos, explora-se a idia da antropologia como histria atravs do exame
de obras-chave da antropologia e filosofia. De Lvi-Strauss extrai-se uma lio
precisa, pertinente e muitas vezes eludida com a acusao de anti-historicismo. Se a Histria nosso mito, porque
essa tem sido nossa forma de reagir
diante da temporalidade. Esse raciocnio sustenta, mais do que uma relativizao do saber histrico, a afirmao da
existncia de historicidades diferentes
junto a distintas formas de refletir sobre
elas e de constitu-las. Assim, a separao da historicidade em relao Histria e s filosofias da histria no significa negao da primeira mas sim, pelo
contrrio, abertura de um caminho para uma reflexo histrica afastada das
armadilhas de todos os evolucionismos
e de todas as ideologias celebratrias
(:63). Se a interveno de Lvi-Strauss
depura o acontecimento das pr-noes
que buscam cingi-lo, o recurso a Foucault pode ser introduzido na tentativa
de conceitualiz-lo positivamente. Assim, ressalta da leitura deste ltimo a
raridade dos fatos humanos, sua emergncia em um espao de transformao
e fratura, sua derivao no cruzamento
de campos de saber e de normatividade
e de formas de subjetividade. Neste cruzamento, o resultante no o nico possvel, porque toda raridade est habitada de politicidade, de capacidade de
decidir, em um campo de possibilidades, por uma atualizao que bem poderia ter sido outra. Essa raridade implica, ademais, o privilgio da singularidade (como combinatria local de linhas de fora difusas distncia de
qualquer universalidade e no como diferena irredutvel), em vez da oscilao entre os particularismos insondveis
e as universalizaes etnocntricas.
Essas posies tm conseqncias
para a definio e a prtica do relativis-
179
180
RESENHAS
mo. De um ponto de vista epistemolgico, trata-se de compreender que a subordinao da semelhana diferena
no supe uma diferena metafsica,
absoluta e transcendente. Castoriadis,
entre outros, entendia a instituio mais
como verbo que como substantivo. Da
mesma maneira, deve entender-se a diferena: como trabalho de constituio
de certas singularidades a partir de outras, como movimento de distino a ser
estabelecido a cada momento. Para esse objetivo, o criticismo cartesiano constitui um modelo de pensamento mais
prximo da antropologia do que se poderia supor: mais do que ceticismo cognitivo ou moral, a atitude que permite tornar histrico e singular o que se
apresenta como natural e universal. Do
ponto de vista tico, as conseqncias
no so menos importantes. O relativismo emergente no surge do contraste
entre parmetros absolutamente outros
opostos a parmetros absolutamente
prprios. Equivale a contrastar o que
em um campo de possibilidades atualizado com outras atualizaes desse
mesmo campo, a assumir que essas possibilidades poderiam comutar-se. A interpretao de Clastres por Deleuze esclarece esse ponto: se as sociedades primitivas no eram sem Estado e sim caracterizadas pela presena de poderosos mecanismos contra o Estado, preciso admitir que essas sociedades registravam o funcionamento de mecanismos
de Estado que foram inibidos, e que as
nossas no bloquearam por completo os
mecanismos que a ele resistem. Isto
mais que um exerccio epistemolgico:
h um valor tico que se agrega ao epistemolgico e o subordina. Vejamos em
detalhe: a antropologia como histria,
como cincia de dispositivos, encontra
nos outros primitivos, mais que o passado de nossa contemporaneidade,
atualizaes, modos de operar a contin-
gncia, que abalam a segurana com
que praticamos nossas vidas. Na alteridade pode patentizar-se o que nossas
sociedades escondem com relativo sucesso, o naturalizado ao longo de batalhas cujo rastro se perdeu, o que aprendemos a deixar de tomar em conta. Se
isto o que est em jogo na relao com
a alteridade, justo concluir que a atividade da antropologia ganha sentido
tico contribuindo para relativizar atualizaes ligadas politicidade que decide nossa contingncia histrica.
A anlise das prticas eleitorais, enfocando eleitores e candidatos, constitui um excelente campo de teste para
as intenes declaradas e elaboradas
nos artigos j citados. Tomemos como
exemplo um dos artigos que desenvolvem essa perspectiva. Teorias, Representaes e Prticas mostra que a suposta irracionalidade dos eleitores se
dissolve se contemplamos simultaneamente a disperso, a integrao instvel e a hierarquizao de motivaes
que eles realizam (motivaes que incluem uma leitura do jogo eleitoral diferente da que sustentam descritiva ou
normativamente as anlises cientficas).
Mas essa demonstrao tem um valor
suplementar. Ali onde os desenvolvimentos dominantes da anlise poltica
supem correspondncias entre sujeitos e partidos, ou constatam desajustes
que incitam a esperar evoluo ou a demandar pedagogia, se empreende uma
anlise que, como se se tratasse do lado
escuro da lua, d conta do ponto cego
dos conceitos da sociologia eleitoral e
da cincia poltica. Ali onde essas disciplinas projetam o cidado, o partido, a
racionalidade do votante, a anlise histrica desnaturaliza o eleitor e recupera
o fato de que uma ortopedia social
o que, no quadro das liberdades da era
do individualismo, o institui. Mais que
isso, torna manifesto que os atos dos
RESENHAS
eleitores no constituem o resultado do
encontro entre essa institucionalizao
e uma tbula rasa, mas um ponto de encontro conflitivo entre lgicas culturais
em disputa em uma equao cujos termos so incertos, mas que, certamente,
excluem o partido, o cidado e a eleio, como formas universais e como termos unvocos.
LUSTOSA, Isabel. 2000. Insultos Impressos. A Guerra dos Jornalistas na
Independncia (1821-1823). So Paulo:
Companhia das Letras. 497 pp.
Candice Vidal e Souza
Doutoranda, PPGAS-MN-UFRJ
A magnfica histria dos personagens
vanguardeiros da imprensa no Brasil e
de sua presena decisiva nas lutas polticas da Independncia est recomposta de modo indito neste livro de Isabel
Lustosa. Seu texto distingue-se do estilo narrativo tradicional das obras de
histria da imprensa para o perodo
mais preocupadas com a citao linear
de jornais e publicistas porque coloca
o leitor no centro dos debates do tempo
ao refazer o enredo da interlocuo entre aquelas figuras notveis do mundo
do jornalismo na primeira metade do
sculo XIX. As contendas registradas
em jornal entre a partida do rei D. Joo
VI (abril de 1821) e o fechamento da
Assemblia por D. Pedro I (novembro
de 1823) so a marca preservada daquela efervescncia poltica. No relato,
ao mesmo tempo em que se mantm o
calor dos discursos, colocando-os no
seu contexto original de enunciao,
tambm se resguarda o vnculo entre os
autores e seu estilo de escrita caracterstico. Esses senhores das artimanhas
retricas criam uma linguagem jorna-
lstica que combina expresses revolucionrias de 1789, adgios portugueses, humor apurado e ofensas pessoais.
Acompanhamos o destino de jornalistas
e de posies polticas por eles abraadas com fervor (genuno ou oportunista); o leitor ainda bem amparado
quanto aos detalhes de fatos histricos
necessrios compreenso do evento
descrito e todos os nomes mencionados
recebem notas biogrficas.
O relato de Lustosa descreve com
rara mincia o enlace entre jornalismo
e poltica no perodo da Independncia.
Nesse cenrio, o retrato da vida intelectual brasileira no seu nascedouro,
quando se constitui a figura do intelectual compromissado com o lugar onde
vive, que sobressai da histria contada
pela autora. Homens que se vem com
a misso pedaggica de formar e orientar politicamente o povo, ou melhor, as
elites coloniais, daquele Brasil em via
de assumir a condio de nao independente. Para tanto, a imprensa foi o
meio privilegiado de sua ao (:33).
Trata-se, afinal, de um texto sugestivo alm das fronteiras da histria da
imprensa propriamente dita. Nele h
dados para a caracterizao sociolgica
do jornalismo brasileiro os atores e as
posies ideolgicas e sociais a partir
das quais opinavam em seu instante
formativo, aquele em que o pblico leitor passa a ser pensado como brasileiro
e as posies dos jornalistas se definem
em relao a ser ou no ser pelo Brasil.
Nesses anos, articulou-se de forma decisiva o empenho da palavra escrita e
por extenso, dos intelectuais com a
causa da Independncia ou da existncia do Brasil como nao.
Admirao o sentimento freqente entre historiadores que se aproximam da imprensa contempornea da
Independncia. Convergem na constatao de uma transformao nacionalis-
181
182
RESENHAS
ta a acontecida. Como diz Lustosa, era
a imprensa brasileira que nascia, comprometida com o processo revolucionrio, no momento em que, de um dia para outro, deixvamos de nos considerar
portugueses para nos assumirmos como
brasileiros (:25-26). Neste ponto ela comunga com outras obras de histria da
imprensa brasileira (para citar apenas
autores renomados atualmente, Nelson
Werneck Sodr, Barbosa Lima Sobrinho
e Juarez Bahia) nas quais a adjetivao
brasileira est condicionada s condies polticas da Independncia. ,
pois, uma premissa interpretativa que
identifica o surgimento do timbre brasileiro (expresso de Nelson Werneck
Sodr) nos jornais circulantes. Por esse
raciocnio, no o local de impresso
que define primariamente a condio
gentlica de um jornal, mas o seu
grau de conscincia e compromisso nacional. No seria descabido dizer que a
regra geral nas narrativas em questo
a adeso dos autores ao mpeto nacionalista de seus personagens. Insultos
Impressos mantm esse esprito de admirao para com nossos antepassados
intelectuais. Com uma diferena fundamental: este livro no possui o tom normativo das histrias da imprensa, s vezes indistinguvel da sucesso factual
de jornalistas e jornais.
Isabel Lustosa revela desacordos
pontuais em relao aos argumentos de
certos autores da bibliografia de referncia e no se intimida ao desconstruir
opinies assentadas sobre figuras como
Jos Bonifcio. Entretanto, caractersticas reveladoramente nacionalistas
desse acervo de obras sobre histria da
imprensa no Brasil passam despercebidas pela autora. A pergunta sobre como
aconteceu a imprensa da Independncia, certamente, no vem recebendo
uma resposta unvoca dos estudiosos
brasileiros que propuseram verses dos
primrdios da imprensa brasileira. Caso
as escolhas bibliogrficas viessem acompanhadas de um mapa bsico das opinies acerca dos fatos da imprensa
na transio da Colnia para o Imprio,
teramos uma indicao satisfatria do
teor das interpretaes disponveis sobre o perodo. Como tantas outras histrias, a da imprensa brasileira tambm
uma narrao com efeitos performativos, o que resiste percepo arguta de
Lustosa. A meu ver, esta a razo pela
qual a seleo de textos de referncia
nessa rea com preferncia acentuada por trabalho de Carlos Rizzini mereceria explicaes.
Em que tipo de jornais, afinal, circulavam os insultos? No geral, eram
edies fugazes, impressas em tiragens
reduzidas e cujo alcance geogrfico de
circulao no costumava ultrapassar a
cidade de publicao. Alm disso, a distribuio se fazia diretamente aos assinantes, pois no se usava, ainda, o expediente da venda avulsa nas ruas. A
quase totalidade das fontes trabalhadas
pela autora pode ser nomeada como
jornais cariocas da Independncia
(:32). A qualificao nacional dirigida
a essas folhas no se refere propriamente realidade de sua distribuio em
praas alm-Corte, e sim nao como referente do escritor.
O grupo de redatores que coabitava
no Rio de Janeiro raramente dialogou
com jornalistas das provncias. Uma exceo importante foi Cipriano Barata,
jornalista baiano radicado em Pernambuco, responsvel pela Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco.
Protestava contra as aes de governo
empreendidas a fim de se tornarem as
provncias colnias do Rio de Janeiro
(:319). As reaes posio de Barata
foram veementes e alguns jornalistas
de proa, como os Andradas, acusaramno de pretender amotinar as provncias.
RESENHAS
Podemos perceber, nas citaes expostas pela autora, que os termos da contenda entre favorveis e opositores a
Barata convergiam para a definio da
postura de brasileiro ou de antibrasileiro. Dar existncia s diferenas entre
provncias e Corte significou uma nova
insero semntica para o nacional no
quadro dos debates sobre o Brasil. Contudo, naquele momento os jornalistas se
empenhavam com fervor na querela
entre lusitanos e brasileiros. Este foi o
grande alvo das disputas retricas em
jornal, relegando para depois a virada
do olhar de jornalistas e polticos para
dentro do Brasil, j anunciada por Barata no cenrio dos peridicos da Independncia.
bem demonstrado no trabalho que
o horizonte de leitores imaginado pelos
redatores era restrito a emissrios bastante especficos. Os outros colegas de
ofcio do jornalismo e da poltica e o imperador resumiam bem a composio
do pblico-alvo dos jornais daquela hora. Somente as folhas que traziam o servio de anncios atingiriam a pequena
classe mdia do Rio de Janeiro. Da porque o livro traz inmeras situaes de
interlocuo entre jornais, quando se
nota que uma das ocupaes centrais
dos jornalistas ler as demais publicaes e proferir opinio sobre o que se
andou dizendo.
A percepo clara da composio e
das disposies da audincia uma caracterstica forte dessa imprensa, sobretudo porque a eficcia retrica depende
da correta adequao do discurso s expectativas e valores do seu destinatrio.
Os redatores queriam persuadir seu leitorado, convencendo-o da pertinncia
de seus argumentos e juzos sobre pessoas e conjunturas, mas igualmente pretendendo orientar a ao poltica, movendo-a numa ou noutra direo. Sobre
esses temas das formas de linguagem e
da enunciao das polmicas na escrita
jornalstica da Independncia, a autora
constri o ponto de vista analtico do
trabalho, detalhado na concluso chamada Injrias no so razes, nem sarcasmos valem argumentos. Assim
que em todos os sete captulos intitulados com saborosas expresses nativas h o cuidado com o dito, o autor,
a forma de locuo e os receptores imaginados pelo escritor, sem abdicar da
exposio minuciosa do contexto poltico maior do proferimento.
A conseqncia bem-vinda da preocupao com a retrica em papel a
apresentao do lxico poltico corrente no perodo. Eptetos como marotos,
chumbeiros, marinheiros, ps-de-chumbo, corcundas e descamisados povoavam os jornais e compunham um vasto
repertrio de acusaes, tambm curioso quanto descrio de aspectos fsicos e de carter dos personagens da mira jornalstica. As classificaes do campo da poltica so localizadas em sua
acepo prpria do sculo XIX, fazendo-nos ver quo compensadora a histria das categorias do vocabulrio poltico. Outros temas jornalsticos so as
figuras do compadre da roa e do compadre da cidade, ocasio discursiva para que a imprensa vocalize e estabelea
quadros interpretativos do Brasil para
sua elite leitora.
A inexistncia de fronteiras entre
jornalismo, poltica e literatura a marca do contexto oitocentista. Os homens
de jornal se viam como escritores e recorriam desqualificao estilstica de
seus oponentes desejando-lhes a excluso da repblica das letras at
mais que contestao ideolgica. Reside a uma das facetas instigantes do
trabalho, qual seja, o documento para
uma sociologia do mundo jornalstico
que s poder surpreender jornalistas
tout court muito depois. Carlos Drum-
183
184
RESENHAS
mond de Andrade j se referiu a um
jornal jornalstico. Poderamos designar os peridicos lidos por Lustosa, e
muitos outros que os seguiram, como
jornais no jornalsticos. O jornal
jornalstico ser um produto de outros
desdobramentos de nossa vida intelectual a produzirem autonomia relativa
de trs culturas: a literatura, as cincias universitrias e o jornalismo. Insultos Impressos, cuidadosa edio de
uma tese de doutorado defendida em
1997 no IUPERJ, clareia o percurso daqueles interessados na sociologia do
jornalismo brasileiro, na etnografia do
mundo dos jornalistas ou na histria dos
intelectuais no Brasil, e naturalmente
regala os historiadores do sculo XIX.
MAIO, Marcos Chor e VILLAS BAS,
Glaucia (orgs.). 1999. Idias de Modernidade e Sociologia no Brasil. Ensaios sobre Luiz de Aguiar Costa Pinto. Porto Alegre: Editora da UFRGS.
351 pp.
Hctor Fernando Segura-Ramrez
Doutorando, Unicamp
Idias de Modernidade e Sociologia no
Brasil contm um rico e variado conjunto de ensaios organizados em partes temticas, que constituem uma referncia de leitura obrigatria para pensar
tanto os processos de desenvolvimento
e modernizao no Brasil, quanto as
cincias sociais e sua histria e o papel
destas e do cientista social na construo de uma sociedade democrtica no
Brasil contemporneo. A obra uma
tentativa bem-sucedida de resgatar a
atualidade do pensamento de Luiz de
Aguiar Costa Pinto, um dos principais
personagens da sociologia brasileira e
importante liderana acadmica das
cincias sociais praticadas no Rio de Janeiro em meados do sculo XX.
Na abertura da obra, um texto do
prprio Costa Pinto em que ele atualiza
sua condio de filho do Iluminismo e
da Modernidade e reafirma sua crena
tanto na razo e na cincia como instrumentos fundamentais para analisar, entender e construir um mundo melhor,
quanto nas idias de que a cincia social fundamentalmente crtica da sociedade e de que o cientista social deve
desempenhar um papel ativo na construo de uma sociedade mais justa. Para Costa Pinto o racismo e a guerra so
lamentveis caractersticas da modernidade que no deveriam ter lugar em
um mundo ps-moderno mais humano.
Na primeira parte, Depoimentos,
abordada a trajetria intelectual de
Costa Pinto por pesquisadoras que conviveram com ele em diferentes momentos do seu itinerrio intelectual. Maria
Stella Amorim mostra aspectos relevantes do percurso social e da atuao acadmica do socilogo, entre 1939-1963,
e evidencia traos da sua personalidade
e do estilo de seus trabalhos, que fizeram dele um pioneiro na pesquisa social brasileira. Josildeth Gomes Consorte oferece um testemunho clido e humano do autor, e descreve brevemente
o papel por ele desempenhado em alguns projetos e centros de pesquisa.
Na segunda parte, Mudana Social e Idias de Modernidade, so discutidas, atravs da obra de Costa Pinto,
questes centrais do pensamento sociolgico, a saber: as concepes de sociologia, crise, mudana social, desenvolvimento e transio. O texto de Glaucia
Villas Bas revisita a pesquisa feita por
Costa Pinto no Recncavo, e mostra que
h neste autor uma concepo instrumental da sociologia comprometida
com um paradigma universalista, que
privilegia o estudo dos fenmenos so-
RESENHAS
ciais em transformao. Leopoldo Waizbort reconstri as concepes e o significado dos conceitos de crise, do moderno, da sociologia, da realidade e do papel do cientista social, e evidencia algumas das mudanas e nuanas terminolgicas experimentadas no sistema conceitual de Costa Pinto. Jos Maurcio
Domingues estabelece um dilogo crtico com Costa Pinto sobre o desenvolvimento econmico, a nova dependncia,
as relaes internas sociedade brasileira, a construo da cidadania e o papel do intelectual, luz das discusses
contemporneas sobre modernidade e
os processos de modernizao no Brasil. O projeto de Costa Pinto e suas
idias de planificao e cincia do desenvolvimento descansariam sobre
fundamentos da modernidade: a mobilizao de toda a sociedade e a contribuio racional e planificadora do Estado cumprindo papel decisivo. E, Enno
Dagoberto Liedke apreende os conceitos e as hipteses utilizadas pelo socilogo baiano no tratamento terico das
problemticas da mudana social, da
modernidade e do desenvolvimento. A
questo da mudana social teria sido
tratada mediante a distino conceitual
entre desenvolvimento social e modernizao, enquanto o problema do desenvolvimento social brasileiro teria sido explicado utilizando a hiptese da
marginalidade estrutural. A obra do socilogo teria significado uma tomada de
posio militante em favor da contribuio da sociologia para mudanas sociais democratizantes.
Na terceira parte, Cor, Discriminao e Identidade Social, discutida
uma questo cara ao pensamento social
brasileiro: as relaes raciais. Os textos
tratam do papel da escravido na interpretao das desigualdades raciais, da
atuao dos movimentos negros, da estratificao e do lugar dos negros na so-
ciedade, e da luta anti-racista contempornea. Angela Figueiredo focaliza o
tratamento dado por Costa Pinto ao problema da ascenso social dos negros no
Brasil. Enquanto Azevedo (1955), Pierson (1971), Fernandes (1971) e Hasenbalg (1979) teriam percebido negros ascendendo individualmente atravs do
recurso ao branqueamento, ao casamento inter-racial e ao apadrinhamento
por famlias brancas, Costa Pinto teria
distinguido um grupo de negros em ascenso, caracterizados por querer ascender como elites negras. O ensaio
de Flvio dos Santos Gomes aborda a
idia de escravido nos estudos do projeto UNESCO realizados por Costa Pinto
e Florestan Fernandes. Tentar explicar
a escravido atravs da sua herana (a
desigualdade e a discriminao para os
negros) e a quase denncia da discriminao racial no Brasil seriam as caractersticas comuns a esses trabalhos. No
obstante, essas explicaes sociolgicas
sobre a escravido na constituio do
racismo contemporneo teriam feito desaparecer uma parte da histria, o perodo 1888-1950. J Monica Grin aborda o tema das relaes raciais nos trabalhos de Costa Pinto e Florestan Fernandes, e determina que a diferena
substantiva entre eles radica nas formulaes propositivas para superar o
problema racial no Brasil. Costa Pinto,
diferentemente de Florestan Fernandes, previu uma racializao crescente
da sociedade brasileira: a raa transformar-se-ia em critrio de organizao
social e de expectativas por direitos.
Mais do que uma acomodao ou
uma desejvel democracia racial decorrente da modernizao, ele v nas
relaes raciais brasileiras uma tendncia para a tenso racial ou o conflito.
Maria Anglica Motta-Maus focaliza a
polmica entre Costa Pinto e a intelligentsia do Teatro Experimental do Ne-
185
186
RESENHAS
gro, representada pelo socilogo Guerreiro Ramos, e oferece elementos para a
compreenso da dinmica e da lgica
do campo das relaes raciais no Rio de
Janeiro. Na mesma coletnea h duas
posies a respeito da interpretao do
movimento negro carioca feita por
Costa Pinto: Flvio dos Santos Gomes
qualifica-a de desrespeitosa e preconceituosa, enquanto Maria Anglica
Motta-Maus considera-a acertada. Disputas recentes em torno do programaconvnio Fundao Ford/Centro de Estudos Afro-Asiticos tambm atualizam
essa polmica.
Na quarta parte, Pensamento Social Brasileiro: O Debate Intelectual dos
Anos 50, os ensaios focalizam o papel
dos intelectuais e algumas das afinidades e tenses temticas, metodolgicas,
disciplinares e ideolgicas que informam a constituio dos campos disciplinares das cincias sociais no pas.
Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti salienta a relao intelectual e
afetiva entre Donald Pierson e Oracy
Nogueira, e examina a construo do
conceito de preconceito de marca.
Importante para a compreenso do racismo no Brasil, este conceito teria sido
produto de uma rica tradio de pesquisa ligada Universidade de Chicago,
cuja caracterstica seria combinar dados
estatsticos com pesquisa de campo
sensvel dimenso simblica, aquilo
que Pierson denominava o aspecto humano de nossos dados. Marcos Chor
Maio aborda o debate entre antropologia e sociologia e determina alguns dos
posicionamentos desses cientistas em
relao ao enfoque das relaes intertnicas pelas cincias sociais. As crticas
contundentes de Costa Pinto aos estudos afro-brasileiros teriam como alvo
Nina Rodrigues e Arthur Ramos, no
obstante essas crticas no levarem em
conta os deslocamentos em direo
antropologia social na produo intelectual de Arthur Ramos. O autor afirma que o projeto UNESCO seria a concretizao do programa da antropologia brasileira proposto por Arthur Ramos. Bila Sorj defende a idia de que
apesar da instabilidade das instituies
universitrias de pesquisa no Rio de Janeiro nos anos 50 e 60, houve nesta cidade importantes contribuies para
estabelecer os parmetros de uma sociologia moderna. Assim, o esforo de
Costa Pinto em definir as fronteiras da
sociologia tanto em relao s outras
cincias quanto em relao aos discursos polticos e ideolgicos produzidos
por intelectuais nesse perodo, confere
ao socilogo um lugar central como fundador da sociologia no Brasil. Helena
Bomeny evidencia as principais caractersticas do pensamento e da trajetria
intelectual de um importante representante da Escola Nova, Fernando de
Azevedo, no que diz respeito ao seu
empenho em melhorar o sistema educacional brasileiro para a construo de
uma nao brasileira livre, educada e
generosa. Os escolanovistas teriam se
servido da sociologia como ferramenta
para diagnosticar os problemas educacionais nacionais e propor reformas. Finalmente, Nsia Trindade Lima mostra,
a partir da anlise comparativa dos trabalhos de Costa Pinto e Florestan Fernandes, que a abordagem dos temas da
mudana social dirigida e das resistncias mudana a principal referncia
da produo intelectual dos dois socilogos entre 1950 e 1960. Alm disso,
eles compartilhariam o otimismo quanto capacidade de predio e direo
atribuda cincia em geral e cincia
social em particular.
Na quinta parte, intitulada As Instituies de Cincias Sociais: Personagens, Trajetrias e Controvrsias, os
artigos tratam do processo de institucio-
RESENHAS
nalizao das cincias sociais no Brasil
e das diversas orientaes que ali confluram. Assim, por exemplo, no Rio de
Janeiro, a dita institucionalizao no
teria obedecido ao paradigma metdico
e regular de ensino e pesquisa, mas a
um processo no qual vrias geraes se
integrariam pelas relaes de comunicao pedaggica e pelas experincias e
idias comuns. As misses culturais francesas no Brasil, particularmente aquelas
que participaram na fundao dos cursos de histria no Rio de Janeiro, so focalizadas por Marieta de Moraes Ferreira para mostrar o perfil diferenciado
dos professores, a diversidade de influncias que eles trouxeram e como
atuavam como intermedirios dos intercmbios culturais. Segundo a autora, a
influncia desses professores se mostrou limitada no que diz respeito nova
maneira de fazer histria no Brasil. No
obstante, sua presena teria sido importante com relao atualizao bibliogrfica dos alunos, forma de estruturao dos cursos, ao desenvolvimento
dos canais de intercmbio entre as comunidades universitrias francesa e brasileira e maior divulgao da cultura
brasileira na Frana. Manuel Palacios
da Cunha e Melo analisa o campo das
cincias sociais com sofisticadas tcnicas de anlise quantitativa. A partir das
referncias bibliogrficas de um conjunto significativo de teses em antropologia, sociologia e cincia poltica, defendidas em onze centros de ensino e
pesquisa do Brasil entre 1991 e 1993, o
autor constri um conjunto de diagramas e mapas referidos s linhagens nacionais e estrangeiras e estrutura das
posies dos cientistas nas cincias sociais brasileiras. Aparecida Maria Abranches mostra, a partir dos escritos de Helio Jaguaribe e Guerreiro Ramos, que
os intelectuais do ISEB se identificavam
com o conceito de intelligentsia, isto ,
a concorrncia entre vocao poltica e
cientfica na produo de um saber politicamente relevante para a comunidade qual est referido, atuando como norteadores das polticas pblicas
nacionais.
Finalmente, na Bibliografia de Costa Pinto aparecem inventariados fatos
relevantes de sua trajetria acadmica
e os trabalhos que publicou entre 1943
e 1987. Certamente, a publicao deste
livro constitui uma importante contribuio para o estudo das cincias sociais brasileiras e suas lutas.
NAEPELS, Michel. 1998. Histoire de
Terres Kanakes: Conflits Fonciers et
Rapports Sociaux dans la Rgion de
Houalou (Nouvelle-Caldonie). Paris:
ditions Belin. 380 pp.
David Fajolles
Doutorando, EHESS
Para escrever este livro, originalmente
uma tese de doutorado em antropologia
defendida na EHESS sob a orientao
de Jean Bazin, Michel Naepels observou rigorosamente um princpio metodolgico: nunca usar, no corpo do texto,
o termo sociedade. possvel ler nessa aposta a preocupao terica desenvolvida por Jean Bazin e Alban Bensa,
baseada em uma forte crtica do estruturalismo e do culturalismo, e que tenta
importar para a pesquisa antropolgica
uma postura terica ligada filosofia
analtica da ao.
Michel Naepels fez sua pesquisa de
campo no centro-norte da Nova-Calednia, na costa leste da Grande Terre (a
ilha principal). O municpio de Houalou apresenta um condensado de todas
as caractersticas mais bvias da sociedade (com perdo pelo uso do termo)
187
188
RESENHAS
caledoniana: uma terra de colonizao
europia dispersa, baseada na criao
de gado; uma explorao mineira j antiga, dada a riqueza da regio em nquel; a presena, desde os anos 1870,
de uma fazenda penitenciria no municpio; a distncia e a importncia da estrada para Nouma, a capital; a fora da
implantao das misses. No incio do
sculo, Houalou foi o campo de pesquisa privilegiado de Maurice Leenhardt,
pastor da religio reformada e etnlogo, autor do grande clssico etnolgico
sobre o mundo kanak: Do Kamo. Apesar do carter relativamente arbitrrio
comentado por Naepels da escolha do
campo de pesquisa, em funo de limites lingsticos e administrativos, sua riqueza bvia. Os conflitos de terra em
Houalou no constituem, porm, o objeto em si do autor: o que ele nos oferece uma anlise geral das relaes sociais kanak, retraada sob o prisma dos
conflitos de terra.
O livro comea com uma imerso na
histria colonial desse municpio da Nova-Calednia. Essa parte no se apresenta como um mero prembulo; as
anlises histricas retornam regularmente at o final do texto, de maneira
tal que torna difcil definir o gnero do
livro: histria ou antropologia? Uma das
caractersticas dessa postura terica
superar esse dilema, que se inscreve,
afinal, mais na prpria histria interna
da academia e das delimitaes disciplinares do que em diferenas tericas
e metodolgicas. Histoire de Terres Kanakes pode ser lido tambm como um
livro de historiador.
Como em toda histria colonial, a
anlise confronta-se com a relatividade
das fontes disponveis: sejam estas a
administrao francesa ou os missionrios, o poder do texto escrito est nas
mos dos europeus. Nessas fontes, os
Kanak aparecem mais como traas da
histria do que como agentes. Uma descolonizao dessa histria seria possvel? o que tenta Naepels, tomando em
conta fontes orais, e partindo de uma hiptese que nos faz pensar nos debates
poltico-tericos da escola historiogrfica dos subaltern studies: os Kanak no
permaneceram na postura de colonizados passivos, espectadores da histria;
tiveram um papel ativo no processo de
colonizao, seja como intermedirios
de acolhimento dos colonos e dos administradores, seja como os atores principais da evangelizao da regio.
Para apoiar esta hiptese, Naepels
faz referncia s anlises de A.G. Haudricourt sobre a civilizao do inhame: segundo Haudricourt, uma das necessidades da economia kanak pr-colonial era a obteno da maior variedade possvel de tubrculos (inhame e taro, bases da alimentao kanak) para
reproduo e clonagem, de modo a prevenir-se contra as incertezas climticas.
Essa razo econmica pode ser associada freqncia das adoes e dos intercmbios de crianas na Oceania em
geral, assim como freqncia das narrativas kanak do dom da chefia para um
estrangeiro, configurao que valoriza
muito quem vem do exterior. Seguindo
essa intuio de Haudricourt, e estabelecendo um vnculo com a famosa interpretao que Marshall Sahlins fez do
contato entre James Cook e os Hawaii,
Naepels prope a seguinte hiptese: o
colonizador e a religio foram integrados (sem saber) nos caminhos do costume e da aliana kanak.
A histria colonial poderia ser interpretada como a passagem do costume
lei (e perspectiva da independncia
kanak socialista). Esses momentos no
so entidades histricas estveis: so o
que Naepels chama de pocas subjetivas dominantes, que servem geralmente de quadro implcito de anlise
RESENHAS
nas narrativas orais kanak sobre o fato
colonial. essa presena do passado,
esse papel poltica e socialmente ativo
da histria, que Naepels vai investigar.
A importncia social do saber histrico no desenvolvimento dos conflitos
atuais em Houalou deve ser associada
ao seguinte fato: todos os patronmicos
kanak so topnimos. Assim, as narrativas de origem clnica tm um papel
central na legitimao poltica e fundiria de cada um dos cls, particularmente desde que uma entidade administrativa (a ADRAF ) foi encarregada da
redistribuio de terras, em 1978. A
condio que a ADRAF impe a necessidade de acordo quanto legitimidade da pessoa ou da famlia que vai
reivindicar essa ou aquela terra, donde
as divergncias e a concorrncia entre
narrativas de origem. Duas caractersticas dessas narrativas devem ser destacadas:
A complexidade das reivindicaes
estatutrias possveis. Trata-se, para o
indivduo diante da ADRAF, do etnlogo ou no quadro de uma preocupao
pessoal, de recuperar as razes histricas das alianas ou das tenses atualmente existentes entre o seu prprio
cl e um outro qualquer, de retraar o
trajeto do seu cl. A guerra, a antropofagia e as mudanas freqentes tornam-se quase impraticveis com a ordem colonial e a sedentarizao forada dos Kanak nas reserves; , provavelmente, por isso que as narrativas de
origem se tornaram a forma dominante
de formulao e regulao dos conflitos. H vrios nveis de legitimidade
poltica, inclusive as que foram criadas
pela administrao francesa, como as
tribos e seus chefes administrativos.
Alm disso, depois de 1945, o estabelecimento das listas eleitorais enrijeceu a
atribuio dos nomes e criou novas contestaes.
O carter rapsdico das narrativas de origem torna impossvel pretender reconstituir a verdade sobre a propriedade fundiria pr-colonial. Assim,
o papel do etnlogo deve se restringir a
compreender as razes sociais e histricas dessas divergncias. Apesar disso,
a situao de entrevista e as demandas
do etnlogo fazem com que este seja diretamente envolvido nesse trabalho coletivo de produo de narrativas, at como fonte de legitimidade. Disso deriva
a complexa casustica do anonimato no
texto de Naepels: alguns entrevistados
so citados pelo nome verdadeiro; em
outros casos, figuram sob um nome disfarado ou um X, para no prejudicar o
interlocutor.
Todos esses elementos conduzem
Naepels a definir sua posio: o saber
histrico/etnolgico inscreve-se sempre
em uma conjuntura determinada (tal
narrativa foi produzida em tal momento, em funo da situao social em que
o interlocutor estava envolvido e de
seus interesses); o etnlogo est implicado nas condies de produo dessas
narrativas. Conseqentemente, e contra a antropologia lvi-straussiana, no
se pode pretender a construo de um
saber mitolgico descontextualizado. Os
mitos de origem devem ser compreendidos nos seus contextos de produo,
no seu ser social e poltico.
a mesma perspectiva que permite
a Naepels propor uma anlise original
do parentesco: a afinidade e a co-residncia no so mais percebidas como
princpios estruturantes de uma ordem
social objetiva, mas como princpios referenciais para aes e interpretaes
subjetivas. Do mesmo modo, a segmentaridade deve ser concebida no como
uma instituio, mas como uma possibilidade, submetida ambigidade da
identidade poltica de cada um, em funo dos vrios pertencimentos que se
189
190
RESENHAS
pode reivindicar: o cl, a casa, a fratria,
a tribo, o cl materno etc. Essa indeterminao da ao constitui um dos centros tericos da anlise antropolgica
que Naepels prope; possvel ler em
filigrana nos trabalhos dessa linha terica a distino, estabelecida por Wittgenstein no Caderno Azul, entre a ordem dos motivos (razes) e a ordem das
causas. No se pode pressupor os laos
que vo ser utilizados por um indivduo
em uma determinada situao. Os motivos dos comportamentos conservam
uma dimenso obscura: no se trata de
uma partitura j escrita, nem da realizao de uma estrutura por um ator
mais agido do que agente. A ordem local e a ordem do parentesco no formam princpios estruturantes das relaes sociais, mas o quadro de um equilbrio de foras, o lugar estrutural do
desdobramento de interesses divergentes: poderamos falar tambm de uma
gramtica dos conflitos.
Em 1978, o Estado francs lanou
uma poltica de redistribuio fundiria
em favor dos Kanak. Paralelamente, a
reivindicao fundiria tornou-se tambm uma reivindicao cultural para a
Unio Caledoniana e para a Frente de
Libertao Nacional Kanak Socialista
(FLNKS), os dois principais movimentos
independentistas kanak. A partir do
seu estudo da histria colonial de Houalou e das linhas principais de dinmica social, Naepels oferece um quadro
geral do que ele chama de casustica
fundiria, da qual se destacam pelo
menos dois elementos:
Um dos paradoxos da reivindicao
fundiria o seguinte: ela tem por objetivo o restabelecimento de uma ordem
fundiria que existia antes da criao
colonial das reservas; houve, todavia,
desde ento, transformaes sociais essenciais (desaparecimento de alguns
cls ou casas, ou, ao contrrio, cresci-
mento demogrfico de alguns linhagens
etc.) que fazem com que a reconstruo
hipottica dessa ordem pr-colonial seja inapropriada sem as adaptaes necessrias.
As medidas de reforma fundiria
tm uma outra dimenso: elas possibilitam aos interessados escapar ao controle social local. Como os que migram para Nouma, os que querem instalar-se
em um stio prprio podem livrar-se,
parcialmente, do peso de relaes sociais tensas que provocam conflitos, brigas, bruxaria, cime etc. A recriao do
costume, com suas finalidades sociais,
fundirias e polticas, pode tambm funcionar como uma sada individual ou familiar.
A leitura do livro de Naepels pode
at deixar uma impresso estranha: a
humildade ou o rigor nominalista do autor (nunca usa entidades essencializadas como princpios explicativos) fazem
com que a anlise parea a descrio de
um contexto, mesmo que complexo.
Sente-se falta de descries de casos
especficos de conflito ou de criao de
consenso, que permitam entender melhor como as foras descritas e essa gramtica dos conflitos se articulam. Mas
essa exigncia, essa apresentao horizontal de foras no hierarquizadas,
que permite ao leitor compreender como se constroem os conflitos sociais kanak. O (re)ordenamento desses fatores
outra coisa: seria uma tarefa do poltico, que poderia utilizar esse livro, como
prope o autor na concluso, para responder a uma das necessidades atuais
da Nova-Calednia: criar um direito
fundirio ad hoc.
Você também pode gostar
- Amadeu RussoDocumento102 páginasAmadeu RussoDonald80% (5)
- OlugardosaberDocumento68 páginasOlugardosaberJoão Melo100% (1)
- Resenha - Grupos Étnicos e Suas FronteirasDocumento1 páginaResenha - Grupos Étnicos e Suas FronteirasOrlando HöfkeAinda não há avaliações
- "Faltam Braços nos Campos e Sobram Pernas na Cidade": Famílias, Migrações e Sociabilidades Negras no Pós-Abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)No Everand"Faltam Braços nos Campos e Sobram Pernas na Cidade": Famílias, Migrações e Sociabilidades Negras no Pós-Abolição do Rio de Janeiro (1888-1940)Ainda não há avaliações
- Movimento Negro, Saberes e A Tensão Regulação-Emancipação Do Corpo e Da Corporidade NeDocumento24 páginasMovimento Negro, Saberes e A Tensão Regulação-Emancipação Do Corpo e Da Corporidade NeInclusao InctiAinda não há avaliações
- Identidade e Diferença HallDocumento17 páginasIdentidade e Diferença HallSimoneAinda não há avaliações
- Procedimento Movimentacao CargasDocumento46 páginasProcedimento Movimentacao CargasCarmo Rodrigo CanovaAinda não há avaliações
- As Irmandades Religiosas de Africanos e Afrodescendentes PDFDocumento16 páginasAs Irmandades Religiosas de Africanos e Afrodescendentes PDFMila100% (1)
- Estatuto Da Igualdade Racial:No EverandEstatuto Da Igualdade Racial:Ainda não há avaliações
- Contatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaNo EverandContatando "Brancos" e Demarcando Terras: Narrativas Xavante Sobre sua HistóriaAinda não há avaliações
- O Mito Da PreguiçaDocumento18 páginasO Mito Da PreguiçaEdu MachadoAinda não há avaliações
- CLENIADocumento90 páginasCLENIAProf prof0% (1)
- Apostila Desenvolvimento Local e Economia Solidária Campo Das VertentesDocumento51 páginasApostila Desenvolvimento Local e Economia Solidária Campo Das VertentesPedro AzevedoAinda não há avaliações
- Jordan MaxwellDocumento45 páginasJordan Maxwellclaudineyaraujo100% (1)
- A criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoNo EverandA criança indígena em contexto urbano: identidades e educaçãoAinda não há avaliações
- Trabalho de Análise - Milena Cristina de MoraesDocumento10 páginasTrabalho de Análise - Milena Cristina de MoraesMaria Eduarda SenibaldiAinda não há avaliações
- PLNM Aula1-40 Verbo To Be ApresentaçãoDocumento168 páginasPLNM Aula1-40 Verbo To Be ApresentaçãoCentral DidáticaAinda não há avaliações
- Atividades de Consciência Fonológica para ImprimirDocumento24 páginasAtividades de Consciência Fonológica para Imprimirbecky santanaAinda não há avaliações
- Maquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoNo EverandMaquinaria da unidade; bordas da dispersão: Estudos de antropologia do EstadoAinda não há avaliações
- INTRODUCA Historia DA AFRICA MARCOS PDFDocumento4 páginasINTRODUCA Historia DA AFRICA MARCOS PDFArmando Da Silva Da SilvaAinda não há avaliações
- Analise Da Cultura Nas Sociedades ComplexasDocumento17 páginasAnalise Da Cultura Nas Sociedades ComplexasQuercia Oliveira100% (1)
- Modulo de Consolidacao Das Demonstracoes Financeiras 2023Documento190 páginasModulo de Consolidacao Das Demonstracoes Financeiras 2023jaime joao anawikaAinda não há avaliações
- Modernismo e Regionalismo No Brasil PDFDocumento24 páginasModernismo e Regionalismo No Brasil PDFFabiane LouiseAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento7 páginas1 PBROMÁRIO CHAVES OLIVEIRAAinda não há avaliações
- Artigo PSICOLOGIA TRANSPESSOAL para Revista de Saude, - São Camilo Por Manoel SimãoDocumento15 páginasArtigo PSICOLOGIA TRANSPESSOAL para Revista de Saude, - São Camilo Por Manoel SimãoRomes SousaAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticaDocumento5 páginasBOURDIEU, Pierre. Descrever e Prescrever: Nota Sobre As Condições de Possibilidade e Os Limites Da Eficácia PolíticamateusfilippaAinda não há avaliações
- Barth, Frederik Antropologia Da EtnicidadeDocumento64 páginasBarth, Frederik Antropologia Da EtnicidadeGime Roque100% (3)
- Cultura Com Aspas - Manuela Carneiro Da CunhaDocumento32 páginasCultura Com Aspas - Manuela Carneiro Da CunhaMaia Maranhão100% (2)
- DOMINGUES, Petrônio. O Mito Da Democracia Racial e A Mestiçagem No BrasilDocumento16 páginasDOMINGUES, Petrônio. O Mito Da Democracia Racial e A Mestiçagem No BrasilDaniel Cruz de Souza100% (1)
- Horizontes Das Ciencias Sociais No Brasil Antropol PDFDocumento4 páginasHorizontes Das Ciencias Sociais No Brasil Antropol PDFHugo MedeirosAinda não há avaliações
- FRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''Documento8 páginasFRY, Peter. Feijoada e ''Soul Food''André AiresAinda não há avaliações
- A Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovDocumento6 páginasA Cobra Grande Uma Introducao A Cosmologia Dos PovRayane MaiaAinda não há avaliações
- Ficha Trabalho 7º AnoDocumento19 páginasFicha Trabalho 7º AnoAnonymous huFC3IUAinda não há avaliações
- Barth, o Guru o Iniciador A Analise Da CulturaDocumento37 páginasBarth, o Guru o Iniciador A Analise Da CulturaMiguel Valderrama ZevallosAinda não há avaliações
- TRUZZI, Oswaldo - Redes em Processos MigratóriosDocumento20 páginasTRUZZI, Oswaldo - Redes em Processos MigratóriosDaniel BarrosoAinda não há avaliações
- Gilberto Freyre Março 2020Documento36 páginasGilberto Freyre Março 2020Sonia LourençoAinda não há avaliações
- Etnicidade, Eticidade e Globalização - de Roberto Cardoso de OliveiraDocumento13 páginasEtnicidade, Eticidade e Globalização - de Roberto Cardoso de OliveiraAndréia BarcarolloAinda não há avaliações
- Diferentes, Desiguais e Descone - Canclini PDFDocumento20 páginasDiferentes, Desiguais e Descone - Canclini PDFsolelvisAinda não há avaliações
- AUTOFICÇÕESDocumento252 páginasAUTOFICÇÕESAnna Faedrich100% (1)
- A Importância Da História Oral Como Fonte Identitária de Um PovoDocumento10 páginasA Importância Da História Oral Como Fonte Identitária de Um PovoBruno Bernardes CarvalhoAinda não há avaliações
- Fontes - 2002 - São Miguel PaulistaDocumento399 páginasFontes - 2002 - São Miguel PaulistaMarcos Virgílio da SilvaAinda não há avaliações
- NARRANDO A NAÇÃO - Homi BhabhaDocumento7 páginasNARRANDO A NAÇÃO - Homi BhabhaJéssica LimaAinda não há avaliações
- A Escola NINA RODRIGUES Na AntropologiaDocumento13 páginasA Escola NINA RODRIGUES Na AntropologiaRenata CarvalhoAinda não há avaliações
- Afrocentrismo - Casa Das AfricasDocumento27 páginasAfrocentrismo - Casa Das Africasaldeiagriot67% (3)
- Tese Breno Alencar - Versão Final Corrigida PDFDocumento477 páginasTese Breno Alencar - Versão Final Corrigida PDFBreno AlencarAinda não há avaliações
- ARTIGO Charles Boxer Contra Gilberto Freyre PDFDocumento21 páginasARTIGO Charles Boxer Contra Gilberto Freyre PDFPedro Beja AguiarAinda não há avaliações
- BRANDÃO - A Comunidade TradicionaisDocumento15 páginasBRANDÃO - A Comunidade TradicionaisFernando SoaresAinda não há avaliações
- VASCONCELOS, Cláudia. Ser-Tão BaianoDocumento7 páginasVASCONCELOS, Cláudia. Ser-Tão BaianoJonas GarciaAinda não há avaliações
- Tese Conceito de Comunidade PDFDocumento435 páginasTese Conceito de Comunidade PDFChico TavaresAinda não há avaliações
- 3 - Gisela - Villacorta TEXTO 07 PDFDocumento17 páginas3 - Gisela - Villacorta TEXTO 07 PDFMarília CorreiaAinda não há avaliações
- Cavalcanti & Goncalves Cultura, FestasDocumento32 páginasCavalcanti & Goncalves Cultura, FestasCarla MirandaAinda não há avaliações
- 3-A Morte Por Jejuy Entre Os Guarani Do Sudoeste Brasileiro - Miguel Vicente FotiDocumento28 páginas3-A Morte Por Jejuy Entre Os Guarani Do Sudoeste Brasileiro - Miguel Vicente FotiAlani BenvenuttiAinda não há avaliações
- As Mulheres de DebretDocumento5 páginasAs Mulheres de DebretVictor CretiAinda não há avaliações
- (2018) Marcadores Sociais Da DiferençaDocumento18 páginas(2018) Marcadores Sociais Da DiferençaAbner FariaAinda não há avaliações
- Emanuel AraujoDocumento9 páginasEmanuel Araujoapi-3817705Ainda não há avaliações
- 4 - GOMES. Terra e Camponeses NegrosDocumento22 páginas4 - GOMES. Terra e Camponeses NegrosPatrícia PinheiroAinda não há avaliações
- Como essa calopsita veio parar no Brasil?: E outras dúvidas de geografiaNo EverandComo essa calopsita veio parar no Brasil?: E outras dúvidas de geografiaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Esta Kizomba É Nossa ConstituiçãoDocumento24 páginasEsta Kizomba É Nossa ConstituiçãoAndré Luiz PorfiroAinda não há avaliações
- Bruce Albert o Ativismo EtnográficoDocumento15 páginasBruce Albert o Ativismo EtnográficoEwerton M. LunaAinda não há avaliações
- LONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasDocumento17 páginasLONER, Beatriz. Negros - Organização e Luta em PelotasPierre Chagas100% (1)
- Aparecida Vilaça - o Que Significa Tornar-Se Outro - Xamanismo e Contato Interétnico Na AmazoniaDocumento17 páginasAparecida Vilaça - o Que Significa Tornar-Se Outro - Xamanismo e Contato Interétnico Na AmazoniaCarolina VazAinda não há avaliações
- Henrique Freitas O Arco e A Arkhe EnsaioDocumento5 páginasHenrique Freitas O Arco e A Arkhe EnsaioJanaina machadoAinda não há avaliações
- Aílton KrenakDocumento25 páginasAílton KrenakRicardo AndradeAinda não há avaliações
- Carvavais Da Abolição - Eric BrasilDocumento251 páginasCarvavais Da Abolição - Eric BrasilCarlosEduardoTorresAinda não há avaliações
- O - Selvagem (1) - 220815 - 160338Documento536 páginasO - Selvagem (1) - 220815 - 160338KELCIMAR SABOIA PEREIRA100% (1)
- Projeto e Metamorfose Contribuicoes de Gilberto VeDocumento19 páginasProjeto e Metamorfose Contribuicoes de Gilberto VepapercutsAinda não há avaliações
- Alegres Trópicos - Leyla Perrone MoisésDocumento10 páginasAlegres Trópicos - Leyla Perrone MoisésdiegofmarquesAinda não há avaliações
- Homicidios e Justiça Na Comarca de Uberaba PDFDocumento231 páginasHomicidios e Justiça Na Comarca de Uberaba PDFannalocaloiraAinda não há avaliações
- WG Tech Comercio E Servicos Eireli Danfe: #SérieDocumento1 páginaWG Tech Comercio E Servicos Eireli Danfe: #SérieJonhe ClaytonAinda não há avaliações
- UntitledDocumento300 páginasUntitledBetania PedrosaAinda não há avaliações
- Fontes de CapitalDocumento186 páginasFontes de CapitalPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- LO 2 - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) (1) (1) (1) - Documentos GoogleDocumento12 páginasLO 2 - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) (1) (1) (1) - Documentos GoogleSamuel AquinoAinda não há avaliações
- Pontos Cardeais, Colaterais e A Bússola Dia 01 03 CienciasDocumento2 páginasPontos Cardeais, Colaterais e A Bússola Dia 01 03 Cienciaskerle LimaAinda não há avaliações
- Energia Na FísicaDocumento2 páginasEnergia Na FísicaJoão Victor BernardoAinda não há avaliações
- Trabalho de ArtesDocumento3 páginasTrabalho de ArtesAngelyne CristynaAinda não há avaliações
- Aula 4 Vetores e Outras Grandezas Da Fc3adsicaDocumento48 páginasAula 4 Vetores e Outras Grandezas Da Fc3adsicaElias Ramos da Cruz Jr.Ainda não há avaliações
- Henrique RFMDocumento4 páginasHenrique RFMtttttAinda não há avaliações
- EmbutimentoDocumento5 páginasEmbutimentodiney7Ainda não há avaliações
- 41 Celulose BacterianaDocumento3 páginas41 Celulose BacterianaAna Cláudia SouzaAinda não há avaliações
- Contrato de Comodato Assunçao Promotora ModeloDocumento4 páginasContrato de Comodato Assunçao Promotora ModeloPhillip SousaAinda não há avaliações
- Cap 5 Cablagem Estruturada 10 11Documento66 páginasCap 5 Cablagem Estruturada 10 11Herberto Silva80% (5)
- 10 CompletoDocumento98 páginas10 CompletoMaycon DouglasAinda não há avaliações
- Nº 07-2021 Zoneamento - FUNILARIA E SERRARIA PETER LTDA - RURALDocumento2 páginasNº 07-2021 Zoneamento - FUNILARIA E SERRARIA PETER LTDA - RURALJoão silvaAinda não há avaliações
- 003 17 Roteiro Medidas CautelaresDocumento150 páginas003 17 Roteiro Medidas CautelaresNatália LiraAinda não há avaliações
- A Economia e Gestão Como Ciências SociaisDocumento26 páginasA Economia e Gestão Como Ciências SociaisentrepreneurselevateAinda não há avaliações
- Apresentação Poluição Atmosferica Pt.1Documento37 páginasApresentação Poluição Atmosferica Pt.1Matheus HenriqueAinda não há avaliações
- DRA 310 Conhecimento Do Negócio PDFDocumento5 páginasDRA 310 Conhecimento Do Negócio PDFAbztrakt13100% (1)
- Regulamento FutevôleiDocumento6 páginasRegulamento FutevôleiFranco Zanol VansetAinda não há avaliações