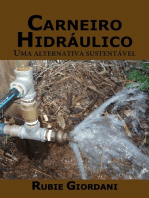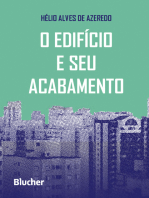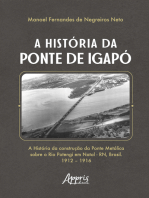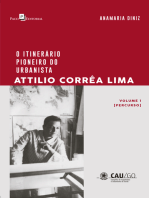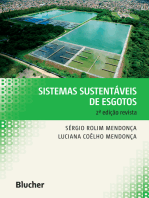Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tecnicas Construtivas Tradicionales
Tecnicas Construtivas Tradicionales
Enviado por
Delia SloneanuDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tecnicas Construtivas Tradicionales
Tecnicas Construtivas Tradicionales
Enviado por
Delia SloneanuDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
BIBLIOGRAFIA
BUENO, Alexei; TELLES, Augusto da Silva; Cavalcanti, Lauro. Patrimnio
Construdo: as 100 mais belas edificaes do Brasil. So Paulo, Capivara,
2002.
MENDES, Chico; VERSSIMO, Chico; BITTAR, Willian. Arquitetura no Brasil
de Cabral a Dom Joo VI. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milnio, 2007.
NEVES, Felipe Paniago Lordelo; Paula, Marcos Vinicius Lopes de;
PICCOLO, Sara. Tcnicas Construtivas do Brasil-colnia. Campo Grande/
MS. Trabalho de Histria e Teoria III, Curso de Arquitetura e Urbanismo,
UFMS, 2006.
REIS, Nestor Goulart. Evoluo Urbana do Brasil 1500/ 1720. 2 ed. rev. e
ampl. So Paulo, Pini, 2000.
REIS, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. 4 ed. So Paulo,
Perspectiva, 1970.
SAIA, Lus. Morada Paulista. 2 ed. So Paulo, Perspectiva, 1976.
VAINFAS, Ronaldo. Dicionrio do Brasil Colonial. Rio de Janeiro, Objetiva,
2000.
VILLELA, Clarisse M. Artes e ofcios. A cantaria mineira
Stio Santo Antnio. So Roque SP (1640)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
Primeira Missa no Brasil (Victor Meirelles 1861)
Com a chegada da frota de Cabral, iniciava-se oficialmente a
posse daquele extenso territrio.
Na praia, a receber os
portugueses, homens pardos, maneira de avermelhados, nus,
coroados de penas coloridas e ornamentados com colares de
conchas. Aparentemente dceis, onde habitavam? Como seriam
seus povoados?
Lgua e meia mata adentro, algumas respostas: casas compridas
como uma nau, de madeira, cobertas de palha. Aqui se revelavam
dois importantes materiais que seriam fartamente utilizados na
construo da Colnia.
A madeira, de excelente qualidade, alem da tima lenha produziu
a primeira cruz, lavrada pelos carpinteiros para o espanto dos
nativos diante das ferramentas de ferro, j que eles utilizavam a
pedra para o corte e confeco das "lminas" de suas armas.
Madeira, palha, pedra. Faltava apenas o barro para completar a
Um binmio poderia indicar a opo construtiva, composto pelo
lista de materiais com os quais os portugueses edificaram uma
determinismo geogrfico, que definia os materiais disponveis na
nao, agenciando-os de formas variadas, incorporando e
regio. Outro componente resulta de amlgamas culturais, uma fuso
sincretizando tcnicas construtivas de povos conquistados em
da qualidade dos mestres-de-obras, trabalhadores livres ou escravos
suas viagens ultramarinas.
disponveis. Tcnicas portuguesas, indgenas e africanas.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
UNIDADES DE MEDIDA
Certamente havia alguma forma de definio dos padres
No sculo XII. o rei Henrique I,
de medio. Para estes, ainda prevaleciam as relaes do
da Inglaterra, fixou a braa
corpo humanos comas referenciais: palmos, ps,
coma a distancia entre o seu
polegadas, sempre adaptados s condies locais. A
nariz e o polegar de seu brao
afinidade era tamanha que pode ter gerado desvios,
estendido. o que poderia ser
considerando regra ou que pode ter ocorrido como
modificado conforme as
exceo. A tradio da fabricao de telhas "nas coxas
medidas de um novo rei.
escravas" certamente uum exemplo que associa o
formato da peca ao correspondente humano, a coxa,
O palmo era a medida obtida
gerando esta verso popularizada coma absoluta.
com a mo toda aberta.
Para efeito de converso, podemos utilizar a seguinte
Consideremos para efeito de
tabela, na qual e possvel verificar as origens dos termos
converso, um palmo =
antigos sempre associados ao corpo humano.
0,22m.
Quadro 1
Jarda
Braa
Lgua
Lgua de sesmaria
Lgua martima
Palmo
Passo ordinrio
P
Polegada
2,2m
0,91m
4km/ 5,55m
6,6 km
5,5 km
0,22 a 0,24 m
0,825 m
0,305 m
0,025 m
Um p correspondia a onze polegadas e meia. Hoje, a medida doze
polegadas, o tamanho mdio dos ps masculinos. Um p equivale a
0,305m.
A polegada tem sua origem na medida realizada com o prprio polegar
humano, no todo ele, mas distncia entre a dobra do polegar e a ponta.
Urna medida rpida do polegar do ser humano adulto fornece
aproximadamente 0,025m de comprimento para esta distncia.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FUNDAES
O processo mais simples e rpido de assentar elementos verticais era o
pau-a-pique, diretamente apreendido do ndio, que o utilizava em suas
paliadas. Este consistia no fincamento de varas ou toras, muito
prximas, cuja base era incinerada para evitar apodrecimento pela
umidade do terreno .
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FUNDAES
Tambm foi largamente utilizada a fundao
No caso das estruturas autnomas, ou gaiolas, a cava de fundao poderia ser
corrida, o baldrame, confeccionada de pedras
disposta sob o esteio, apenas para receber as cargas concentradas.
brutas, dispostas em uma cava de largura
varivel por 1,50m de profundidade, aplicada
para receber paredes autoportantes, com
cargas distribudas
De qualquer forma, abria-se uma vala fio terreno, investigava-se a resistncia do
solo para iniciar o assentamento das pedras brutas, caladas com pedriscos e
eventualmente recebendo uma "calda", um tipo de argamassa liquefeita
composta de barro, cal e algum aglomerante.2(fig. 83)
Para guarnecer a fundao das guas pluviais, a ultima fiada era discretamente
elevada em relao ao nvel do terreno, recebendo uma laje de pedra, disposta ao
longo de toda a edificao, como um rodap.
comum indicar-se o leo de baleia como aglutinante. No entanto,
pesquisas mais recentes referem-se borra ou resduo do cozimento, j
que o leo seria muito caro. Portanto, o leo s seria utilizado como
hidrorrepelente,
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ELEMENTOS VERTICAIS
Os elementos verticais podem ser classificados segundo suas caractersticas estruturais: paredes
autoportantes , que acumulam as funes de vedao e sustentao, recebendo todos os
empuxos da cobertura, descarregando-os de forma distribuda sobre as fundaes; estrutura
autnoma ou gaiola, com esteios descarregando seus esforos de forma concentrada, associada
as paredes de vedao, de materiais diversos.
No rara a presena das duas tcnicas em uma mesma edificao, decorrente de condies
locais ou a poca dos acrscimos ou modificaes.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ELEMENTOS VERTICAIS
Estrutura autnoma (sustentao) com alguns elementos utilizados para vedao:
Paredes de vedao
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
PAREDES AUTOPORTANTES DE PEDRA
Para abertura de vos sem comprometer a
estabilidade da parede, tornava-se
necessria a execuo de arcos em tijolos
macios vencendo a largura do vo.
Arcos plenos eram utilizados nos interiores das edificaes
que adotavam a tcnica da pedra argamassada, como na
Casa dos Contos, em Ouro Preto, MG.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ADOBE E TIJOLO
As peas de adobe ou tijolos eram paraleleppedos de dimenso
mdia 0,20m x 0,20m x 0,40 m, macios e compactos,
confeccionados de barro, fibras vegetais e gua, prensados
manualmente em formas de madeira.
Tratava-se de um material milenar, j conhecido na Mesopotmia e
utilizado pelos romanos em construes de grande porte, pela sua
grande resistncia compresso.
A principal diferena reside no preparo da pea, pois o adobe seco
sombra, depois ao sol, enquanto os tijolos so cozidos em
fogueiras ou olarias, apresentando uma maior resistncia em
relao a umidade. A escolha decorria, principalmente, da
disponibilidade de combustvel para a queima, no caso, a madeira.
A execuo no se diferencia dos procedimentos contemporneos:
peas superpostas com mata-junta, argamassadas, ajustadas com
fios de prumo e nveis, configurando paredes com cerca de 0,40m
de espessura.
Neste caso, a abertura de vos facilitada pela possibilidade da
utilizao de arcos de descarga sobre as envasaduras, a feio do
arco pleno romano, com sua pedra chave.
Casa Primitiva, Mali.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ADOBE
Sua fabricao bem simples e rpida. Aps a
escolha do barro apropriado, atravs de
conhecimento emprico, ele ento amassado
junto com fibras vegetais e colocado em formas
retangulares que deviam ser umedecidas para
fcil soltura da pea e depois colocadas para secar
ao sol, a secagem leva em torno de 10 dias e deve
ser virado a cada 2 dias.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ADOBE
Depois de seco assentado sobre
algum tipo de fundao que deve ter
no mnimo 60cm, para evitar a
degradao pela gua e ento
erguida a vedao, que pode tambm
ter funo estrutural.
A caiao tambm indicada para
evitar que a gua enfraquea a
parede. A construo pode durar at
20 anos dependendo das condies
do local.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ADOBE
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
Outra tcnica secular do uso da terra, de ampla
utilizao, inclusive encontrada em algumas
construes aborgines, a taipa de mo, tambm
conhecida coma taipa de sebe, de sopapo, pau-apique ou mesmo sape, conforme a regio.
Tratava-se de um entramado de varas, ripas, cips
ou bambus, constituindo um estrado vertical,
engastado na estrutura autnoma que recebia
uma mistura de barro, gua e fibras vegetais,
amassados pelos construtores, por ambos os lados
da parede.
Atualmente, as taipas de mo so empregadas nas zonas rurais em
construes rsticas ou como tcnica alternativa nas edificaes das
classes de baixo poder aquisitivo.
Ainda encontrada praticamente em todos os estados brasileiros, mas
a tcnica muito rudimentar e normalmente no possui as
caractersticas de estabilidade, durabilidade e conforto.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
Alguns cuidados eram tornados, como o
afastamento do solo, atravs da elevao do
1. Fixao dos esteios no
solo
baldrame; o cruzamento das ripas com
espaamento nunca maior do que 0,l0m; a
proteo com beirais, devido as chuvas
tropicais; sucessivas molhagens no pano da
parede, recompondo provveis fissuras e trincas
ate sua homogeneizao, quando era aplicada
uma ultima camada de argamassa de barro para
posterior caiao.
Devido flexibilidade da tcnica, facilitava-as a
definio de vos, em paredes mais delgadas
que poderiam chegar a cerca de 0,30m.
Este procedimento pode ser considerado uma
tcnica vernacular, com grande permanncia,
pois ainda amplamente utilizado por
populaes de poucos recursos e tambm em
projetos mais sofisticados que procuram uma
ligao com a terra ou um comportamento
politicamente correto
2. Amarrao dos esteios aos baldrames e
frechais; encaixe das varas verticais nos
elementos horizontais.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
3. Amarrao das ripas
horizontais na estrutura de
pau-a-pique, usando fibras
vegetais.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
A estrutura de madeira montada com esteios,
normalmente de forma retangular, enterrada no
solo a profundidades variveis, com um tipo de
fundao formada pela continuidade do tronco
em que era cortado o esteio.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
No nvel do piso, esses esteios fincados no solo
recebiam encaixes para a colocao de vigas baldrames
mais altas que o solo para evitar a penetrao da gua.
Sobre as vigas se apoiavam os barrotes de sustentao
dos assoalhados, que era o piso mais empregado nesse
sistema construtivo.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
Aps a construo dessa gaiola, ela era fechada com uma
malha de varas onde era aplicado o barro. Aps a
amarrao da trama, a terra previamente escolhida
transportada at um terreiro onde preparada a massa.
Logo depois o taipeiro, responsvel pela colocao do
barro nas paredes, leva a massa do terreiro para perto da
parede. Ento comea a lanar a massa contra a trama de
varas at a vedao de toda a parede.
O tempo de secagem de uma parede, que varia de 15 a 20
centmetros de espessura, de aproximadamente um
ms, quando ento pode receber revestimentos, tambm
utilizando a terra para ter aderncia parede.
As paredes de taipa de mo so empregadas interna ou
externamente, com predominncia de utilizao em
divisrias internas, devido a sua leveza, menor espessura
e menor tempo de execuo, se comparada com a taipa
de pilo.
4. Aplicao da argamassa no
estrado de madeira, utilizandose as mos para prensar a
mistura na estrurutura.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE MO
A tcnica da taipa de pilo tambm um procedimento
milenar, registrado em todos os continentes.
Trata-se de uma tcnica que utiliza barro, gua, fibras vegetais
e algum tipo de aglomerante, que pode ser o estrume ou
sangue de animais. Estes componentes so apiloados em uma
forma de madeira, o taipal, confeccionada por tabuas com
cerca de 0,40m de altura, dispostas ao longo das fundaes
corridas
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE PILO
A tcnica da taipa de pilo tambm um procedimento
milenar, registrado em todos os continentes.
Trata-se de uma tcnica que utiliza barro, gua, fibras vegetais
e algum tipo de aglomerante, que pode ser o estrume ou
sangue de animais. Estes componentes so apiloados em uma
forma de madeira, o taipal, confeccionada por tabuas com
cerca de 0,40m de altura, dispostas ao longo das fundaes
corridas
Recebe esta denominao por ser socada (apiloada) com o auxlio de
um pilo. A forma que sustenta o material durante sua secagem
denominada de taipal.
A taipa encontrada no perodo colonial brasileiro executada com
terra retirada de local prximo construo devido s dificuldades de
transporte e ao volume grande de material.
As argilas so escolhidas pelo prprio taipeiro que conhecia de forma
emprica as propriedades fsicas do material.
Aps o preparo da argamassa de barro, esta disposta dentro do
taipal, em camadas de 10 a 15 centmetros, que depois de
perfeitamente apiloadas ficam com espessuras menores.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE PILO
Como as espessuras das paredes variam de 30cm a 1.2m. O
apiloamento interrompido quando a taipa emite um som
metlico caracterstico, o que significa a mnima quantidade
de vazios ou que o adensamento manual mximo das argilas
foi atingido.
Os taipais possuem medidas que variavam de 1m a 1,5m de
altura por 2m a 4m de comprimento, compostos por tbuas
presas a um sarrafo formando uma caixa sem fundo.
A primeira parte da parede apiloada diretamente sobre a
fundao, que pode ser de pedra ou outro material. Depois de
terminado o apiloamento at a borda do taipal retirada o
mesmo e montado novamente sobre a parte j pronta da
parede para assim dar continuidade at que se atinja a altura
desejada.
A mistura compactada em camadas de 0,20m, retirando-se
o excesso de umidade para que a mistura superior possa ser
assentada, e assim sucessivamente at a altura prdeterminada atravs de guias de madeira (fig. 95).
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE PILO
Muitas vezes so adicionados reforos de madeira para
dar maior firmeza parede, assim como as barras de ao
nas construes modernas de concreto.
O tempo de secagem de no mnimo 3 meses e pode
demorar at 6 dependendo das dimenses da parede.
A abertura dos vos previamente determinada com a
insero de esteios de pedra ou madeira coma guarnio
das envasaduras, gerando pequenos nichos internos que
so ocupados com conversadeiras.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE PILO
Caractersticas da tcnica:
Requer uma mo-de-obra numerosa, pois trata-se de um
processo artesanal, demorado;
depende das condies meteorol6gicas, pois no deve ser
executada em temporada chuvosa;
as paredes so executadas em grande espessura, nunca
menor do que 0,60m;
os vos devem ser previamente demarcados, devido
dificuldade de abri-los posteriormente;
deve ser bem protegida em relao as chuvas e umidade
do terreno.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
TAIPA DE PILO
Vulnervel gua, as paredes devem ser protegidas por amplos
beirais e construdas acima do nvel do terreno, preferencialmente
apoiada em fundaes de pedra - "boas botas e um bom chapu",
ideais para o c1ima tropical.
As residncias do planalto paulista utilizaram a tcnica da taipa de
pilo, inc1uindo todos os elementos protetores em relao ao c1ima
local, como no stio do Padre Incio, de meados do sculo XVII.
Stio do Padre Incio. Cotia SP (1690)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
A pedra natural, enquanto material imediato e acessvel,
utilizada em objetos e construes, tem acompanhado o
homem desde o perodo pr-histrico e, em sua perenidade,
vem registrando a trajetria das civilizaes. Inicialmente
empregada na forma bruta, foi sendo, ao longo do tempo,
dominada e transformada.
A pedra no Brasil colnia foi usada mais em construes
publicas e religiosas. As casas, geralmente, possuam apenas a
fundao e ou um barrado de pedra.
Cantaria a pedra que, tendo sido afeioada manualmente,
com o uso de ferramentas adequadas, apresenta-se pronta
para ser utilizada em construes e equipamentos. Atua ora
como elemento estrutural, ora como ornamentao e, muitas
vezes, atende s duas funes.
Igreja de Nossa Senhora da Graa (Olinda 1580)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
As alvenarias de pedra, brutas ou aparelhadas, secas ou argamassadas, foram largamente
utilizadas na Colnia, tanto por sua abundncia como pela resistncia s intempries. Alem
disso, o trabalho em cantaria era tradicional entre os portugueses, oficiais de grande
domnio no corte da pedra e na arte da estereotomia.
Resultava em muros ou paredes de grande largura, podendo atingir alturas superiores
aquelas de outras tcnicas menos resistentes.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
Em construes de porte mdio, as paredes de pedra argamassada
adotavam cerca de 60 a 80 cm de espessura.
Para os grandes edifcios (igrejas; conventos e Casas de Cmara e Cadeia)
sua espessura variava de 1 a 1,5m.
Tal diferena decorria do aumento das cargas dos telhados sobre as
paredes perimetrais, evitando-se o comprometimento estrutural.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
Dependendo das caractersticas do material in natura, tornava-se
necessrio, alem da mo-de-obra numerosa, o trabalho de oficiais variados
para o corte das pedras (os mestres canteiros) e para execuo da
alvenaria (mestres pedreiros).
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
Presente em toda a sucesso de estilos da
arquitetura ocidental, a cantaria comeou a ser
empregada no Brasil na segunda metade do
sculo XVI. Escolhido por Dom Joo III para ser o
primeiro governador geral da colnia, Tom de
Souza trouxe, em 1549, Lus Dias, chamado
mestre de pedraria.
Em muitos casos, porm, os projetos vinham j
prontos de Portugal para serem aqui realizados, e
o mesmo sucedia com pedras, principalmente o
Lioz, que cortadas e numeradas na metrpole,
funcionavam como lastro dos navios e eram aqui
montadas nas construes.
Solar Ferro. Salvador, 1690
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
Casa dos Contos (Ouro Preto: cerca de 1780)
Em seguida, viriam os quartzitos ser amplamente
empregados em Vila Rica, sobretudo nas partes nobres
das construes.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
Pao Imperial. Rio, 1743
A cantaria em quartzito Itacolomi, aparente, com acabamento refinado e
unio das peas feita por encaixes ou argamassa foi introduzida na
arquitetura local para as obras do Palcio dos Governadores pelo
engenheiro militar portugus Jos Fernandes Pinto de Alpoim entre os
anos de 1735 e 1738.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
A terceira fase do uso das rochas nas construes da vila
teve incio por volta de 1755 com o emprego do esteatito,
conhecido como pedra-sabo. As ornamentaes
encontraram a desejvel maleabilidade nesta pedra talcosa
comum na regio. Com ela, o Aleijadinho criou seus
frontes, portadas e esculturas.
Durante o sculo XVIII, o trabalho conjunto de mestres
portugueses e a primeira gerao de artistas mineiros, o
emprego dos materiais ptreos locais e o aperfeioamento
da arte de construir deram origem s obras de tipologias
diversas que caracterizaram definitivamente a arquitetura
colonial de Ouro Preto.
Aleijadinho
So Francisco de Assis
(Ouro Preto: 1765)
J no sculo XIX, com as mudanas estilsticas e o
desenvolvimento de novos materiais, houve um declnio do
emprego da cantaria.
As alvenarias, que levam canga na alma, revestidas com a
mais branca cal, fazem fundo para o quartzito rosa dos
embasamentos, cunhais e cimalhas que delineiam fachadas
e enquadram ornatos de pedra sabo em uma harmonia
cromtica mpar, formando a mais pura expresso do
barroco mineiro.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
CONSTRUES EM PEDRA
A vinda da corte de D. Joo VI e a chegada da misso francesa, no incio
sculo XIX, foram decisivos para o declnio da cantaria.
A adoo do estilo neoclssico, o emprego de novos materiais, a
preferncia pelos tijolos na execuo das alvenarias e o fim do trabalho
escravo levaram o ofcio s vias de extino.
Conseqentemente, perdeu-se a mo-de-obra especializada em trabalhar
a pedra, material agora restrito pavimentao das ruas, pisos, degraus de
escadas e revestimento de paredes, em forma de placas.
Grandjean de Montigny / Palcio do Comrcio: atual Casa Frana-Brasil ( Rio: 1819 - 1820)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA
A disponibilidade do material mais uma vez determinou a opo
para as coberturas. Num primeiro momento, aplicando-se a
palha, como os nativos. Usavam-se tambm pequenas sees de
cascas de rvore, os cavacos.
A palha que poderia ser retirada das folhas de palmeiras e
tambm das gramneas, secas e amarradas no madeiramento,
tradio que ainda persiste em todo o pas, inclusive em
construes mais sofisticadas
Rugendas/ Ilustrao ( sc. XIX)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA
A pedra, disposta em lajeados, mantinha uma tradio europia, mas no era um material adequado
devido s condies climticas e ao excesso de peso sobre a estrutura. S passou a ser utilizada com
mais freqncia a partir do sculo XIX, quando a ard6sia recobriu palacetes eclticos.
Com o inicio efetivo da colonizao e a crescente necessidade de construes mais duradouras,
implantaram-se as olarias para produo no apenas de tijolos, mas das telhas capa-e-bica ou capae-canal, verdadeiro marco da arquitetura colonial .
As telhas eram dispostas sobre os madeiramentos predominantemente em duas guas,
principalmente nas construes urbanas. Porem alguns elementos agregavam-se, com relativa
freqncia, aos telhados coloniais: guas furtadas, camarinhas ou torrees.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA
Devido s caractersticas estruturais dos materiais, no
era possvel vencer grandes vos. A soluo adotada para
as residncias em geral foi o descarregamento do peso do
telhado atravs do sistema de pontaletes ou mos
francesas.
Em naves das igrejas, para vencer vos maiores,
utilizavam-se a tesoura de linha alta (caibro armado) ou as
aspas francesas ou cruz de Santo Andr.
Para minimizar os esforos construtivos, era comum a
Sistema de pontaletes e mos-francesas como
elementos de sustentao das coberturas.
utilizao destes quadros com pouco espaamento, no
mais que 0,80m, descarregando as cargas nos frechais das
paredes perimetrais. Tratava-se do telhado em cangalha
ou de cumeeira entalada.
Tesoura de linha alta ou caibro armada se caracteriza pela ausncia do
pendural e a elevao da linha ao trreo superior da perna.
Aspas francesas para vencer vos maiores.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Telhas Cermicas
As telhas de barro so conhecidas do homem h
muito tempo e chegaram ao Brasil junto com os
portugueses que j conheciam a tcnica. Eram
geralmente empregadas nas construes de casas
mais abastadas do Brasil - colnia.
A fabricao das telhas era extremamente rstica
e tosca. Em alguns casos, o barro aps escolhido,
atravs de conhecimento emprico, pelo
responsvel pela fabricao era amassado at
obter-se a liga desejada, ento uma poro era
separada por um escravo e moldada sobre as
prprias coxas.
Em funo disso muitos tamanhos e formas de
telhas podiam ser feitos e os encaixes das telhas
em sua maioria eram irregulares. Da vem a frase
feito nas coxas, diz-se de algo que foi mal feito.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Telhas Cermicas
As telhas so apoiadas sobre madeiramento
previamente construdo.
Esse madeiramento deve ser mais resistente
que o madeiramento para cobertura vegetal,
visto que o peso das telhas superior,
geralmente feito de madeira de lei.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Beirais
Fazenda Coluband.
So Gonalo RJ (1760)
Diante do elevado ndice pluviomtrico era
imprescindvel a proteo das paredes, quase todas
compostas de barro em sua execuo, material
perecvel se exposto diretamente s chuvas
tropicais. Recorrendo a prticas j desenvolvidas
tanto nas possesses na ndia ou Extremo Oriente,
o portugus fez uso recorrente de um elemento
que se tomou um verdadeiro referencial para a
arquitetura colonial: beirais alongados, com
curiosos ou exticos acabamentos .
A experincia lusa no Oriente permitiu mais um
amlgama cultural associando o exotismo formal
dos beirais a sua funcionalidade ao proteger as
construes do elevado ndice pluviomtrico
tropical.
Byodoin (Cmara do Fnix).
Japo(1053)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Beirais
Diferente da idia simplificadora, que atribui aos beirais a
funo de elemento protetor em relao insolao, tal
elemento prioritariamente destinado a proteo contra
as chuvas e seus efeitos danosos ao panos verticais da
construo.
So executados de madeira, pedra ou argamassa, aplicados
coma arremates entre a parede e a projeo das ultimas
fiadas das telhas. Apresentam algumas formas
diferenciadas, ainda que permaneam com sua funo
principal inalterada. So cachorros, cimalhas ou sancas,
executados com menor ou maior apuro formal, conforme a
importncia da edificao e a mo-de-obra disponvel .
Stio do Padre Incio.
Cotia SP (1690)
Byodoin (Cmara do Fnix).
Japo(1053)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Beirais
Diferente da idia simplificadora, que atribui aos beirais a
funo de elemento protetor em relao insolao, tal
elemento prioritariamente destinado a proteo contra
as chuvas e seus efeitos danosos ao panos verticais da
construo.
So executados de madeira, pedra ou argamassa, aplicados
coma arremates entre a parede e a projeo das ultimas
fiadas das telhas. Apresentam algumas formas
diferenciadas, ainda que permaneam com sua funo
principal inalterada. So cachorros, cimalhas ou sancas,
executados com menor ou maior apuro formal, conforme a
importncia da edificao e a mo-de-obra disponvel .
Stio do Padre Incio.
Cotia SP (1690)
Byodoin (Cmara do Fnix).
Japo(1053)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Cachorros
O beiral em cachorrada, como popularmente
conhecido, trata-se de uma estrutura de madeira
cujo objetivo afastar as guas pluviais dos
panos verticais, da sua projeo alm do
paramento da parede. Sua aplicao decorre da
ausncia de lajes, necessitando uma amarrao
de pecas independentes para que sua funo
principal seja cumprida.
Os elementos de acabamento, os cachorros
propriamente ditos, podem receber um
entalhamento de marcenaria sofisticada,
inspirado em modelos advindos do oriente, como
animais fantsticos os ou peitos de pombo.
0 beiral em cachorrada no Stio do Padre
Incio (Cotia SP , 1690).
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
COBERTURA: Cimalhas e Sancas
Cimalhas e sancas so estruturas continuas de arremates dos telhados.
Confeccionadas de madeira, pedra ou argamassa, podem ser classificadas
de verdadeiras, quando funcionam coma elementos estruturais de descarga
dos esforos de cobertura ou falsas, apenas acabamentos .
Em algumas regies do pas apresentavam formas caprichosas, verdadeiros
rendilhados, com o nome de beira-sobre-beira, que a cultura popular
chamava de beira-saveira. Existe uma tradio em atribuir status aquele
proprietrio com beirais requintados sob seus telhados. Por oposio,
aqueles com coberturas sem ornamentao no teriam "eira nem beira.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
REVESTIMENTOS E PINTURA
At o sculo XVIII, quando ocorreram grandes
transformaes nos acabamentos das edificaes, pouco se
alterou nos revestimentos das paredes. Basicamente era
aplicado um emboco de barro, completado por reboco de
cal e areia. Sobrevinha-se o processo de caiao, com cal
retirada da incinerao de conchas e mariscos. O aspecto
dominante, portanto, era de uma cidade monotonamente
branca, conforme opinio recorrente de diversos visitantes
estrangeiros, coma Vauthier, Maria Graham, Saint-Hilaire,
Spix e Von Martius.
Contrastando com o branco, as esquadrias eram pintadas de
cores vivas, com predomnio do azul, vinho ou amarelo,
isoladas ou combinadas, a feio de algumas vilas
portuguesas. Neste caso a base constituda de cola,
tmpera ou leo (mamona ou linhaa), misturada a corantes
disponveis no local: do anil, o azul; da cochonilha, o
Casario e Igreja de Nossa Senhora do Rosrio e So Benedito
Parati / RJ, sc. XVII.
escarlate; do aafro, o amarelo; do urucum, o vermelho-vivo e do pau-brana, o negro.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
PISOS: Terra Batida
Assim coma as coberturas, os revestimentos para
os pisos evoluram a medida que a mo-de-obra
qualificava-se ou valorizavam-se os usos dos
ambientes de morar, trabalhar ou rezar, as
principais atividades coloniais. Os primeiros
exemplares simplesmente utilizavam materiais no
seu estado bruto, como a terra batida ou a pedra
sem nenhum aparelhamento.
A terra batida, ou barro batido, consistia
demarcao da rea a ser pavimentada e a
aplicao direta de barro ou terra e algum tipo de
aglomerante rudimentar. A mistura era
diretamente apiloada, aguardando-se sua cura ou
seca para utilizao .
Debret (Aquarela/ RJ, sc. XIX.)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
PISOS: Pedra
No caso da pedra, eram recolhidos fragmentos de dimenses variadas,
aplicados diretamente sobre o solo, argamassados com barro.
Era comum a utilizao de pedras menores, seixos rolados de rios, para
pavimentao de interiores enquanto nas vias aplicavam-se blocos ou
laminas de maiores dimenses. Ambos os casos receberam a peculiar
denominao de calamento p-de-moleque .
P-de-Moleque
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
PISOS: Pisos em Tijolo
Com o aperfeioamento da mo-de-obra e o trabalho dos canteiros, foi
possvel substituir a pedra bruta pela aparelhada, principalmente em
locais de maior prestgio, coma trios de igrejas ou das Casas de Cmara
e Cadeia. Nos interiores mais sofisticados, o lajeado de pedra j se fazia
presente, inclusive com desenhos em sua execuo.
No foi rara a utilizao da tijoleira ou pea de barro com dimenses
variadas, aplicadas em ambientes de menor status. Em algumas
ocasies era utilizado o prprio tijolo como revestimento de piso, ainda
que no apresentasse boa resistncia fsica a trao ou abraso,
contando com pouca durabilidade.
Stio do Padre Incio. Cotia SP (1690)
Casa do Capito Xerez.Sobral CR (sc. XVIII)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
PISOS: Madeira
A evoluo da marcenaria e carpintaria, associada a utilizao
de novo instrumental, permitiu a aplicao de pisos de
madeira, o conhecido tabuado corrido, outra referncia
construtiva colonial. Eram peas com cerca de 6m de
comprimento, 0,40m de largura e 0,05m de espessura (trinta
ou quarenta palmos x dois palmos x duas polegadas), apoiadas
em barrotes de madeira, que por sua vez apoiavam-se nos
baldrames, no caso do pavimento trreo, ou em madres, nos
pavimentos intermedirios.
As grandes tbuas poderiam ser justapostas sem nenhum
encaixe, as juntas--secas, ou utilizar macho-fmea, meio-fio ou
45, evitando frestas. Toda a madeira utilizada era de tima
qualidade, de lei, chibats, jacarands, mognos, sucupiras,
perobas, porem sem qualquer tratamento para aumentar sua
durabilidade, nem o cuidado para sua reposio. Continuava a
devastao das matas e a exausto das reservas vegetais, sem
preocupao com o futuro prximo.
Casa da Hera; Vassouras RJ (sc. XIX)
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FORROS
Os forros foram utilizados de diferentes formatos para atender a
Forro Liso
objetivos muito diferenciados: a diminuio do alto p-direito, a
manuteno da ventilao cruzada ou, principalmente, a valorizao do
ambiente social domstico ou de uso pblico, como igrejas, lojas ou
cmaras.
Tambm como os pisos, evoluram com a melhoria da mo-de-obra e
instrumento de marcenaria. Quanto forma, poderiam ser encontrados
forros lisos , em gamela, caixoto ou abobadados, com sua peas presas
diretamente ao madeiramento da cobertura ou barrotes do pavimento
superior.
Em relao ao material, encontramos peas habitadas sem forros, a
conhecida telha v, propcia para a ventilao, porm de acabamento
Forro Saia-e-camisa
precrio. Ainda com rusticidade, esteiras de taquara diminuam o pdireito, mantinham a ventilao e poderiam apresentar desenhos em
seus tranados.
O estuque foi fartamente utilizado, tanto na arquitetura residencial
quanto em programas mais elaborados. Neste caso, uma trama de
bambus ou fasquias de madeira era amarrada na estrutura da cobertura
e sobre ela aplicada uma argamassa composta por p-de-mrmore, areia
fina e um aglomerante. Tambm era utilizada a esteira de taquara
tranada para receber a massa, com posterior pintura.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FORROS
Entre todos os materiais, no entanto, devido as suas possibilidades, a
madeira predominou na confeco dos forros.
Forro Caixoto
Tbuas mais estreitas e finas do que nos pisos, com encaixes mais
elaborados como o duplo-fmea, ou a simples superposio, saia-ecamisa , peas que eram arrematadas nas paredes atravs de
caprichosas sancas ou cimalhas.
Solar Ferro. Salvador, 1690
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ESQUADRIAS: Muxarabi
Casa de Chica da Silva. Diamantina - MG, sc. XVIII
Sobre as ombreiras assentavam-se as esquadrias de madeira, quase
sempre duplas: os panos cegos e os vazados, peas macias e
treliadas, respectivamente.Pela face interna, tbuas justapostas
contra ventadas; pelo exterior, fasquias entrecruzadas de influencia
muulmana: rtu1as, gelosias e muxarabis .
Estas esquadrias, mais uma vez, atestam a capacidade lusa de
adaptao, pois as tre1ias tornaram-se ideais como regu1adores
climticos, pois propiciavam a venti1aao constante, auxiliada por
bandeiras sempre vazadas, iluminao disciplinada e a manuteno
da privacidade. Tais vantagens foram esquecidas ou simplesmente
desprezadas quando, com a chegada de D.Joo, as peas foram
proibidas e proscritas pelo rei para uma cidade que no poderia
continuar com "gticos costumes.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
ESQUADRIAS
Deve ser registrado que a utilizao do vidro foi muito rara no Perodo Colonial, j que
tal produto no era aqui fabricado. Quando necessria sua aplicao em obras de
grande porte, o mesmo era importado em pequenas peas e inc1udo em caixilharias de
vidro mido, em vitrais ou culos da arquitetura religiosa.
Aps sua proibio, seu uso se popularizou, substituindo as antigas trelias por janelas
de guilhotina. No entanto, todas as vantagens da esquadria original foram abolidas,
gerando uma pea que no permitia ventilao adequada, no controlava a
luminosidade enquanto a antiga privacidade foi mantida com a utilizao de generosos
bordados que protegiam a folha inferior das guilhotinas, mantendo o sigilo do interior
das moradas em relao as ruas, cujo trafego gradativamente se intensificava .
Sistema de contraventamento interno das janelas
Casario e Igreja de Nossa Senhora do Rosrio e S. Benedito
Parati / RJ, sc. XVII.
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FERRAGENS
Devido s dificuldades de produo -tanto por causa da ausncia da
mo-de-obra quanto pelas condies materiais - as ferragens eram
precrias, escassas, geralmente fabricadas pelos ferreiros, utilizando o
ferro forjado, de grande espessura.
No raramente, eram substitudas por encaixes de madeira ou pedaos
de couro, muito frgeis para suportar o peso das peas de madeira
macia que constituam as folhas de esquadrias.
As dobradias tipo machadinha , leme ou cachimbo eram fixadas com
grossos cravos de ferro, aplicados em peas transversais de madeira.
Para o fechamento, utilizavam-se ferrolhos, barras colocadas
verticalmente nas folhas, com funcionamento de cremona,
semelhante a modelos mais recentes
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
FERRAGENS
Ainda eram aplicadas as aldrabas - alas de metal sobre
um batente -funcionando como uma campainha primitiva,
para avisar da presena do visitante.
Os espelhos das fechaduras, medida que se
aproximava o sculo XVIII, poderiam contar com maior
cuidado na elaborao, verdadeiras cartelas de gosto
barroco ou rococ
Tcnicas Construtivas no Brasil Colonial
A EVOLUO CONSTRUTIVA SEGUNDO LUCIO COSTA
Desenhos de Lucio Costa
Cada mestre, oficial ou aprendiz pedreiro, taipeiro, carpinteiro, alvanu trazia consigo a
lembrana da sua provncia e a experincia do seu ofcio, da a simultnea adoo, logo de
incio, das diferenciadas feies arquitetnicas prprias de cada modo de construir: a taipa de
sebe, ou de mo pau-a-pique -, o adobe, a alvenaria de tijolo, a pedra e cal. (...) a taipa de
pilo, encontrando terreno propcio, fixou-se principalmente em So Paulo; a alvenaria de
tijolo floresceu mais em Pernambuco e na Bahia; nas terras acidentadas de Minas, onde os
caminhos acompanhavam as cumeadas, com as casas despencando pelas encostas, o pau-apique sobre baldrame de pedra foi a soluo natural; j no Rio de Janeiro, a fartura de granito
marcou a perspectiva urbana com a sequncia ritmaa das ombreiras e vergas de pedra
suporte e arquitrave -, princpio construtivo da Grcia antiga.
Você também pode gostar
- DEL PRIORE, Mary. História Da Criança No Brasil PDFDocumento116 páginasDEL PRIORE, Mary. História Da Criança No Brasil PDFIasmine LopesAinda não há avaliações
- Trincas e Fissuras em AlvenariaDocumento7 páginasTrincas e Fissuras em AlvenariaSilvio Liberato SantosAinda não há avaliações
- Alvenaria de Vedacao PDFDocumento12 páginasAlvenaria de Vedacao PDFVanderlei Martin SalinasAinda não há avaliações
- Drywall - (Recebimento - Armazenamento - Montagem de Parede e Forro)Documento16 páginasDrywall - (Recebimento - Armazenamento - Montagem de Parede e Forro)Priscila MagalhaesAinda não há avaliações
- Acórdão 749 2010 - TCU PDFDocumento13 páginasAcórdão 749 2010 - TCU PDFPetroniosAinda não há avaliações
- Infiltração em Alvenaria PDFDocumento7 páginasInfiltração em Alvenaria PDFklevinho29Ainda não há avaliações
- Arquivo 3 PDFDocumento132 páginasArquivo 3 PDFhesm10Ainda não há avaliações
- Técnicas Construtivas Do Período Colonial - I - Coisas Da ArquiteturaDocumento9 páginasTécnicas Construtivas Do Período Colonial - I - Coisas Da ArquiteturaAngela CarballalAinda não há avaliações
- Paredes de AlvenariaDocumento12 páginasParedes de AlvenariaJCGasparimAinda não há avaliações
- 9 - Aglomerantes PDFDocumento32 páginas9 - Aglomerantes PDFJosé Renato StelaAinda não há avaliações
- 3 - Aula - 08 - 03 - Locação de ObrasDocumento23 páginas3 - Aula - 08 - 03 - Locação de ObrasDiogo DinizAinda não há avaliações
- Glossário Ana Laura Araújo PDFDocumento29 páginasGlossário Ana Laura Araújo PDFAna Laura Araújo100% (1)
- Fôrmas de Alumínio para Paredes Estruturais de Concreto Armado Moldadas No LocalDocumento9 páginasFôrmas de Alumínio para Paredes Estruturais de Concreto Armado Moldadas No LocaljasdesignerAinda não há avaliações
- Alvenaria Estrutural e Suas PatologiasDocumento45 páginasAlvenaria Estrutural e Suas PatologiasSarah SaidAinda não há avaliações
- InstaçõesDocumento35 páginasInstaçõespadua.vasconcelos100% (1)
- Materiais PoliméricosDocumento22 páginasMateriais PoliméricosRodrigo FernandesAinda não há avaliações
- Capas de Concreto Sobre MuroDocumento8 páginasCapas de Concreto Sobre MuroJorge RosalAinda não há avaliações
- NBR 13582 - Telha Ceramica Tipo RomanaDocumento8 páginasNBR 13582 - Telha Ceramica Tipo RomanaAntonio Carlos de SouzaAinda não há avaliações
- Cartilha Do PedreiroDocumento35 páginasCartilha Do PedreiroRicardo Filho100% (1)
- VedaçõesDocumento21 páginasVedaçõesLola MaloneAinda não há avaliações
- Como Fazer Um Muro Fundações PDFDocumento7 páginasComo Fazer Um Muro Fundações PDFAnderson Santos100% (2)
- Aula EsquadriasDocumento57 páginasAula EsquadriasTst EdsonAinda não há avaliações
- Revista Recuperar, Edição 89 (4 Matéria)Documento7 páginasRevista Recuperar, Edição 89 (4 Matéria)Alex CrispimAinda não há avaliações
- Estrutura e Arquitetura Aco e Madeira ST PDFDocumento16 páginasEstrutura e Arquitetura Aco e Madeira ST PDFLuciano SennaAinda não há avaliações
- Diretrizes de MacrodrenagemDocumento4 páginasDiretrizes de MacrodrenagemFelipe SouzaAinda não há avaliações
- Especificações Projeto HidrossanitárioDocumento6 páginasEspecificações Projeto Hidrossanitário-RodrigoGrawe-Ainda não há avaliações
- Aula VIII TreliçasDocumento4 páginasAula VIII TreliçasCaykeLuisAinda não há avaliações
- Alvenaria - Mãos À ObraDocumento4 páginasAlvenaria - Mãos À ObraGrimm AGAinda não há avaliações
- Madeira Como Estrutura (2005)Documento152 páginasMadeira Como Estrutura (2005)Moacir Zancopé Junior100% (1)
- Wood FrameDocumento23 páginasWood FrameLourival De Franca SantosAinda não há avaliações
- Análise Das Manifestações Patológicas de Uma PDFDocumento63 páginasAnálise Das Manifestações Patológicas de Uma PDFGabriel QuiliceAinda não há avaliações
- NBR 12544Documento1 páginaNBR 12544misterios AlsAinda não há avaliações
- Manual Telhados IPTDocumento80 páginasManual Telhados IPTdavidjones100100% (2)
- MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MetaisDocumento47 páginasMATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. MetaisPaola RetzlaffAinda não há avaliações
- Sistema Construtivo em Wood Frame para Casas de MaDocumento15 páginasSistema Construtivo em Wood Frame para Casas de MaMariana Mossmann BatschauerAinda não há avaliações
- Sistemas Estruturais de Forma-AtivaDocumento74 páginasSistemas Estruturais de Forma-AtivaVinícius Nicácio100% (1)
- Apresentaçao - Tratamento de FissurasDocumento33 páginasApresentaçao - Tratamento de FissurasElmer cesar Moura100% (1)
- Aula 4 - Produção de ConcretoDocumento40 páginasAula 4 - Produção de ConcretoFábio Miguel AlmeidaAinda não há avaliações
- Alvenaria - FechamentoDocumento87 páginasAlvenaria - FechamentoWeder Alves Rodrigues50% (2)
- Eflorescência em Argamassa PDFDocumento17 páginasEflorescência em Argamassa PDFEduardo MarquesAinda não há avaliações
- Manual AlvenariaDocumento8 páginasManual AlvenariaBrunoK2013Ainda não há avaliações
- TelhadoDocumento60 páginasTelhadoRicardoJúlioDosSantosGasparAinda não há avaliações
- Captulo4 Alvenaria APOSTILADocumento8 páginasCaptulo4 Alvenaria APOSTILACarlos SilvaAinda não há avaliações
- Caderno de projetos de telhados em estruturas de madeiraNo EverandCaderno de projetos de telhados em estruturas de madeiraAinda não há avaliações
- Alvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020No EverandAlvenaria em blocos de concreto: Projeto estrutural de acordo com a NBR 16868 - 1, 2 ABNT, 2020Ainda não há avaliações
- Análise do Light Steel Framing como método construtivo e na reabilitação eficaz e sustentávelNo EverandAnálise do Light Steel Framing como método construtivo e na reabilitação eficaz e sustentávelAinda não há avaliações
- Reciclagem dos Resíduos de Construção Civil e Demolições - RCD: análise da viabilidade econômicaNo EverandReciclagem dos Resíduos de Construção Civil e Demolições - RCD: análise da viabilidade econômicaAinda não há avaliações
- O Itinerário Pioneiro do Urbanista Attilio Corrêa LimaNo EverandO Itinerário Pioneiro do Urbanista Attilio Corrêa LimaAinda não há avaliações
- Pisos Cerâmicos Antiderrapantes E/ou Antideslizantes?No EverandPisos Cerâmicos Antiderrapantes E/ou Antideslizantes?Ainda não há avaliações
- Princípios da mecânica dos solos e fundações para a construção civilNo EverandPrincípios da mecânica dos solos e fundações para a construção civilAinda não há avaliações
- Estudo Da Viabilidade Técnica Da Construção CivilNo EverandEstudo Da Viabilidade Técnica Da Construção CivilAinda não há avaliações
- Lavras III Séculos de História e DesenvolvimentoDocumento7 páginasLavras III Séculos de História e DesenvolvimentoWagner Gonçalves100% (1)
- Atividade Optativa III - Qual A Relação Entre A Atividade Mineradora e A Urbanização Durante o Período ColonialDocumento2 páginasAtividade Optativa III - Qual A Relação Entre A Atividade Mineradora e A Urbanização Durante o Período ColonialFabio MatosAinda não há avaliações
- Émile Rouède, o Correspondente de Ouro PretoDocumento20 páginasÉmile Rouède, o Correspondente de Ouro PretoWesley AlvesAinda não há avaliações
- 1 - Negócio de Trapaça - Caminhos e Descaminhos Na América Portuguesa (1700-1750)Documento315 páginas1 - Negócio de Trapaça - Caminhos e Descaminhos Na América Portuguesa (1700-1750)Poliana PriscilaAinda não há avaliações
- São Francisco de Assis de Ouro Prêto Crônica Narrada Pelos Documentos Da OrdemDocumento527 páginasSão Francisco de Assis de Ouro Prêto Crônica Narrada Pelos Documentos Da OrdemGellhorn100% (1)
- Edital Prograd 71-2021 Resultado Provisorio Proc Selet Vagas Residuais 2021-2Documento105 páginasEdital Prograd 71-2021 Resultado Provisorio Proc Selet Vagas Residuais 2021-2Yalle VilaçaAinda não há avaliações
- ANPPOM - Dois de JaneiroDocumento39 páginasANPPOM - Dois de JaneiroNovaes RicardoAinda não há avaliações
- Espiritismo em ItaúnaDocumento9 páginasEspiritismo em ItaúnaCharlesAquinoAinda não há avaliações
- TIRADENTEDocumento16 páginasTIRADENTEWellington SilvaAinda não há avaliações
- Barroco BrasileiroDocumento16 páginasBarroco BrasileiroDiego AlvesAinda não há avaliações
- Prova de Construção ColetivaDocumento1 páginaProva de Construção Coletivamarcela.pm83Ainda não há avaliações
- Mód. 3 História E.fundamentalDocumento24 páginasMód. 3 História E.fundamentalPedro Henrique NarcisoAinda não há avaliações
- Anais 2snhhDocumento902 páginasAnais 2snhhwarneysmith3Ainda não há avaliações
- Negros Rebeldes Nas Minas Gerais: A Revolta Dos Escravos de Carrancas (1833)Documento20 páginasNegros Rebeldes Nas Minas Gerais: A Revolta Dos Escravos de Carrancas (1833)Rafael Horta ScaldaferriAinda não há avaliações
- Dayana SantAna Veloso Dossiê de Tombamento Da Capela de Nossa Senhora Do Bom Despacho de Cachoeira Do CampoDocumento72 páginasDayana SantAna Veloso Dossiê de Tombamento Da Capela de Nossa Senhora Do Bom Despacho de Cachoeira Do CampoElza VieiraAinda não há avaliações
- Release Bicentenário Da Imprensa OuropretanaDocumento2 páginasRelease Bicentenário Da Imprensa OuropretanaCaio VictorAinda não há avaliações
- Espeleologia Digital III 2022Documento139 páginasEspeleologia Digital III 2022Revista OVNI PesquisaAinda não há avaliações
- Vale Livro Nossa HistoriaDocumento212 páginasVale Livro Nossa HistoriaJoao SaydAinda não há avaliações
- Arquitetura Vernacular Colonial em Minas Gerais Algumas Releituras PossíveisDocumento20 páginasArquitetura Vernacular Colonial em Minas Gerais Algumas Releituras PossíveisRégis Eduardo MartinsAinda não há avaliações
- As Quatro Estações: MimesesDocumento51 páginasAs Quatro Estações: MimesesPublio Athayde100% (2)
- Jornal O Espeto 719Documento38 páginasJornal O Espeto 719Jornal O ESPETOAinda não há avaliações
- ProjetoDocumento17 páginasProjetoAna PaulaAinda não há avaliações
- Eabh Livro 60anosDocumento62 páginasEabh Livro 60anosLeia FerreiraAinda não há avaliações
- Patrimonio - Modelo de ProvaDocumento6 páginasPatrimonio - Modelo de ProvaQpereira RonaldoAinda não há avaliações
- Caderno de Resumos V Jornada Latino Americana de Estudos TeatraisDocumento128 páginasCaderno de Resumos V Jornada Latino Americana de Estudos Teatraisina_neckel1186Ainda não há avaliações
- A Região Sudeste Aspectos Históricos e CulturaisDocumento19 páginasA Região Sudeste Aspectos Históricos e CulturaisSandra GoesAinda não há avaliações
- Quadro Comparativo de LiteraturaDocumento2 páginasQuadro Comparativo de LiteraturaThatyGuerra100% (2)
- Lenda Mineira Inedita CarmogamaDocumento20 páginasLenda Mineira Inedita CarmogamawvmcAinda não há avaliações