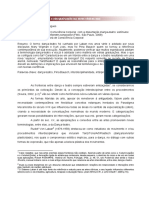Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Estado de Ser e Não Ser Das Artes Performativas Contemporâneas
O Estado de Ser e Não Ser Das Artes Performativas Contemporâneas
Enviado por
Cláudio ZarcoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Estado de Ser e Não Ser Das Artes Performativas Contemporâneas
O Estado de Ser e Não Ser Das Artes Performativas Contemporâneas
Enviado por
Cláudio ZarcoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez.
2008
183
O ESTADO DE SER E NO SER DAS ARTES PERFORMATIVAS
CONTEMPORNEAS1
Slvia Maria Geraldi
RESUMO: Esse artigo reflete sobre as novas categorias cnicas que emergiram no decurso do
sculo vinte e transformaram a cena contempornea em territrio lingstico hbrido e plural.
Partindo de um estudo de caso, a discusso enfoca alguns dos recursos tcnicos, procedimentos
criativos e performatividades que integram o campo das interdisciplinas artsticas. Indico, por
meio da eleio de ferramentas de anlise, tendncias ou leis de produo caractersticas aos
modos de estruturar as novas poticas cnicas.
PALAVRAS-CHAVE: processos criativos, dana contempornea, teatro contemporneo,
interdisciplinas artsticas.
THE STATE OF BEING AND NOT-BEING OF THE CONTEMPORARY
PERFORMATIVE ARTS
ABSTRACT: This article reflects upon the new performing categories that have emerged
during the twentieth century and have transformed the contemporary scene in a hybrid and
plural territory. On the basis of a case study, the discussion focuses on some of the technical
resources, creative procedures and formats that integrate the field of artistic inter-subjects. I
have attempted to use analytical tools in order to indicate characteristic tendencies or
production laws that are representative of the ways of structuring the new poetics of the
scene.
KEYWORDS: creative processes, contemporary dance, contemporary theatre, artistic intersubjects.
O dilema metodicamente construdo por William Shakespeare (1564-1616) em
seu memorvel Hamlet e sumariamente popularizado na expresso ser ou no ser,
mostra-se inesgotvel tanto em sua capacidade de servir como material textual para
montagens teatrais, quanto como fonte de reflexo terica sobre o mtier. Parafraseando
o jovem prncipe dinamarqus, ser e no ser parece traduzir o drama de conscincia
vivido pelas artes performativas contemporneas e por seus mais vigorosos
representantes.
1
Artigo apresentado como concluso da disciplina Laboratrio II experimentaes sobre o ator, o
intrprete e o performer do Curso de Ps-Graduao em Artes da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), ministrada pelos professores Vernica Fabrini, Renato Ferracini e Fernando Villar
(professor convidado da UnB).
Mestre em Educao e Doutoranda em Artes pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
Professora e coordenadora do Curso de Graduao em Dana da Universidade Anhembi Morumbi, So
Paulo.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
184
Artes performativas referem-se aqui s inmeras expresses artsticas de
vanguarda, envolvendo ao corporal testemunhada (espectao), que emergiram e/ou
se desenvolveram de fins do sculo XIX em diante, indo desde suas formas mais puras
a dana, o teatro, a msica, a pera, o circo at as artes de fronteira, aglutinadoras de
uma srie de manifestaes hbridas, tais como a performance, o happening, a danateatro, a arte cintica, o teatro fsico, body art, cena multimdia, instalaes, live art,
aktion e inmeras outras terminologias e conceitos que da se originaram.
A edio de novembro de 2006 da Revista Humanidades2 um exemplo
contundente e atual de que o debate sobre antigas e recentes categorizaes estticas
assunto que se mantm renovado, complexo e vital: a leitura dos doze artigos que a
compem poder comprovar a diversidade de idias e opinies que circunscrevem o
fenmeno intitulado teatro ps-dramtico. Para Silvia Fernandes (2006, p. 7),
[...] o conceito de ps-dramtico vem juntar-se a uma srie de nomeaes que,
h pelo menos trs dcadas, tenta dar conta da pluralidade fragmentria da cena
contempornea, especialmente dessas espcies estranhas de teatro total. Ao
contrrio da gesamtkustwerk wagneriana, elas rejeitam a totalizao e tm como
trao mais evidente a freqncia com que se situam em territrios bastardos,
miscigenados de artes plsticas, msica, dana, cinema, vdeo, performance e
novas mdias.
Esse trabalho considera alguns dos conceitos norteadores da nova cena
contempornea segundo Renato Cohen (1998, p.XXIII), a cena das vertigens, das
simultaneidades, dos paradoxos prprios do Zeitgeist contemporneo a partir da
experincia que vivenciei na disciplina Laboratrio II experimentaes sobre o ator,
o intrprete e o performer durante o 1 semestre de 2007, como doutoranda do
Programa de Ps-Graduao em Artes da Unicamp. Desenvolvendo-se sob coordenao
conjunta dos professores Vernica Fabrini e Renato Ferracini, docentes do
Departamento de Artes Cnicas da Unicamp, e do professor convidado Fernando Villar
da Universidade de Braslia (UnB), as atividades, de carter eminentemente prtico,
trataram o tempo todo de construir pontes com teorias subjacentes, sublinhando
contedos, procedimentos, metodologias e formatividades presentes nos atuais modos
de investigao da linguagem cnica em especial, a linguagem teatral com a qual os
trs artistas-docentes tm ligao mais direta.
A aproximao com as pesquisas personalssimas de Fabrini, Ferracini e Villar
permitiram-me corporificar modos de fazer do teatro contemporneo, ao mesmo tempo
em que ensejaram um constante focar e desfocar de fenmenos cnicos diversos,
fazendo dialogar teoria e pratica, tradio e inovao. Tendo no trabalho do intrprete
seu principal foco de experimentao, a abordagem situou-se no campo das
interdisciplinaridades artsticas, trabalhando a partir dos eixos tempo, espao,
movimento, imagem e som. As interdisciplinas artsticas so, de acordo com Villar
(2003, p.117-18),
[...] resultantes de disciplinas que dialogaram ou digladiaram-se atravs de
encontro, troca, negociaes e/ou choque, gerando uma nova disciplina. [...]
Interdisciplinas artsticas seriam ento outras disciplinas ou intermdias tais
como a j citada performance art, dana teatro, butoh, msica teatro, arte
computacional, teatro acstico, teatro digital, instalao, robtica, teatro
performance, crtica em performance ou vdeo poesia.
2
REVISTA HUMANIDADES. Braslia: Editora Universidade de Braslia, edio especial, n. 52,
novembro de 2006. Quadrimestral. ISSN 0102-9479.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
185
Cabe ressaltar que todo meu aprendizado, formao e atuao artsticos se
desenvolveram quase que exclusivamente no campo da dana, embora em suas mais
variadas formas. Apenas recentemente tive a oportunidade de trabalhar em colaborao
com um diretor teatral na criao de um espetculo-solo3, resultando numa investigao
de fronteiras entre dana e teatro e provendo-me, ainda que de forma incipiente, de
fundamentos sobre certo tipo de fazer teatral. Como bem lembra Antonio Pinto Ribeiro
(1997), cada corpo s definvel por meio dos treinos, tcnicas e linguagens a que est
permanentemente sujeito e que modelam seus discursos, comportamentos,
sensibilidades. Mas j que estamos em territrio inter, lugar propcio para a realizao
de trnsitos e negociaes, esperamos que as inevitveis incurses pelo campo
especfico da dana ampliem redes de comunicao com o objeto desse estudo.
Seguindo o rastro de algumas interdisciplinas artsticas, possvel identificar
constantes que aproximam o processo de criao / encenao desenvolvido durante o
curso de matrizes do work in process (COHEN, 1998), ou da dramaturgia processual
(KERKHOVE, 1997), ou ainda de vertentes do que se vem chamando de teatro psdramtico, tanto no que diz respeito aos procedimentos criativos empregados, quanto ao
produto apresentado a pblico no final das atividades.
O procedimento work in process teria aparecido na cena, preliminarmente, em
manifestaes parateatrais, nas performances, happenings, eventos, cena multimdia e
tambm nas linguagens de trnsito, como aquelas encontradas na dana-teatro de Pina
Bausch ou nos procedimentos da danarina norte-americana Yvonne Rainer (COHEN,
1998). A criao/encenao pelo work in process tem, segundo Cohen, as seguintes
caractersticas principais que o diferenciam de outras formas de procedimento criativo:
no parte de condies estabelecidas a priori (texto, autoria, mapa de personagens);
opera-se atravs da hibridizao e superposio de contedos e estruturas; organiza-se
por meio de leitmotiv ou linhas de fora em que a ao dos performers em laboratrios
interfere na construo do roteiro / storyboard; implica em iteratividade e sucessivas
mutaes, evitando cristalizar-se enquanto produto final; substitui a narrativa clssica,
temporal e causal, pela organizao espacial sincrnica, desmanchando o paralelismo
entre sentido e representao.
A gradativa banalizao sofrida pela idia de trabalho em processo passou,
entretanto, a no garantir a presena de um terreno seguro de discusses e de atuao
artstica. A terminologia passou a ser empregada inadvertidamente por inmeros artistas
sem que esses necessariamente compartilhassem de uma base comum de entendimentos
sobre o assunto. Para efeito dessa discusso, considerarei a noo de dinamicidade de
sistema que Cohen utiliza para caracterizar trabalhos em processo, estabelecendo sua
condio de percurso dinmico e iterativo entre criao, processo e formalizao
(COHEN, 1998, p. 21).
A dramaturgia com carter de processo tendncia artstica compartilhada por
boa parte da vanguarda da dana contempornea e assemelha-se, em muitos aspectos, ao
procedimento work in process, podendo tambm referir-se a um amplo arco de
manifestaes cnicas provocadoras do alargamento de fronteiras. Em Le processus
dramaturgique (Contredanse, 1997), a dramaturga belga de teatro e dana Marianne van
Kerkhove aborda diferentes acepes do termo dramaturgia na dana, trata de defini-la
como uma prtica consciente, expondo o aspecto contingente, no prescritivo, mas
3
O espetculo intitulado Butterfly foi criado em 2001 a partir da colaborao com o diretor Roberto
Lima; o trabalho foi contemplado com o Prmio Estmulo de Dana 2000 da Secretaria de Estado da
Cultura de So Paulo para montagem de projetos inditos e manteve-se em cartaz, embora de forma
intermitente, at o ano de 2006.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
186
tambm particular que o termo assume na dana em fases mais recentes de sua histria.
Segundo ela, embora a idia de uma dramaturgia em dana exista desde que dana
dana, isto , desde que esta se afirma como forma de arte distinta e independente, nos
modos mais recentes de produo baseados em lgicas de construo que
privilegiariam o processo de trabalho sobre o resultado final que seu conceito e prtica
sero conscientemente questionados e forados a novas remodelagens.
Para Kerkhove, esse tipo de dramaturgia opta pela no elaborao prvia sobre o
resultado a que se quer chegar; escolhe e investiga materiais de origens diversas (textos,
movimentos, imagens de filmes, objetos, idias, etc), cujo comportamento testado por
meio de repeties contnuas at a emergncia de estruturas de significao; considera o
material humano (personalidade e capacidade tcnica dos performers) como
fundamento principal da criao; define um conceito / forma somente ao final desse
processo.
principalmente nos finais da dcada de 1970 e incio dos anos 80 que o debate
em torno do conceito de dramaturgia para alm da sua simples associao com o texto
teatral ganhar destaque nos meios artsticos, acadmicos e de comunicao (BRAVI,
2002). A fim de dar conta dos fenmenos em expanso, novas terminologias sero
cunhadas: dramaturgia da dana, dramaturgia do corpo, dramaturgia da fisicalidade,
dentre outras. Se, de um lado, haver uma tendncia cada vez maior por parte dos
representantes da dana de especializar discursos e processos relacionados ao seu mtier
daqueles praticados por outras formas de arte; de outro, a dana colocar
exaustivamente prova idias, materiais, estruturas, metodologias partilhadas por
gneros estticos distintos, expandindo seus prprios limites lingsticos.
Segundo Ribeiro (1994, p. 18),
[...] nos espetculos de dana a dramaturgia realizada a partir dos movimentos
e da gestualidade dos bailarinos, que com seu corpo dizem coisas. No se trata
aqui de uma narratividade, mas de uma fisicalidade. Quer dizer, uma
narratividade sem sintaxe, algo parecido imagem dos ideogramas da escrita
chinesa.
O conceito de fisicalidade nascer da descoberta do valor comunicativo e
expressivo do corpo e vir no rastro dos projetos estticos das vanguardas histricas e
de seus performers com intervenes multidisciplinares e necessariamente corporais. E
ainda que opte por associar-se a outras formas narrativas, ter no corpo e em suas
expresses fsicas o protagonista desse processo de alargamento de fronteiras, fazendo
nascer solues como o Dana-Teatro, o Teatro-Fsico ou a Performance Corporal.
Quanto ao teatro ps-dramtico, mesmo no havendo total acordo entre seus
teorizadores mais representativos, alguns determinantes internos podem contribuir para
a vetorizao de seus processos cnicos: o uso que a encenao faz do texto que, ainda
que seja dramtico, passar por tratamentos autorais ou por operaes de
desdramatizao, ou poder ainda no estar escrito a priori, mas ser criado a partir de
um processo improvisado; a ausncia de hierarquia entre os diferentes sistemas cnicos
(textos, movimentos, gestos, sonoridades, objetos, imagens etc), importando mais os
modos como se elaboram e articulam esses diferentes materiais que sua referencialidade
a cdigos e convenes pr-estabelecidos; o deslocamento da produo de significado
para a produo de sentido das obras, rompendo com as redes semnticas tradicionais; a
centralidade na corporalidade do performer que, embasada numa competncia
interdisciplinar de atuao (teatro, dana, circo, canto, mmica etc), far emergir
materiais e estruturas de composio; os modos de recepo das obras, incluindo a
escolha de espaos pblicos ou no convencionais para a realizao dos espetculos,
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
187
potencializando tanto as temticas de criao, quanto as experincias de percepo do
espectador.
Algumas das caractersticas de work in process, dramaturgia processual e teatro
ps-dramtico sero exploradas adiante, traando pontes com o trabalho realizado.
Alm disso, um dado importante a ser fornecido e que interferir diretamente na
conceituao desse processo de trabalho a escolha da obra Hamlet de Shakespeare
como material textual (ou pr-textual) para as experimentaes do grupo. Assim, alm
da verso original, nos foi solicitado que lssemos as peas Hamlet-mquina (Hucitec,
1987) de Heiner Muller e The Fifteen Minute Hamlet de Tom Stoppard. As formas de
utilizao das obras de referncia tambm sero resgatadas mais frente.
A dinmica das atividades, ao mesmo tempo em que manifestou diferenas e
definiu estilos particulares nas prticas artsticas dos diretores Fabrini, Ferracini e
Villar, tambm indicou tendncias ou disposies no sentido de uma inteno
semelhante que dirige seus processos de trabalho , definidoras de um modus operandi
comum a todos. A palavra disposio tanto pode exprimir um ato organizador, uma
distribuio ou ordenao de elementos em determinado espao, aproximando-se da
idia de composio, estrutura; quanto relacionar-se a um estado de esprito favorvel a
(algo), uma predisposio, inclinao (BRAVI, 2002). Assim, apesar das
singularidades, poderemos observar reciprocidades, regularidades, repeties nas
posies e propostas apresentadas pelos trs diretores, indicando um carter sistmico
quanto aos modos de criar e compor os elementos da linguagem cnica.
Visando organizar as inmeras componentes passveis de integrar esse sistema de
disposies, definiremos trs categorias de anlise que orientaro nossa discusso: a
primeira, denominada corpo cnico, relaciona-se s maneiras de se referir ao corpo
presentes nas prticas e discursos dos diretores, indicando concepes, usos e funes
relativos corporalidade cnica; a segunda, princpios estruturais, est ligada aos
diversos recursos tcnicos incorporados ao processo de trabalho, incluindo os
treinamentos corporais e tcnicas artsticas, de forma a desenvolver as habilidades
necessrias ao fazer cnico (incluindo as fases de preparao corporal, criao,
composio e performance); a terceira e ltima, estruturao de linguagem, refere-se
aos princpios esttico-ideolgicos que norteiam a composio da obra, desde a
emergncia dos diversos materiais cnicos (campo temtico, corporalidades,
movimentos, sonoridades, visualidades, espao cnico, luz etc) at a formulao das
opes dramatrgicas (PAVIS, 1999, p. 115) e da escriturao cnica. Obviamente,
essas trs categorias, embora apresentadas separadamente, se perpassam, comunicam,
interagem e mostram-se indissociveis, especialmente pelo fato de estarmos em zona de
indefinio de territrios.
Analisaremos a seguir cada categoria em separado.
CORPO CNICO
Georges Vigarello (2003) afirma que as concepes sobre forma, valores,
funcionamento e utilizaes corporais revelam indcios importantes de como as pessoas
se referem a seu corpo, o habitam e o interrogam em determinada cultura e poca. No
curso de todo o sculo XX, as dimenses da corporalidade sero radicalmente
questionadas por todos os campos de conhecimento: as cincias, as artes, a filosofia, a
psicanlise, a literatura. O que entrar em crise ser principalmente a viso gerada pelo
pensamento renascentista e cartesiano que separa esprito de matria, corpo de mente e
alma, que enfatiza a superioridade da razo sobre a emoo, sobre a sensibilidade, sobre
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
188
os estados afetivos, tornando o corpo uma coisa que se tem e no aquilo se . A partir
das vanguardas estticas do incio do sculo XX que o corpo vai adquirir uma
crescente centralidade e se tornar cada vez mais uma questo, um problema que a arte
explorar sob uma multiplicidade de aspectos e dimenses. (SANTAELLA, 2004).
De acordo com Ribeiro (1997, p. 9-10), as Artes de Corpo a dana, o teatrofsico, a performance corporal e algumas formas de msica vocal nascem a partir do
momento em que a coregrafa e bailarina norte-americana Isadora Duncan (1878-1927)
declara que se quisesse traduzir nas danas o que queria dizer por palavras no
danaria, mas escreveria. O que Isadora prenuncia a mudana radical quanto
posio que o corpo assume na modernidade: o corpo se torna meio de expresso com
linguagem prpria (RIBEIRO, 1997, p. 10).
Antes dela, os chamados reformadores do movimento Franois Delsarte (18111871), Emile Jaques-Dalcroze (1865-1950) e Rudolf von Laban (1879-1958) j se
interessavam pelas correspondncias entre movimento e expresso. Movidos pela
necessidade de investigar o como e por que do movimento e pela crena de que existe
uma solidariedade entre as experincias do corpo, da emoo e da mente,
desenvolveriam teorias e metodologias peculiares que influenciariam sucessivas
geraes de artistas at os nossos dias. Toda uma tradio expressionista e expressiva da
dana, por exemplo, admitir que os corpos se manifestam a partir de uma interioridade,
que seu movimento emerge de uma motivao interna e, dessa crena, criaro inmeras
novas tcnicas corporais e coreogrficas para expressar suas inquietaes.
De fato, cada gerao, contexto ou gnero esttico (re)inventar sua prpria
cultura corporal. Noes variaro conforme revises, crises, questionamentos, mas
tambm conciliaes, concordncias e acomodaes que venham a ocorrer quanto ao
habitus corporal cnico por parte de geraes estticas sucessivas. O movimento da
histria algo complexo e paradoxal, dado que no uma seqncia ordenada
ininterrupta: um processo que abriga simultaneamente continuidades e rupturas, a
partir das quais as representaes das coisas e fenmenos do mundo tendem a deslocarse de lugar, transformar-se, mas tambm reter os registros e assimilaes de pocas
prvias. Uma representao sempre uma forma de imaginar o mundo, de organiz-lo
internamente dando-lhe forma, significado, existncia. No campo das
interdisciplinaridades artsticas, estamos mais sujeitos a variaes, ambigidades,
sobreposies e imprecises de conceitos. Como ressalta Villar (2003, p. 118),
Procedimentos interdisciplinares nas artes continuam a desafiar taxonomias e a
indicar novos desdobramentos ou mutaes. [...] Interdisciplinaridade artstica
pode ser uma importante ferramenta para se entender novas trilhas da
contemporaneidade que nos desafia. Termos como fuso, crossover, multimdia,
rizomas, rede, teia, leque, hibridismo, Espanhs, primitivos modernos, bicuriosos, bi-nacionalidades, glocal e/ou mestiagem so todos termos que
contm graus de interdisciplinaridade. So nuances de um mundo que se
transforma, irradiando outros conceitos tnicos, sexuais, familiares, sociais e
artsticos, que por sua vez exigem trocas disciplinares complementares e
suplementares para o seu entendimento.
Sendo assim, no conjunto das diferentes atividades realizadas durante o processo
de trabalho na disciplina aquecimentos, sensibilizaes, treinamentos tcnicos, jogos
teatrais, exploraes de materiais criativos, improvisaes, composies, apresentao
de cenas e/ou produtos parciais, performances, discusses e teorizaes foi possvel
identificar contornos tpicos no s de uma tendncia artstica, mas tambm de
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
189
abordagens corporais ligadas s interdisciplinaridades artsticas em suas possveis
variantes.
Quanto categoria corpo cnico, podemos dizer que os diretores demonstraram
estar de acordo sobre as seguintes noes:
Hibridismo Valoriza a presena de padres corporais eclticos e de agentes4
dotados de cultura corporal diversificada. Requer dos agentes a capacidade e
disponibilidade para exprimirem-se corporalmente de formas variadas e em
diferentes linguagens artsticas.
Solidariedade entre interioridade / exterioridade Associa a coerncia do gesto com
a construo de uma interioridade. Reflete uma noo de corpo prprio atrelada
idia de ao solidria entre movimento, sensao, sentimento, pensamento. Investe
na construo de novas sensibilidades ou qualidades de ser criativos e no
desenvolvimento dos processos perceptivos, sensrio-motores e afetivos de forma
integrada materialidade do corpo e do movimento. Simula novas zonas de
experincia por meio de estados corporais paradoxais.5
Centralidade do corpo na construo da dramaturgia cnica6 Reflete uma noo de
dramaturgia do corpo atrelada noo de corpo cnico como texto,
redimensionando o conceito de corporalidade (BRAVI, 2002). Exprime vetores
comunicativos do corpo para alm dos vetores atlticos; formula sentidos com base
na fisicalidade do agente e/ou em seus enigmas existenciais (RIBEIRO, 1994).
Relao autoral com a obra Implica no alargamento do papel dispensado ao
agente, que convidado a colaborar na criao dos sentidos, dos materiais textuais
diversos (campo temtico, corporalidades, movimentos, sonoridades, visualidades,
espao cnico etc) e nas regras de composio. Explora largamente os contedos
internos, dados biogrficos, mitopoticas e contextos pessoais do agente, buscando
imbricaes entre arte/vida (COHEN, 1998).
Disperso da idia de personagem Articula materiais de diversas fontes (externas
e internas ao agente) para constituio dos seres ficcionais (BONFITTO, 2006) ou
personas auto-referentes (COHEN, 1998). Tendncia por parte do agente a
encenar um eu prprio, afastando-se da incorporao de um outro. D preferncia
aos caracteres criativos, auto-referentes e presentacionais (BONFITTO, 2006) da
atuao, afastando-se das linhas representacionais, mimticas, dramticas ou
reprodutoras do real.
Cabe observar que as caractersticas acima apresentadas dizem respeito a este
processo especfico de trabalho, podendo ocorrer variaes para diferentes
interdisciplinaridades experimentadas. De qualquer modo, podemos notar que a
categoria corpo cnico ter implicaes fundamentais nas duas subseqentes: princpios
estruturais e estruturao de linguagem.
Optou-se por usar a palavra agente pela sua capacidade de incluir um maior nmero de indivduos
cnicos: danarinos, atores, performes, cantores, pintores, msicos, vdeo-makers, cinegrafistas, djs, vjs,
grafiteiros ou, ainda, qualquer cidado no treinado previamente em linguagens cnicas.
5
Zona de experincia e corpo / estado paradoxal foi terminologia empregada pelo diretor Renato
Ferracini durante as teorizaes realizadas ps-aula. Zona de experincia nos remete ao locus da ao
criativa, campo propcio sua instalao e configurao. O corpo , nesse sentido, zona de experincia
potencial. Isso nos faz supor que a idia de corpo / estado paradoxal esteja relacionada dilatao dos
canais de percepo do agente de forma a induzi-lo a estados de estranhamento e de alterao de
equilbrio para fins criativos e expressivos.
6
O diretor Fernando Villar (2006) apontar esta como uma das caractersticas tpicas de prticas artsticas
interdisciplinares.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
190
PRINCPIOS ESTRUTURAIS
Uma exigncia cada vez mais permanente dos novos criadores cnicos tem sido a
formao e treinamento multidisciplinares de seus intrpretes, realando em suas
produes uma capacidade especial para manejar e fazer conviver vrias artes. Frente a
isso, de se esperar uma saudvel multiplicao e diversificao de intervenes,
traduzindo-se em assinaturas identificveis de alguns desses autores e permitindo-nos
falar de um gnero Bob Wilson, Jan Fabre ou DV8 (RIBEIRO, 1994).
Na dana, diversos coregrafos nacionais e internacionais de vanguarda tm
trabalhado sob o enfoque de maior democracia estilstica, sem vincular suas companhias
a uma escola de dana particular situao comum no passado , buscando danarinos
com formao tcnica mais neutra e hbrida, isto , com nfase cada vez menor em
treinamentos exclusivistas ligados a estilos de dana caractersticos. A prpria tendncia
da danse dauteur (LOUPPE, 2000) tem forado criadores e danarinos a um maior
questionamento do conceito de tcnica de dana, levando-os a experimentar maior
continuidade entre o trabalho de preparao tcnica e a cena.
Quanto experincia vivenciada no Laboratrio II, pudemos capturar do savoirfaire e discursos dos diretores a presena de referncias ligadas s suas respectivas
pesquisas artsticas e pedaggicas. Vernica Fabrini, alm de bailarina, criadora e
diretora do Grupo de Pesquisa Cnica Boa Companhia sediada na cidade de Campinas,
que tem como proposta a pesquisa da linguagem cnica a partir do trabalho do ator.
Renato Ferracini integra desde 1993 o ncleo de pesquisas teatrais LUME, tambm em
Campinas, como ator e pesquisador, investigando princpios criativos utilizados pelo
ator na construo de estados orgnicos de representao para elaborao de uma
dramaturgia de um corpo-em-arte. Fernando Villar, como autor, diretor, encenador e
performador, investiga o teatro contemporneo e suas manifestaes interdisciplinares:
a performance, o teatro performance, o teatro ps-dramtico, a cena multimdia e os
diferentes desdobramentos ligados ao corporal testemunhada.
As caractersticas apresentadas na categoria corpo cnico j fazem, inclusive,
entrever um certo tipo de proceder tcnico que, embora tenha apresentado variaes de
um diretor para outro, manteve nexos entre seus elementos e filosofias de trabalho. Na
prtica, as intervenes de cada professor se alternaram pelas semanas do semestre;
somente no fim do curso, praticamente nas duas ou trs ltimas aulas, que atuaram
simultaneamente na preparao e apresentao da performance final com a turma. Esta,
por sua vez, foi dividida em dois grupos que trabalharam em dias distintos, tambm se
juntando ao final para a realizao de ensaios finais e comunicao dos resultados do
processo a pblico convidado.7
Os encontros foram marcados por aquecimentos coletivos, seguidos por exerccios
e instrues que nos proviam de fundamentos sobre os sistemas tcnicos adotados pelos
diretores e tambm serviam de base para as improvisaes subseqentes quer estas se
voltassem ao levantamento de vocabulrio e material pessoal, quer assumissem um
carter de pesquisa e produo da linguagem cnica. de interesse notar que os
diretores, embora adotassem abordagens tcnico-corporais particulares, tambm se
preocupavam em manter uma certa coerncia e continuidade quanto aos princpios e
elementos trabalhados, ora resgatando-os, ora dando-lhes enfoque complementar ou
suplementar.
7
A performance intitulada Abstract3F28Hamlet realizou-se no dia 26 de junho de 2007, s 16 horas, na
sala de aula do Departamento de Artes Cnicas da Unicamp, contando com a presena de alunos e
professores dos cursos de arte da universidade, bem como de convidados externos trazidos pelos alunos
da disciplina.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
191
Muitos dos procedimentos empregados por Renato Ferracini, por exemplo, se
esclareceram aps a leitura de sua obra, A arte de no interpretar como poesia corprea
do ator (Editora da Unicamp, 2003). Ele prope a descoberta de uma tcnica pessoal
para o desenvolvimento do trabalho do ator, mais individualizada e de carter
extracotidiano, contrapondo-a a formatos tcnicos pr-codificados e globalizantes. O
enfoque est direcionado manipulao do corpo e da voz do ator no tempo e no
espao, capacitando-o, ao longo de extenso perodo de trabalho, a codificar uma tcnica
corporal e vocal prprias. Para Ferracini (2003, p. 38),
A tcnica possibilita a operacionalizao e a comunicao entre o corpo e a
alma, d forma vida e s energias potenciais dinamizadas pelo ator,
possibilitando no o que dizer, mas a forma como se diz. Assim como a
semente, a tcnica o conjunto de informaes genticas e formais do ator que
lhe possibilita realizar uma interao entre seu corpo-em-vida e seu pblico
de uma maneira pulsante e artstica.
Ferracini sempre iniciava o aquecimento pelo treinamento energtico8 que visa
provocar, por meio da exausto fsica, um esvaziamento interno, disponibilizando o
corpo para acionar ou potencializar novos estados de energia. Conforme pudemos notar,
a mobilizao da coluna vertebral e o trabalho sobre as articulaes tm papel
preponderante nesse tipo de proposio. Para ele, a pr-expressividade funciona como
momento preparatrio do ator e que fundamenta a coleta de seu vocabulrio individual
de matrizes que serviro como base para uma possvel aplicao cnica (FERRACINI,
2003, P. 191).
Alm disso, pudemos identificar nas aulas, como parte das aes de preparao
tcnica e de ponte da pr-expressividade expressividade, outros procedimentos que
so citados em sua obra, como o trabalho com imagens e mimeses de animais e a
dana pessoal. A instalao daquilo que ele nomeou zona de experincia foi
concretizada de vrias formas. Uma de suas ocorrncias se deu por meio da explorao
do componente de movimento peso9 e de suas qualidades expressivas bsicas (denso e
suave, como por ele instrudo). Buscando atingir uma atitude interna paradoxal,
Ferracini props que investigssemos diferentes gradaes do fator peso (ora de forma
isolada ora simultnea), evoluindo pelos diferentes nveis espaciais (baixo, mdio e alto)
e pelo espao geral da sala.
interessante notar que o fator peso est relacionado a um aspecto mais fsico da
personalidade, informando o que do movimento, a sensao e a inteno de realiz-lo
(FERNANDES, 2002). Sabemos que agindo sobre a organizao gravitacional
estaremos agindo sobre a carga expressiva do gesto e acionando ao mesmo tempo os
nveis mecnicos e afetivos da organizao do indivduo (GODARD, [ca. 2002]). O
bom domnio da organizao gravitacional e de suas modulaes o que nos permitir
acionar simultaneamente diferentes nveis de expresso e, portanto, atitudes corporais
opostas, dissociadas ou distorcidas.
8
Cf. FERRACINI, R. A arte de no interpretar como poesia corprea do ator. Campinas, SP: Editora da
Unicamp, 2003, p. 137-143.
9
Referimo-nos aqui aos quatro fatores de movimento FLUNCIA, ESPAO, PESO E TEMPO que
compem a categoria Expressividade ou Eukintica (como nos movemos) pelo Sistema
Laban/Bartenieff ou Teoria dos Esforos em outras linhas do Sistema Laban. A Eukintica o estudo das
qualidades dinmicas de movimento presentes na dana, teatro, msica, pintura, escultura, movimentos
cotidianos etc. Para maiores detalhes, ver: FERNANDES, C. O corpo em movimento: o sistema
Laban/Bartenieff na formao e pesquisa em artes cnicas. So Paulo: Annablume, 2002, Cap. III, p.
102-140. Ver tambm RENGEL, L. Dicionrio Laban. So Paulo: Annablume, 2003, p. 63.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
192
Essas informaes nos auxiliam a compreender a trajetria percorrida por
Ferracini em sua inteno de nos conduzir ao estado de estranhamento (paradoxo)
desejado. A partir desse princpio provocativo conquistado de maneiras variadas no
decorrer do processo , estabeleciam-se novas redes de conexo entre os participantes,
que sob instrues do diretor conseguiam produzir solues cnicas sui generis e
imensamente criativas.
Se Ferracini atuar de forma mais direta e intensa sobre o domnio do corpo
prprio do agente, Vernica Fabrini investir sobre sua relao com o outro e com o
mundo sua volta, enfatizando o componente expressivo espao. Segundo Lenira
Rengel (2003), quando o agente comea a focalizar para fora, estabelecido o que se
denomina princpio da realidade, isto , quem sou eu e quem o outro. Por afetar o
foco do movimento, a atitude gerada de ateno, informando o onde do movimento.
Podemos dizer que o conjunto de tcnicas utilizadas por Fabrini favoreceu o
desenvolvimento das capacidades relacionais e comunicativas do agente com o outro e
seu ambiente, sendo que eu / outro / ambiente foi diversificado em suas possveis
ocorrncias, num jogo exploratrio que incorporou corpo, palavra, voz, ao, objetos e
espao cnico.
Sabemos de antemo que o conceito de espao est relacionado com o
pensamento e, portanto, com um aspecto mais intelectual da personalidade (RENGEL,
2003). Isso nos leva a compreender que a inteno de Fabrini, ao desenvolver nossa
capacidade de ao sobre o espao, foi preparar as bases para o trabalho estruturado de
composio que se desenrolaria a seguir.
A improvisao, como tcnica artstica de tomada de decises no instante mesmo
da ao cnica, exige por parte dos agentes competncias complexas, como a
capacidade de assumir uma atitude interna alerta e explorativa em relao aos materiais
que esto em jogo, mas especialmente a capacidade de formulao de um plano racional
para gerar a ao numa conformidade coesa com as regras pr-estabelecidas ou com o
contexto de atuao. Alm disso, o domnio dessas capacidades no conquista fcil e,
como em qualquer sistema tcnico, o agente precisar que vrias repeties aconteam
at que consiga construir as habilidades para lidar com o novo fenmeno. Como
observadora externa da experincia para fins de composio, Fabrini selecionava os
ingredientes nascidos desse processo e experientemente os adaptava ao seu projeto,
propondo novos estmulos, reforando orientaes ou simplesmente permitindo que o
grupo auto-gerisse os impulsos a partir de repeties sucessivas.
Podemos dizer que as intervenes de Fernando Villar eram interdisciplinares ou
hbridas por excelncia, caracterizando-se tanto pela pluralizao das tcnicas
empregadas nos laboratrios, quanto pela abundncia de referncias, contedos,
motivaes que ele nos apresentava (indo desde fragmentos coreogrficos Bauschianos
at estmulos sonoro-musicais e leitmotives biogrficos). Normalmente ele propunha um
momento inicial de tomada de contato com o corpo, disponibilizando-o para o trabalho
mais coletivo que viria a seguir. A experincia ldica subseqente acontecia em duplas
ou na grande roda, colocando os participantes em situaes variadas de jogo, o que os
conduzia tanto a estados propcios de tonicidade, presena e escuta cnica, quanto
provocava intensa interao grupal. Maria Lcia Pupo (2006, p. 114), ao analisar
modalidades ldicas de procedimentos teatrais ligados cena ps-dramtica, reala sua
capacidade de construir experincias de acordo tcito coletivo:
Ancorados no desenvolvimento de uma escuta efetivada por todos os sentidos,
baseados na no-deliberao, perpassados pela nfase na atitude de deixar
acontecer, de se deixar levar, tais procedimentos engendram uma percepo
de outra ordem, do parceiro, de si mesmo e do ambiente.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
193
Do mesmo modo, ramos estimulados por Villar a elaborar poesias corporais a
partir da frico de universos pessoais e hamletianos. A abordagem improvisacional,
alm de sublinhar a importncia da liberdade de ao e escolha do grupo, tambm
confiava sabedoria cintica do corpo a formulao de respostas aos problemas
apresentados pelo diretor, ressaltando a intensidade da corporalidade nesse tipo de
processo. O emprego de procedimentos caractersticos de outras formas
interdisciplinares, originrias de tempos / espaos diversos (a colagem / assemblage; as
jigs10) foi recurso amplamente utilizado por Villar. A forma como o trabalho ia se
desenvolvendo em laboratrio, alternando matrizes e intertextualizando referncias,
permitia intuir que espcie de tessitura seria passvel de se materializar como produto
final.
Podemos considerar que as habilidades desenvolvidas pelas inmeras tcnicas
corporais e artsticas utilizadas pelos diretores ligam-se, por muitos fios, quelas
relativas nova cena contempornea. Matteo Bonfitto (2006), ao examinar o horizonte
de processos e elementos de atuao que caracterizariam o ator ps-dramtico, relaciona
sistematicamente algumas das competncias requeridas ao exerccio de sua arte.11 Com
base nesse estudo, destacamos algumas capacidades que se mostraram em consonncia
com os procedimentos tcnicos desenvolvidos durante o processo de trabalho em
questo, ao mesmo tempo em que procuramos adicionar outras que detectamos
pertencer ao conjunto.
Sendo assim, quanto aos princpios estruturais vivenciados no Laboratrio II,
podemos dizer que o agente deve ser capaz de:
Exprimir-se corporalmente de formas variadas (mover-se, danar, atuar, usar o
aparato vocal, realizar aes corporais12 diversas), transitando entre diferentes
linguagens e qualidades expressivas;
Investigar e incorporar novas formas de treinamento do corpo, alargando seu
horizonte tcnico e expressivo;
Adquirir novos vocabulrios a partir de aes exploratrias e improvisaes sobre
diferentes materiais textuais (palavras, movimentos, sonoridades, objetos, espao
etc);
Construir partituras a partir de improvisaes, sabendo articular elementos
narrativos diversos para produo de novos sentidos;
Incorporar diferentes corpos / vozes (personagens) por meio da explorao de
processos perceptivos e a partir de fontes variadas de motivao;
10
As jigs eram performances tpicas do perodo elizabetano, bastante populares, compostas por
improvisos que misturavam dana, msica e atuao; aconteciam ao final das apresentaes teatrais
principais. Baber (2007) define as jigs como se segue: at the conclusion of a play, the actors would
dance around the stage. Separate from the plays, these were bawdy, knockabout song-and-dance farces.
Frequently resembling popular ballads, jigs were often commentaries on politics or religion. Cf.
BABER, H. A. Shakespearean Performance, Communication Studies - UNT Denton, TX 76203.
Disponvel em: <http://www.comm.unt.edu/histofperf/history.htm>. Acesso em: 30 jul. 2007.
11
Cf. BONFITTO, M. Do texto ao contexto. Revista Humanidades, Braslia, edio especial, n. 52, p. 4552, novembro de 2006.
12
Rudolf Laban (1879-1958) fazia uma clara distino entre os termos corporal e fsico. Para Laban
(2003, p. 23), ao fsica a ao que compreende a funo mecnica do corpo, enquanto ao
corporal a ao que compreende um envolvimento total da pessoa, racional, emocional e fsico.
Embora o termo ao fsica seja amplamente adotado pelos meios teatrais, preferimos utilizar a
terminologia empregada por Laban por questes de coerncia com o contexto.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
194
Improvisar cenicamente a partir de um conjunto de regras pr-estabelecido e
servindo-se dos diferentes elementos de atuao (materiais textuais, vocabulrios,
partituras, seres ficcionais, espao cnico).
O que fica mais evidente, como proposta comum aos trs diretores, que naquilo
que eles fazem o corpo e suas manifestaes realmente importam, inclinao que os
levar a valorizar grandemente a gestualidade, o movimento e o trabalho expressivo dos
agentes no processo de escriturao cnica.
ESTRUTURAO DE LINGUAGEM
Acreditamos que as categorias prvias j tenham tracejado uma srie de
componentes desse processo de trabalho que se relacionam s linhas interdisciplinares
artsticas aqui discutidas. Portanto, nessa categoria, discutiremos sinteticamente
algumas das escolhas dramatrgicas realizadas pelos diretores, identificando
correspondncias com modos de organizao de determinadas interlinguagens.
Segundo Kerkhove (1997, p. 20), dramaturgia tem sempre algo a ver com
estruturas e pode ser resumidamente definida como composio: trata-se de controlar
o todo, de pesar a importncia das partes, trabalhar com a tenso entre a parte e o todo
[...]. A dramaturgia o que faz respirar o todo. A idia de todo a que se refere
Kerkhove no est, entretanto, relacionada possibilidade da obra constituir-se como
unidade significativa, catalisadora de um sentido unvoco, mas sua capacidade de
aproximar-se da realidade. A poesia cnica para ela, antes de tudo, uma viso de
mundo.
Da mesma forma, a escolha das motivaes e materiais poticos est ligada s
maneiras como cada criador entende o mundo, o acolhe, com ele se relaciona, criando
fragmentos que podem ser visveis em suas obras. Assim, o problema que
imediatamente se apresenta nossa anlise a eleio do texto de Shakespeare como
uma das condies prvias para o desenvolvimento do processo de trabalho. Hamlet no
apenas sintetiza um estado de ser do mundo, do homem e das coisas contemporneas,
mas tambm de toda arte temporariamente contempornea (RIBEIRO, 1994, p. 5), em
permanente mutao. Alm de sua evidente capacidade metalingstica, h porm uma
questo conceitual central que paradoxalmente parece ter norteado a opo por Hamlet:
aquela que relaciona a cena teatral hbrida ao rompimento com o texto dramtico. De
acordo com Fernandes (2006), o que assegura a existncia de um teatro ps-dramtico
no a presena ou no de textos dramticos, mas o uso que a encenao faz deles. Isso
promover um deslocamento fundamental na noo de texto de origem, que passar a
ser considerado em sua funo mediadora e no estruturadora da linguagem cnica.
Identificamos, no caso do processo de trabalho realizado, a qualidade pretextual
que Hamlet assumiu ao longo de todo o desenvolvimento, resultado de sucessivos
tratamentos autorais dispensados pelos diretores, tais como fragmentaes,
resignificaes, desconstrues, fecundaes / fuses com outros contedos e materiais
textuais (movimentos, aes, gestos, sonoridades, objetos, imagens).
Outra caracterstica desse tipo de dramaturgia a emergncia de um storyboard
ou roteiro a partir do processo de pesquisa e manipulao de materiais em laboratrio.
Segundo Cohen (1998), essa tessitura se dar ao longo da criao e da encenao com
sucessivas mutaes e o diretor criador e orquestrador da polifonia cnica ter
papel preponderante em todas as etapas do processo: na gerao de impulsos criativos,
na ampliao das redes de pesquisas, na conduo dos laboratrios, no entrelaamento
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
195
das textualidades. Pudemos evidenciar na experincia realizada a presena, em
diferentes graus, de tais caractersticas. Observamos que, mesmo aps o fechamento da
estrutura para apresentao a pblico, esta se manteve permevel incorporao de
acontecimentos de percurso e/ou de ncleos cnicos no selecionados a princpio, assim
como eliminao ou edio de outros trechos.
Quanto textualizao, fez-se largo uso de discursos superpostos (movimento,
msica, palavra, projeo de imagens etc, em acontecimentos simultneos), citaes,
colagens, paradoxismos, cenas justapostas, ambigidades de tempo / espao,
subvertendo a narrativa clssica (lgica, linear) por meio da constante negao de um
nico ponto de vista privilegiado e centralizado. Ainda, a apropriao de referncias
provindas de outros artistas ligados a linguagens hbridas ou performativas (reproduo
de fragmentos de repertrio coreogrfico do Tanztheater de Pina Bausch; uso de
composies musicais do grupo catalo La Fura dels Baus; projeo de imagens das
artistas americanas Jenny Holzer, Barbara Kruger, Cindy Sherman, da brasileira Stella
Staveland e da inglesa Jenny Saville) instala-se como figura afirmativa do processo,
espelhando a transitoriedade mas tambm o xito de suas prprias manifestaes.
Abstract3F28Hamlet foi apresentado a pblico uma nica vez, no prprio espao
onde se deram as ltimas experimentaes uma sala ampla, cujo interior / exterior
foram manipulados performaticamente de modo a instalar a platia num ambiente em
flutuao, composto pela alternncia de planos, profundidades e situaes variados.
importante destacar a mudana de frmulas de percepo j dadas que
caracterizar a proposta relacional das novas categorias cnicas com sua espectao
(LEHMANN apud VILLAR, 2006, p. 100). O rompimento das barreiras do palco e do
isolamento convencional dos performes em relao ao pblico, situao comum da cena
contempornea, eliminar a iluso causada pelo espao perspectvico. A cena espacial
sem caixa de palco, cena que integra o espao de encenao sem dele se separar pela
moldura que o enquadra e constitui como mundo distinto (ROSENFELD, 1973),
reclamar do espectador um outro tipo de disposio (afetividade) para adentrar o
universo esttico que da se configurar. A prpria densidade de informaes a que os
assistentes estaro sujeitos seja em sua ocorrncia silenciosa, seja sobrecarregada de
elementos discursivos os levar a uma experincia diferenciada de percepo,
exigindo-lhes um esforo ou postura produtiva (FERNANDES, 2006) de modo a
estabelecer comunicao e elaborar entendimentos com a obra.
Alis, estabelecer comunicao tem sido a dor e a delcia da civilizao
contempornea. Em plena era da comunicao, conseqente que a linguagem cnica,
enquanto fragmento de uma realidade mais ampla, espelhe a alterao profunda e
complexa sofrida pelos fenmenos comunicativos e a importncia que estes passaram a
desempenhar em todos os setores da vida social e individual. Susan Sontag (1986)13 se
mantm atual quando afirma, h mais de trs dcadas atrs, que se no passado, o
descontentamento com a realidade exprimia-se atravs do desejo de outro mundo, na
sociedade moderna, ele exprime-se atravs do desejo de reproduzir este mundo.
Vivemos uma nova espcie de real dominada por instrumentos capazes de
sintetizar e reproduzir tecnologicamente e de forma quase auto-suficiente produtos
culturais (imagens, sons, palavras) antes somente produzidos pela ao humana. Da
mesma forma, crescem de maneira exponencial e acelerada os meios capazes de criar,
registrar, armazenar e transmitir linguagens (SANTAELLA, 2001), provocando
significativas mutaes nos domnios da arte. Mas se em todos os tempos os artistas
13
Publicado no Brasil originalmente em 1983, Ensaios sobre fotografia (Dom Quixote) de Susan Sontag
rene seis ensaios escritos na dcada de 70, em que a romancista e filsofa analisa a fotografia como
fenmeno da civilizao, desde o aparecimento do daguerretipo no sculo XIX.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
196
sempre apropriaram-se das recentes descobertas para feitura de sua arte, certamente
tambm foram capazes de produzir respostas indicativas dos novos rumos do projeto
humano.
Se hoje categorias estticas tradicionais so correntemente subvertidas e superadas
por cruzamentos de formas e gneros artsticos diversos, haver momento em que os
artistas devero dar um passo frente em busca de novos horizontes de experimentao.
Sua filosofia haver sempre de sonhar mais coisas entre o cu e a terra. O estado de ser
e no ser das artes performativas contemporneas , pois, uma insistente pergunta sobre
os prprios destinos da arte.
REFERNCIA BIBLIOGRFICA
BABER, Holly A. Shakespearean Performance, Communication Studies - UNT
Denton, TX 76203. Disponvel em: <http://www.comm.unt.edu/histofperf/history.htm>.
Acesso em: 30 jul. 2007.
BONFITTO, Matteo. Do texto ao contexto. Revista Humanidades, Braslia, edio
especial, n. 52, p. 45-52, novembro de 2006.
BRAVI, Valria Cano. Um olhar sobre a incorporao esttica do movimento: dana
cnica, So Paulo/1991-2001. 238 f. 2002. Dissertao (Mestrado em Artes Cnicas)
Escola de Comunicao e Artes, USP, So Paulo, 2002.
COHEN, Renato. Work in Progress na Cena Contempornea: criao, encenao e
recepo. So Paulo: Perspectiva, 1998.
FERNANDES, Ciane. O corpo em movimento: o sistema Laban/Bartenieff na formao
e pesquisa em artes cnicas. So Paulo: Annablume, 2002.
FERNANDES, Silvia. Subverso no palco. Revista Humanidades, Braslia, edio
especial, n. 52, p. 07-18, novembro de 2006.
FERRACINI, Renato. A arte de no interpretar como poesia corprea do ator.
Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003.
GODARD, Hubert. Gesto e percepo. In: SOTER, Silvia; PEREIRA, Roberto (orgs).
Lies de Dana 3. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, [ca. 2002], p. 11-35.
KERKHOVE, Marienne van. Le processus dramaturgique. Nouvelles de Danse,
Contredanse, Bruxelles, Belgique, n 31, p. 18-25, Priodique Trimestriel, Printemps
1997.
LOUPPE, Laurence. Corpos hbridos. In: PEREIRA, Roberto & SOTER, Silvia (org.).
Lies de Dana 2. Rio de Janeiro: UniverCidade Editora, 2000, p. 27-40.
R.cient./FAP, Curitiba, v.3, p. 183-197, jan./dez. 2008
197
MLLER, Heiner. Hamlet-mquina. Trad. de Reinaldo Mestrinel. In: Quatro textos
para teatro: Mauser; Hamlet-mquina; A misso; Quarteto. So Paulo: Editora
Hucitec, 1987.
PAVIS, Patrice. Dicionrio de teatro. Traduo de J. Guinsburg e Maria Lcia Pereira.
So Paulo: Perspectiva, 1999.
PUPO, Maria Lcia. Sinais de teatro-escola. Revista Humanidades, Braslia, edio
especial, n. 52, p. 109-115, novembro de 2006.
RENGEL, Lenira. Dicionrio Laban. So Paulo: Annablume, 2003.
RIBEIRO, Antnio Pinto. Por exemplo a cadeira: ensaios sobre as artes do corpo.
Lisboa: Edies Cotovia, 1997.
______. Dana temporariamente contempornea. 1 edio. Lisboa: Vega, 1994.
ROSENFELD, Anatol. Reflexes sobre o romance moderno. In: Texto/Contexto. So
Paulo: Perspectiva, 1973.
SANTAELLA, Lcia. Corpo e comunicao. So Paulo: Paulus, 2004.
______. Comunicao e pesquisa: projetos para mestrado e doutorado. So Paulo:
Hacker Editores, 2001.
SHAKESPEARE, William. Hamlet: Prncipe da Dinamarca tragdia em 5 atos.
Traduo: Millr Fernandes. So Paulo: Peixoto Neto, 2004.
SONTAG, Susan. Ensaios sobre fotografia. Lisboa: Publicaes Dom Quixote, 1986.
STOPPARD, Tom. The Fifteen Minute Hamlet a Play. Trad. de Razes
Inversas Traduction Co. [S. l.], s/d.
VIGARELLO, Georges. A histria e os modelos do corpo. Pro-Posies,
Campinas, SP, v. 14, n. 2 (41), p. 21-29, maio/ago. 2003.
VILLAR, Fernando Pinheiro. Interdisciplinaridades Artsticas. In: SANTANA, Aro
Paranagu de (coord.). Vises da Ilha: apontamentos sobre teatro e educao. So Lus:
UFMA, 2003, p. 115-120.
______. La Fura dels Baus e a violao do espao cnico. Revista Humanidades,
Braslia, edio especial, n. 52, p. 95-107, novembro de 2006.
Você também pode gostar
- Silvia Fernandes - Teatralidades ContemporâneasDocumento284 páginasSilvia Fernandes - Teatralidades ContemporâneasAguinaldo FlorAinda não há avaliações
- O Que É Direção TeatralDocumento11 páginasO Que É Direção TeatralRodrigo CorreiaAinda não há avaliações
- Teatro em Livros 8 PDFDocumento8 páginasTeatro em Livros 8 PDFHulknho100% (1)
- Formação, práticas e técnicas do artista teatralNo EverandFormação, práticas e técnicas do artista teatralAinda não há avaliações
- Desmontagem Cênica Ileana Dieguez PDFDocumento8 páginasDesmontagem Cênica Ileana Dieguez PDFIpojucan PereiraAinda não há avaliações
- Teatralidade e Performatividade Na Cena ContemporâneaDocumento13 páginasTeatralidade e Performatividade Na Cena ContemporâneaTav Neto100% (1)
- Processos comunicacionais no teatro de rua: Performatividade e Espaço PúblicoNo EverandProcessos comunicacionais no teatro de rua: Performatividade e Espaço PúblicoAinda não há avaliações
- ENCENAÇÃODocumento3 páginasENCENAÇÃOkellp22Ainda não há avaliações
- Silvia Fernandes. TeatralidadesDocumento19 páginasSilvia Fernandes. TeatralidadesVictor Augusto Nogueira100% (2)
- FABIÃO - Definir Performance É Um Falso ProblemaDocumento4 páginasFABIÃO - Definir Performance É Um Falso ProblemaBarbara KanashiroAinda não há avaliações
- Paralelos Entre Ação Teatral e Direcionalidade MusicalNo EverandParalelos Entre Ação Teatral e Direcionalidade MusicalAinda não há avaliações
- A Linguagem Da Encenação Teatral (Resumo)Documento11 páginasA Linguagem Da Encenação Teatral (Resumo)Alice Maria de JesusAinda não há avaliações
- Teatralidades Contemporâneas PDFDocumento19 páginasTeatralidades Contemporâneas PDFCamila VillelaAinda não há avaliações
- RAMOS, Luiz Fernando. Mímeses Performativa A Margem de Invenção PossívelDocumento293 páginasRAMOS, Luiz Fernando. Mímeses Performativa A Margem de Invenção PossívelAciole LucasAinda não há avaliações
- Ensaio - Hamlet - Artigo PDFDocumento9 páginasEnsaio - Hamlet - Artigo PDFRenato Forin Jr.Ainda não há avaliações
- Jan Fabre e A Construção de Um Teatro HíbridoDocumento4 páginasJan Fabre e A Construção de Um Teatro HíbridoJanaína AlvesAinda não há avaliações
- Performance Tecnologia e Presença Builders AssociationDocumento20 páginasPerformance Tecnologia e Presença Builders AssociationErnesto Lula Da Silva Valença100% (1)
- Teatro Híbrido - Um Enfoque Pedagógico - Béatrice Picon-VallinDocumento15 páginasTeatro Híbrido - Um Enfoque Pedagógico - Béatrice Picon-VallinPéricles MartinsAinda não há avaliações
- Fura Del BausDocumento14 páginasFura Del BausLuiz ZanottiAinda não há avaliações
- Capítulo 1Documento65 páginasCapítulo 1Pilar Soares PozesAinda não há avaliações
- E o Verbo Se Fez Carne Nina CaetanoDocumento11 páginasE o Verbo Se Fez Carne Nina CaetanoLuciana MizutaniAinda não há avaliações
- Leticia Maria Olivares RodriguesDocumento6 páginasLeticia Maria Olivares RodriguesGvictor AquinoAinda não há avaliações
- Caixa Cênicapreta Eé Jogo de SignificaçãoDocumento13 páginasCaixa Cênicapreta Eé Jogo de SignificaçãoErnesto Lula Da Silva ValençaAinda não há avaliações
- Sessão - Performatividade - GasperiDocumento6 páginasSessão - Performatividade - GasperiEvelise MarreiroAinda não há avaliações
- Performance e DramaDocumento9 páginasPerformance e DramaDanielBrunoSchvetzAinda não há avaliações
- TROTTA, Rosyane - Autoralidade, Grupo e EncenaçãoDocumento10 páginasTROTTA, Rosyane - Autoralidade, Grupo e EncenaçãoDiogo LiberanoAinda não há avaliações
- Teatro Materiais5Documento156 páginasTeatro Materiais5jordi100Ainda não há avaliações
- Cartografia Da Cena Contemporânea PDFDocumento8 páginasCartografia Da Cena Contemporânea PDFMalu Magalhães SanchesAinda não há avaliações
- A Investigação Do Modo Melodrmático de Interpretar Nos Circos-Teatros BrasileirosDocumento5 páginasA Investigação Do Modo Melodrmático de Interpretar Nos Circos-Teatros BrasileirosBruna Aparecida da SilvaAinda não há avaliações
- Gesto Meu Corpo Na Coluna Vertebral A NoiteDocumento13 páginasGesto Meu Corpo Na Coluna Vertebral A NoiteviniciusAinda não há avaliações
- A Performance Verbivocovisual Da Poesia Concreta BrasileiraDocumento5 páginasA Performance Verbivocovisual Da Poesia Concreta BrasileiraGuilhermeFreitasAinda não há avaliações
- Caminhos Corpose ConfluenciasDocumento12 páginasCaminhos Corpose ConfluenciasAilton FernandesAinda não há avaliações
- Aspectos Do Teatro Contemporaneo - Anais Da Jornada Pedagogica Da UNIVALI 2005Documento17 páginasAspectos Do Teatro Contemporaneo - Anais Da Jornada Pedagogica Da UNIVALI 2005Mariana FarcettaAinda não há avaliações
- O Encontro Da Encenação Com A PerformanceDocumento5 páginasO Encontro Da Encenação Com A PerformanceRaianeCerkasAinda não há avaliações
- PDF of Arte Cena Critica 1St Edition Luiza Leite Carmem Gadelha Full Chapter EbookDocumento69 páginasPDF of Arte Cena Critica 1St Edition Luiza Leite Carmem Gadelha Full Chapter Ebookfawdeslovedia582100% (2)
- Implicações Da ImprovisaçãoDocumento13 páginasImplicações Da ImprovisaçãoFernando FariaAinda não há avaliações
- Dança Contemporânea: Uma Experiência de TeatralidadeDocumento12 páginasDança Contemporânea: Uma Experiência de TeatralidadeDanielle FernandesAinda não há avaliações
- Artigo - Performance: Arte Híbrida e Sua Apreciação EstéticaDocumento16 páginasArtigo - Performance: Arte Híbrida e Sua Apreciação EstéticaKelvin MarinhoAinda não há avaliações
- GRESILLON, M-ROUX, BUDOR Por Uma Genética Teatral PDFDocumento25 páginasGRESILLON, M-ROUX, BUDOR Por Uma Genética Teatral PDFHirton Fernandes JuniorAinda não há avaliações
- Ajcirillo, ART 05 - Motta 02Documento22 páginasAjcirillo, ART 05 - Motta 02Kelly KettyAinda não há avaliações
- O Lírico Invasor e Problematizador Do Drama Contemporâneo Aqui de Martina Sohn FischerDocumento13 páginasO Lírico Invasor e Problematizador Do Drama Contemporâneo Aqui de Martina Sohn FischerMarcos SavaeAinda não há avaliações
- 4016-Texto Do Artigo-11403-1-10-20190515Documento13 páginas4016-Texto Do Artigo-11403-1-10-20190515Clayton MouraAinda não há avaliações
- Dramaturgias em Transito - Arte Pesquisa, Pesquisa ArteDocumento4 páginasDramaturgias em Transito - Arte Pesquisa, Pesquisa ArteEdrei Conde de AlmeidaAinda não há avaliações
- Em Demanda Dos Musicais Cruzamentos EntrDocumento11 páginasEm Demanda Dos Musicais Cruzamentos EntrRAYSSA CONCEICAO BAIMA MARQUESAinda não há avaliações
- Resenha - A Pesquisa em Teatro - A Questão Da Palavra e Da VozDocumento11 páginasResenha - A Pesquisa em Teatro - A Questão Da Palavra e Da VozOtávio José Correia NetoAinda não há avaliações
- Coletivo Irmãos Guimarães - A Visualidade Performativa - Glauber CoradesquiDocumento3 páginasColetivo Irmãos Guimarães - A Visualidade Performativa - Glauber CoradesquiLuciana TondoAinda não há avaliações
- Evill Rebouças - Poéticas Dramatúrgicas No Espaço InusitadoDocumento8 páginasEvill Rebouças - Poéticas Dramatúrgicas No Espaço InusitadoBárbara SoaresAinda não há avaliações
- A Dança e o TeatroDocumento9 páginasA Dança e o TeatroSidnei JuniorAinda não há avaliações
- Persona 4 EditorialDocumento4 páginasPersona 4 Editorialrcalixto1976Ainda não há avaliações
- Fernanado VillarDocumento12 páginasFernanado VillarSueAinda não há avaliações
- Galoa Proceedings Anda 2019 124726Documento10 páginasGaloa Proceedings Anda 2019 124726Milton AiresAinda não há avaliações
- 08 Leda MartinsDocumento9 páginas08 Leda MartinsMárcioCoqueiroAinda não há avaliações
- PantomimaDocumento32 páginasPantomimaRafael LimaAinda não há avaliações
- Fronteiras Movediças Da Dança TeatroDocumento7 páginasFronteiras Movediças Da Dança TeatroRejane Kasting ArrudaAinda não há avaliações
- SASSO, Nathalia Nolli-Diálogos Com o Presente - Performáticos - Inquietos - RadicaisDocumento11 páginasSASSO, Nathalia Nolli-Diálogos Com o Presente - Performáticos - Inquietos - RadicaisFabio FerreiraAinda não há avaliações
- Pré-Projeto Mestrado UFDocumento13 páginasPré-Projeto Mestrado UFJohnatan A. RodriguesAinda não há avaliações
- Revista CenaDocumento10 páginasRevista CenaPauloAinda não há avaliações
- Dramaturgia Do PertencimentoDocumento23 páginasDramaturgia Do PertencimentoEdson FlávioAinda não há avaliações
- Jpenalva Chiado8Documento28 páginasJpenalva Chiado8Fabio MahoneyAinda não há avaliações
- Estudos contemporâneos em Artes cênicasNo EverandEstudos contemporâneos em Artes cênicasAinda não há avaliações