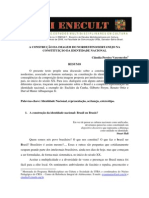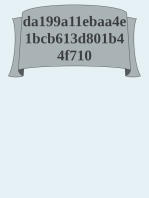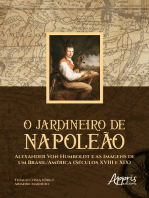Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lucia Lippi Oliveira - Natureza e Identidade PDF
Enviado por
Gdp Vc0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
182 visualizações12 páginasTítulo original
Lucia Lippi Oliveira - Natureza e identidade.pdf
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
182 visualizações12 páginasLucia Lippi Oliveira - Natureza e Identidade PDF
Enviado por
Gdp VcDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 12
123
Natureza e identidade: o caso brasileiro
Natureza e identidade: o caso brasileiro
Resumo
O objetivo deste texto apresentar o signifcado da natureza na construo da identidade
no Brasil e nas polticas do Estado brasileiro durante os sculos XIX e XX. A Terra Bra-
silis foi reconhecida e narrada por franceses, russos austracos, entre outros que por aqui
passaram em viagens cientfcas, diplomticas e comerciais. Foram os textos e as iconogra-
fas produzidas pelos viajantes que forneceram algumas matrizes da nacionalidade, entre
elas a dos trpicos.
O mito do gigante pela prpria natureza tem sido a mais forte matriz para interpretar
o Brasil. Foi ele que defniu a atuao do Estado como guardio do territrio e como res-
ponsvel pela integrao dos espaos e das populaes.
O trpico principalmente a Amaznia - continua a ser uma questo global e nacional
no caso brasileiro. A natureza tropical tomada como singularidade planetria primeiro
pelo olhar dos cientistas, ambientalistas, acadmicos dos pases avanados ou ricos. Como
fazer sua migrao para o pensamento brasileiro e incorporar isto na identidade nacional?
Palavras-chave: natureza tropical; identidade nacional; viajantes; grandeza territo-
rial; Amaznia.
Lucia Lippi Oliveira
*
*
Doutora em sociologia pela USP atualmente pesquisadora associada e professora do CPDOC/FGV-RJ.
Realizou pesquisa sobre o papel da fronteira na construo da identidade nacional no Brasil e nos Estados
Unidos e estudou as relaes entre a cultura nacional e a cultura dos imigrantes. Dedica-se a desenvolver
projetos sobre patrimnio, urbanismo, cultura e identidade regional. Foi bolsista da CAPES/Fulbright para
ps-doutoramento na Brown University (1993-1994), co-editora da revista Estudos Histricos do CPDOC
e tem bolsa de pesquisa do CNPq. Entre suas publicaes vale mencionar: Cultura patrimnio: um guia.
Rio de Janeiro: FGV, 2008. (Org). Cidade: Histria e Desafos. Rio de Janeiro: FGV/CNPq, 2002. Cultura
e identidade nacional no Brasil do sculo XX. In: Gomes, A. C.; Pandolf, D.; Alberti, V. (orgs.) A Repblica
no Brasil. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 338- 369. O Brasil dos imigrantes. Rio de Janeiro: Jorge
Zahar, 2001 (Coleo Descobrindo o Brasil). Americanos: representaes da identidade nacional no Brasil e
nos Estados Unidos. Belo-Horizonte: UFMG, 2000.
Desigualdade & Diversidade Revista de Cincias Sociais da PUC-Rio, n 9 ago/dez, 2011, pp. 123-134
124
Lucia Lippi Oliveira
Abstract
Nature and identity: the Brazilian case
Te goal of this text is to present and explore the meaning of nature in the construction
of Brazils national identity. Terra Brasilis, as Brazilian territory is labeled in old maps,
was explored and brought to life in the narrations fabricated by the French, Russians,
Austrians, among others who also dropped by for scientifc, diplomatic, and commercial
expeditions. Te texts and iconography by the travelers helped create some of the main
ideas shaping nationality, including the idea of the tropics.
Te myth of a giant by its own nature has indeed been the most alluded to interpreta-
tional matrix in discussions and refections concerning Brazil. It has decisively shaped the
governments role as territorial guardian and as responsible for integration of spaces and
populations.
Te notion of the tropics mainly the Amazon - is still a global and national issue in the
case of Brazil. Te tropical nature is seen as a planetary singularity frst through the eyes
of scientists, environmentalists and scholars from rich or developed countries. How can it
migrate to Brazilian thinking and be incorporated into national identity?
Key words: Tropical nature; national identity; voyagers; territorial greatness; Amazon
125
Natureza e identidade: o caso brasileiro
Para comear a tratar do tema, gostaria de mencionar uma frase do hino nacional
brasileiro. Ela se refere ao pas como gigante pela prpria natureza e expressa uma antiga
e constante ideia sobre o Brasil que pretendo desenvolver aqui.
O objetivo deste texto apresentar e explorar o signifcado da natureza na construo
da identidade nacional brasileira. Ser apontada a importncia da natureza no imaginrio
sobre o Novo Mundo: a natureza como diferencial da nao brasileira frente matriz
portuguesa e aos argumentos geogrfcos e territoriais disponveis nas interpretaes do
Brasil e nas polticas do Estado brasileiro durante os sculos XIX e XX. Procurarei ao lon-
go do texto desnaturalizar a natureza, ou seja, mencionar cientistas, literatos, gegrafos e
historiadores que fzeram uso e divulgaram tal verso da identidade nacional brasileira.
Explorei questo similar em pesquisa realizada anteriormente, na qual procurei uma
comparao entre a construo da identidade no Brasil e nos Estados Unidos da Amrica,
tambm informada pela importncia do espao territorial como elemento constitutivo da
construo de identidade nacional. Minha hiptese de investigao era a de que, nesses
dois pases, a geografa teria fornecido o mais forte embasamento para o xito das suas
identidades nacionais.
preciso lembrar que abordar questes relacionadas construo de identidades
nacionais no fazia parte dos temas relevantes entre os anos 1960 e os anos 1980. Eram
consideradas pertinentes apenas nos pases pobres, do Terceiro Mundo, tambm chama-
dos de subdesenvolvidos. Dos anos 1980 at hoje, os campos da literatura, da histria,
da antropologia e da sociologia foram gradativamente incorporando ou retornando ao
estudo de identidades nacionais.
possvel afrmar que alguns marcos foram decisivos para que o tema da nao ga-
nhasse maior relevncia. Podemos considerar que isto se deveu s comemoraes do bi-
-centenrio da Revoluo Francesa, abrindo espao para a produo de historiadores e
cientistas sociais. Os quatro volumes do livro Lugares de memria (1984), organizado por
Pierre Nora, certamente alteraram o quadro. Os estudos publicados se dedicaram ao pro-
cesso de construo do Estado-nacional francs prestando ateno ao culto dos heris, aos
manuais de histria da Frana dedicados s crianas, aos guias de viagem e aos empreen-
dimentos relacionados inveno do patrimnio. Festas, monumentos, comemoraes,
dicionrios e museus mereceram anlise enquanto formas e rituais capazes de garantir a
sobrevivncia dos fragmentos da memria nacional francesa.
Tais estudos abriram caminho ou foram concomitantes a outras pesquisas e obras
que passaram a estudar o processo de formao de Estados nacionais. Podemos citar como
exemplos os dois livros do historiador ingls Eric Hobsbawm Naes e Nacionalismo
desde 1780 (1990) e A inveno das tradies (1983), organizado por ele e por Terence
Ranger, assim como o livro Comunidades Imaginadas (1983), de Benedict Anderson.
Tais livros foram traduzidos para o portugus e tiveram muita aceitao entre professores
e estudantes universitrios no Brasil. Assim, o tema da nao passou a integrar o cardpio
de opes vlidas de pesquisa.
126
Lucia Lippi Oliveira
Hoje as questes relativas construo de identidades esto na ordem do dia. Per-
guntar como se trabalha com a construo da identidade e da alteridade volta a ser tema
central em diversos campos disciplinares e em muitos espaos polticos, at mesmo no
espao das naes da Unio Europeia. Os temas das migraes contemporneas e as ame-
aas s identidades nacionais reaparecem com forte impacto, haja vista a avalanche de
imigrantes que altera, desorganiza as comunidades imaginadas anteriores.
As viagens
Um caminho para se compreender a construo de alteridades e identidades acom-
panhar a verso produzida por europeus que viajaram pelo mundo e que escreveram tex-
tos literrios ou ensasticos sobre o que viram. O relato dos viajantes conferiu ao espao e
natureza um papel central no imaginrio sobre o Brasil.
Viagens j fzeram parte, durante os sculos XVIII e XIX, da formao e do amadu-
recimento da sensibilidade, ou seja, do conhecimento do mundo e do autoconhecimento.
A viagem permite ao viajante mensurar os espaos, ampliar em extenso os limites do co-
nhecido, criar condies para que seja possvel estabelecer paralelismos e comparaes. O
conhecimento adquirido pela viagem como que confere autoridade especial ao discurso. As
emoes positivas e negativas que envolvem o ato de viajar tambm foram analisadas
pelo flsofo Alain de Botton (2000). Vale lembrar, como diz o historiador da antropologia
James Cliford (1997), as pessoas, tanto quanto as ideias, viajam, migram e se alteram.
O olhar europeu
Como se construiu uma identidade relacionada a um lugar chamado Brasil? Tal
construo, sabemos, ocorreu mediada pelo olhar dos europeus.
A cada dia se torna mais reconhecida a importncia da viagem e dos textos de Ale-
xandre Von Humbold na reinveno da Amrica, como diz a historiadora Mary Louisa
Pratt, entre outros. Ainda que no tenha visitado a colnia portuguesa, sua descrio da
natureza encontrada na Amrica do Sul foi fundamental tanto para o europeu, quanto
para a elite americana.
Aps a transferncia da Corte portuguesa para a colnia fugindo das tropas de Na-
poleo, em 1808, a Coroa autorizou diversas expedies para o reconhecimento do terri-
trio e para atrair a simpatia das naes europeias. As expedies austracas de Karl Frie-
drich Philipp von Martius e Johann Baptist von Spix (1817-1839), francesa de Auguste
de Saint-Hilaire (1816-1822) e russa de G. I. Langsdorf (1821-1829) deixaram vasto
testemunho dos bens naturais. Von Martius organizou aps seu retorno Europa a obra
Flora Brasiliensis, em 40 volumes sobre as plantas do Brasil. Auguste de Saint-Hilaire e
Ferdinand Denis foram os principais viajantes franceses que apresentaram o Brasil, no
s aos estrangeiros, mas tambm aos brasileiros. Ferdinand Denis teve papel fundamental
na separao entre as literaturas portuguesa e brasileira, defendendo o aproveitamento do
que era singular ao Brasil sua natureza e seus habitantes originais.
127
Natureza e identidade: o caso brasileiro
A expedio Langsdorf, que percorreu o Brasil durante oito anos (1821-1829), via-
jou do Rio de Janeiro ao Par e catalogou plantas, animais e etnias indgenas encontradas
ao longo do percurso. Deixou anotaes escritas, dirios, desenhos, aquarelas, registros
cartogrfcos e espcies coletadas. Entre os artistas que participaram em diferentes mo-
mentos da expedio est Johann Moritz Rugendas, que publicou aps retornar Europa
cem gravuras em seu livro Voyage Pittoresque au Brsil, com apoio do naturalista Alexan-
der von Humboldt. Outro artista que integra a expedio Aim-Adrien Taunay, flho
de Nicolas-Antoine Taunay, membro da Misso Artstica Francesa que chegou ao Brasil
em 1816. Ele participou da expedio aps a sada de Rugendas, produziu desenhos dos
ndios Bororo e morreu afogado durante a viagem. Por fm, vale mencionar o papel de
Hercules Florence ao catalogar as obras de Rugendas e de Taunay, tornando-as conheci-
das. A produo ofcial da expedio as espcies, relatrios, desenhos e aquarelas fcou
desaparecida na Rssia at 1930, quando foi encontrada nos pores do Museu do Jardim
Botnico de So Petersburgo.
A verso produzida por naturalistas, artistas e pintores estrangeiros que visitaram o
Brasil durante o sculo XIX oferece um interessante caminho para analisar a construo
de alteridades e identidades. A Terra Brasilis foi reconhecida e narrada por franceses, rus-
sos, austracos, entre outros que por aqui passaram em viagens cientfcas, diplomticas e
comerciais. Foram os textos e as iconografas produzidas pelos viajantes sobre a colnia
portuguesa e sobre o Brasil independente que forneceram algumas matrizes da naciona-
lidade, entre elas a dos trpicos. O encantamento, o deslumbramento e o estranhamento
esto presentes no registro da fora e da fauna tropicais, como mostram os trabalhos de
diversos autores, como Ana Maria Belluzzo e Lorelai Kury.
Da literatura de viagens do sculo XIX fcou um imaginrio sobre os trpicos, enten-
dido como natureza marcada por calor e umidade. Este ambiente favorece o crescimento
de plantas exticas que passaram a fazer parte do acervo dos Jardins Botnicos mais im-
portantes do mundo desde ento.
O espao da natureza que confgura e que consolida a especifcidade da nao mere-
ceu a ateno, como j mencionamos, dos viajantes estrangeiros e tambm dos brasileiros
durante todo o sculo XIX. Igualmente, esteve presente na agenda do Instituto Histrico
e Geogrfco Brasileiro (criado em 1838), importante instituio encarregada de pensar a
nova nao. Durante o sculo XIX, deu-se uma troca de informaes e de concepes do
mundo entre Europa e Amrica. Para as elites americanas, as viagens de formao Euro-
pa eram empreendidas para garantir o convvio com as fontes do saber ocidental.
A ambivalncia do europeu perante o mundo selvagem e a realidade extica passou
para os nacionais, que passaram a partilhar com velho mundo a crena no malefcio da umi-
dade e do calor sobre o homem americano. Assim, o atraso passou a ser interpretado como
decorrncia do clima. As viagens e os cdigos de leituras sobre as demais culturas foram
ento marcadas pela viso extica, ou seja, por um olhar de fora, bebido nas viagens de for-
mao e em seus relatos, como mostra Edward Said em seu livro Orientalismo (1989).
128
Lucia Lippi Oliveira
A defnio do Brasil como espao da natureza o que diferenciou a literatura brasi-
leira da portuguesa. O espao da natureza e sua singularidade seriam o mote do romantis-
mo no Brasil. O movimento romntico brasileiro tributrio desta orientao, haja vista
a poesia Cano do exlio, escrita em Portugal por Gonalves Dias, que considerada a
fundao mtica da nacionalidade:
Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabi
As aves que aqui gorjeiam
no gorjeiam como l
O ufanismo
A matriz de construo de uma identidade nacional brasileira, de grande sucesso em
pensar a especifcidade e a diferena no Brasil alm de, ao mesmo tempo, confrmar seu
futuro grandioso, foi atualizada em 1900 por um livro escrito para crianas por Afonso
Celso, chamado Porque me ufano do meu pais. Ali so reconhecidas as questeo da natu-
reza, do espao territorial, da beleza natural , da ausncia de calamidades climticasdentre
as mais importantes razes do orgulho nacional. A partir dele, passou-se a chamar ufa-
nismo, um tipo de orgulho nacional que toma como base as condies geogrfcas a
natureza.
As imagems da enormidade do nosso territrio (do Oiapoque ao Chu) e da exu-
berncia de nossas mata, foram e so uma constante. Basta lembrar que durantenas elei-
es presidenciais de 2010, na primeira propaganda apresentada na televiso, a candidata
ofcial Dilma Roussef foi mostrada no arroio Chu e o presidente Lula no Oiapoque,
os pontos extremos e limtrofes do territrio nacional. As crianas aprendem no curso
primrio sobre o verde de nossas matas e o dourado do nosso ouro, simbolizados pelo
verde e amarelo de nossa bandeir.. A enormidade do territrio e a exuberncia das matas
compem o imaginrio nacional, para alm da forma como exploramos tais recursos. Po-
rm, seguindo o padro do sculo XIX e XX, ser civilizado, ser desenvolvido, signifcava
que a civilizao deveria vencer a natureza.
A comunidade inventada, na acepo de Benedict Anderson, no caso brasileiro in-
vocou tradies (reais ou inventadas) para consolidar seus fundamento naturais.
Anderson, na segunda edio de seu j clssico livro, traz um novo captulo em que
ressalta a importncis de trs instituies no processo de construo dos Estados nacio-
nais. So elas: o mapa, o censo e o museu. Os fundamentos naturais, expressos principal-
mente nos mapas, conferem legitimidade aos EstadosnNacionais e se apresentam como
eixo central do processo histrico de sua consolidao. Consolidar territrio, fronteiras
naturais ou culturais, ocupar espaos vazios, tudo isto constitui eixo central da relao
entre tempo e espao, entre histria e geografa, entre imaginrio e realidade.
129
Natureza e identidade: o caso brasileiro
Paraso ou inferno
A verso da nao e de sua herana como advindas primordialmente da natureza
produziu pelo menos duassperspectivas: a da natureza paradisac, paraso que encanta
ou natureza ameaadora , como est mencionado na obra Viss do paraso. os motivos
ednicos no descobrimento e colonizao do Brasil (1959) de Srgio Buarque de Holanda,
e aquela que amolece os costumes, tornando difcil o rduo trabalho da civilizao. Os
trpicos, na segunda verso, foram associados a uma forma de viver marcada pela pregui-
a, pela sexualidade excessiv, e at pela tristeza, como aparece no livro de Retrato do Brasil
(1928), de Paulo Prado. O tema tambm se faz presente no livro Tristes Trpicos (1955),
de ClaudeyLvi-Strauss, ainda que neste caso seja mais um lamento pelo que os trpicos
j tinham perdido a confrontar a tradio da narrativa francesa e a realidade que ele en-
contra em sua viagem ao Brasil.
A historiografa confrma a importncia da natureza
Se durante o sculo XIX o Imprio garantiu a unidade nacional e fronteiras nacio-
nais, no sculo XX, j sob o regime republicano, os viajantes brasileiros que avanaram
sobre os desconhecidos sertes da terra reconheceram a imensido do territrio e o aban-
dono de suas populaes (LIMA, 1990). Reconhecer oodesamparo de tais populaes,
entretanto, no invalidava a fora da viso espacial do pas.
Confgurou-se uma identidade nacional que toma argumentos geogrfcos, territo-
riais, como centrais e que integra o imaginrio nacional. Isto se faz presente em traba-
lhos e livros de historiadores como Capistrano de Abreu em Captulos da histria colonial
(1907), ou em livros fundamentais da cultura nacional como Os sertes (1902), de Eu-
clides da Cunha. Continuar a se fazer presente em obras voltadas explicao do Brasil
mesmo em pocas mais recentes, como em Celso Furtado, na Formao Econmica do
Brasil (1959), em que cada ciclo econmico se passa em um distinto espao geogrfco
do pas. Estes exemplos servem para confrmar como no Brasil a nao foi pensada como
espao territorial, como natureza, cabendo ao Estado a responsabilidade por garantir as
fronteiras nacionais, mapear as riquezas e fomentar sua ocupao, assim como zelar pela
manuteno da unidade entre diferentes reas isoladas e, mais tarde, pela integrao entre
tais reas no todo nacional.
A natureza como bem ilimitado...
A relevncia, abrangncia e permanncia do tema, entretanto, no signifca que te-
nhamos cuidado bem da natureza. Ela no era considerada um bem escasso, assim, pode-
-se explor-la vontade. Em relao explorao da natureza, possvel mencionar duas
experincias opostas. De um lado, a Mata Atlntica, destruda no sculo XIX para a cul-
tura do caf. Dela sobrou muito pouco, basta viajar de carro entre o Rio e So Paulo. O
rastro que fcou so morros e morros cobertos por capim baixo. Por outro lado, foi tam-
bm no territrio da Corte que se deu a experincia pouco conhecida, mas extremamente
130
Lucia Lippi Oliveira
importante, do replantio das matas que compem a foresta da Tijuca, uma das poucas
forestas urbanas do mundo (Drummond, 1988).
Concordando que um dos mitos fundadores mais importante no Brasil seja este ao
papel da natureza tropical - a pergunta a ser respondida, o enigma a ser decifrado, como
foi e como possvel que ele consiga se atualizar e permanecer forte, fornecendr senti-
mentos de identidade durante tanto tempo? Como, de que maneira, quem, atravs de que
instituies isto foi possvel?
A fora deste mito no reconhecida positivamente por todos.aAo contrrio, recebe cr-
ticas, principalmente de muitos acadmicos. A preponderncia do papel da natureza na forma-
o brasileira traz como correlaoa a equao: natureza maravilhosa, civilizao precria!
Se a natureza oferecia motivos de orgulho, a sociedade era incivilizada, escravagista,
mestia. A mestiagem foi considerada pelos padres cientfcos do sculo XIX e incio
do XX como problema quase insupervel, j que as raas eram diferentes e umas inferiores
em relao s outras,eo que desvalorizava a mestiagem. Foi ao longo do sculo XX que
no Brasil se construiu outro dos mitos nacionais- o da mestiagem como motivo de or-
gulho nacional. Este tema tambm tem sua histria e enfrenta reconstrues nos tempos
atuais, o que no ser tratadoineste estudo.
Integrao nacional como poltica de Estado
A natureza , o trpico produzirau um imaginrio sobre o pas, como estamos apre-
sentando, e tambm efeitos prticos em termos de aes polticas do Estado. A poltica
do Estado teve como metas fundamentais garantir no s a unidade do imenso territrio,
mas sua ocupao pelo menos dos anos 1930 at o fm do sculo.
A grandeza territorial se acoplou crtica do abandono das populaes que, isola-
das, abandonadas, no se integravamnao todo nacional. A anlise do pas como composto
poe ilhas, como arquiplago, foi responsvel por polticas que se voltaram preponderan-
temente para a sua interligao. A poltica do Estado brasileiro durante o sculo XX se
voltou para buscar a integrao no sentido de unifcar tais ilhas, tais espaos, atravs dos
meios de comunicao.
O mito do gigante pela prpria natureza tem sido mesmo a mais forte matriz para
interpretar o Brasil. Foi ele que defniu a atuao do Estado como guardio do territrio e
como responsvel por conectar as diversas ilhas entre si. O gigantismo do territrio per-
mitiu que as populaes desassistidas, empobrecidas, os excedentes populacionais migras-
sem para novas terras. As migraes para a regio Sul mais industrializada e urbanizada
, e tambm para outras regies desabitadas do Centro-Oeste do pas exemplifcam tal
mobilidade. A construo da nova capital, Braslia, em 1960, favoreceu tal movimento. A
ltima fronteira interna est sendo ocupada por correntes migratrias que chegam s bor-
das da Amaznia, vindas do estado do Mato Grosso e do Par. Foram e so ocupadas por
levas de gachos que subiram do Sul para o Centro-Oeste e chegaram ao Norte do pas.
Diferentes exemplos ajudam a pensar como a natureza e seu campo disciplinar prefe-
rencial a geografa foram e so fundamentais no processo de construo da identidade
131
Natureza e identidade: o caso brasileiro
nacional no Brasil. A importncia do espao na consolidao dos Estados Nacionais vem
merecendo estudos relevantes por parte dos gegrafos, que passaram a analisar o pensa-
mento geogrfco ao longo da histria do Brasil.
A Amaznia ontem e hoje
A imagem do pas como paraso ou inferno tropical se atualiza no fm do sculo XX,
com a questo global e regional representada pela Amaznia. Est entre os temas mais es-
tudados e presentes em debates cientfcos, acadmicos e polticos. O mais recente exem-
plo desta matriz de atuao do Estado brasileiro foi a ao do governo militar nos anos
1970 na Amaznia. Isto, importante lembrar, se d em uma conjuntura de globalizao
na qual o tema da ecologia ganha nova dimenso.
Para falar sobre o assunto nos limites desta apresentao, vou tomar as refexes da
gegrafa Bertha Becker, do cientista poltico Jos Augusto Pdua e do historiador e am-
bientalista Jos Augusto Drummond para situar o debate.
preciso lembrar que, at 1970, a Amaznia s havia perdido 1% de sua natureza
99% de sua rea continuava intacta. Isto se explica, segundo Pdua, j que o padro tec-
nolgico colonial no favorecia a penetrao nos rios da Amaznia. At o fm do sculo
XIX, no havia atrativo sufciente para empreender esta colonizao. Mesmo com a eco-
nomia da borracha, no incio do sculo XX, pouco se alterou j que a extrao do ltex da
seringueira pressupunha a manuteno da rvore.
A atuao do Estado na regio Amaznia nos anos 1970, durante a ditadura militar,
se deu dentro de uma viso geopoltica, j que no havia necessidade econmica para tal
empreendimento. A deciso de ocupar espaos vazios e levar brasileiros para l foi guiada
por temores de internacionalizao da regio. A Amaznia era um enorme espao verde
a ser convertido em vida social. A civilizao deveria vencer aquele obstculo. Assim fo-
ram abertas estradas (a Belm-Braslia, a Transamaznica), canalizou-se populao para
povoar a regio, abriu-se a regio para a minerao (Serra Pelada), para criao do gado,
para a criao de um polo de industrializao (Zona Franca de Manaus). O crescimento
econmico era visto como linear e infnito, baseado na contnua incorporao de terras
e de recursos naturais tambm percebidos como ilimitados. A Amaznia foi assim sendo
destruda por um padro antigo de desenvolvimento e se torna ento regio de fronteira
e, como tal, concentra extrema violncia e anomia.
A percepo recente sobre a grande riqueza biolgica e ecolgica das forestas tro-
picais midas transformou a viso sobre a regio. Na Amaznia, o perigo de extino foi
identifcado primeiro por cientistas dos pases desenvolvidos; depois chegaram os ativis-
tas, as ONGs e por fm os governantes de pases.
O tema da biodiversidade nasceu global. A riqueza da biodiversidade e os riscos de
seu desaparecimento so igualmente globais. E a luta pela salvaguarda da biodiversidade,
pelo desenvolvimento autossustentvel, tem implicaes para a soberania nacional e para
as relaes internacionais.
132
Lucia Lippi Oliveira
Agora cuidar da natureza visto como misso civilizatria e como questo de sobre-
vivncia do planeta. Assim, a Amaznia passa a ser vista como unidade de conservao
sob a responsabilidade global comum. Os elementos fundamentais da natureza ar, gua,
biodiversidade passam a ser pensados tambm como mercadorias especiais. E merecem
a ateno dos pases e de organizaes ambientalistas do mundo. possvel ver que ques-
tes relativas certifcao do carbono, da gua e da biodiversidade se fazem presentes
mesmo em cursos de treinamento para empresrios.
Os atributos naturais da regio tropical so novamente destacados de forma positiva.
A foresta amaznica ocupa 7% da superfcie da Terra e tem 60% de todas as espcies vi-
vas. O planeta tem menos de 3% de guas doces e 70 % delas so geleiras. Deste total de
3%, a Amaznia concentra 20% da gua doce do planeta. Ainda que tais valores mudem,
dependendo da fonte consultada sempre presente a grandiosidade.
A Amaznia brasileira hoje assiste a migraes provenientes de outras regies do
pas. Tem uma fronteira agrcola vinda do Centro-Oeste, gerando um uso produtivo da
terra (no mais fundo territorial). Tudo isto produz o chamado arco do desmatamen-
to, vindo do norte do Mato Grosso e do sudoeste do Par. Na fase atual, est sendo cons-
truda a Transcontinental, rodovia que ligar o Brasil ao oceano Pacfco, passando pela
Amaznia e pelos Andes peruanos, para exportao da soja brasileira para a China.
Os projetos relativos ao que fazer na regio no se esgotam em destruio ou conge-
lamento. Fala-se em uma terceira via, com ocupao e explorao segundo novos padres
baseados na compreenso de que a foresta vale mais do que as rvores. O Brasil conseguiu
realizar algumas revolues tecnolgicas, como a que envolveu retirar petrleo de guas
profundas e a alterao da qualidade do solo no cerrado, tornando-o celeiro do mun-
do. Agora, o pas precisa dar um passo a frente para responder ao desafo de harmonizar
polticas pblicas, interesses de atores envolvidos e presso da comunidade internacional
ligada agenda ambientalista.
A complexidade dos desafos enorme e no possvel explorar aqui todas as verten-
tes e confitos envolvidos.
Para fnalizar, importante reforar como o trpico continua a ser uma questo glo-
bal e nacional no caso brasileiro. A natureza tropical foi tomada como singularidade na-
cional primeiro pelo olhar europeu, e depois foi incorporada como mito nacional. Agora
o processo se repete: a natureza tropical tomada como singularidade planetria primeiro
pelo olhar dos cientistas, ambientalistas, acadmicos e socilogos dos pases avanados
ou ricos. Como fazer a sua migrao para o pensamento brasileiro e incorporar isto na
identidade nacional?
No momento em que estamos chegando ao banquete dos desenvolvidos, crescemos,
nos desenvolvemos, nos globalizamos, podemos perguntar: os motivos de orgulho nacio-
nal ainda continuaro sendo construdos sobre a natureza? E mesmo perguntar: a questo
nacional continuar a ter a mesma relevncia? A questo ecolgica e o desenvolvimento
autossustentado so questes globais e aparecem como pauta do sculo XXI, desafando
133
Natureza e identidade: o caso brasileiro
as polticas e as sociedades nacionais. Como isto se apresenta para uma nao que tem no
gigante pela prpria natureza seu mais forte mito de identidade?
Por fm, cabe ainda perguntar: possvel escapar da questo da identidade nacional no
sculo XXI? As elites globalizadas, assim como as populaes das megacidades ainda se au-
torrepresentam como nacionais? A economia e a cultura de massas funcionam em termos
planetrios, entretanto, a poltica ainda fcar presa ao conceito de soberania domnio
sobre um territrio e sua populao? possvel uma soberania sem territorialidade?
Recebido em 06 de novembro de 2011.
Aprovado para publicao em 29 de dezembro de 2011.
134
Lucia Lippi Oliveira
Bibliografa
APPADURAI, Arjun. Soberania sem territorialidade: notas para uma geografa ps-na-
cional. Novos Estudos CEBRAP, n 49, novembro 1997, p. 33-46.
BECKER, Bertha. Geopoltica da Amaznia. Estudos Avanados, vol. 19, n 53, 2005,
p. 71-86.
BELLUZZO, Ana Maria. O Brasil dos viajantes. Rio de Janeiro: Metalivos/Objetiva,
2000.
BOTTON, Alain de. A arte de viajar. Rio de Janeiro: Rocco, 2003. [Te Art of Travel,
2000].
CLIFFORD, James. Routes: travel and translation in the late twentieth century. Cam-
bridge: Harvard University Press, 1997.
DRUMMOND, Jos Augusto. Recursos naturais, meio ambiente e desenvolvimento na
Amaznia brasileira: um debate multidimensional [Natural resources, the environ-
ment, and development of Brazilian Amazon: a multi-dimensional debate]. Hist-
ria, Cincias, Sade Manguinhos, supl., Vises da Amaznia, vol. VI, setembro
2000, pp. 1135-1177.
____. O jardim dentro da mquina: breve histria ambiental da Floresta da Tijuca. Estu-
dos Histricos, vol. 1, n 2, 1988, p. 276-298.
KURY, Lorelai. Viajantes e naturalistas do sculo XIX. Histria, Cincias, Sade
Manguinhos, vol. 16, supl.1, julho 2009, p. 59-77.
LIMA, Nsia Trindade. Um serto chamado Brasil. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj, 1999.
OLIVEIRA, Lcia Lippi. Americanos: representaes da identidade nacional no Bra-
sil e nos EUA. Belo Horizonte: UFMG, 2000.
____. Nao, regio e geografa. In: Heizer, Alda; Videira, Antonio A. P. Cincia, civili-
zao e repblica nos Trpicos. Rio de Janeiro: Mauad/FAPERJ, 2010.
PDUA, Jos Augusto. Um sopro de destruio: pensamento poltico e crtica am-
biental no Brasil escravagista (1786-1888). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
PRATT, Mary Louise. Imperial eyes: travel, writing and transculturation. Londres e
Nova York: Routledge (1992). Traduzido para o espanhol em 1997, e para o portu-
gus em 1999.
SCHAMA, Simon. Paisagem e memria. So Paulo: Companhia das Letras, 1996.
Você também pode gostar
- Gilded Reverie Lenormand Exp Ed Extra CardsDocumento14 páginasGilded Reverie Lenormand Exp Ed Extra CardsErica Parrini83% (48)
- Formação Da Identidade NacionalDocumento2 páginasFormação Da Identidade NacionalCristiano Lucas FerreiraAinda não há avaliações
- PCOM MarinhaDocumento128 páginasPCOM Marinhadanidondoni0% (2)
- Fundamentação Teórica Dirigida A Gestão EscolarDocumento6 páginasFundamentação Teórica Dirigida A Gestão EscolarMarta Fonseca67% (3)
- Artigo Sobre Os Povos Indígenas e o Imaginário NacionalDocumento20 páginasArtigo Sobre Os Povos Indígenas e o Imaginário NacionalJan R. GuerraAinda não há avaliações
- GUIMARAES, Manoel - História e Natureza em Von Martius PDFDocumento19 páginasGUIMARAES, Manoel - História e Natureza em Von Martius PDFAlexandre TascaAinda não há avaliações
- ARTIGO - em Busca Da Grandeza Do BrasilDocumento11 páginasARTIGO - em Busca Da Grandeza Do BrasilAnderson ReisAinda não há avaliações
- Antropologia Brasiliana Ciência e Educação Na Obra de Edgard Roquette-PintoDocumento5 páginasAntropologia Brasiliana Ciência e Educação Na Obra de Edgard Roquette-PintoPaulo ReisAinda não há avaliações
- Cristina Pompa Os Índios Entre Antropologia e HistóriaDocumento19 páginasCristina Pompa Os Índios Entre Antropologia e HistóriacrispompaAinda não há avaliações
- 3.2 - Composição Étnica Do Povo Brasileiro - Michele SATODocumento28 páginas3.2 - Composição Étnica Do Povo Brasileiro - Michele SATOKrymusAinda não há avaliações
- L Osório Silva - Fronteira e Identidade NacionalDocumento23 páginasL Osório Silva - Fronteira e Identidade Nacionalademir.terraAinda não há avaliações
- La Cultura Latinoamericana - Darcy Ribeiro PT-BRDocumento50 páginasLa Cultura Latinoamericana - Darcy Ribeiro PT-BRBruna Gioia De BarrosAinda não há avaliações
- SCHEMES, Elisa Freitas. A Literatura de Viagem Como Gênero Literário e Como Fonte de PesquisaDocumento13 páginasSCHEMES, Elisa Freitas. A Literatura de Viagem Como Gênero Literário e Como Fonte de PesquisaBEATRIZ SOARES DOS SANTOS SILVAAinda não há avaliações
- Breve Reflexão Sobre NacionalismoDocumento15 páginasBreve Reflexão Sobre NacionalismoExpedito Wellington Chaves CostaAinda não há avaliações
- Viagens e Inventarios Tipologia para o PDocumento23 páginasViagens e Inventarios Tipologia para o Pgifanelli100% (1)
- Valentes, Diabólicos, Invencíveis e Aliados - Goitacazes, Temiminós, Portugueses e Franceses Na Capitania Do Espírito SantoDocumento15 páginasValentes, Diabólicos, Invencíveis e Aliados - Goitacazes, Temiminós, Portugueses e Franceses Na Capitania Do Espírito SantoLasAinda não há avaliações
- Resumo - ConepehDocumento5 páginasResumo - ConepehEduarda MendesAinda não há avaliações
- 2 - FONSECA - O Livro Didatico de Histori PDFDocumento12 páginas2 - FONSECA - O Livro Didatico de Histori PDFcarlosAinda não há avaliações
- Dissertação de Von Martius - Como Se Deve Escrever A História Do BrasilDocumento12 páginasDissertação de Von Martius - Como Se Deve Escrever A História Do BrasilMarcelo BouçasAinda não há avaliações
- Transculturação e HibridismoDocumento20 páginasTransculturação e HibridismoLuís MouraAinda não há avaliações
- Lucia Oliveira - 2007 - O Estado Novo e A Conquista de Espaços TerritoriaisDocumento10 páginasLucia Oliveira - 2007 - O Estado Novo e A Conquista de Espaços TerritoriaisPollyany MartinsAinda não há avaliações
- Viajantes Naturalistas Do Século XIX Na Região Da Província de GoiásDocumento16 páginasViajantes Naturalistas Do Século XIX Na Região Da Província de GoiásLuciano Lima Di Fls IIAinda não há avaliações
- CORRÊA, Mariza. Traficantes Do Excêntrico: Os Antropólogos Do Brasil Dos Anos 30 Aos Anos 60.Documento13 páginasCORRÊA, Mariza. Traficantes Do Excêntrico: Os Antropólogos Do Brasil Dos Anos 30 Aos Anos 60.Vinícius MauricioAinda não há avaliações
- Os Viajantes e o Negro No Rio de Janeiro Do Século XIXDocumento10 páginasOs Viajantes e o Negro No Rio de Janeiro Do Século XIXSérgio MassagliAinda não há avaliações
- Historia Local Reznik PDFDocumento5 páginasHistoria Local Reznik PDFMariaElôAinda não há avaliações
- Literatura de Informacao Dos Viajantes DDocumento13 páginasLiteratura de Informacao Dos Viajantes Drbs432hz.freelancerAinda não há avaliações
- A Construcao Da Imagem Do Nordestino Na Identidade NacionalDocumento13 páginasA Construcao Da Imagem Do Nordestino Na Identidade NacionalIvo De Moura VasconcelosAinda não há avaliações
- Experiências Das Viajantes Naturalistas Durante o Século XIX e As Representações Do Brasil OitocentistaDocumento20 páginasExperiências Das Viajantes Naturalistas Durante o Século XIX e As Representações Do Brasil OitocentistaPedro Baumgartner GuedesAinda não há avaliações
- Oliveira, João Pacheco De. Uma Etnologia Dos Índios Misturados Situação Colonial, TerritorializaçDocumento27 páginasOliveira, João Pacheco De. Uma Etnologia Dos Índios Misturados Situação Colonial, Territorializaçcarlos de JesusAinda não há avaliações
- A Noção de Uma Cultura Latino-Americana Da Antropologia Norte-Americana E Os Estudos de Família: Uma Conspiração Contra A Diversidade?Documento38 páginasA Noção de Uma Cultura Latino-Americana Da Antropologia Norte-Americana E Os Estudos de Família: Uma Conspiração Contra A Diversidade?Mariana VicenteAinda não há avaliações
- T. 1 - Reznik, Luis. Historia LocalDocumento5 páginasT. 1 - Reznik, Luis. Historia LocalalineAinda não há avaliações
- Os Indios Entre A Antropologia e A Historia - A Obra de John Manuel Monteiro PDFDocumento19 páginasOs Indios Entre A Antropologia e A Historia - A Obra de John Manuel Monteiro PDFFlávio LyraAinda não há avaliações
- As Aguas de OsalaDocumento10 páginasAs Aguas de OsalaThiago MonacoAinda não há avaliações
- O Pensamento de Eduardo Prado e A América Hispânica Como Exterior Constitutivo Do Brasil em Fins Do Século XIX e Princípios Do Século XXDocumento17 páginasO Pensamento de Eduardo Prado e A América Hispânica Como Exterior Constitutivo Do Brasil em Fins Do Século XIX e Princípios Do Século XXJan MertensAinda não há avaliações
- Arte Patrimonial Como Base para o Patrimônio Imaterial Antonio Gilberto Ramos NOGUEIRADocumento17 páginasArte Patrimonial Como Base para o Patrimônio Imaterial Antonio Gilberto Ramos NOGUEIRAAntonio Gonzaga AmadorAinda não há avaliações
- Apostila Antropologia MissionáriaDocumento38 páginasApostila Antropologia Missionáriapoturu0% (1)
- Diáspora Contemporânea Um Convite À ReflexãoDocumento19 páginasDiáspora Contemporânea Um Convite À Reflexãosafira21Ainda não há avaliações
- A Conquista Do Espaço - Sertão e Fronteira No Pensamento BrasileiroDocumento19 páginasA Conquista Do Espaço - Sertão e Fronteira No Pensamento BrasileiroAlexandre CamargoAinda não há avaliações
- Fichamento - Como Se Deve Escrever A História Do BrasilDocumento5 páginasFichamento - Como Se Deve Escrever A História Do BrasilElton VictorAinda não há avaliações
- Culturalismo EUADocumento37 páginasCulturalismo EUAleontut50% (2)
- A Viagem Das Ideias (Renan Freitas Pinto)Documento18 páginasA Viagem Das Ideias (Renan Freitas Pinto)Andrei SicsúAinda não há avaliações
- Av 2012 Fronteira BiblDocumento79 páginasAv 2012 Fronteira BiblAlberto VieiraAinda não há avaliações
- Norma Marinovic Doro PDFDocumento8 páginasNorma Marinovic Doro PDFMilan PuhAinda não há avaliações
- Os Índios Botocudos Da Província Do Espírito Santo, Sob A Ótica Da Princesa Teresa Da Baviera em 1888Documento27 páginasOs Índios Botocudos Da Província Do Espírito Santo, Sob A Ótica Da Princesa Teresa Da Baviera em 1888joycefebekAinda não há avaliações
- A pena do espírito e o corpo de papel: narrativa e conhecimento sobre o corpo indígena no Chaco (Século XVIII)No EverandA pena do espírito e o corpo de papel: narrativa e conhecimento sobre o corpo indígena no Chaco (Século XVIII)Ainda não há avaliações
- Luiz Felipe de Alencastro. A Narrativa HistóricaDocumento3 páginasLuiz Felipe de Alencastro. A Narrativa Históricabeja11Ainda não há avaliações
- Cultura Regional e Cultura Nacional OlivernDocumento28 páginasCultura Regional e Cultura Nacional OlivernEDUARDO JOSÉ REIATOAinda não há avaliações
- BEIRED, CAPELATO, PRADO, Intercambiosmediações PDFDocumento548 páginasBEIRED, CAPELATO, PRADO, Intercambiosmediações PDFAngela Meirelles de OliveiraAinda não há avaliações
- Uma Etnologia Dos Índios Misturados - Situação Colonial, Territorialização e Fluxos Culturais - Oliveira, J. P.Documento31 páginasUma Etnologia Dos Índios Misturados - Situação Colonial, Territorialização e Fluxos Culturais - Oliveira, J. P.Pierre AzevedoAinda não há avaliações
- Tupi TapuiaDocumento235 páginasTupi TapuiaCristiano Santos CarmoAinda não há avaliações
- Historiografia Revisão para A 2a Av1 1Documento12 páginasHistoriografia Revisão para A 2a Av1 1Felipe GonçalvesAinda não há avaliações
- Corrêa, Mariza-Traficantes Do ExcentricoDocumento31 páginasCorrêa, Mariza-Traficantes Do ExcentricooscarguarinAinda não há avaliações
- UmMarDaCorDaTerra PDFDocumento286 páginasUmMarDaCorDaTerra PDFAmurabi OliveiraAinda não há avaliações
- Re Sen Ha Natureza e CulturaDocumento4 páginasRe Sen Ha Natureza e CulturaLuciana MurariAinda não há avaliações
- Historia Da Imigracao No Brasil Luis RezDocumento13 páginasHistoria Da Imigracao No Brasil Luis RezAnne Ystefane Lima Da SilvaAinda não há avaliações
- Textos Do Brasil 19Documento176 páginasTextos Do Brasil 19Nicole TorresAinda não há avaliações
- Brasilia UtopicaDocumento247 páginasBrasilia UtopicaValdir de SouzaAinda não há avaliações
- O Jardineiro de Napoleão: Alexander Von Humboldt e as Imagens de um Brasil/América (Séculos XVIII e XIX)No EverandO Jardineiro de Napoleão: Alexander Von Humboldt e as Imagens de um Brasil/América (Séculos XVIII e XIX)Ainda não há avaliações
- Linguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)No EverandLinguagens da Identidade e da Diferença no Mundo Ibero-americano (1750-1890)Ainda não há avaliações
- A Epopeia do Xingu: Francisco Paula Castro e Karl Von Den Steinen, expedicionários de 1884No EverandA Epopeia do Xingu: Francisco Paula Castro e Karl Von Den Steinen, expedicionários de 1884Ainda não há avaliações
- Teste Diagnóstico de 11º AnoDocumento6 páginasTeste Diagnóstico de 11º AnoCláudia FerreiraAinda não há avaliações
- Olá, Estudante! Somos Da Integrare Academy e Iremos Te Ajudar Nesse Projeto! Entre em Contato (48) 99211-9949Documento8 páginasOlá, Estudante! Somos Da Integrare Academy e Iremos Te Ajudar Nesse Projeto! Entre em Contato (48) 99211-9949Prime EducacionalAinda não há avaliações
- Átomos e Elementos QuímicosDocumento19 páginasÁtomos e Elementos QuímicosYesleiPaulinoAinda não há avaliações
- Boletim Bibliográfico Doutoramentos 2014Documento8 páginasBoletim Bibliográfico Doutoramentos 2014Alberto G. MesquitaAinda não há avaliações
- Teste de Ciências 1º TrimestreDocumento4 páginasTeste de Ciências 1º TrimestreMaria100% (1)
- Sep 2023Documento46 páginasSep 2023Maria Das Graças LimaAinda não há avaliações
- Treinamento em Prevenção de Acidentes em Andaimes - Rohr Tubulações e AndaimesDocumento47 páginasTreinamento em Prevenção de Acidentes em Andaimes - Rohr Tubulações e AndaimesBruce Domingues de PaulaAinda não há avaliações
- 01 - Intr Materiais06Documento13 páginas01 - Intr Materiais06api-3700388100% (2)
- Aula 1 - Análise de Sinais e SistemasDocumento14 páginasAula 1 - Análise de Sinais e SistemasDalton InacioAinda não há avaliações
- Artigo de Opinião Sobre Consumismo e o Meio AmbienteDocumento3 páginasArtigo de Opinião Sobre Consumismo e o Meio AmbienteAureliano Geraldo Dos Santos50% (2)
- Projeto de Intervenção CidaDocumento10 páginasProjeto de Intervenção CidaTainara Rodrigues100% (1)
- Conversa Haraway Azeredo RevisadaDocumento26 páginasConversa Haraway Azeredo RevisadaDanielle MilioliAinda não há avaliações
- Evolução Do Ensino de Fisica No BrasilDocumento27 páginasEvolução Do Ensino de Fisica No BrasilCarlosRosaAinda não há avaliações
- Bateria de Avaliação FrontalDocumento1 páginaBateria de Avaliação FrontalJoão JúniorAinda não há avaliações
- Expressividade Na DançaDocumento10 páginasExpressividade Na DançamenesescarolineAinda não há avaliações
- Os Problemas Causados Pelo Trânsito e Suas Devidas SoluçõesDocumento7 páginasOs Problemas Causados Pelo Trânsito e Suas Devidas SoluçõesUma IncónitaAinda não há avaliações
- Dodf 076 24-04-2023 Integra-20-21Documento2 páginasDodf 076 24-04-2023 Integra-20-21Felipe TorresAinda não há avaliações
- Novo Espaço 10 - Proposta de ResoluçãoDocumento5 páginasNovo Espaço 10 - Proposta de ResoluçãoSusana FigueiredoAinda não há avaliações
- O Roubo Da FalaDocumento233 páginasO Roubo Da FalaTatiana Emilia Dias GomesAinda não há avaliações
- VOLUMETRIA DE PRECIPITAÇÃO - MÉTODOS DE MOHR, FAJANS e VOLHARD.Documento12 páginasVOLUMETRIA DE PRECIPITAÇÃO - MÉTODOS DE MOHR, FAJANS e VOLHARD.VitoriaAinda não há avaliações
- Notes 210812 153634 25aDocumento10 páginasNotes 210812 153634 25aCleide GomesAinda não há avaliações
- Na Carreira Do Divino - Cultura Caipira TeatroDocumento17 páginasNa Carreira Do Divino - Cultura Caipira TeatroAna Garbuio100% (1)
- SafariDocumento6 páginasSafariHenrique PauloAinda não há avaliações
- Weg ContatoresDocumento3 páginasWeg ContatoresQuarkInstalacoesAinda não há avaliações
- Europass CV ESP 20131028 Neto PT 1Documento4 páginasEuropass CV ESP 20131028 Neto PT 1Cristiano NetoAinda não há avaliações
- 21 - MD45007Documento4 páginas21 - MD45007Margareth Siva CostaAinda não há avaliações
- FL - FOUCAULT - Segurança, Território, PopulaçãoDocumento84 páginasFL - FOUCAULT - Segurança, Território, PopulaçãoTatiane Cimara dos Santos Medeiros100% (1)