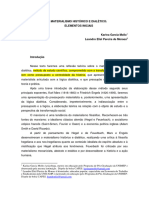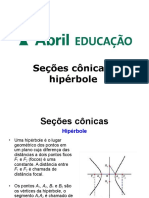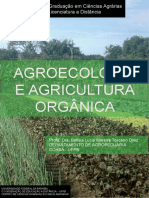Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Nulidade Matrimonial
Nulidade Matrimonial
Enviado por
Adão CarlosDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Nulidade Matrimonial
Nulidade Matrimonial
Enviado por
Adão CarlosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Nulidade Matrimonial
1 Introduo
Disse Jesus: Assim, j no so dois, mas uma s carne. Portanto, o que Deus
uniu, o homem no separe. Continua Cristo: Eu vos declaro que todo aquele que
rejeita sua mulher, exceto em caso de matrimnio irregular, e esposa outra,
comete adultrio.
Jesus, ento, deixa claro:
Primeiro: Que o matrimnio, como sacramento,
indissolvel;
Segundo: Que pode ocorrer matrimnio falso, o que significa
que no foi vlido, ou melhor, nunca existiu.
possvel anular um matrimnio, segundo as normas da Igreja
Catlica?
O casamento civil, de acordo com os preceitos jurdicos, pode
ser dissolvido ou anulado, isto , existiu e, por uma deciso do juiz,
de acordo com a vontade dos cnjuges, deixa de existir.
J o sacramento do matrimnio, uma vez realizado com livre
consentimento dos noivos e segundo as normas da Igreja Catlica,
no pode ser anulado, porque indissolvel e nem a Igreja tem o
poder de anul-lo. O que pode acontecer que o matrimnio no
tenha sido vlido e, a sim, a Igreja, por meio do Tribunal
Eclesistico, pode dar um sentena declarativa da nulidade do
matrimnio.
2. O Tribunal Eclesistico
A Igreja, atravs do chamado Tribunal Eclesistico, examina,
discute e decide legitimamente questes de sua competncia e, entre
outras, a validade do matrimnio.
Como norma, cada Bispo Diocesano tem seu Tribunal, que se
chama de 1
a
instncia.
Existe igualmente o Tribunal Metropolitano, tambm chamado
2
a
instncia, que serve para confirmar uma sentena de 1
a
instncia
ou como recurso de apelao, quando algum no est conforme com
a deciso do 1
o
Tribunal.
No Brasil h um Tribunal para cada Regio pastoral da CNBB,
mais um em Braslia e outro em Campinas, totalizando 16 Tribunais
de 1
a
instncia e dez Tribunais de 2
a
instncia.
O Tribunal Eclesistico presidido por um Vigrio Judicial, que
representa o Bispo, e mais trs a cinco juizes que podem ser
sacerdotes, diconos, homens e mulheres leigos, que se distingam
pelos bons costumes, prudncia e conhecimento da doutrina crist.
O fiscal ou promotor de justia o encarregado de vigiar e
defender o valor do sacramento do matrimnio e da ordem sacra (c.
1432); estes dois ofcios de fiscal e defensor tambm podem ser
desempenhados por leigos.
Cada Tribunal deve ter uma lista de advogados, especializados
em Direito Cannico, aprovados para atuar nele.
3. Do Tribunal competente nas causas matrimoniais
Nas causas de nulidade do matrimnio, qualquer dos dois
esposos pode apresent-la ao Tribunal de 1
a
instncia de uma destas
dioceses:
- onde foi celebrado o matrimnio;
- onde tem domiclio ou quase domiclio o demandado (quem
responde ao processo);
- onde se encontra a maior parte das provas.
Para que o Tribunal das Dioceses, nos dois ltimos casos, possa
aceitar, so exigidas algumas condies expressas nos cnones 1673
e 1694 do Cdigo de Direito Cannico.
4. Durao das causas matrimoniais
A Igreja tem sempre muito cuidado nas normas de
funcionamento de seus Tribunais, pois elas formam o Direito
Processual Cannico.
Muitos pensam que a administrao da justia, tambm na
Igreja, lenta por demais e burocrticas; s vezes tm razo.
A soluo no eliminar as normas, mas aceit-las como
segurana e garantia de respeito aos direitos das pessoas.
Por isto, preciso obedecer com esprito de eficcia, sabendo
que elas foram aprovadas muito oportunamente pelo legislador para
que ajudem simultaneamente para obter a verdade, a justia e a
rapidez.
Respeitando os prazos sem prorrogaes que possam evitar-se,
se alcana uma durao prudente (Cn. 1465). Uma causa deve
durar, como norma, em torno de um ano e meio em 1
a
instncia e
seis meses em 2
a
instncia.
5. Causas de nulidade matrimonial
As causas que podem tornar invlido o contrato matrimonial
so de trs espcies: 1) presena de impedimentos; 2) defeitos no
consentimento; 3) falta de forma cannica.
Os impedimentos so obstculos que impossibilitam contrair o
matrimnio validamente e a Igreja como tais os configura para evitar
que possam ocorrer matrimnios inconvenientes ou prejudiciais.
O Cdigo de Direito Cannico, promulgado em 1983, estabelece
12 impedimentos dirimentes:
a) Idade: os rapazes no podem se casar validamente antes dos 16
anos completos nem as moas antes dos 14 anos completos.
Embora a legislao civil brasileira exija dois anos a mais e a CNBB
tenha decretado o mesmo acrscimo, isso diz respeito apenas
licena ao ato de casar;
b) Impotncia: a relao sexual realizada de modo humano
considerada pela legislao como consumao daquilo que se
prometeu no ato do casamento. Por isso, as pessoas que so
incapazes de ter uma relao sexual autntica no podem se casar
validamente (Cn. 1084). No basta a esterilidade e a impotncia
deve ser anterior ao matrimnio e perptua.
c) Vnculo: A Igreja Catlica afirma e sempre afirmou que o
matrimnio indissolvel. Por isso, se algum est validamente
casado e realizasse uma cerimnia de casamento com outra
pessoa, essa cerimnia no teria nenhum valor (Cn. 1095).
d) Disparidade de Culto: entre um catlico e uma pessoa no
batizada (por exemplo, um judeu ou um muulmano) existe uma
diferena to grande de religio que dificilmente vo conseguir
realizar uma comunho de vida plena. Por isso, o matrimnio
entre eles est proibido, sob pena de nulidade (Cn. 1086),
precisando ser dispensado pelo Bispo para a validade do
casamento, caso se derem as garantias exigidas.
e) Ordem Sagrada: os que receberam o sacramento da ordem, ou
seja, os diconos, os presbteros e os bispos no podem casar
validamente (C. 1087). No caso dos diconos casados, porm,
permite-se que algum, previamente casado, seja ordenado
dicono e atue como tal.
f) Profisso religiosa perptua: os religiosos, ou seja, os
membros de certas instituies que tm gnero de vida especial
aprovado pela Igreja, fazem voto de castidade, pobreza e
obedincia. Isto se chama profisso religiosa. Quando feita de
modo perptuo ou definitivo, torna nula qualquer tentativa de
matrimnio (Cn. 1088).
g) Rapto: Uma mulher conduzida ou retida fora no pode casar
validamente com quem est exercitando essa violncia contra ela
enquanto no for posta em liberdade em lugar seguro.
h) Crime: A fim de proteger a vida do marido ou da mulher trados,
a Igreja declara que os que matam seu cnjuge para facilitar um
matrimnio posterior ficam impedidos de realizar validamente este
casamento. E tambm se um homem ou mulher. E comum acordo,
matam o esposo ou a esposa de um deles, no podem casar-se
entre si (Cn 1090). A dispensa est reservada Santa S.
i) Consanginidade: A legislao cannica atual estabelece que
este impedimento atinge todos os antecedentes e descendentes
(ou seja, pai com filha, av com neta) e tambm at o quarto grau
na linha colateral, ou seja, primos legtimos ou primos primeiros
entre si (Cn. 1091).
j) Afinidade: Em razo deste impedimento, um vivo ou viva no
podem casar legitimamente com os respectivos: sogra(a),
enteada(o) ou ascendentes e descendentes destes. (Cn. 1092).
k) Honestidade pblica: afeta a quem est vivendo uma unio no
legalizada pela Igreja e torna invlido o casamento com os filhos
ou pais do(a) parceiro(a). (Cn 1093).
l) Parentesco legal: No est permitido o casamento entre o
adotante e o adotado ou entre um destes e os parentes prximos
do outro (Cn. 1094).
Os defeitos de consentimentos mais comuns so:
1
o
Da parte do intelecto:
a) defeito da mente:
- falta de uso da razo: dbeis mentais, os que sofrem de
algum transtorno quando vo prestar consentimento (Cn
1095 1);
- imaturidade psicolgica: grave defeito de discrio de
juzo que tira a responsabilidade e a ponderao suficiente
para se casar (Cn. 1095 2);
- incapacidade para assumir as obrigaes essenciais
do matrimnio: pode acontecer nos casos de alcoolismo,
toxicomania, homossexualismo e outras anomalias (Cn.
1095 3).
b) Ignorncia: carncia de cincia mnima necessria para o
casamento (Cn. 1096);
c) Erro: de fato, sobre a identidade da pessoa com quem se
casa (Cn 1097 1)
- Sobre certas qualidades da pessoa com quem se casa (Cn
1097 2);
- Maliciosamente provocado, doloso (Cn. 1098);
- De direito: Sobre as propriedades do matrimnio.
2
o
Da parte da Vontade
a) Simulao
- Total: Quando se finge o consentimento com a rejeio do
casamento (Cn. 1101 2);
- Parcial: Quando exclui propriedade ou elemento essencial
do contrato matrimonial (Cn. 1101 2).
b) Medo: casar sob presso, medo grave externo, torna nulo
o casamento quando indeclinvel (Cn. 1103);
c) Condio: por uma condio sem a qual no valer o
consentimento, em caso de no cumprimento invlido o
casamento. Precisa de licena escrita do Bispo (Cn. 1102).
A falta de forma cannica habitualmente acontece quando se celebra perante um
assistente que no tem jurisdio sob os nubentes e no recebe a oportuna
delegao; por falta das duas testemunhas exigidas ou por alterao substancial
de frmula ritual do matrimnio.
6. Os principais passos de um processo de nulidade matrimonial
Chamamos processo seqncia de atos que se realizam para
resolver a questo proposta.
Um processo comea com o libelo da demanda, apresentado ao
Tribunal por quem pede a causa, a parte autora. Nesse documento
deve-se indicar claramente o que se pede (a declarao de nulidade
do casamento), as razes de fato e de direito e as provas em que se
apoia a petio (Cn. 1501 a 1504), pelo menos transcrevendo o rol
de testemunhas. O autor pode designar um advogado que o defenda
e um procurador que o represente no Tribunal (Cn. 1481).
O juiz admite por decreto o libelo e cita por convocao a outra
parte que nas causas matrimoniais chamado(a) demandado(a). o
demandado ento contesta o libelo: pode por sua posio e ento
indicar tambm razes e provas ou pode no opor-se, submetendo,
desde o princpio, a justia do Tribunal (Cn. 1507).
Com aquilo que expuseram o autor e o demandado nos seus
escritos de demanda e contestao, o juiz redige a frmula da
concordncia da dvida (Cn. 1513), que explicita e define
claramente o que se vai estudar e decidir. Nas causas de nulidade
declarado se consta, no caso, a nulidade do matrimnio em apreo,
pelo(s) captulo(s) de nulidade. Em continuao o juiz decreta a
abertura da fase de instruo, a etapa probatria de recolhimento dos
elementos demonstrativos que confirmaro ou no o sustentado no
libelo.
Ouve-se primeiro o demandante, depois o demandado, em
separado; a seguir, as testemunhas que tenham sido arroladas pelas
partes. Em certas causas requisitado o relatrio e o laudo pericial e
ainda examina-se, se houver, a prova documental, ou seja, os
documentos pblicos ou privados com os quais se intenta provar
alguma coisa.
Com isto d-se por terminado o perodo probatrio e decreta-se
a publicao dos autos do processo, para que o autor e o demandado
e seus respectivos advogados possam conhecer e estudar todas as
peas processuais. Os advogados apresentam ento suas defesas, em
favor ou contra, do que se pediu ao Tribunal. O defensor do vnculo
faz seu relatrio ao qual devem oferecer rplica os advogados,
ficando-lhes assegurado o direito de trplica, que tem sempre a
ltima palavra na fase discussria.
Encerrando as alegaes das partes, o Juiz decreta a concluso
da causa e convoca a sesso para decidir, reunindo o trio dos juizes
que juntos apresentaro seus votos fundamentados e por maioria
definiro a causa ditando a sentena em 1
a
instncia.
Roteiro para apresentao de um caso de Nulidade Matrimonial:
JUZO ECLESISTICO REGIONAL DO RIO DE JANEIRO
Rua Benjamin Constant, 23/306
Tel.: 0-xx-21-252.0784
Glria Rio de Janeiro RJ
Nulidade Matrimonial
Roteiro para exposio do caso
O relatrio tem a finalidade de oferecer dados concretos para
averiguar se h base jurdica para a declarao de nulidade de
matrimnio. Em carter confidencial.
Descreva com clareza, objetividade e riqueza detalhes os fatos e
atos que envolveram a separao do casal.
Os itens elencados tm a finalidade de orient-la(a) na descrio,
para que tenha seqncia e no esquea dados importantes.
Consequentemente, no devem ser transcritos nem numerados.
IDENTIFICAO DO CASAL:
I. Parte Demandante:
01. Nome, filiao, localidade e data de nascimento.
02. Grau de instruo. Profisso.
03. Endereo residencial completo (atual) e endereo para
correspondncia (se for o caso). Telefone.
04. Qual a sua religio, a pratica? Onde foi batizado? Conhece algum
sacerdote?
05. Data completa do matrimnio religioso e civil. Em que igreja?
idade?
06. Como era sua famlia e seu relacionamento com ela?
II. Parte demandada
Informe sobre a parte demandada seguindo a ordem e os dados cfr.
os itens 01 a 06 da parte Demandante.
EXPOSIO DO CASO
I. Preparao do matrimnio
01. Como, quando e onde conheceu a parte Demandada?
02. Como, quando e onde iniciou o namoro? Quanto tempo durou s
o namoro? Como foi o tempo de namoro: havia brigas e
desentendimentos? Por que? Houve intimidades? Gravidez?
Chegou e desmanchar o namoro, quantas vezes e por quanto
tempo? Quem procurava a reconciliao e por que?
03. Como, quando e onde iniciou o noivado? Quanto tempo durou o
noivado? Como foi o tempo de noivado: havia brigas e
desentendimentos? Por que? Houve intimidade, gravidez, chegou
desmanchar o noivado? Quantas vezes e por quanto tempo?
Quem procurava a reconciliao e por que? Se havia brigas na
poca do noivado, por que chegaram ento ao casamento?
II. Matrimnio
01. Ambos foram livremente para o matrimnio, ou algum ou
alguma circunstncia os obrigou ao matrimnio (quem? Qual
circunstncia?)
02. Como foi o dia do matrimnio, tudo correu normal na funo
religiosa e civil? E na festa que se seguiu? Notou alguma coisa no
dia do casamento que levasse a duvidar do feliz xito do mesmo?
III. Vida matrimonial
01. Houve lua de mel, onde e por quanto tempo? O matrimnio foi
consumado? Houve dificuldades?
02. Quando surgiram os primeiros problemas do casal? Eles j
existiam anteriormente ao casamento?
03. Relate pormenorizadamente os principais fatos (concretos) que
prejudicaram o relacionamento do casal e levaram o casamento a
um final indesejvel.
04. Algum problema psquico ou mental prejudicou o
relacionamento? Esse problema era anterior ao casamento?
(relate de forma clara e objetiva os fatos e atos praticados pela
parte envolvida).
05. Houve infidelidade conjugal: de quem? Antes, durante ou depois
do casamento? (relate fatos concretos)
06. Tiveram filhos? Quantos? Se no, por que? As partes assumiram
as suas obrigaes de casados com referncia ao lar, ao outro
cnjuge e aos filhos?
07. Amavam-se de verdade? Com que tipo de amor? Amavam-se
com amor marital capaz de fundamentar o matrimnio? Quando
descobriram que no havia mais amor entre ambos?
08. Quanto tempo durou a vida conjugal?
IV. Separao
01. De quem foi a iniciativa da separao e qual o verdadeiro motivo
dessa separao?
02. Houve tentativa de reconciliao, de quem e qual o seu
resultado?
03. Com quem vivem hoje as Partes?
04. Qual o motivo que o(a) levou a introduzir este processo no foro
eclesistico?
DOCUMENTOS ANEXOS
- Certido do casamento religioso
- Certido do casamento civil (com averbao da separao)
- Rol de testemunhas: 05 (cinco) pessoas que esteja a par dos
fatos acima relatados, podendo ser familiares (nome e endereo
atual completo).
http://www.peedson.com.br/escola_da_fe/moral/nulidade.htm
A natureza jurdica do matrimnio luz
do novo Cdigo de Direito Cannico
Dom Rafael Llano Cifuente
(Licenciado em Direito Civil pela Universidade de Salamanca e Doutor em Direito
Cannico pela Universidade de Santo Toms em Roma)
Os diferentes enquadramentos do matrimnio
O matrimnio uma realidade multiforme, rica em facetas, suscetvel de ser abordada
atravs de prismas muito diversos: a Teologia, a Filosofia, a Antropologia e a Psicologia
tanto quanto a Sociologia, a Economia ou o Direito podem incidir no seu estudo
reivindicando para si um enfoque de relevante importncia.
A perspectiva jurdica em que se situa trabalho no poder desconhecer essa rica
complexidade e menos ainda o fato de ser o matrimnio uma realidade vital uma
clula bsica e originria da Sociedade inserida num contexto temporal e especial
definidos. Eis porque todo estudo profundo do Direito matrimonial, feito hoje, dever
tambm nutrir-se do progresso das cincias modernas da experincia histrica
contempornea, das diversas razes tnicas e geogrficas de cada situao concreta e
especialmente da prpria vivncia da Igreja.
O enfoque especfico, no entanto, em que deseja enquadrar-se o nosso estudo est
circunscrito dentro dos parmetros do novo Cdigo de Direito Cannico, promulgado
por Joo Paulo II em 1983. Alguns dos traos caractersticos deste corpo de leis
representam em parte um eco dos sinais do nosso tempo.
Hoje, muito mais intensamente do que em outras pocas, adquire importncia o
existencial: h extraordinria sensibilidade para o progresso e para a renovao; gosta-
se do que atual e presente. Tambm, de modo mais profundo do que em qualquer
outra codificao ou recopilao, o novo Codex incorporou como muito bem fez notar
GIORGIO FELICIANI o sentido dinmico da histria eclesial: no como um texto
tendencialmente fixo e imutvel diferena do Cdigo anterior mas como uma
legislao programaticamente aberta a uma contnua renovao da vida eclesistica (G.
FELICIANI. Dal codice del 1917 al codice de 1983: II nuovo codice di Diritto
Canonico. A Cura di SILVIO FERRI. Bologna, 1983, p. 33).
Em igual sentido, EUGENIO CORECO ps de manifesto a relevncia dos pressupostos
culturais e eclesiolgicos na elaborao do novo Cdigo (E. CORECO. Presupposti
culturali ed eclesiologici del Nuovo Codex. Em II nuovo codice de Diritto Canonico,
cit. pp. 37s.), orientao que tambm desejaramos seguir ao longo deste trabalho. O
Matrimnio, nas suas caractersticas e propriedades essenciais, uma instituio de
Direito Natural e tem, portanto, neste sentido, uma estrutura imutvel. Mas, sem dvida,
ele est enquadrado dentro de um tempo e de um espao concretos que lhe outorgam
peculiaridades acidentais dignas de profunda ponderao. De fato, no o mesmo
defrontar-se hoje com a instituio matrimonial pressionada por fenmenos como a
difuso do divrcio, do controle da natalidade, ou da carncia, em vastas camadas
sociais, do sentido cristo da famlia do que analisar a mesma instituio na poca em
que foi redigido o Cdigo de 1917. No o mesmo explicar Direito matrimonial em um
contexto social genrico ou, por exemplo, a partir da realidade latino-americana.
Nesta seqncia de idias nosso desejo oferecer tanto neste trabalho quanto em outros
que iremos apresentando uma viso do matrimnio nas coordenadas deste ltimo
quadrante do sculo XX, numa contextura jurdica nova em relao estreita com os
juristas do tempo presente, e de acordo com as normas do novo Codex luris Canonici.
Este texto tambm quer ser como o prprio Sumo Pontfice manifestou no um corpo de
leis alheias ao espao e ao tempo, mas a codificao da doutrina que o Conclio
Vaticano II cristalizou no clima cultural e na experincia eclesial da hora que vivemos.
Igualmente nosso desejo enriquecer o nosso estudo na medida em que isto seja preciso
com a vasta contribuio que possa aduzir a moderna cincia jurdica civil, assim como
fazer as necessrias referncias realidade concreta do Brasil e ao Direito Civil
Brasileiro. Porque, como escreve DEL GIUDICE, hoje, quem quiser dar exposio
das instituies do Direito Cannico uma sistemtica satisfatria e eficaz para a
sensibilidade da conscincia jurdica dos estudiosos, no pode deixar de utilizar (nos
limites da convenincia) as concepes elaboradas pela cincia civilista; assim como,
por outra parte, no podem os cultivadores deste ramo da jurisprudncia esquecer as
investigaes em que foi e rica ainda a cincia cannica, deixando a salvo sempre as
caractersticas peculiares de cada ordenamento. (V. DEL GIUDICE. Nociones de
Derecho Cannico Pamplona 1955 p. XXXII).
Temos, porm, que levar em linha de conta um elemento fundamental: a realidade
teolgica e imutvel do Sacramento do Matrimnio, institudo por Cristo, que deve ser
abordado no apenas luz da razo e da experincia cientfica e histrica mas tambm,
e especialmente luz da Revelao e do Magistrio da Igreja. e este elemento
constitutivo e essencial possui sempre essa alta dimenso indelvel, transcendente e
universal, prpria das verdades dogmticas e da verdadeira catolicidade.
O matrimnio visto atravs de uma perspectiva
jurdica
Neste panorama de mltiplas facetas, observaremos o matrimnio atravs de um ngulo
preciso: o jurdico. A cincia e a elaborao jurdica tem uma metodologia e tcnica
prprias, das quais no poderemos fugir. Como escreve XAVIER DE AYALA seja qual
for a sua espcie, necessrio que o direito tenha como nota constitutiva e caracterstica
e juridicidade, isto , a sua peculiar participao na ordem da justia. (X. DE AYALA.
La naturaleza del Derecho canonico in Ius Canonicum. Vol. II, fasc II, Universidade de
Navarra, 1962, p. 618.)
Isto exige que, na elaborao de um corpo de leis, no se misturem indiscriminadamente
elementos extra-Jurdios: mensagens de tipo social, conselhos exortativos, regras de
moral, etc. (Na fase post-Conciliar, e durante os trabalhos de elaborao do novo
Cdigo, levantaram-se vozes apressadas que queriam, em parte, converter o novo
Cdigo numa espcie de regulamentao geral que indicasse apenas orientaes morais,
em forma de conselhos pastorais. claro que tal ordenamento no seria um cdigo de
Direito, mas algo bem diverso. Sobre este interessante tema pode ver-se J. LOPEZ
ORTIZ. Valoraciones y decisiones jurdicas em el conclio Ecumnico Vaticano II in
Ius Canonicum. Vol. II, fasc I. Universidade de Navarra, 1962, p.5). Tudo isso pode
figurar em um cdigo de Direito Cannico que procure fundamentalmente a SALUS
ANIMARUM, mas deve ser feito como de fato se realizou no Cdigo de 1983 de
maneira orgnica e impregnado de um sentido jurdico.
Ficou claro em todo o trabalho feito pelas comisses de elaborao do Cdigo, que a
finalidade pastoral no poderia abalar de algum modo o carter jurdico do Cdigo tal
como o admitiu PEDRO LOMBARDIA, um dos canonistas que se distinguiram no
preparo do clima doutrinal do novo Cdigo: preciso evitar, escrevia,, a impreciso das
leis, a arbitrariedade em tudo, a falta de responsabilidade bem delimitada, o descuido
das exigncias dos requisitos formais dos atos; sem esquecer que necessria uma
legislao flexvel e adaptvel s diversas circunstncias locais, mas clara, ajustada a
critrios formais preciosos e tecnicamente cuidada. Tudo isto deve realizar-se com
esprito descentralizado sincero e generoso mas com um discernimento preciso das
competncias dos legisladores em diferentes nveis (P. LOMBARDIA. El derecho en el
actual momento de la vida de la Iglesia. Palabra, n. 33, Madrid, maio de 1968, p. 11).
O jurdico no pode confundir-se com o pastoral. O jurdico na Igreja sempre ter uma
finalidade pastoral (a salus animarum), mas no poder reduzir simplesmente ao
pastoral. A juridicidade outorga um carter peculiar tarefa pastoral. No a substitui
mas a informa, como disse com outras palavras Joo Paulo II, na Constituio
apostlica de promulgao do Cdigo de Direito Cannico: Torna-se bem claro, pois,
que o objetivo do Cdigo no , de forma alguma, substituir, na vida da Igreja ou dos
fiis, a f, a graa, os carismas, nem muito menos a caridade. Pelo contrrio, sua
finalidade , antes, criar na sociedade eclesial uma ordem que, dando a primazia ao
amor, graa e aos carismas, facilite ao mesmo tempo seu desenvolvimento orgnico na
vida, seja da sociedade eclesial, seja de cada um de seus membros. Este no Cdigo
pode ser considerado como um grande esforo de transferir para uma linguagem
canonstica a prpria eclesiologia Conciliar. (JOO PAULO II. Constituio
apostlica Sacrae Disciplinae Leges).
O Direito apresenta-se assim como um instrumento subordinado aos pressupostos
teolgicos e dogmticos extrajurdicos que procura organizar a vida externa da Igreja
atravs de uma metodologia peculiar. (A estruturao jurdica do matrimnio est
naturalmente submetida aos mais altos valores especificamente religiosos do
sacramento. DAVACK escreve: a natureza e caractersticas jurdicas do matrimnio
no so outras coisas que superestruturas de uma essncia teolgica, e as normas de
Direito positivo que o regem no s encontram fundamento e primeira razo de serem
pressupostos dogmticos extra-jurdicos, mas inclusive devem necessariamente
conformar-se, adaotar-se e submeter-se aos mesmos, at com prejuzo da construo
jurdica do instituto. [P. A. D'AVACK. Corso di diritto canonico. Il matrimonio. Vol. I
Milano 1959 p. 58]). S assim que poderemos entender a regulamentao normativa
de algo to profundamente humano e to elevado como o sacramento do matrimnio.
Conceito e a natureza jurdica do matrimnio:
apresentao da questo
A primeira questo que se nos apresenta de elucidar o conceito e a natureza jurdica do
matrimnio, isto , o que entendemos em realidade por matrimnio catlico. No
pensemos que a resposta seja simples. No primeiro encontro com essa figura nos
defrontamos j com uma dificuldade que tem uma longa histria na Cincia Jurdica: o
matrimnio no se apresenta com uma nica face; reveste-se, porm, de uma
complexidade que exige um cuidadoso estudo.
A. O carter complexo do matrimnio. a sua dupla vertente: como aliana e
como estudo.
clssica a distino entre o matrimnio In fieri (aquele que se est fazendo, que se
est constituindo); e o matrimnio in facto esse aquele que j est constitudo. No
primeiro caso aborda-se a instituio atravs do ato constitutivo ou seja da prestao do
mtuo consentimento revestido de um carter causal transitrio e dinmico (a prpria
expresso I in fieri, claramente o indica). No segundo extremo o matrimnio
contemplado na sua realidade permanente o estado matrimonial como comunidade de
vida entre os dois esposos. (Sobre o processo histrico e a importncia desta distino
vide J. Hervada et P. Lombardia, El Derecho del Pueblo de Dios. III Derecho
Matrimonial Universidad de Navarra. 1973, pp. 18s).
Esta distino surgiu da elaborao doutrinal dos canonistas. No aparece em nenhuma
recopilao ou codificao oficial. O novo cdigo tambm no se refere a ela
explicitamente, mas, se se observa com ateno, ela est como que subjacente porque
umas vezes fala do ato constitutivo (aliana matrimonial, contrato matrimonial: c.
1055), e outras vezes do estado permanente (Consortium totius vitae c. 1055).
De que maneira deve ser entendido, ento, o matrimnio: como aliana contrato ou
como estado consrcio? Em realidade, de acordo com o que veremos a seguir, o
conceito que transparece no cdigo se reveste de um carter complexo sem que
possamos apresentar de momento uma definio linear e monovalente.
B O Conceito no Cdigo
O Cdigo de 1917 como alis os anteriores corpos normativos no recolhia nenhuma
definio propriamente dita do matrimnio. unicamente, de passagem ao referir-se aos
conhecimentos indispensveis para um consentimento vlido dizia que o matrimnio
uma sociedade permanente entre um homem e uma mulher para gerar filhos (c. 1082 1
CIC de 1917. Mas, obviamente, o legislador no quis dar neste canino uma definio do
matrimnio no sentido completo e estrito que exige toda definio.
Podemos , no entanto, atrever-nos a dizer que o Cdigo atual oferece uma frmula que
poderia ser considerada como uma definio genrica do matrimnio. a indicada no c.
1055 1: A aliana matrimonial, pela qual o homem e a mulher constituem entre si
uma comunho da vida toda consortium totius vitae ordenada por sua ndole, natural,
ao bem dos cnjuges e gerao e educao da prole, foi elevada, entre os batizados,
dignidade de Sacramento.
Se esta poderia considerar-se a definio genrica, qual ser a sua natureza jurdica?
Ao reparar no c. 1055 1, num primeiro golpe de vista, observamos a existncia de trs
ncleos principais:
a aliana;
o consrcio da vida toda;
o sacramento.
Qual deles representar de um modo fundamental a natureza jurdica do matrimnio?
O sacramento no deve ser considerado relevante como ncleo especificador da
natureza jurdica do matrimnio por uma razo muito simples: ele est em certa forma
em dependncia do valor jurdico do matrimnio, j que, de acordo com o c. 1055 2,
no h sacramento pois uma realidade que no forma parte da essncia jurdica
propriamente dita.
Vamos por isso analisar os outros dois ncleos.
a) Ao dizer que a aliana constitui um consrcio de vida, parece que est indicando ao
mesmo tempo que 1) um ato concreto transeunte e 2) um ato constitutivo.
1 Um ato concreto transeunte. Com efeito, a aliana faz-se num determinado momento:
em realidade um acordo de vontades. No cabe a menor dvida sobre isso j que o
prprio c. 1055 2 denomina essa aliana como contrato matrimonial. e o contrato tem
uma funo concreta e restrita no tempo. Por isso utilizam-se ao referir-se a ele
expresses como estas: celebrar o casamento, contrair npcias, fazer as bodas, que so
locues expressivamente dinmicas, transeuntes. Algo bem diferente da formao de
um consrcio, de uma comunidade de vida e de amor que representa um estado
existencial.
2 Um ato constitutivo. Essa aliana ou contrato , por sua vez, a causa eficiente do
consortium totius vitae, desde que o c. 1055 diz que a aliana constitui o consrcio.
Sobre este particular tambm no h dvidas, tanto que o prprio cdigo diz que o
matrimnio produzido pelo consentimento das partes (c. 1057 1). Isto , o
consentimento, a aliana, o contrato das partes produz gera o matrimnio.
b) Mas se se diz que uma coisa produz outra porque entre ambas existe uma certa
diferena. E isto exatamente o que acontece no matrimnio. a aliana matrimonial ou
contrato a causa eficiente do estado permanente denominado consortium totius vitae
que efeito.
Aproximamo-nos aqui do mago da questo: apropriado chamar a aliana (pacto,
contrato) de matrimnio?; podemos denominar igualmente ,matrimnio ao consortium
totius vitae (a comunidade de vida, o estado matrimonial, o vnculo?; so ambas as
realidade de vida, o estado matrimonial, o vnculo)?; so ambas as realidades passveis
da mesma atribuio ou apenas uma delas?; ambas podem ser consideradas
caractersticas essenciais do matrimnio?
Esta questo tem uma longa histria. quando na Idade Mdia se fizeram as primeiras
tentativas para determinar cientificamente o matrimnio, j comeou a apresentar-se a
problemtica. ISIDORO SEVILLA expressou-se assim: Coniugium est masculi
consensus et feminae individualem vitae consuetudinem retinen: O matrimnio do
homem e da mulher que retm uma comunidade de vida.
Confundia-se aqui o consentimento ou aliana (que a causa eficiente) com o prprio
matrimnio.
Logo houve uma reao. ROBERTO DE COURON, por exemplo, diz que a confuso
entre a causa e o efeito puramente terminolgica mas so substancial: do mesmo modo
que se diz que o dia o sol brilhando sobre a terra, porque o sol que brilha sobre a terra
causa o dia, assim a unio entre o homem e a mulher que h no mtuo consentimento se
chama matrimnio porque a sua causa eficiente.
S. ALBERTO MAGNO mais explcito: com o consensus ou aliana conjugal no se
expressa a essncia do matrimnio non este ibi proedicatio essentialis (Vide uma
referncia s fontes aqui citadas em J.HERVADA et P. LOMBARDIA. Op. Cit.,. pp.
19-21).
SANTO TOMS DE AQUINO expressa-se ainda com maior clareza. No matrimnio
devemos considerar primeiro a sua essncia que a unio o vnculo; segundo a sua
causa que o casamento a aliana. (Respondeo dicendum quod in matrimonio est tria
considerare. Primo essentiam ipsius, quae est coniuntio. Et secundum hoc vocatur
coniugium. Secundo, causam eius, quae est deponsatio tertio effectum, qui est
proles. [Santo Toms. Summa Theolgica Suppl. Q. 44. A. 2).
O grande especialista em Direito Matrimonial TOMS SANCHEZ afirma tambm de
uma forma clara e contundente que a essncia, a quidditas, do matrimnio o vnculo,
no o consentimento, que a sua causa.
O Catecismo Romano testemunha o valor desta tese de maneira clarividente: "a essncia
e razo do matrimnio s consiste no vnculo... Se dizem o matrimnio o sentimento...
isto deve entender-se no sentido de que o consentimento a causa eficiente do
matrimnio do consentimento e a aliana". (Catecismo Romano, Parte II, Cap VIII-III
(4). Petrpolis, Vozes, 1962, pp. 328 e 329).
Alguns canonista modernos, entre os quais se destaca GASPARI, insistem, porm, em
que o matrimnio o contrato enquanto permanece nos seus efeitos. Esta tese tem
adquirido importncia e relevo entre alguns notveis autores contemporneos. A nossa
opinio, contudo, em sentido diverso, inclina-se a colocar o acento no consortium totius
vitae, isto , no vnculo ou estado matrimonial. a aliana ou o contrato o chamado
matrimnio in fieri no constitui para ns a essncia do matrimnio mas a sua causa
eficiente. O ato constitutivo ou causa eficiente no pode ser considerado a essncia da
coisa causada. Mas, de acordo com a mais genuna interpretao da doutrina de SANTO
TOMS, a causa eficiente no de todo extrnseca coisa causada: constitui um dos
seus princpios e continua presente nela, como causa. algo mais do que um simples
incio ou porta de entrada que se supera uma vez realizada. Por isso no nos parece
adequado afirmar, como recentemente o fez JOS DE SALAZAR, que abusivo (J. DE
SALAZAR. Derecho Matrimonial in Nuevo Derecho Canonico. Madrid, Bac, 1983, p.
117). Designar o contrato como matrimnio porque ao ser a causa eficiente algo
extrnseco sua essncia. (J. DE SALAZAR. Op. Cit., p. 126).
A este interessante problema nos referimos mais adiante de uma forma direta, mas antes
para dar uma resposta cabal ao problema da essncia do matrimnio necessitamos abrir
de uma maneira frontal a problemtica da natureza jurdica do matrimnio estudando as
duas concepes mais relevantes e da certa forma, contrapostas e pendulares: a
contractualista e a institucionalista.
A Problemtica sobre a Natureza Jurdica do
Matrimnio: A Teoria Contractualista e a
Institucionalista
Ao longo deste trabalho, j pudemos entrever essas duas colocaes: a que faz especial
fincap' no ato constitutivo e a que focaliza fundamentalmente o estado conjugal ou o
vnculo. Em cada um dos extremos desta bipolarizao cristalizam-se duas teorias: a
contractualista e a institucionalista.
A - A TEORIA MATRIMNIO CONTRATO
a) O matrimnio como contrato
A concepo do matrimnio como contrato no como alguns pensam uma elaborao
do direito romano clssico segundo mostrou CARLO MANETTI (Vide Der Ehekonsens
im romischen recht. Roma, 1977 e La definizione essenziale giuridica del Matrimonio.
Atti del coloquio romanistico-canonstico (13- 16 marzo 1979), Roma, 1980 cit. por J.
M. GONZALEZ DEL VALLE. Derecho Matrimonial segn el Cdigo de 1983.
Universidade de Navarra, 1983, p. 14). O princpio romano "consensus facit nupcias"
no teve na mente jurdica romana uma coincidncia com a mente canonista. Para esta
significa um consentimento inicial; para aquela, um consentimento continuando que cria
uma situao ou estado com relevncia jurdica e que deixa de existir quando o
consentimento desaparece (Cf. J. M. GONZALEZ DEL VALLE. Op. Cit., p. 15).
Desde PEDRO LOMBARDO e GRAZIANO a doutrina canonista vem elaborando e
aperfeioando o conceito do matrimnio-contrato (A dominao de contrato apareceu,
provavelmente, no sculo VII e fez-se comum no sculo XII; encontra-se nas fontes do
Direito Eclesistico [Decretales, lig. 4, tit. 1 cap. 26; tit. 4] e est recolhida na doutrina
de inmeros canonistas. Faz-se referncia ao carter contratual do matrimnio, por
exemplo, na Encclica Casti Connubi de PIO XI e usada amplamente esta
denominao na Rota e nas Sagradas Congregaes Romanas. Vide sobre o aspecto
histrico deste tema ADAMI, Precisazioni in tema di consenso matrimoniale nel
pensiero patristico in il Diritto ecclesiastico. Roma, 1965, fasc. III, pp. 20s). Esta
concepo predominou entre os juristas dos sculos XVII a XIX e foi recolhida pelo
cdigo napolenico atravs do qual chegou a diversas codificaes modernas.
O matrimnio como contrato gozou de singular considerao da doutrina canonista
moderna e foi especialmente defendida por CAPELLO (F. CAPELLO. De sacramentis,
Tomo V, De Matrimnio. Romae, Taurini, 1950, pp. 20s).GASPARRI (P. GASPARRI
tractatus Canonicus de Matrimnio. Romae, s/e, 1932, pp. 14s). CHELODI.(J.
CHELODI. lus matrimoniale Tridentum. 1921, p. 2.). REGALLIO (E. REGATILLO.
Derecho Matrimonial eclesistico. Santander, 1962, pp. 12s.) MONTERO (E.
MONTERO. El Matrimnio y las causas matrimoniales. Madrid, 1941, p. 16.). e outros
autores conhecidos.
Entendem estes autores que sendo contrato o consentimento de duas ou mais pessoas
num mesmo abjeto, que produz uma obrigao de justia comutativa para dar, fazer ou
omitir alguma coisa um em favor do outro, e tendo o matrimnio os elementos
indicados, este deve ser denominado contrato. com efeito, no matrimnio encontram-se:
1 como pessoas, o marido e a mulher; 2 como consentimento, o conjugal; 3 como
objeto, a comunidade de vida; 4 como obrigaes, nascidas do contrato, e de dar a
aceitar o direito perptuo e exclusivo sobre o corpo (jus in corpus), em ordem aos atos
de per si aptos para gerar a prole. (Vide E. REGATILLIO et F CAPELLO. Loc. Cit.)
Esta doutrina ficou, de alguma maneira, recolhida no cnon 1081 do Cdigo de Direito
Cannico de 1917: 1. O matrimnio produzido pelo consentimento entre pessoas
hbeis segundo o direito, legitimamente manifestado. 2. O consentimento matrimonial
o ato da vontade pelo qual ambas as partes do e aceitam o direito perptuo e
exclusivo sobre o corpo, em ordem aos atos que de per si so aptos para gerar a prole.
O consentimento bilateral denominado, no c. 1012, contrato.
O Novo Cdigo de 1983, utiliza no c. 1055 a expresso matrimoniale foedus, aliana
matrimonial recolhendo a terminologia adotada pelo Conclio Vaticano II.(Gaudium et
Spes, n. 48). Esta expresso mais ampla e com um contedo mais teolgico-pastoral
do que a palavra contrato, mas, em termos jurdicos, o cdigo no introduz nenhuma
modificao substancial identificando praticamente como j observamos, a aliana ou
pacto matrimonial com o contrato, como aparece explicitamente no 2 do mesmo c.
1055.
O que sem dvida mudou foi e esta uma inovao de profundas conseqncias
doutrinais a significao desse contrato. com efeito, no cdigo de 1917 dizia-se que o
consentimento matrimonial o ato de vontade pelo qual ambas as partes do e aceitam
o direito perptuo e exclusivo sobre o corpo, em ordem aos atos que de per si so aptos
para gerar a prole. O atual cdigo abre uma nova perspectiva: no fala de um contrato
que outorga um simples ius in corpus ou que se reduz a uma prestao do dbito
conjugal ou a uma troca de atos de per si aptos para gerar a prole. Pelo contrrio, refere-
se a uma aliana matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si um
consortium totius vitae: uma comunho total; uma comunidade integral de vida.
perspectiva esta muito mais profunda, em termos humanos, e de horizontes mais largos,
em termos jurdicos.
Certamente, nunca se afirmou antes da publicao do Cdigo atual, que o contedo
jurdico do c. 1081 CIC 1917 se reduzis-se a uma simples troca de atos, coisa que
repugnaria s nobres finalidades de que sempre se revestiu o sacramento do
Matrimnio. mas, sem dvida, no atual Cdigo aparece muito mais claramente aquela
alta dignidade do matrimnio que postula uma autntica integrao de vidas, uma
profunda fuso de personalidades de que, de um modo to eloqente, fala a Constituio
Gaudium et Spes quando se refere ntima comunidade de vida e amor estabelecida
pela aliana matrimonial (Gaudium et Spes, n. 48). Comunidade que deve permanecer
aberta como veremos mais amplamente em outro lugar aquele fim primordial da
procriao e educao dos filhos de acordo com a doutrina da Humanae Vitae e da
Familiaris consortio.
b) Crtica do matrimnio-contrato.
A partir da concepo contratual do matrimnio a doutrina individualista liberal quis
fundamentar o carter no indissolvel do matrimnio. se o matrimnio, argumentam,
um contrato, a estabilidade do vnculo conjugal s pode basear-se na permanncia das
vontades de ambas as partes, cabendo a estas, portanto, como em todo contrato a
possibilidade da sua resciso.
A vitria da corrente liberal, que trouxe consigo a crise do matrimnio, a instabilidade
da sociedade conjugal e a multiplicao do divrcio, provocou no mbito jurdico
mundial especialmente entre os juristas franceses e italianos uma reao que tentou
superar a influncia do individualismo liberal. (Cf. J. LECLERCO. La famlia.
Barcelona, 1962, p. 41; W. DE BARROS MONTEIRO. Direito de famlia. So Paulo,
s/e, 1960, p. 16; E. ESPINOLA. A famlia no Derecho Civil Brasileiro. Rio de Janeiro,
1954, p. 39; PONTES DE MIRANDA. Tratado de Direito Privado. Tomo VII. [Direito
de Personalidade, Direito de famlia]. Rio de Janeiro, 1955, pp. 205 e 206; R.
RUGIERO. Instituies de Direito civil. Tomo II [Direitos de Famlia, Direitos Reais e
Posse] Traduo da 6 ed italiana, de ARY DOS SANTOS, So Paulo, s/d, pp. 56s).
Esta tendncia norteou o seu pensamento num duplo sentido por um lado, negando ao
matrimnio o carter de contrato e, por outro, elaborando positivamente a concepo do
matrimnio instituio.
As principais razes que se aduzem para negar a caracterizao contratual do casamento
so as seguintes:
1) Nos contratos comuns as partes determinam com liberdade as condies, o
contedo, as modalidades e a durao das obrigaes. Mas no chamado contrato
matrimonial os cnjuges no podem determinar livremente o contedo, as modalidades,
etc., da sociedade conjugal j que as suas caractersticas essenciais esto
preestabelecidas pela Direito Natural e pela lei positiva. (Vide, por exemplo, R.
RUGIERO. Loc Cit; S. LENER. II matrimonio contrato o instituzione? in La Civilt
Cattolica. 1966, II p. 518 e X junho de 1966).
2) A matria sobre que recai o acordo matrimonial alheia figura do contrato j que
nela comumente no se incluem as relaes pessoais e familiares.
3) No contrato cabe habitualmente a possibilidade do mtuo dissenso ou a
rescindibilidade, mas esta caracterstica inaplicvel ao matrimnio indissolvel.
4) As obrigaes do chamado contrato matrimonial no podem reduzir-se prestao
dop dbito conjugal ou permuta dos atos de per si aptos para gerar a prole.
Embora no se negue que o dever mtuo, no que diz respeito aos atos prprios da
gerao, corresponda a uma verdadeira obrigao conjugal, no entanto argumenta-se
que as obrigaes matrimonias no se reduzem a este campo limitado, mas tendem a
conseguir uma profunda complementariedade vital. Esta idia ganhou impulso
especialmente como antes dissemos depois da Constituio Pastoral Gaudium et Spes
do conclio Vaticano II, que, ao referir-se ao matrimonio como sociedade e comunidade,
fala dele denominando-o unio ntima e doao de duas pessoas (Gaudium et Spes, n..
48)
O objeto e as obrigaes do pacto conjugal no se poderiam reduzir, portanto, a um
simples ius in corpus, a uma mtua deditio ou traditio mas a uma verdadeira
comunidade vital que que abrange toda a pessoa, e que se abre tambm s fontes da vida
de onde brotam os filhos como fruto natural dessa comunidade de amor. Pareceria,
segundo os defensores desta teoria, conseqentemente, mais razovel definir o
matrimnio em primeiro lugar a partir dessa comunidade de vida, dessa instituio
qual se chega mediante um acordo, antes que basear o conceito primordialmente na
figura jurdica do contrato.
Paralelamente os crticos da teoria contractualista elaboraram a sua prpria concepo
institucionalista do matrimnio.
B. A TEORIA MATRIMNIO-INSTITUIO
O termo instituio jurdica, num sentido amplo, coincide com as de instituto-jurdico
ou figura jurdica. Neste sentido claro que as diferentes relaes jurdicas entre elas o
prprio contrato, a propriedade, etc. e as normas que as regulamentam podem ser
denominadas instituies.
Mas ao lado dessa significao genrica construiu-se modernamente uma outra mais
especfica que considera instituio no toda figura jurdica mas aquela que constitui
uma organizao unitria e duradoura, um organismo social, uma estrutura jurdica
fundamental, ou, como bem a descreve DE CASTRO, a forma bsica e tpica da
organizao jurdica (F. DE CASTRO. Derecho Civil de Espna. Madrid, s/e,1956, 2
ed., p. 563).
Esta teoria elaborada no campo do Direito Pblico principalmente por LEFEBVRE(CH.
LEFEBVRE. Le lien de mariage. Paris, 1913-1923), HAURIOU (HAURIOU. La
Thorie de Iinstitution et de la fondation. Paris, s/e, 1925) e RENARD (G. RENARD.
La thorie de Iinstitution. Paris, s/e, 1930), desenvolvida na Itlia com certas
peculiaridades por SANTI ROMANO (SANTI ROMANO, Lordinamento giurdico.
Pisa, s/e, 1917). ganhou o consenso duma parte importante da doutrina e cristalizou-se
numa focalizao diferente da famlia e do matrimnio (Vide, por exemplo,
BONNECASE. La Philosophie du Code Napoleon apliqus au droit de familie. 1921,
pp. 260s).
Nesta linha de pensamento o matrimnio seria uma instituio estvel que estrutura
juridicamente a sociedade conjugal natural; uma instituio preexistente aos prprios
nubentes, cujas caractersticas fundamentais esto regulamentadas pela lei dum modo
permanente. (Entre uma e outra teoria contrria a instituio aparecem outras
intermedirias, como por exemplo a de CICU, que sustenta ser o matrimnio um ato
unilateral do Estado que s pressupe as declaraes de vontade dos esposos como
condio do ato. [EI Derecho de familia. Buenos Aires, s/e, 1947, pp. 308s.] sobre o
problema da considerao do matrimnio e a da famlia como pessoa moral ou jurdica,
vide ROGUIN. Trait de droit civil compare. Tomo III, Le regime matrimnial: la nature
juridique sous le rapport des notions de societe et de association. Burdeos, 1932;
J.CASTAN TOBENAS. Familia e propriedade. Madrid, s/e, 1956 p. 10 e s.)
C. PONTUALIZAO DO PROBLEMA
preciso, para chegar a uma concluso coerente e unitria a respeito das teses mantidas
pelas duas teorias, esclarecer as diferentes facetas do problema.
a) A posio da escola individualista
Julgamos pouco seria a pretenso da escola individualista de querer basear um
dispositivo de tanta gravidade como o divrcio num equvoco, propositadamente
provocado, em torno da palavra contrato.
Se o matrimnio ou no indissolvel constitui um problema fundamental, que deve
ser discutido com argumentos antropolgicos, sociolgicos e no questionado em
termos puramente formais. A vida que cria a terminologia jurdica; mas esta no cria
ou modifica a vida. as figuras jurdicas devem corresponder ao que h de racional
natureza humana e nas sociedades naturais originrias; mas estas no devero curvar-se
perante meras categorias jurdicas que, em definitivo, so clichs formais de
organizao social.
Se o matrimnio ou no indissolvel segundo o direito Natural problema que no
nos interessa no momento; o que nos ocupa, no entanto, permite-nos afirmar, pelo at
agora indicado, que carece de sentido uma argumentao como a seguinte: se o
matrimnio contrato, e o contrato rescindvel, o matrimnio rescindvel. Muito
pelo contrrio necessrio primeiro ver-se o matrimnio deve ser considerado ou no
indissolvel em ateno natureza humana e depois procurar o instituto jurdico mais
adequado para este tipo de relao familiar. Se se chega concluso de que o
matrimnio indissolvel e se escolhe o contrato como instituto que o configure
juridicamente, o contrato ser, neste caso, irrespondvel.
De qualquer forma podemos dizer sumariamente que seria despropositada a pretenso
de regulamentar indiscriminadamente o matrimnio seminarium republicae segundo o
denominou CCERO como um contrato de venda ou de inquilinato. E esta pretenso do
individualismo no coincide logicamente com a dos canonistas e civilistas srios que
consideram o matrimnio um contrato sui generis todo especial.
b) Valor da crtica teoria matrimnio-contrato
A impugnao do matrimnio-contrato deve ser avaliada, em parte, com outras razes
que a seguir indicamos.
a) O distrato no pode considerar-se caracterstica essencial de todos e cada um dos
tipos de contrato.
certo que as Decretais recolhem uma regra tradicional do direito que diz: toda coisa
ou obrigao dissolve-se pelas mesmas causas que a fizeram nascer; regra que, em
termos anlogos, reflete o art. 1.93 do cdigo Civil Brasileiro: o distrato faz-se pela
mesma forma que o contrato. mas tambm certo que esta regra no goza do consenso
geral nem pode ser aplicada indiscriminadamente na legislao cannica Vide, por
exemplo, cnones 1.311-13; 1,319, 492 e 493 do cdigo de 1917.
b) A averso em qualificar o matrimnio como contrato dependeu, em parte, da estreita
dimenso que alguns autores outorgam a esse termos. Consideram o contrato como
figura exclusivamente jusprivativista e limitam a sua natureza dentro das relaes de
ndole Patrimonial: constituio de direitos reais ou de relaes obrigacionais.
Pode entender-se, pelo contrrio, que o contrato constitui uma categoria jurdica geral
que recolhe o consentimento de duas vontades, gerador duma relao jurdica. Relao
cujo contedo no tem necessariamente um carter patrimonial mas pode tambm
atingir o estado das pessoas. (Cf. V. DEL GIUDICE. Naciones de derecho Canonico.
Pamplona, s/e, 1955, pp. 163 e 164, E. REGATILLIO. Op. Cit., pp. 12s).
c) O ataque feito teoria do matrimnio-contrato, se pretende apenas defender a
indissolubilidade do casamento, no parece absolutamente necessrio: a unio conjugal
pode ser indissolvel tambm quando construda atravs de um ato considerado
contrato.(RENARD afirma que o matrimnio contrato, no existem argumentos
jurdicos para negar o divrcio [Theorie de I'institution, Paris, s/e, 1930, p. 130] F.
CAPELLO. Op. Cit., p. 20 s).
A reao contra a teoria do contrato em face dos princpios individualista pode resultar,
pois, desproporcionada, especialmente se se deixa na penumbra um elemento de
extraordinria relevncia: o acordo mtuo como causa originadora da sociedade
conjugal.(R. RUGIERO. escreve taxativamente: necessrio reagir contra esta
tendncia to espalhada e negar abertamente ao casamento a natureza de um contrato).
A nossa posio
No Vemos a necessidade de insistir na controvrsia que perdeu fora e atualidade nas
ltimas colocaes dos canonistas contemporneos nem consideramos interessante
acirrar as posies de uma e outra teoria. Pensamos que a polmica se aclararia se
compreendssemos a fundo:
1 que o matrimnio no uma realidade simples mas complexas que compreende dois
momentos ou fases fundamentais: a) o ato constitutivo aliana ou contrato, que a
causa eficiente do consortium totius vitae; b) o vnculo conjugal, ou estado matrimonial
permanente, ou consortium totius vitae;
2 que esses dois momentos no podem contrapor-se nem dispensar-se porque se
reclamam mutuamente: no existe o contrato sem a comunidade de vida que ele produz,
nem existe essa comunidade sem o consentimento mtuo;
3 que nem uma nem outra fase podem considerar-se realidades completamente
diferentes porque ambas so e constituem o sacramento do matrimnio: nexo e
denominador comum dos dois aspectos.
Estes trs elementos dissociados para a uma anlise em profundidade mas estreitamente
vinculados numa realidade nica so precisamente a medula que define o matrimnio de
acordo com o c. 1055. Ele nos diz, com efeito, que a aliana matrimonial entre marido e
mulher constitui um consrcio da vida toda; e a aliana e consrcio so elevados
dignidade de sacramento.
Os trs elementos repetimos so os seguintes: 1) a aliana ou o contrato realizado no
casamento; 2) o Consortium totius viate ou comunidade de vida, ou vnculo, ou estado
permanente; 3) o sacramento que impregna e d vida sobrenatural tanto ao contrato
quanto ao consrcio, ou ao vnculo.
http://www.presbiteros.com.br/site/a-natureza-juridica-do-matrimonio-a-luz-do-novo-codigo-
de-direito-canonico/
Você também pode gostar
- Catequese Batismal PlanejamentoDocumento9 páginasCatequese Batismal PlanejamentoCássio Lázaro de AguiarAinda não há avaliações
- Amostra Gratis MATRIMONIO Encontros de Preparacao 10a EdicaoDocumento45 páginasAmostra Gratis MATRIMONIO Encontros de Preparacao 10a EdicaoMadeiraAinda não há avaliações
- Aspectos Jurídico-Canônicos Do Matrimônio EDSEDocumento26 páginasAspectos Jurídico-Canônicos Do Matrimônio EDSELuisCarlosPereira100% (2)
- Resenha - Dupla Obra Do Espirito SantoDocumento3 páginasResenha - Dupla Obra Do Espirito SantoRegina aparecida silva ReginaAinda não há avaliações
- 108 CNBBDocumento31 páginas108 CNBBRose Medeiros100% (1)
- Pasta Do Coordenador GeralDocumento17 páginasPasta Do Coordenador GeralMaria da Consolação de OliveiraAinda não há avaliações
- O Sacramento do Matrimônio e as Causas da NulidadeNo EverandO Sacramento do Matrimônio e as Causas da NulidadeAinda não há avaliações
- Subsidio para o Encontro de Preparacao para Ra o BatismoDocumento32 páginasSubsidio para o Encontro de Preparacao para Ra o BatismomucamabaAinda não há avaliações
- Verdade e Significado Sexualidade - ResumoDocumento13 páginasVerdade e Significado Sexualidade - Resumoapi-19807298Ainda não há avaliações
- Rito para Apagar o Círio PascalDocumento2 páginasRito para Apagar o Círio PascalAdão Carlos100% (1)
- Resumo Nulidade (Setor Casos Especiais)Documento16 páginasResumo Nulidade (Setor Casos Especiais)Neison Luiz Monteiro100% (1)
- Código Do Direito CanónicoDocumento20 páginasCódigo Do Direito CanónicoBarbaraAinda não há avaliações
- Sanation in RadiceDocumento2 páginasSanation in RadiceFabio AstrogildoAinda não há avaliações
- Capitulos de Nulidade MatrimonialDocumento21 páginasCapitulos de Nulidade MatrimonialGabriel Vargas Dias AlvesAinda não há avaliações
- Nulidade MatrimonialDocumento17 páginasNulidade Matrimonialjneto_495737Ainda não há avaliações
- 2017 Dos Impedimentos Dirimentes PDFDocumento34 páginas2017 Dos Impedimentos Dirimentes PDFClaudioAinda não há avaliações
- Nulidade Do MatrimonioDocumento21 páginasNulidade Do Matrimoniovictor4cAinda não há avaliações
- Erro de Qualidade de Pessoa: incidência e evolução no Direito CanônicoNo EverandErro de Qualidade de Pessoa: incidência e evolução no Direito CanônicoAinda não há avaliações
- O Matrimônio e o processo de nulidade matrimonial: Manual de orientações canônicasNo EverandO Matrimônio e o processo de nulidade matrimonial: Manual de orientações canônicasAinda não há avaliações
- VADEMECUM: Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no BrasilNo EverandVADEMECUM: Acordo entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no BrasilAinda não há avaliações
- Catequese Matrimonial - 2º Tema - Amor ConjugalDocumento3 páginasCatequese Matrimonial - 2º Tema - Amor Conjugalluis eduardoAinda não há avaliações
- Curso de Noivos FatimaDocumento19 páginasCurso de Noivos FatimaGeane Mota SousaAinda não há avaliações
- Sagrado Coração de Jesus - Imaculado Coração de MariaDocumento19 páginasSagrado Coração de Jesus - Imaculado Coração de MarianathcravoAinda não há avaliações
- Orientações para A Implantação Do Setor Pré MatrimonialDocumento94 páginasOrientações para A Implantação Do Setor Pré Matrimonialfpina-1Ainda não há avaliações
- Mensagem - A Comunhão Espiritua 02L - Casais em Segunda União - 2012Documento1 páginaMensagem - A Comunhão Espiritua 02L - Casais em Segunda União - 2012Cosme Bento100% (1)
- Apresentação Setor Casos EspeciaisDocumento11 páginasApresentação Setor Casos EspeciaisElinete Alves CostaAinda não há avaliações
- Oração Do Casal - Encontro de Segunda União - 2012Documento1 páginaOração Do Casal - Encontro de Segunda União - 2012Cosme Bento100% (1)
- Diretrizes para o MatrimonioDocumento32 páginasDiretrizes para o MatrimoniodonivaldoAinda não há avaliações
- Catequese - Sacramento Do MatrimônioDocumento23 páginasCatequese - Sacramento Do MatrimônioLuiz Eduardo Junior100% (1)
- Rito de Admissão CompletoDocumento5 páginasRito de Admissão CompletoIgor Marchi Dutra Nogueira100% (1)
- Os SacramentosDocumento21 páginasOs SacramentosCVJ-MaiaAinda não há avaliações
- BATISMODocumento9 páginasBATISMOTarcisio AugustoAinda não há avaliações
- Pastoral Da EsperançaDocumento1 páginaPastoral Da Esperançaanon_18986545100% (1)
- Encontro Dizimo RegionaisDocumento61 páginasEncontro Dizimo RegionaisCristiane Carla Carneiro100% (1)
- A Missao Da Familia Crista No Mundo de HojeDocumento63 páginasA Missao Da Familia Crista No Mundo de HojepalhareslgpAinda não há avaliações
- Escritos Joaninos e ApocalipseDocumento11 páginasEscritos Joaninos e ApocalipsecpassabonAinda não há avaliações
- Decreto de ExcomunhãoDocumento2 páginasDecreto de ExcomunhãoGalinha do tex100% (1)
- Processo de Nulidade de CasamentoDocumento2 páginasProcesso de Nulidade de CasamentohesiotjAinda não há avaliações
- Documento de Aparecida PDFDocumento8 páginasDocumento de Aparecida PDFEmanuelAinda não há avaliações
- MatrimonioDocumento202 páginasMatrimonioEsdras JacobAinda não há avaliações
- Orientações para MatrimonioDocumento3 páginasOrientações para MatrimonioMarcelo Gamallo100% (1)
- Apresentação Sobre o Pré Matrimônio AtualDocumento31 páginasApresentação Sobre o Pré Matrimônio AtualRicardo RosasAinda não há avaliações
- Formação Sacramento Do BatismoDocumento6 páginasFormação Sacramento Do BatismoJonas MalekAinda não há avaliações
- Ministros Extraordinários Da Comunhão - QuixadáDocumento68 páginasMinistros Extraordinários Da Comunhão - QuixadáDhonas CruzAinda não há avaliações
- Batismo FormaçãoDocumento12 páginasBatismo FormaçãoValdenilson pedro de barros100% (1)
- Formação para Ministros Extraordinário Da Sagrada ComunhãoDocumento2 páginasFormação para Ministros Extraordinário Da Sagrada ComunhãoSal AndradeAinda não há avaliações
- Formação para PalestrantesDocumento2 páginasFormação para PalestrantesSIMONE MORAESAinda não há avaliações
- Apresentação Curso Novo PDFDocumento74 páginasApresentação Curso Novo PDFAdriana Ribeiro100% (1)
- Formação - Fé e PoliticaDocumento7 páginasFormação - Fé e PoliticapedroAinda não há avaliações
- Livreto Semana Missionária 2023Documento19 páginasLivreto Semana Missionária 2023paroquiadevicosaceAinda não há avaliações
- Eclesiologia - Apostila - Paulo VIDocumento11 páginasEclesiologia - Apostila - Paulo VIFrei Iluminatto100% (1)
- Palestra Vivendo o Amor e o Perdão de DeusDocumento1 páginaPalestra Vivendo o Amor e o Perdão de DeusCosme BentoAinda não há avaliações
- Cristaos Leigos e Leigas Doc 105Documento35 páginasCristaos Leigos e Leigas Doc 105Lyndjonson Brazil100% (2)
- Esclarecimentos Sobre o BatismoDocumento8 páginasEsclarecimentos Sobre o BatismoAna Paula CarvalhoAinda não há avaliações
- Direito Canonico - ResumosDocumento39 páginasDireito Canonico - ResumosDiana ToméAinda não há avaliações
- Ficha de Inscrição Encontro de Casais Segunda UniãoDocumento1 páginaFicha de Inscrição Encontro de Casais Segunda UniãoMariana CanassaAinda não há avaliações
- Livro Cantos Quaresma PascoaDocumento34 páginasLivro Cantos Quaresma PascoaDocScribd1Ainda não há avaliações
- Os Dez MandamentosDocumento4 páginasOs Dez MandamentosJosé Messias Lustosa Mascarenhas100% (1)
- Apresentação Da Pastoral Familiar Guia de Implantação 6 Encontro - PpsDocumento53 páginasApresentação Da Pastoral Familiar Guia de Implantação 6 Encontro - PpsAlexandre Dantas Henrique100% (1)
- Exéquias - Corpo PresenteDocumento324 páginasExéquias - Corpo PresenteEdison Cardoso Teixeira100% (1)
- Documento 68Documento34 páginasDocumento 68pauloAinda não há avaliações
- Conhecendo A BíbliaDocumento2 páginasConhecendo A BíbliaAdão Carlos100% (1)
- Músicas Ordenacao PresbiteralDocumento12 páginasMúsicas Ordenacao PresbiteralAdão CarlosAinda não há avaliações
- Músicas Católicas para CasamentoDocumento1 páginaMúsicas Católicas para CasamentoAdão Carlos0% (1)
- Leituras Ordenaçao DiaconalDocumento2 páginasLeituras Ordenaçao DiaconalAdão Carlos100% (2)
- Músicas Católicas para CasamentoDocumento1 páginaMúsicas Católicas para CasamentoAdão Carlos0% (1)
- Teologia Do ProcessoDocumento2 páginasTeologia Do ProcessoAdão CarlosAinda não há avaliações
- O Homem e A Mulher No Projeto de DeusDocumento1 páginaO Homem e A Mulher No Projeto de DeusAdão CarlosAinda não há avaliações
- Teologia Da EvoluçãoDocumento2 páginasTeologia Da EvoluçãoAdão CarlosAinda não há avaliações
- Teologia Da HistóriaDocumento3 páginasTeologia Da HistóriaAdão CarlosAinda não há avaliações
- Para Uma Teologia Do MilagreDocumento9 páginasPara Uma Teologia Do MilagreAdão CarlosAinda não há avaliações
- Dicionário Japones NarutoDocumento4 páginasDicionário Japones NarutoAdão CarlosAinda não há avaliações
- Revistando A Teologia Da LibertacaoDocumento1 páginaRevistando A Teologia Da LibertacaoAdão CarlosAinda não há avaliações
- Atividade 1 - Lista Trocadores de Calor PDFDocumento3 páginasAtividade 1 - Lista Trocadores de Calor PDFLETICIA PAULO DE OLIVEIRAAinda não há avaliações
- 8 - JESUS, Filho de DaviDocumento8 páginas8 - JESUS, Filho de DaviWilliams FerreiraAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 1 FenomenologiaDocumento6 páginasEstudo Dirigido 1 FenomenologiaSueli Vilela100% (1)
- Flechas Douradas de Osun KarêDocumento8 páginasFlechas Douradas de Osun KarêDandamBorbaAinda não há avaliações
- Analítica - Relatório Padronização Do KMnO4Documento10 páginasAnalítica - Relatório Padronização Do KMnO4Maria ValentinAinda não há avaliações
- Manual TX 4020 Smart 02-22 SiteDocumento2 páginasManual TX 4020 Smart 02-22 SiteAndré AraújoAinda não há avaliações
- O Materialismo Histórico e Dialético-Elementos IniciaisDocumento11 páginasO Materialismo Histórico e Dialético-Elementos IniciaisAndressa QueirozAinda não há avaliações
- Relatório G10Documento33 páginasRelatório G10Cris OliveiraAinda não há avaliações
- MatrizProvas SPM - Anoletivo23 - 24Documento2 páginasMatrizProvas SPM - Anoletivo23 - 24GeForce Now foundersAinda não há avaliações
- Abiogênese X BiogêneseDocumento28 páginasAbiogênese X BiogêneseMarcia MouraAinda não há avaliações
- Documento de Registro de Veiculo NovoDocumento1 páginaDocumento de Registro de Veiculo NovoTomas NaveAinda não há avaliações
- Descricao Petrografica Da Provincia de TDocumento45 páginasDescricao Petrografica Da Provincia de TWinny AdrianeAinda não há avaliações
- BuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Documento281 páginasBuscaRealidadeExperiencia Silva 2007Eloi MagalhãesAinda não há avaliações
- Brastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Documento10 páginasBrastemp Micro Ondas Bms46ab Manual Versao Digital 1Leti De RezendeAinda não há avaliações
- Seções Cônicas: HipérboleDocumento12 páginasSeções Cônicas: HipérboleJosé Carlos Corrêa JuniorAinda não há avaliações
- Propagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFDocumento107 páginasPropagação Vegetativa e Sexuada de Plantas PDFLucas SilvaAinda não há avaliações
- Juventudeuma Categoria Histórica e SocioculturalDocumento5 páginasJuventudeuma Categoria Histórica e SocioculturalAndréea VieiraAinda não há avaliações
- HidrostáticaDocumento10 páginasHidrostáticasbjabxjhsacAinda não há avaliações
- Maria Isabela Gonçalves SilvaDocumento27 páginasMaria Isabela Gonçalves SilvaMonica Rodrigues PpkAinda não há avaliações
- Casas Típicas de PortugalDocumento10 páginasCasas Típicas de PortugalJoana ValenteAinda não há avaliações
- Catalogos de Linhas Valvoline Veiculos Pesados-2023Documento13 páginasCatalogos de Linhas Valvoline Veiculos Pesados-2023Bruno MoreiraAinda não há avaliações
- Tipos de Parafusos TransportadoresDocumento11 páginasTipos de Parafusos TransportadoresdesetekAinda não há avaliações
- Vulcanização Borracha NaturalDocumento12 páginasVulcanização Borracha NaturalordamAinda não há avaliações
- Manejo Fitossanitário Integrado Na Cultura Da Soja Uma Solução SustentávelDocumento38 páginasManejo Fitossanitário Integrado Na Cultura Da Soja Uma Solução Sustentávelmarcelo jaraAinda não há avaliações
- Agroecologia e Agricultura Organica 1462969754Documento40 páginasAgroecologia e Agricultura Organica 1462969754Fatima PrudencioAinda não há avaliações
- Trichomonas VaginalisDocumento2 páginasTrichomonas VaginalisAmanda GomesAinda não há avaliações
- Ensaios Arriscados em PsicologiaDocumento203 páginasEnsaios Arriscados em PsicologiaBernardo ArraesAinda não há avaliações
- Receitas Trufas e TrufadosDocumento28 páginasReceitas Trufas e TrufadosMaisVitamina100% (2)
- TCC 1 - Data Warehouse: Conceitos de ImplantaçãoDocumento13 páginasTCC 1 - Data Warehouse: Conceitos de ImplantaçãoWagner Meira BarbosaAinda não há avaliações
- Ativdade Da Semana 23 e 24 Folclore 5° AnoDocumento11 páginasAtivdade Da Semana 23 e 24 Folclore 5° Anomichelle lage100% (1)