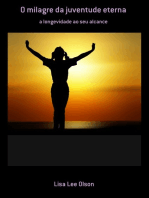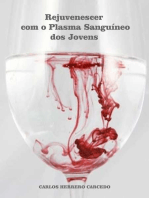Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Fisiologia Do Sangue PDF
Fisiologia Do Sangue PDF
Enviado por
Paulo Renzo Guimarães JúniorTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Fisiologia Do Sangue PDF
Fisiologia Do Sangue PDF
Enviado por
Paulo Renzo Guimarães JúniorDireitos autorais:
Formatos disponíveis
6
Fisiologia do Sangue
A palavra homeostasia significa a manuteno das condies de funcionamento dos diferentes componentes celulares do
organismo. Todos os rgos realizam funes que contribuem para a homeostasia.
A comunicao entre os diversos rgos
feita pelo sangue. Este, pode ser entendido
como um sistema de transporte em que as
artrias, veias e capilares seriam as vias percorridas. O sangue o meio lquido que flui
pelo sistema circulatrio entre os diversos
rgos transportando nutrientes, hormnios, eletrlitos, gua, resduos do metabolismo celular e diversas outras substncias. A fisiologia do sangue estuda as suas
mltiplas funes em interao com a nutrio dos demais tecidos do organismo.
O deslocamento do sangue no sistema
circulatrio ocorre por ao da bomba
cardaca e da sua conduo pelas artrias,
veias e capilares. O sangue circula no organismo humano, transportando oxignio
dos pulmes para os tecidos, onde liberado nos capilares. Ao retornar dos tecidos,
o sangue conduz o dixido de carbono e os
demais resduos do metabolismo celular,
para eliminao atravs da respirao, do
suor, da urina ou das fezes.
O sistema de defesa do organismo contra doenas e a invaso de germes patog-
nicos est concentrado no sangue. O equilbrio e a distribuio de gua, a regulao
do pH atravs os sistemas tampes, o controle da coagulao e a regulao da temperatura correspondem a outras importantes funes desempenhadas pelo sangue.
As clulas do corpo humano, para funcionar adequadamente, precisam consumir
oxignio. As molculas de hemoglobina
contidas nos glbulos vermelhos do sangue transportam o oxignio aos tecidos e,
quando a sua oferta reduzida, o funcionamento celular se deteriora, podendo cessar e determinar a morte.
O volume de sangue contido no sistema circulatrio (corao, artrias, veias e
capilares) constitui o volume sanguneo total, tambm chamado volemia. Um adulto, dependendo do seu porte fsico, pode
ter de 4 a 8 litros de sangue no organismo.
Em geral, a volemia tem relao com a idade e o peso dos indivduos (Tabela 6.1). O
Tabela 6.1. Volemia estimada.
103
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
processo de coagulao do sangue.
adulto tem aproximadamente 60 ml de sanO organismo humano contm uma grangue para cada quilograma de peso corporal.
de quantidade de gua, capaz de migrar enOs elementos celulares correspondem a
aproximadamente 45% do volume de santre os diversos compartimentos, impulsionague, enquanto o plasma corresponde a 55%.
da pelo fenmeno da osmose. A osmose
O sangue um tecido que contm uma
um processo fsico que ocorre entre duas sofase slida, que compreende os elementos
lues separadas por uma membrana percelulares, e uma fase lquida, que corresponmevel, em que a gua atravessa a memde ao plasma (Fig. 6.1).
brana para o lado que contm o maior nOs elementos celulares do sangue so
mero de solutos, para igualar a sua
as hemcias, os leuccitos e as plaquetas.
quantidade nos dois lados da membrana.
As hemcias so as clulas encarregaORIGEM DAS CLULAS DO SANGUE
das do transporte de oxignio para os teciNo incio da gravidez, o embrio retira
dos e do gs carbnico resultante do metaos alimentos de que precisa das paredes do
bolismo celular; os leuccitos constituem
tero materno. partir da terceira semaum exrcito de defesa do organismo conna, passa a alimentar-se atravs o sangue
tra a invaso por agentes estranhos e as
materno. No final do primeiro ms, o feto
plaquetas so fragmentos celulares fundaj tem um corao rudimentar, que bommentais aos processos de hemostasia e cobeia o sangue para o corpo em formao.
agulao do sangue.
Nas primeiras semanas de gestao, o emO plasma sanguneo constituido por
brio humano acompanhado de uma eselementos slidos e gua. Os elementos slipcie de bolsa, chamada saco vitelino.
dos do plasma so, principalmente as
proteinas, gorduras, hidratos de carbono,
eletrlitos, sais orgnicos e minerais, e hormnios. O plasma um lquido
viscoso que contm 90% de gua
e 10% de slidos, como proteinas, lipdeos, glicose, cidos e
sais, vitaminas, minerais, hormnios e enzimas. Em cada litro de
sangue existem 60 a 80 gramas
de proteina. A maior parte
constituida pela albumina; em
menor proporo esto as
globulinas, relacionadas formao de anticorpos para a defesa
do organismo e o fibrinognio,
Fig. 6.1. Diagrama que mostra a composio do sangue. Lista os
uma proteina fundamental no elementos celulares e o plasma sanguneo.
104
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
partir de trs semanas de gestao
na parede externa do saco vitelino surgem
pequenas massas celulares, que vo se
transformando em agrupamentos sanguneos, chamados ilhotas de Wolff. As paredes dos primeiros vasos sanguneos so formadas pelas clulas que contornam as
ilhotas e, aos poucos, o interior das ilhotas
vai ficando vazio. As clulas mais internas
das ilhotas transformam-se em glbulos
vermelhos primitivos.
O estudo das clulas precursoras dos
glbulos vermelhos e das demais clulas do
organismo, nos dias atuais, adquiriu enorme importncia, devido ao potencial
teraputico desse grupo de clulas especiais, denominadas clulas-tronco. A clula-tronco hemopoitica tem uma grande
capacidade de auto-renovao e um grande potencial proliferativo. Estas propriedades permitem que as clulas-troncos possam diferenciar-se em todas as linhagens
de clulas sanguneas. Alm disso, como
recentemente demonstrado, as clulastronco hemopoiticas tem a capacidade de
converter-se em outros tipos celulares,
como o miocrdio, para citar o melhor
exemplo das pesquisas nacionais.
No incio do segundo ms, o sangue j
tem glbulos vermelhos, glbulos brancos
e plaquetas. Os vasos sanguneos e glbulos
vermelhos se originam fora do organismo
do embrio, ou seja, so de origem extraembrionria.
Aps o terceiro ms de vida fetal, a formao do sangue se processa no fgado e
no bao. Esta fase conhecida como fase
heptica da fabricao do sangue fetal. Na
metade do perodo da vida fetal, a medula
ssea comea a produzir o sangue, processo que se continua durante toda a vida extra-uterina.
Aps o nascimento, a grande maioria
das clulas do sangue produzida pela medula ssea, o miolo gelatinoso que preenche o interior dos ossos longos e do esterno.
Os tecidos linfoides, localizados no bao,
timo, amigdalas, gnglios linfticos e placas de Peyer no intestino, tambm colaboram nesta tarefa. A prpria medula ssea
contm tecido linfoide e, em situaes especiais, encarrega-se sozinha da produo
de todas as clulas do sangue. A medula
ssea de praticamente todos os ossos produz eritrcitos at os cinco anos de idade.
partir da, a medula dos ossos longos torna-se mais gordurosa, exceto o mero e a
tbia, e deixam de produzir clulas aps os
vinte anos de idade. Acima dos vinte anos,
a medula dos ossos membranosos, como as
vrtebras, as costelas, o esterno e a pelve
so os grandes produtores dos eritrcitos.
A matriz celular, existente na medula
ssea e nos tecidos linfoides a clula
reticular primitiva, que aparece nas primeiras fases de formao do embrio e funciona como uma fonte permanente de clulas sanguneas. A clula reticular primitiva origina dois tipos distintos de clulas:
as clulas reticuloendoteliais, que desempenham funes protetoras, englobando partculas estranhas e os hemocitoblastos, que
so as clulas produtoras de sangue e que
do origem s hemcias, alguns tipos de
leuccitos e plaquetas.
O hemocitoblasto uma clula volumosa que tem um ncleo ovoide. No interior da medula ssea os hemocitoblastos
105
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
dividem-se e originam clulas menores, os
proeritroblastos. Estas outras clulas tambm se dividem e originam os eritroblastos
que sofrem diversas transformaes at que,
finalmente, perdem o ncleo e se constituem nos eritrcitos. O processo de formao das hemcias denominado eritropoiese.
Nas malhas do retculo da medula dos
ossos tambm se desenvolvem os granulcitos que, como as hemcias, descendem
da clula reticular primitiva. Origina-se
inicialmente, um tipo celular chamado
mieloblasto que, por sua vez se diferencia
em promielcito, cujo citoplasma tem grnulos. Conforme a colorao dos grnulos
seja violeta, azul ou vermelha, que os
promielcitos se diferenciam nas clulas
brancas neutrfilos, eosinfilos e basfilos.
Estes trs tipos de leuccitos tem ncleos
com dois ou mais lobos e, por essa razo,
so chamados de polimorfonucleares. Eles
tem granulaes no interior do seu
citoplasma e por isso so tambm chamados de granulcitos.
O tecido linfoide, que forma a estrutura bsica do bao, do timo, dos gnglios linfticos e de outros rgos o encarregado
da produo dos outros dois tipos de leuccitos, os moncitos e os linfcitos. Estas
clulas tem ncleo simples e no tem
granulaes no seu citoplasma.
Os leuccitos so as unidades mveis
do sistema protetor do organismo. Aps
a sua formao, os leuccitos so transportados pelo sangue, para as diferentes
partes do organismo, onde podero atuar, promovendo a defesa rpida contra
qualquer agente invasor.
Os hemocitoblastos tambm formam
106
os megacaricitos, que, como o nome indica, so clulas que apresentam ncleos
caracteristicamente grandes. O citoplasma
do megacaricito fragmenta-se em diversas pores, que ficam totalmente envolvidas por uma membrana. Quando o megacaricito se rompe, libera diversas plaquetas que so lanadas na circulao. As
plaquetas, portanto, no so clulas e sim,
elementos celulares, porque so fragmentos de uma clula principal derivada da
clula primitiva hemocitoblasto.
As clulas sanguneas e as plaquetas
tem origem comum nas clulas reticulares
primitivas. A sua produo contnua,
durante toda a vida do indivduo, e regulada por diversos fatores que, em condies
normais, mantm a concentrao adequada de cada tipo celular, no sentido de
otimizar as funes do sangue. Cada elemento celular do sangue, hemcias, leuccitos e plaquetas desempenha funes especficas, relacionadas ao transporte de
gases, aos mecanismos de defesa do organismo e ao sistema de hemostasia.
HEMCIAS
A principal funo das hemcias
transportar oxignio dos pulmes para os
tecidos e o dixido de carbono, dos tecidos para os pulmes. O transporte do oxignio feito pela hemoglobina, atravs de
ligaes qumicas. As hemcias contm a
enzima anidrase carbnica, que acelera a
reao da gua com o dixido de carbono,
tornando possvel a remoo de grandes
quantidades de dixido de carbono, para
eliminao pelos pulmes. A hemoglobina funciona ainda como um sistema tam-
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
po adicional, na manuteno do equilbrio cido-bsico do organismo.
As hemcias, glbulos vermelhos ou
eritrcitos, so as clulas mais numerosas
no sangue. Tem a forma de um disco
bicncavo, com um excesso de membrana, em relao ao conteudo celular. A
membrana em excesso permite hemcia
alterar a sua forma na passagem pelos capilares, sem sofrer distenso ou rotura. A
forma bicncava da hemcia favorece a
existncia de uma grande superfcie de difuso, em relao ao seu tamanho e volume. A hemcia circulante no tem ncleo,
seu dimetro mdio de aproximadamente 8 microns e a espessura de 2 microns
na periferia e cerca de 1 micron na sua poro central.
A quantidade de hemcias no sangue varia com o sexo. No homem adulto
normal, sua concentrao de aproximadamente 5.200.000 por mililitro de
sangue, enquanto na mulher normal de
4.800.000.
A altitude em que a pessoa vive afeta
o nmero de hemcias em circulao. As
populaes que vivem em grandes altitudes, onde a presso parcial de oxignio no
ar mais baixa, tem necessidade de uma
maior quantidade de hemcias na circulao, para manter a oxigenao dos tecidos
adequada.
No recm-nascido, a contagem de
hemcias revela quantidades superiores
s do adulto. No decorrer das duas primeiras semanas de vida, a quantidade de
hemcias se reduz e estabiliza, at atingir os nveis do adulto normal.
Aproximadamente 60% da clula da
hemcia constituida pela gua e o restante pelos elementos slidos. Da parte
slida, 90% ocupada pela hemoglobina e o restante corresponde s proteinas,
substncias gordurosas, fosfatos, cloro e
ons de sdio.
A quantidade de hemcias no sistema
circulatrio controlada pelo organismo,
de tal forma que um certo nmero de
eritrcitos est sempre disponvel para o
transporte de oxignio aos tecidos. Qualquer condio que diminua a quantidade
de oxignio nos tecidos, tende a aumentar
a produo de eritrcitos.
Quando a medula ssea produz hemcias muito rapidamente, vrias clulas so
liberadas no sangue antes de se tornarem
eritrcitos maduros. Estas clulas mal desenvolvidas podem transportar o oxignio
com eficincia porm, so muito frgeis e
o seu tempo de vida menor.
A vida mdia das hemcias no organismo de 100 a 120 dias. Ao final desse
perodo suas membranas tornam-se frgeis
e elas so, na maioria, removidas da circulao pelo bao, enquanto a medula ssea
forma novas hemcias, para serem lanadas
na circulao. Este processo de formao
de hemcias contnuo.
A hipxia renal estimula a liberao
de um fator eritropoitico que modifica uma
proteina do plasma, transformando-a em
eritropoietina ou hemopoietina que, por sua
vez, estimula a produo de glbulos vermelhos. A eritropoietina pode ser usada
para acelerar a produo de hemcias em
pacientes anmicos ou em candidatos a
procedimentos cirrgicos de grande porte.
A medula ssea para elaborar novos
107
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
glbulos vermelhos aproveita restos de hemcias envelhecidas e destruidas. O ferro
contido na hemoglobina reaproveitado,
para formar novas molculas do pigmento. Clulas fagocitrias do bao, fgado,
gnglios linfticos e da prpria medula encarregam-se de destruir os glbulos vermelhos envelhecidos. seguir, lanam na circulao o ferro que sobra, para que possa
ser reaproveitado. A produo de hemcias exige a presena de cianocobalamina
(vitamina B12) e um fator da mucosa do
estmago, chamado de fator intrnseco, que
se combina com a vitamina B12. O cido
flico tambm participa do processo de formao e maturao das hemcias.
HEMOGLOBINA
A hemoglobina o principal componente da hemcia. Ela formada no interior dos eritroblastos na medula ssea.
A hemoglobina o pigmento responsvel pelo transporte do oxignio para os
tecidos e confere hemcia a sua colorao avermelhada. Quando a quantidade de
hemoglobina combinada com o oxignio
grande, o sangue toma a colorao vermelho viva, do sangue arterial. Quando a combinao com o oxignio existe em pequenas quantidades, a colorao do sangue
vermelho escura, do sangue venoso.
A hemoglobina formada pela unio
de radicais heme com uma proteina, chamada globina. Cada molcula de hemoglobina contm quatro molculas do radical
heme e dois pares de cadeias de polipeptdeos, estruturalmente formadas por diversos amino-cidos. A hemoglobina A, do
adulto, formada por um par de cadeias
108
de polipeptdeos chamados cadeias alfa (a)
e um par de polipeptdeos chamados cadeias beta (b). O pigmento ou radical heme
contm molculas de ferro no estado
ferroso e o responsvel pela cor vermelha da hemoglobina.(Fig. 6.2).
A cadeia alfa-globina constituida por
um grupo de 141 resduos de aminocidos
e tem o peso molecular de 15.750 Daltons.
A cadeias beta formada pela unio de 146
resduos de aminocidos e tem o peso
molecular de 16.500 Daltons. A hemoglobina A resultante, tem um peso molecular
aproximado de 64.725 Daltons.
A estrutura qumica da molcula da hemoglobina foi demonstrada por Perutz e
Kendrew que, em 1962 receberam o pr-
Fig. 6.2. Esquema da molcula da hemoglobina A que
mostra os os quatro grupos heme ligados s cadeias de
polipeptdeos (alfa e beta) e a ligao do radical heme
com as quatro molculas de oxignio.
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
mio Nobel de qumica, pelos seus trabalhos com aquele pigmento. A configurao qumica da hemoglobina permite um
aproveitamento excepcional; cada molcula pode transportar quatro molculas de
oxignio. A combinao qumica do radical heme com a molcula de oxignio
facilmente reversvel, o que facilita a sua
captao nos capilares pulmonares e a sua
liberao nos capilares dos tecidos. A ligao do oxignio hemoglobina do
tipo cooperativo. Isto significa que a ligao de uma molcula de oxignio ao grupo heme facilita a ligao da segunda
molcula, que torna mais fcil a ligao
com a terceira molcula e, mais fcil ainda, a ligao com a quarta e ltima molcula, numa espcie de reao cuja velocidade aumenta medida em que vai
sendo processada. A oxihemoglobina a
molcula da hemoglobina saturada com
quatro molculas de oxignio.
Durante as primeiras fases do desenvolvimento embrionrio do ser humano, o
sangue contm uma hemoglobina embrionria, chamada hemoglobina E, composta
por duas cadeias de polipeptdeos do tipo
alfa e duas cadeias de tipo epsilon (e). Durante o estgio de vida fetal a hemoglobina embrionria substituida pela hemoglobina fetal, denominada hemoglobina F.
Este tipo de hemoglobina, tem enorme afinidade pelo oxignio, e constitui uma
adaptao fisiolgica, com a finalidade de
extrair mais oxignio da circulao materna da placenta, que tem uma PO2 relativamente baixo. A hemoglobina fetal formada pelos quatro radicais heme ligados
duas cadeias de polipeptdeos alfa (a) e
duas cadeias do tipo gama (g). A hemoglobina F se mantm nas hemcias circulantes
em grande quantidade, nos recm-natos e
vai desaparecendo gradualmente nos primeiros meses de vida, para dar lugar hemoglobina A, predominante no sangue do
indivduo adulto.
A capacidade de oxigenao dos tecidos pelo sangue est relacionada ao nmero de glbulos vermelhos circulantes e
quantidade de hemoglobina que contm.
No adulto normal, cada 100 ml. de sangue
contm aproximadamente 15 gramas de
hemoglobina.
A forma bicncava dos glbulos vermelhos ideal para a absoro e liberao rpida de gases. A ausncia de ncleo tambm favorece o transporte de
oxignio, porque a clula pode conter
maior quantidade de hemoglobina, contribuindo para sua maior eficincia por
unidade de volume.
A estrutura molecular tetramrica,
com quatro molculas do radical heme e a
caracterstica ligao cooperativa com o
oxignio, permitem hemoglobina modificar a sua afinidade pelo oxignio, dependendo de diversos fatores, como o nmero
de molculas de oxignio j combinadas
sua prpria molcula, a presena e quantidade de dixido de carbono, o pH do sangue, a temperatura e a quantidade de fosfatos orgnicos presentes. Esses fatores
constituem um importante mecanismo de
controle, que permite hemoglobina captar oxignio em um instante e liber-lo eficientemente no instante seguinte.
A afinidade pelo oxignio e a capacidade de liberao desse gs, so descritas
109
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
por equaes e curvas que representam a
dissociao da hemoglobina. A curva de
dissociao da hemoglobina representa a
relao entre a presso parcial de oxignio
no sangue e o percentual de saturao da
hemoglobina. O sangue que deixa os pulmes tem uma PO2 de 100 mmHg e, nessas condies, a hemoglobina est plenamente saturada. A curva de dissociao demonstra o percentual de saturao da
hemoglobina correspondente a cada valor
da PO2 do sangue, conforme demonstra o
grfico da figura 6.3.
A anlise da curva de dissociao da
hemoglobina e a influncia de diversos fatores na sua configurao, facilitam a compreenso dos mecanismos de liberao do
oxignio nos tecidos. Quando a afinidade
da hemoglobina pelo oxignio est aumentada, menos oxignio liberado nos tecidos. O consumo celular de oxignio diminui a sua concentrao no ambiente em
que a clula se encontra. Com a reduo
da concentrao do oxignio, o gradiente
do oxignio atravs a membrana celular se
reduz e menos oxignio se difunde na c-
Fig. 6.3. Curva de dissociao da hemoglobina. Mostra
a correlao da saturao de oxignio com a p02 do
sangue. Alteraes da curva refletem modificaes do
sangue produzidas por diversos fatores, conforme
explanao do texto.
110
lula, reduzindo o PO2 intracelular e comprometendo o metabolismo celular.
A afinidade da hemoglobina pelo oxignio um fenmeno dinmico que pode
ser afetado por diversos mecanismos. As
manipulaes da fisiologia induzidas durante a circulao extracorprea, como a hipotermia, as alteraes do equilbrio cido-base, a hemodiluio e outras, podem
modificar a afinidade da hemoglobina pelo
oxignio, levando alteraes da saturao e da liberao do oxignio nos tecidos.
A curva de dissociao da hemoglobina pode ser modificada por alteraes do
pH. Se o sangue se tornar cido, com o pH
de 7,2 por exemplo, a curva de dissociao
se desloca cerca de 15% para a direita. Se
o sangue, ao contrrio, estiver alcalino, com
o pH de 7,6, a curva se desloca para a esquerda. O aumento da concentrao do
dixido de carbono e o aumento da temperatura corporal, tambm deslocam a curva para a direita.
Quando a afinidade da hemoglobina
pelo oxignio est aumentada em relao ao normal, a curva de dissociao se
desvia para a direita e, menos oxignio
liberado. Se a afinidade da hemoglobina
est diminuida a curva de dissociao se
desvia para a esquerda e o oxignio liberado com mais facilidade. A presena
de grandes quantidades de hemoglobina
fetal desvia a curva de dissociao da
hemoglobina para a esquerda, no feto e
no recm-nato, facilitando a liberao de
oxignio aos tecidos.
HEMATCRITO
A massa de glbulos vermelhos exis-
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
tente no sangue constitui o hematcrito.
O hematcrito o percentual do volume
de sangue ocupado pelas hemcias e, portanto, representa um ndice da concentrao dos glbulos vermelhos.
Quando se diz que uma pessoa tem o
hematcrito de 40 significa que 40% do
volume sanguneo so clulas vermelhas e
o restante corresponde ao plasma. O hematcrito do homem normal varia de 40 a
45% (mdia de 42%), e o da mulher normal oscila entre 38 e 42% (mdia de 40%).
O hematcrito, na ausncia de anemia, tem
correlao com a quantidade de hemoglobina existente no sangue. O valor de 15g%
de hemoglobina no sangue, corresponde
aproximadamente ao hematcrito de 45%.
A razo aproximada de 1:3 em relao
ao hematcrito, o que equivale a dizer que,
o valor da hemoglobina multiplicado por
trs, corresponde ao valor aproximado do
hematcrito.
O hematcrito determinado pela
centrifugao de uma amostra de sangue
em um tubo capilar. Aps 3 minutos de
centrifugao, as hemcias, por sua maior
densidade, se depositaro no fundo do
tubo. Sobre estas se depositar uma camada bem fina de glbulos brancos e de plaquetas, e no topo do tubo ficar o plasma.
A camada que contm os leuccitos e plaquetas to fina que no considerada na
leitura. No sangue normal, aps a centrifugao, se para toda a coluna ocupada,
atribuirmos o valor 100, teremos 45% ocupados pelas hemcias e 55% pelo plasma.
Uma escala graduada permite a leitura direta da percentagem de hemcias existentes no sangue. Se, em uma amostra de san-
gue centrifugado, dividirmos o comprimento da coluna de glbulos vermelhos
pelo comprimento total da amostra
(glbulos + plasma), teremos o valor do
hematcrito (Fig.6.4).
Quando a quantidade de glbulos vermelhos no sangue inferior ao valor normal, existe anemia. Nestes casos a determinao do hematcrito mostra valores abaixo de 42% no homem e de 40% na mulher.
Ao contrrio, quando a quantidade de hemcias superior ao normal, existe poliglobulia. O hematcrito estar acima de 45%.
A hemodiluio usada na perfuso
reduz a concentrao dos elementos celulares do sangue; o hematcrito baixa a
valores de 20 a 25%, dependendo do gru
de hemodiluio. A reduo do hematcrito a nveis abaixo de 15% representa
um valor de hemoglobina de 5 g%, que
pode prejudicar o transporte e a oferta
de oxignio para os tecidos, causando
hipxia celular e acidose metablica,
mesmo que a saturao de oxignio do
sangue arterial seja normal.
Fig. 6.4. Esquema dos tubos de hematcrito. Demonstra
o resultado da centrifugao do sangue no tubo. As
hemcias se depositam no fundo do tubo, pela sua maior
densidade. Ilustra o aspecto do sangue normal, das
anemias e das policitemias.
111
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
Quanto maior o hematcrito, maior
o atrito entre as camadas ou lminas do
sangue que se desloca nos vasos sanguneos. O atrito entre aquelas camadas um
fator importante na determinao da viscosidade do sangue. A viscosidade elevada dificulta o fluxo de sangue atravs dos
vasos de pequeno calibre e dos capilares.
Em funo de mecanismos fisiolgicos
de adaptao, ou em conseqncia de alteraes patolgicas, podem ocorrer alteraes da quantidade de hemcias no sangue circulante (anemia ou policitemia)
bem como alteraes da estrutura e funo
da hemoglobina (hemoglobinopatias).
ANEMIA
A anemia corresponde reduo do
nmero de hemcias circulantes ou reduo do teor de hemoglobina contida nas
hemcias. As anemias podem ser causadas
por hemorragias ou por deficiente produo de hemcias.
Se a perda de sangue rpida, o indivduo apresenta hipovolemia, que suscita
a absoro de lquidos do interstcio para o
sangue, diluindo os glbulos vermelhos,
produzindo a anemia. A perda crnica ou
lenta de sangue tambm resulta em anemia, porque a formao de novas hemcias no suficientemente rpida para repor
a perda continuada.
Existem anemias causadas por incapacidade da medula ssea produzir as clulas
vermelhas, como a anemia aplstica, por
exemplo, bem como anemias causadas por
falta de componentes essenciais ao metabolismo formador da hemoglobina, como
o ferro, a vitamina B12, o fator gstrico in112
trnseco e o cido flico. Outras anemias
so causadas por excessiva destruio das
hemcias circulantes, como as anemias
hemolticas.
Anemias Hemolticas Em conseqncia de diversas alteraes, freqentemente hereditrias, um organismo pode produzir hemcias com anomalias diversas, inclusive da membrana celular, que as tornam particularmente frgeis e permitem
que se rompam com facilidade, ao passar
pelos capilares. Nessas condies, mesmo
quando o nmero de eritrcitos normal,
pode ocorrer anemia, porque o perodo de
vida til das hemcias muito curto. Um
exemplo dessas anemias hemolticas a
esferocitose hereditria, em que as hemcias tem a forma esfrica, ao invs de
discides. Essas clulas no tem a estrutura da membrana normal dos discos
bicncavos e no podem ser comprimidas,
rompendo-se com muita facilidade. Outros
exemplos seriam a talassemia ou anemia
de Cooley e a anemia falciforme, esta ltima de grande importncia em nosso meio.
POLICITEMIA
A policitemia representa um aumento, fisiolgico ou patolgico, da quantidade de hemcias no sangue circulante. A
contagem das hemcias superior a
5.200.000 por mililitro de sangue e o hematcrito, em conseqncia, est acima de
45%. O exemplo mais comum de policitemia fisiolgica o das grandes altitudes,
em que as populaes tem maior quantidade de hemcias na circulao para compensar a menor concentrao de oxignio
no ar atmosfrico. Os efeitos da altitude
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
sobre o ser humano comeam partir dos
2.400 metros.
A policitemia mais importante a de
origem patolgica e pode ser primria ou
secundria.
Policitemia Primria A medula ssea
produz quantidades excessivas de hemcias, sem que isso represente qualquer mecanismo de adaptao. O tipo clssico a
Policitemia vera, uma condio neoplsica ou tumoral dos rgos produtores de
clulas sanguneas. Ela gera uma excessiva produo de eritrcitos, leuccitos e
plaquetas. O hematcrito nestas pessoas
pode chegar aos 70 ou 80%. O sistema
vascular se torna intumescido, muitos capilares so obstruidos devido viscosidade
do sangue, que nesta doena, pode aumentar at cinco vezes em relao ao normal.
Policitemia Secundria Os tecidos do
organismo so hipxicos, como ocorre
nas cardiopatias congnitas cianticas
que se acompanham de shunt intra-cardaco da direita para a esquerda. A
hipxia crnica, estimula o organismo a
produzir glbulos vermelhos em excesso,
lanando-os na circulao para aumentar a oferta de oxignio aos tecidos. O
hematcrito destas crianas pode alcanar os 80% e a viscosidade do sangue
aumenta proporcionalmente. Nestas circunstncias, a hemodiluio pr-operatria importante para favorecer a perfuso e a oxigenao tissulares, durante
a circulao extracorprea.
Com freqncia, as alteraes das hemcias so devidas alteraes da hemoglobina, como ocorre na anemia falciforme, que
, provavelmente, a hemoglobinopatia mais
comumente encontrada. J foram identificadas e catalogadas mais de 300 tipos diferentes de hemoglobinas, das quais cerca de
10% podem se acompanhar de alteraes
funcionais e clnicas. Estas alteraes da
hemoglobina so raras e so encontradas
apenas em alguns indivduos de uma mesma famlia. Sua importncia reside no fato
de que um paciente portador dessas anormalidades pode eventualmente, ser submetido circulao extracorprea e a
hemoglobinopatia potenciar o desenvolvimento de crise hemoltica severa, capaz de
comprometer a funo renal.
Anemia Falciforme relativamente comum na populao negra especialmente da
frica Central, onde parece ter se originado, por mutao gentica. Na atualidade a
sua distribuio bastante extensa, graas
migrao do povo africano para a maioria dos continentes. A doena ou seus traos so facilmente encontrados na populao negra ou em seus descendentes, inclusive em nosso pas.
A alterao primria da anemia
falciforme ocorre na hemoglobina. Existe
alterao de um dos resduos de aminocido nas cadeias da globulina beta, originando um tipo de hemoglobina chamada hemoglobina S. A composio anormal da
poro globina da hemoglobina, favorece
a fcil cristalizao do pigmento no interior das hemcias, alm de tornar as clulas
mais frgeis. Os cristais da hemoglobina S
so longos e tendem a alongar as hemcias, alterando a sua forma normal no sangue. Quando a hemoglobina S cristaliza e
se alonga, a hemcia deformada assume um
formato curvo, como uma foice, fato que
113
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
originou a designao de falciforme. Estes
pacientes podem ter baixa tenso de oxignio tecidual, por diversas razes, inclusive a formao de grumos celulares que
obstruem os capilares e reduzem o fluxo
sanguneo para diversos tecidos.
As hemoglobinopatias, como as demais alteraes de origem gentica, podem
ser do tipo homozigtico onde os dois progenitores transmitem o gene deficiente ou
pode ser do tipo heterozigtico onde o gene
deficiente provm de apenas um dos progenitores. Na anemia falciforme, a hemoglobina patolgica pode ser do tipo Hb-SS
(homozigtico) ou do tipo Hb-AS (heterozigtico), em que coexiste o carter A da
hemoglobina normal. A doena apenas se
manifesta nos portadores do tipo Hb-SS,
sendo os demais indivduos, portadores do
tipo Hb-AS, conhecidos como portadores
do trao falciforme. Na populao negra
americana 8% dos indivduos tem o trao
falciforme, enquanto 0,2% tem a anemia
na sua forma plena.
A anemia falciforme transmitida atravs do cromossoma 11, onde se localiza o
gene mutante causador da alterao da
cadeia beta da globina. A miscigenao das
raas produziu a expanso da doena que,
em nosso pas, pode cursar com formas de
extrema gravidade.
As manifestaes clnicas da anemia
falciforme incluem anemia hemoltica crnica, complicaes sistmicas produzidas
por infartos de diversos rgos, complicaes renais da mesma origem e ocluses vasculares perifricas. A vida mdia das hemcias falciformes encurtada e, nos casos
mais severos, pode ser de apenas 10 dias.
114
A circulao extracorprea em pacientes com anemia falciforme pode desencadear crises hemolticas extremamente
severas alm de ocluses vasculares e outras complicaes sistmicas.
HEMLISE
A lise ou rotura das membranas das
clulas sanguneas vermelhas conhecida como hemlise. A leso da membrana
das hemcias permite a liberao da hemoglobina para o plasma, constituindo
a hemoglobina livre. O fenmeno gerado pelo aumento de hemoglobina livre
no plasma em conseqncia da hemlise a hemoglobinemia.
A quantidade de hemoglobina livre no
plasma depende da capacidade e da velocidade de remoo do pigmento pelo organismo de cada indivduo. Normalmente, o sistema retculo-endotelial capaz de
remover cerca de 0,1 mg de hemoglobina/
Kg/minuto. Quando a hemoglobina livre
no plasma supera o valor de 100 mg%, a
hemoglobina filtrada pelos rins. A urina
que contm hemoglobina adquire a colorao avermelhada, caracterstica da
hemoglobinria. Dependendo da quantidade de hemoglobina, a colorao da urina
pode variar de levemente avermelhada a
francamente vinhosa ou cor de coca-cola.
A leso renal produzida pela hemoglobina
pode ocorrer quando os valores da hemoglobina livre no plasma so superiores a
3.000 mg%. Existem estudos que demonstram que a leso renal ocorre por ao do
estroma das hemcias que perdem a hemoglobina. A existncia de hemoglobinas
puras usadas em soluo, como substitu-
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
tos do sangue, comprovam a importncia
do estroma celular na produo da insuficincia renal conseguente hemlise.
O plasma normal contm uma pequena quantidade de hemoglobina livre, que
corresponde hemoglobina liberada pela
destruio das hemcias velhas, para a
sua renovao. A quantidade de hemoglobina livre no plasma normal de aproximadamente 6 mg%. A circulao extracorprea adequadamente conduzida, com os
equipamentos atualmente disponveis, eleva a hemoglobina livre para 20 a 40 mg%,
em funo da hemlise produzida pelo trauma. Quando o trauma celular na perfuso
excessivo, a hemoglobinemia acentuada e supera os 100 mg%, produzindo a
hemoglobinria.
A hemlise pode ser produzida por reaes a certos medicamentos, como um
processo auto-imune, devido presena de
hemoglobinas anormais ou, no caso mais
freqente da circulao extracorprea, por
trauma fsico.
O tratamento mais utilizado para prevenir as conseqncias da hemlise excessiva consiste em administrar bicarbonato
de sdio, para alcalinizar o plasma e a urina, inibindo a cristalizao da hemoglobina livre. Administra-se ainda o manitol,
na tentativa de promover a lavagem dos
tbulos renais, por uma diurese osmtica
abundante.
LEUCCITOS
O organismo possui um eficiente sistema de combate aos diferentes agentes
agressores, txicos ou infecciosos como
bactrias, fungos, vrus e parasitas. Este
sistema inclui as clulas brancas ou leuccitos, os macrfagos dos tecidos e o
sistema linfide.
Os leuccitos so considerados as unidades mveis do sistema protetor do organismo, porque podem deixar a corrente
sangunea e migrar para locais onde sua
ao seja necessria. Aps a sua formao,
as clulas brancas so lanadas no sangue
onde circulam, at que sejam necessrias
em algum ponto do organismo. Quando
isso ocorre, os leuccitos migram para o
local necessrio, especificamente as reas
de inflamao, fazendo uma defesa rpida
contra os agentes infecciosos. Na eventualidade de invaso do organismo por bactrias, os leuccitos so lanados na circulao em grandes quantidades.
Existem normalmente no sangue perifrico de 6.000 a 8.000 leuccitos por mililitro de sangue, divididos em cinco tipos:
neutrfilos, eosinfilos, basfilos, moncitos e linfcitos. Sua distribuio
percentual no sangue perifrico corresponde da tabela 6.2.
Os neutrfilos no sangue perifrico se
distribuem em formas jovens, com o ncleo em basto e formas adultas, com o
ncleo segmentado.
Os trs primeiros tipos de leuccitos,
Tabela 6.2.Tipos de leuccitos no sangue perifrico.
115
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
os neutrfilos os eosinfilos e os basfilos
so chamados de leuccitos polimorfonucleares porque tem ncleos com dois ou
mais lobos. Alm desta caracterstica dos
ncleos, os leuccitos polimorfonucleares
apresentam granulaes no interior do seu
citoplasma, sendo, por essa razo, tambm
chamados de granulcitos.
Os moncitos e os linfcitos tem ncleo simples, e no tem granulaes no
citoplasma, sendo conhecidos como leuccitos agranulcitos.
Os leuccitos formados na medula ssea, especialmente os granulcitos, ficam
armazenados na medula. Vrios fatores
podem promover a sua liberao no sistema circulatrio, quando necessrios.
O tempo de vida dos leuccitos em circulao no sangue curto. A maior parte
deles fica armazenada e s vai para a circulao quando requisitada. Aps serem liberados da medula ssea, passam de seis a
oito horas circulando no sangue e duram
de dois a trs dias nos tecidos. Quando h
infeco localizada nos tecidos, o tempo
dos leuccitos em circulao ainda menor, porque vo direto rea infectada,
onde ingerem os organismos invasores e a
seguir so destruidos.
Os moncitos passam pouco tempo na
circulao, porque vo direto aos tecidos,
onde aumentam de tamanho e podem sobreviver at alguns meses antes de serem
destruidos.
Os linfcitos entram no sistema circulatrio de forma contnua e permanecem
no sangue apenas por algumas horas. Os
linfcitos so os leoccitos mais complexos e atuam em conjunto com o sistema
116
imunolgico, na resposta s invases por
agentes estranhos. Os linfcitos T e os
linfcitos B podem ser produzidos nos tecidos linfides e na medula ssea. Os
linfcitos T ativados podem destruir um
agente invasor do organismo, enquanto os
linfcitos B produzem anti-corpos contra
os agentes invasores. Ao reconhecer um
antgeno, os linfcitos T estimulam os
linfcitos B a produzir anti-corpos especficos para aquele antgeno.
Os neutrfilos e os moncitos atacam
e destroem as bactrias, vrus invasores e
qualquer outro agente lesivo. Ao penetrar
nos tecidos, os neutrfilos intumescem, aumentam de tamanho e, ao mesmo tempo,
desenvolvem no citoplasma, um nmero
elevado de lisossomas e de mitocndrias,
que possuem grnulos. Estas clulas aumentadas denominam-se macrfagos, que
tem grande atividade no combate aos agentes patognicos.
Os neutrfilos e os moncitos se movimentam rapidamente atravs das paredes dos capilares sanguneos; podem deslocar-se at trs vezes o seu prprio comprimento a cada minuto.
A funo mais importante dos neutrfilos
e macrfagos a fagocitose. Os neutrfilos
ingerem e digerem as partculas estranhas,
at que alguma substncia txica ou enzima
liberadas no seu interior os destruam. Normalmente, isto ocorre depois que o
neutrfilo tenha fagocitado cerca de 5 a
25 bactrias. Em seguida, os macrfagos
fagocitam os neutrfilos mortos.
EOSINFILOS E BASFILOS
Ao surgir uma proteina estranha no
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
organismo, os eosinfilos entram na circulao em grandes quantidades. Os eosinfilos so tambm importantes na destruio de cogulos velhos ou organizados. Ficam armazenados nos tecidos, onde
ocorrem as reaes antgeno-anticorpo.
Tem a propriedade de fagocitar e digerir o
complexo antgeno-anticorpo, aps o processo imune ter desempenhado suas funes. Durante as reaes alrgicas, a produo de eosinfilos pela medula ssea aumentada. Os eosinfilos s atingem as reas
inflamadas nas fases finais do processo inflamatrio. A maior importncia dos eosinfilos na detoxificao de proteinas estranhas
e nos mecanismos de alergia. Os eosinfilos possuem receptores para as imunoglobulinas IgE e IgG e para algumas proteinas
do sistema do complemento.
A funo dos basfilos parece estar relacionada liberao de heparina no local
de uma agresso, para impedir a coagulao no sangue. Os basfilos no sangue
circulante se localizam perto da parede dos
capilares. O sangue transporta os basfilos
para os tecidos, onde se transformam em
mastcitos e liberam heparina, histamina
e quantidades menores de bradicinina e
serotonina. Eles so muito importantes em
alguns tipos de reaes alrgicas, porque o
tipo de imunoglobulina ligado estas reaes a IgE, que tem propenso a se fixar
aos mastcitos e basfilos. Nesta ocasio,
o antgeno especfico reage com o anticorpo e esta reao faz com que o mastcito
se rompa, liberando histamina, bradicinina
e serotonina que provocam as reaes dos
vasos sanguneos dos tecidos, que constituem as manifestaes da alergia.
Quando a medula ssea interrompe a
produo de leuccitos, o organismo fica
desprotegido contra agentes invasores
bacterianos ou de outra natureza. A inabilidade para produzir leuccitos na medula
ssea conhecida como agranulocitose.
Diversos medicamentos e alguns hipnticos barbitricos podem produzir agranulocitose, por inibio da medula ssea.
OS LEUCCITOS
DURANTE A PERFUSO
A circulao extracorprea ativa os
neutrfilos por diversos mecanismos,
dentre os quais a liberao de fraes do
complemento e de calicreina, alm de
outros fatores. Os neutrfilos, quando
ativados, liberam substncias que contribuem para a gnese da reao inflamatria generalizada que a circulao extracorprea determina. Alguns radicais
txicos e peroxidases so tambm produtos liberados pelos leuccitos ativados.
Durante a perfuso, os neutrfilos tendem a se acumular nos pulmes, onde
seus produtos txicos produzem aumento da permeabilidade vascular e edema
intersticial.
Os leuccitos ativados liberam radicais livres de oxignio que em determinadas circunstncias podem produzir
ocluso microvascular. Os efeitos desses
radicais so melhor conhecidos durante
a fase de reperfuso coronariana, aps o
desclampeamento da aorta. Uma quantidade de agentes produzidos pelos leuccitos participam ativamente das reaes que constituem a resposta inflamatria sistmica do organismo (RISO).
117
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
PLAQUETAS
As plaquetas so corpsculos ou fragmentos de clulas gigantes, os megacaricitos, formadas na medula ssea. Elas tem
a forma de discos diminutos arredondados,
e na realidade, no representam clulas e
sim corpsculos celulares. Os magacariocitos se fragmentam em plaquetas, que so
liberadas na circulao sangunea.
As plaquetas no tem ncleo; seu dimetro mdio de 1,5 (micron) e a espessura varia de 0,5 a 1 m.
As plaquetas so de fundamental importncia nos processos de hemostasia e
coagulao do sangue. Quando oocorre
leso do endotlio de um vaso sanguneo,
as plaquetas so ativadas, aderem ao local
da leso e aglutinam-se umas s outras. Ao
mesmo tempo liberam substncias que ativam outras plaquetas promovendo a formao de grumos plaquetrios, que obstruem o local da leso do vaso e, em ltima
anlise, promovem a interrupo da perda
sangunea. Essa a principal funo das
plaquetas no fenmeno de hemostasia.
Alm disso, as plaquetas participam ativamente da cascata da coagulao do sangue, liberando vrias proteinas e lipoproteinas que ativam determinados fatores da
coagulao.
As propriedades mais importantes das
plaquetas, relacionadas sua participao
nos mecanismos da hemostasia e da coagulao do sangue esto relacionadas na
tabela 6.3.
A adesividade permite que a plaqueta
possa aderir ao endotlio vascular lesado
ou qualquer outra superfcie diferente do
endotlio normal. A agregao permite que
118
Tabela 6.3. Principais propriedades das plaquetas.
as plaquetas possam aderir umas s outras,
constituindo grumos plaquetrios que so
a origem do futuro cogulo. A serotonina
liberada pelas plaquetas estimula a
adesividade e a aglutinao, alm de produzir vasodilatao local. Os fatores
plaquetrios III e IV participam das reaes da cascata da coagulao. As plaquetas participam ainda, em conjunto com a
fibrina da elaborao de um cogulo final,
cuja retrao produz uma massa firme, com
expulso do soro do seu interior.
A estrutura interna das plaquetas
bastante complexa, quando analisada ao
microscpio eletrnico (Fig. 6.5). Uma camada externa, chamada glicoclice, rica em
glicoproteinas, envolve as plaquetas e contm receptores para diversos agentes capazes de ativar as plaquetas. Algumas
glicoproteinas da camada de revestimento
da membrana plaquetria so importantes
para as funes de adesividade e agregao. Abaixo dessa camada glicoproteica
existe a membrana plaquetria, que tem
trs lminas. Em contato com a lmina mais
interna da membrana da plaqueta existe
um conjunto de filamentos especializados,
prximos de um sistema canalicular, com
diversos canalculos, que penetram no interior das plaquetas, chamado sistema
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
Fig. 6.5. Diagrama da plaqueta vista ao mocroscpio
eletrnico. Indica a composio da membrana e de
numerosas estruturas e organelas intra-plaquetrias,
conforme a descrio do texto.
canalicular aberto. Esse sistema canalicular
aumenta bastante a rea da superfcie da
plaqueta e permite a expulso de produtos
secretados para o plasma. O citoplasma das
plaquetas viscoso e contm numerosas
organelas e grnulos. No citoplasma existem
microfilamentos e tbulos densos, que contm
actina e miosina e contribuem para manter a forma discoide, bem como para formar alongamentos ou pseudpodos, alm
de contrair as plaquetas, quando estimuladas pelo aumento do clcio no interior
do citoplasma. A contrao desses microfilamentos comprime as organelas e grnulos do citoplasma, e expremem o seu contedo para o plasma atravs do sistema
canalicular aberto, constituindo um sofisticado mecanismo de liberao das diversas substncias produzidas pelas plaquetas.
As organelas e os grnulos do interior
do citoplasma so de vrios tipos, como as
mitocndrias, os grnulos densos e os grnulos alfa, principalmente. Os grnulos alfa
contm o fator IV plaquetrio, que parti-
cipa da coagulao do sangue, e contm
ainda betatromboglobulina e fibrinognio.
Os grnulos densos contm reservas de
difosfato de adenosina (ADP), trifosfato de
adenosina (ATP), clcio e serotonina.
Outros grnulos do citoplasma contm ainda catalase, fosfatase cida e outras
enzimas. O sistema tubular denso contm
ciclo-oxigenase que converte o cido
aracdnico da membrana em prostaglandinas e em tromboxano A2, que a substncia vasoconstritora mais potente do organismo, cujo metabolito o tromboxano B2.
A adeso e a agregao das plaquetas
podem ser estimuladas por uma srie de
substncias, chamados agentes agregantes,
como ADP, adrenalina, trombina, colgeno, vasopressina, serotonina, cido aracdnico e tromboxano A2. Estes agentes
agregantes estimulam receptores da superfcie das plaquetas, que liberam clcio no
citoplasma e desencadeiam a sua contrao
e a compresso das organelas e grnulos.
O A.T.P. (trifosfato de adenosina), liberado pelas plaquetas, fornece energia
para a formao de um cogulo firme e
estvel.
A concentrao normal das plaquetas
no sangue de 150.000 a 400.000 por mililitro de sangue. Cerca de 30.000 plaquetas so formadas por dia, para cada mililitro de sangue; as plaquetas circulantes so
totalmente substituidas a cada 10 dias. A
quantidade mnima de plaquetas capaz de
assegurar a hemostasia adequada oscila em
torno de 50.000 por mililitro de sangue.
necessrio, contudo, que as plaquetas tenham funo normal, para que a
hemostasia se processe adequadamente. As
119
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
plaquetas danificadas se mantm na circulao porm, sua atividade fica prejudicada, no sendo eficazes para a manuteno
da hemostasia.
AS PLAQUETAS NA
CIRCULAO EXTRACORPREA
As plaquetas sofrem alteraes bastante significativas durante a circulao
extracorprea, que resultam em dificuldades com a hemostasia e a coagulao
do sangue.
O incio da perfuso se acompanha de
adsoro e deposio de proteinas do plasma nas superfcies internas dos tubos, oxigenadores e filtros, especialmente fibrinognio, gamaglobulinas e em menor proporo, a albumina. Forma-se uma verdadeira
camada de revestimento proteico, que em
cinco segundos tem a espessura de aproximadamente 5 Angstron e, em 1 minuto de
perfuso, alcana a espessura de 125
Angstron. Outras proteinas, inclusive fatores de coagulao e lipoproteinas, so
tambm adsorvidas, porm em menores
quantidades que o fibrinognio. Sobre esse
revestimento proteico, rico em fibrinognio, depositam-se plaquetas que so, dessa
forma, seqestradas da circulao.
Antes do incio da perfuso, certos produtos liberados pela inciso dos tecidos,
como a tromboplastina tissular, estimulam
as plaquetas de forma a reduzir a resposta
ao estmulo agregante da adenosina em
cerca de 40%. Esta reduo da capacidade
funcional das plaquetas coincide com a elevao do nvel de tromboxano B2 no plasma, de duas a quatro vzes o valor inicial.
A heparina tem um efeito direto sobre
120
as plaquetas; seu uso prolongado associado a reduo do nmero de plaquetas
circulantes. A trombocitopenia observada
na perfuso tambm resultado da ao da
heparina utilizada para a anticoagulao.
Nos primeiros minutos da perfuso,
ocorre um rpido desaparecimento das plaquetas do sangue circulante. Essa reduo
do nmero de plaquetas independe da hemodiluio e ocorre tanto com os oxigenadores de bolhas como com os oxigenadores de membranas, sendo, contudo, mais
acentuada nos primeiros, devido interface
com o gs (Fig. 6.6).
A conseqncia mais importante do
contato das plaquetas com os circuitos da
circulao extracorprea a reduo da
capacidade de agregao, causa das dificuldades com a hemostasia, logo aps o final da perfuso.
As plaquetas reagem sempre do mesmo modo aos diversos estmulos a que so
submetidas. O contato das plaquetas com
as superfcies no endoteliais dos circuitos
e aparelhos da circulao extracorprea
Fig. 6.6. Alteraes da quantidade de plaquetas
circulantes durante perfuso com oxigenadores de bolhas
e de membranas. Nos oxigenadores de membranas, a
recuperao do nmero de plaquetas mais rpida.
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
provoca a ativao plaquetria, que ocorre em quatro fases sucessivas:
1. Alteraes da forma da plaqueta;
2. Agregao primria;
3. Agregao secundria;
4. Depleo do conteudo granular.
Imediatamente aps o contato com as
superfcies estranhas do circuito, os elementos contrteis do citoplasma das plaquetas
produzem modificaes da sua forma, tornando-as globosas, mais arredondadas. Em
seguida, as plaquetas formam pequenos
aglomerados que podem ser desfeitos com
facilidade, denominados agregados primrios. Quando o estmulo que ativa as plaquetas de grande intensidade, os agregados primrios transformam-se em agregados secundrios, que j no se dissolvem,
formando agregados irreversveis. O estgio final da ativao das plaquetas a fase
de liberao ou depleo. Diversas substncias so liberadas das organelas e grnulos das plaquetas, para o plasma, das
quais as principais so o fator IV
plaquetrio, betatromboglobulina, fibrinognio e outras substncias dos grnulos alfa.
As granulaes densas liberam ADP, ATP,
clcio e serotonina.
As fases iniciais, de alteraes da forma das plaquetas e a formao dos agregados primrios, so reversveis. As fases irreversveis dependem da intensidade do
estmulo e apenas ocorrem na circulao
extracorprea, quando o traumatismo
muito intenso.
O nmero de plaquetas 3 minutos
aps o incio da perfuso de aproximadamente 78% do normal, caindo para
70% aps 5 minutos.
O nmero de plaquetas inativadas, de
forma discide aos 8 minutos de perfuso
de aproximadamente 57% do normal.
Aps os primeiros 15 minutos da perfuso
parece haver uma pequena recuperao das
plaquetas que mudaram de forma; a seguir
as alteraes se estabilizam e persistem em
um mesmo nvel at o final da perfuso.
Nesta fase, o troboxano B2 est elevado;
seus valores, contudo, dependem de variaes individuais.
O ponto mximo de reduo da funo plaquetria ocorre logo aps a administrao da protamina. Aps a perfuso,
e at o final das primeiras 24 horas, o nmero de plaquetas circulantes permanece
baixo, ligeiramente acima de 120 a 130.000/
ml. Os indicadores da funo plaquetria
vo se recuperando progressivamente.
Existe correlao entre a estrutura
microscpica das plaquetas e a sua funo, inclusive a secreo e eliminao de
seus produtos.
Pela microscopia eletrnica, o nmero
de plaquetas funcionalmente normais caiu
de 96% para 54%, oito minutos aps o incio da perfuso, o que significa que, praticamente, metade das plaquetas foi ativada por oito minutos de circulao extracorprea. Prximo ao final da perfuso h
um aumento considervel do teor de substncias liberadas pelas plaquetas no plasma, devido destruio de plaquetas e
formao de agregados secundrios. Outros estudos realizados com auxlio da
agregometria, com e sem estimulao pelo
ADP, mostraram resultados semelhantes
aos da microscopia eletrnica.
A hemodiluio causa trombo121
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
citopenia, pelo efeito dilucional sobre as
plaquetas. Numerosas plaquetas so tambm seqestradas pelo bao e pelo fgado,
retornando circulao, aps a saida de
perfuso. A quantidade normal de plaquetas de 150.000 a 300.000/mm3 cai, durante a circulao extracorprea, para cerca
de 100.000/mm3 e, ocasionalmente, para
valores mais baixos.
A reverso das alteraes das plaquetas na perfuso no imediata e parece
durar 6 a 8 horas, durante as quais podem
persistir alteraes de diversos grus na
hemostasia.
Quando a hemostasia difcil usa-se infundir concentrado de plaquetas na quantidade aproximada de 1 unidade de concentrado para cada 10 Kg de peso do paciente,
at um mximo de 5 a 6 unidades. As plaquetas preservadas em refrigerador, contudo,
tambm tem a funo deprimida e a recuperao completa da sua funo aps a
transfuso, tambm no imediata.
PLASMA
A fase lquida, no celular, do sangue,
constituida pelo plasma sanguneo. O
plasma uma soluo amarelo plida ou
mbar, viscosa, cuja composio tem 91%
de gua e 9% de substncias dissolvidas.
As principais substncias em soluo no
plasma so as proteinas, hidratos de carbono, lipdeos, eletrlitos, pigmentos, vitaminas e hormnios.
O plasma permite o livre intercmbio
de diversos dos seus componentes com o
lquido intersticial, atravs dos poros existentes na membrana capilar. As proteinas
plasmticas, devido s dimenses da sua
122
molcula, em condies habituais, no
atravessam a membrana capilar, permanecendo no plasma. Outras substncias dissolvidas no plasma e as molculas de gua,
contudo, se difundem livremente. A sada
da gua do plasma atravs os capilares
controlada pela presso coloido-osmtica
e pelo estado da permeabilidade das membranas; o que equivale dizer que as proteinas extraem gua dos tecidos para os capilares, mas, dificultam a sua sada dos capilares para os tecidos. A albumina o
principal responsvel pela manuteno da
presso coloido-osmtica do plasma.
O volume mdio de sangue de um adulto normal, de 60 ml/Kg de peso, corresponde aproximadamente a 35 ml de plasma e
25 ml de hemcias por cada quilograma,
quando o hematcrito est normal.
A concentrao de proteinas no plasma trs vezes maior que no lquido intersticial.
PROTEINAS PLASMTICAS
As proteinas so o principal componente do plasma; as suas molculas so de grandes dimenses e de elevado peso molecular;
so responsveis por diversas caractersticas biofsicas do plasma, tais como a densidade, a viscosidade e a presso osmtica.
As proteinas plasmticas participam dos
processos de nutrio, coagulao, regulao do equilbrio cido-base e da imunidade do organismo.
As proteinas do plasma so de trs tipos principais, a albumina, as globulinas e
o fibrinognio.
A albumina tem o peso molecular de
69.000 Dalton e corresponde a 55% do total
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
de proteinas plasmticas, ou seja 4 a 6 g%.
A sua principal funo est relacionada
manuteno da presso coloido-osmtica.
As globulinas, tem o peso molecular entre 80.000 e 200.000 Dalton; correspondem
a trs tipos principais: alfaglobulinas,
betaglobulinas e gamaglobulinas. Juntas, as
globulinas correspondem a 38% do total
de proteinas. As globulinas alfa e beta transportam diversas substncias ligadas s suas
molculas, para todo o organismo. As
gamaglo-bulinas e algumas betaglobulinas
participam do sistema de defesa e nos mecanismos de imunidade e alergia.
O fibrinognio tem peso molecular entre 350.000 e 400.000 Dalton; corresponde a 7% do total de proteinas do plasma.
O fibrinognio fundamental nos fenmenos da coagulao sangunea. Existe entre
100 e 700 mg de fibrinognio em cada
100ml de plasma. O fibrinognio formado no fgado e, devido ao seu grande peso
molecular, no costuma passar para o lquido intersticial. Contudo, quando a permeabilidade dos capilares est aumentada,
o fibrinognio pode surgir no interstcio,
em quantidades suficientes para permitir
coagulao.
As proteinas plasmticas so muito
sensveis aos diversos tipos de traumatismos, inclusive o trmico. Se submetidas
temperaturas elevadas, da ordem de 45o C,
podem ser desnaturadas ou destruidas, perdendo as suas funes.
Os demais constituintes do plasma so
importantes no equilbrio eletroltico, na
nutrio dos tecidos, no equilbrio cidobsico e no controle e regulao hormonal
do organismo.
GRUPOS SANGUNEOS
O sangue dos diferentes indivduos
possui propriedades antignicas e imunes
distintas. Anticorpos existentes no plasma
de um indivduo, podem reagir com os
antgenos existentes nas hemcias de outro indivduo. Raramente, os antgenos e
os anticorpos de dois indivduos, so iguais.
Quando ocorrem hemorragias ou anemia, freqentemente so necessrias transfuses de sangue para repor a volemia e
recompor a dinmica circulatria. A transfuso de sangue entre dois indivduos deve
respeitar a presena dos antgenos especiais dos gbulos vermelhos e dos anticorpos
do plasma sanguneo. Testes simples de laboratrio, permitem determinar o grupo
sanguneo dos indivduos ou a presena dos
antgenos e anticorpos existentes no sangue do doador e do receptor da transfuso.
A transfuso de sangue entre indivduos
de grupos sanguneos no compatveis,
determina reaes de aglutinao dos
eritrcitos, hemlise e outras reaes mais
severas que podem produzir a morte.
Foram identificados aproximadamente trezentos antgenos nas clulas sanguneas humanas, dos quais apenas trinta tem ocorrncia relativamente freqente. Os demais surgem apenas em algumas
pessoas de determinadas famlias, e so
muito raros.
Os antgenos existentes nas hemcias
so constituidos de glicolipdeos ou
mucopolissacardeos. Dentre os antgenos
conhecidos, dois grupos ou sistemas, ocorrem em todos os indivduos e podem causar reaes de incompatibilidade nas transfuses. So o sistema de antgenos ABO e
123
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
o sistema de antgenos Rh. O sangue classificado em grupos, conforme a presena
dos antgenos do sistema ABO nas hemcias e em tipos, conforme a presena dos
antgenos Rh no plasma.
SISTEMA ABO
Na superfcie das hemcias podem existir dois antgenos especficos desse sistema,
denominados antgeno A e antgeno B. Devido ao modo de transmisso hereditria desses antgenos, os diferentes indivduos podem
ter apenas um dos antgenos, ambos ou nenhum dos antgenos, em suas hemcias.
A presena dos antgenos A e B determinada por genes que existem em
cromossomas adjacentes, um gene em cada
cromossoma. A presena dos genes determina se a hemcia ir conter o antgeno.
Por essa razo, existem seis possibilidades
de combinaes genticas, uma vez que
cada indivduo recebe dois genes, um de
cada progenitor. As possibilidades genticas so OO, OA, OB, AA, BB e AB. Essas
combinaes de genes so conhecidas
como gentipos; cada indivduo possui um
dos seis diferentes gentipos. O gentipo
OO determina a presena do grupo sanguneo O; os gentipos OA e AA determinam o grupo sanguneo A; os gentipos OB
e BB determinam o grupo sanguneo B,
enquanto o gentipo AB determina o grupo sanguneo AB.
O sangue do grupo A contm hemcias com o antgeno A e o sangue do grupo
B contm hemcias com o antgeno B. O
sangue do grupo AB contm hemcias com
os antgenos A e B e o sangue do grupo O
contm hemcias sem nenhum antgeno.
124
Esses antgenos das hemcias tambm so
conhecidos como aglutingenos, pela sua
capacidade de produzir aglutinao das
clulas do sangue.
ANTICORPOS DO PLASMA
No plasma sanguneo existem anticorpos produzidos por determinao gentica
de cada um dos gentipos. Os indivduos
com sangue do grupo A, que tem o antgeno
A nas hemcias, possuem os anticorpos
anti-B. Os indivduos com sangue do grupo B, tem anticorpos anti-A; os indivduos
do grupo AB no tem anticorpos e os indivduos do grupo O possuem ambos os anticorpos, anti-A e anti-B. Os anticorpos do
plasma sanguneo tambm so chamados
de aglutininas, pela sua capacidade de reagir com os antgenos das hemcias produzindo aglutinao celular (Tabela 6.4).
As aglutininas (anticorpos) so gamaglobulinas, e a sua maior parte corresponde a molculas de imunoglobulinas das fraes IgM e IgG.
As aglutininas s comeam a ser formadas aps o nascimento, estando completas, aps os primeiros meses de idade.
SISTEMA OU FATOR Rh
Alm dos grupos sanguneos O,A,B e
AB outros sistemas de antgenos determi-
Tabela 6.4. Caractersticas dos Diferentes Grupos
Sanguineos.
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
nam caractersticas do sangue, dos quais o
mais importante o sistema ou fator Rh.
Existem seis tipos comuns de antgenos Rh, designados por C, D, E, c, d, e.
Um indivduo que tem o antgeno C, no
ter o antgeno c; ao contrrio, o indivduo que no tem o antgeno C, sempre
ter o antgeno c. A mesma relao ocorre com os antgenos D-d e E-e. A forma
de transmisso dos caracteres relacionados ao fator Rh, faz com que cada pessoa
tenha um antgeno de cada um dos trs
pares. Os antgenos C, D e E, podem estimular o desenvolvimento de anticorpos
anti-Rh, que causam reaes s transfuses. Os indivduos que possuem um dos
trs antgenos, C,D ou E so chamados
de Rh(+), ou Rh positivo. Os demais indivduos, que possuem os antgenos c, d
e, so chamados de Rh(-), ou Rh negativo. Cerca de 85% dos indivduos da populao branca so Rh positivo, enquanto os restantes 15%, so Rh negativo. Isto
significa, com relao ao sistema Rh que,
85% da populao tem o fator Rh presente no sangue, enquanto 15% no tem
o fator Rh. Na populao negra americana, cerca de 95% dos indivduos so
do tipo Rh positivo.
Outros fatores existentes, como os
antgenos M, N, S, P, Kell, Lewis, Duffy,
Kidd, Diego e Lutheran, podem ser importantes em circunstncias especiais,
no sendo, contudo, testados na prtica
clnica diria.
A distribuio dos diferentes grupos
sanguneos na populao de acordo com o
sistema ABO a da tabela 6.5. Quando
levamos em considerao a presena dos
dois sistemas A-B-O e Rh, a distribuio
dos diferentes tipos sanguneos na populao, passa a ser a da tabela 6.6.
Tabela 6.5. Grupos sanguneos na populao geral.
Tabela 6.6. Incidncia dos diferentes tipos sanguneos na
populao.
Para determinar o grupo sanguneo dos
indivduos, duas gotas de sangue so colocadas em lminas de vidro e misturadas a
amostras de soros que contm os anticorpos
anti-A e anti-B; observa-se o comportamento da mistura. Se houver aglutinao
com o soro anti-A, o sangue ser do grupo
A; se houver aglutinao com o soro antiB, o sangue ser do grupo B; se houver aglutinao com os dois soros, o sangue ser
do grupo AB e, se no houver aglutinao,
o sangue ser do grupo O.
A determinao da presena do fator
Rh feita de modo semelhante. O soro para
o teste contm anticorpos anti-Rh. Se houver aglutinao, o sangue ser do tipo Rh
positivo. Quando no h aglutinao, o
sangue do tipo Rh negativo.
125
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
TRANSFUSO DE SANGUE
A transfuso de sangue entre diferentes indivduos possvel, respeitando-se a
presena dos antgenos e anticorpos, o que
significa, na prtica, a determinao da
compatibilidade entre o sangue doador e o
sangue do indivduo receptor.
Em geral, a transfuso de sangue deve
respeitar os grupos sanguneos, cada qual
podendo servir como doador para indivduos do mesmo grupo, aps o resultados
das provas cruzadas. Em condies excepcionais, contudo, pode-se admitir a transfuso entre indivduos de grupos diferentes, desde que exista compatibilidade.
O sangue do grupo O no tem
antgenos e, portanto, pode ser doado a
qualquer indivduo do mesmo grupo, ou dos
grupos A, B ou AB. Entretanto, o sangue
do grupo O tem ambos os anticorpos antiA e o anti-B e, dessa forma, o indivduo do
grupo O, somente poder receber sangue
do mesmo grupo. O doador de sangue do
grupo A, poder doar ao receptor A; o grupo B, poder doar ao receptor B. As pessoas que tem sangue do grupo AB, podem
receber doao de qualquer tipo de sangue, porque o tipo de sangue AB, no possui anticorpos. Essas pessoas, so chamadas de receptores universais. Todos os que
tem o sangue tipo O, tem anticorpos antiA e anti-B, e por isso podem doar seu sangue a qualquer pessoa, mas s podem receber sangue do grupo O, so chamadas
doadores universais. As pessoas com Rh
positivo, s podem doar e receber sangue
de outro Rh positivo. Quem tem Rh negativo, pode doar para um Rh positivo, mas
s pode receber Rh negativo. O verdadei126
ro doador universal o tipo O Rh negativo, que pode ser administrado a qualquer
grupo sanguneo, com qualquer tipo de fator Rh. O diagrama da figura 6.7 mmostra
o sentido em que as transfuses podem ser
feitas, segundo os diferentes grupos sanguneos do sistema ABO.
REAES S TRANSFUSES
Antes de se fazer uma transfuso de
sangue, necessrio determinar o grupo
sanguneo do receptor e do doador e fazer a prova cruzada, ou seja testar o resultado da mistura do soro do receptor
com o sangue do doador. A ocorrncia de
aglutinao das hemcias indica incompatibilidade.
As reaes s transfuses por incompatibilidade de grupos sanguneos, incluem a hemlise dos eritrcitos, que pode ser
intensa, reaes alrgicas de diversos grus
e, ao choque anafiltico.
Outro tipo de reao s transfuses a
insuficincia renal aguda, que, nessas circunstncias, se acompanha de mortalidaOrientao das transfuses de sangue
A
O
AB
B
Grupo O: doador universal
Grupo AB: receptor universal
Fig. 6.7. Diagrama que representa o sentido em que as
transfuses de sangue so possveis entre os diferentes
indivduos. Os indivduos do grupo O, apenas podem
receber o sangue do seu prprio grupo sanguneo,porm
podem doas para os demais, A, B e AB. Os indivduos do
grupo A, podem doar para o mesmo grupo e para o grupo
AB, bem como podem receber do grupo O. Os do grupo B,
podem doar para o mesmo grupo e para o grupo AB; podem
contudo, receber do grupo O. Finalmente, os indivduos
do grupo AB podem doar apenas para os indivduos do
mesmo grupo e podem receber dos demais grupos.
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
de superior a 50%. A insuficincia renal aguda causada pela reao antgeno-anticorpo, com liberao acentuada de substncias txicas que produzem intensa vasoconstrio renal. A hemlise dos eritrcitos
circulantes, a queda da presso arterial, o
fluxo renal reduzido e o dbito urinrio
baixo, acompanham o quadro clnico. A
vasoconstrio renal e o choque circulatrio agem em conjunto, na origem da insuficincia renal.
As reaes anafilticas so o resultado
da ao das proteinas plasmticas do doador,
mas, algumas vezes, podem ser devidas aos
anticorpos do receptor que reagem com os
leuccitos do sangue transfundido, liberando inclusive a histamina dos basfilos.
TRANSMISSO DE DOENAS
PELAS TRANSFUSES
As transfuses de sangue ou dos seus
componentes no so procedimentos isentos de riscos. A transfuso de sangue coletado de portadores de diversas doenas
pode contaminar os indivduos receptores
das transfuses. Numerosas doenas podem ser transmitidas pelas transfuses, das
quais as mais importantes so as diversas
formas de hepatites e outras viroses, malria, doena de Chagas, sfilis e AIDS ou
SIDA (Sndrome da Imunodeficincia
Adquirida), alm de citomegalovirus e
retroviroses transmitidas pelos vrus
HTLV-I e HTLV-II, dentre outras. A transmisso da doena de Creutzfeldt-Jacob,
popularmente conhecida como uma variante do mal da vaca louca em seres humanos objeto de numerosos estudos,
principalmente na Inglaterra.
Alguns indivduos so portadores dos
agentes causadores das doenas, mas no
apresentam os seus sintomas ou sinais. So
chamados de portadores sadios. Quando o
sangue destes portadores doado, transmite a doena ao receptor, quase sempre de
uma forma aguda e de evoluo rpida.
imprescindvel verificar a presena
daquelas doenas, antes de liberar o sangue para a doao. Os portadores de vrus
ou outros agentes infecciosos no podem
ser doadores, em nenhuma circunstncia.
Os doadores de sangue, em nosso
meio, so habitualmente testados para a
presena de malria, doena de Chagas,
hepatites A, B,C e D, sfilis, e a presena
do vrus HIV, causador da AIDS.
Na atualidade, a grande preocupao
com a transmisso de doenas por intermdio das transfuses, est diretamente relacionada aos riscos da transmisso do vrus da imunodeficincia adquirida (HIV)
e outros no menos graves. A contaminao via transfuses, nos anos oitenta, vitimou uma grande quantidade de hemoflicos e outros receptores, em todo o mundo.
O vrus, aparentemente, pode permanecer
no organismo por vrios anos, sem que
hajam manifestaes da doena. Em determinadas circunstncias, contudo, a
doena pode se manifestar muito rapidamente, aps a transfuso do sangue
infectado pelo vrus.
Os elevados riscos da transmisso de
doenas pelas transfuses, tem estimulado
as equipes ao desenvolvimento de protocolos especiais, visando reduo do uso
de sangue, durante a cirurgia e a circulao extracorprea.
127
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
CUIDADOS NA CIRCULAO
EXTRACORPREA
Nos dias atuais h uma extraordinria
tendncia eliminar o uso de sangue ou,
pelo menos, reduzir o seu emprego na maioria dos procedimentos cirrgicos de grande porte.
Os cuidados com o manuseio do sangue, visam proteger no apenas os pacientes, mas tambm os profissionais que participam dos procedimentos.
Todos os indivduos que manuseiam
sangue, devem se precaver contra a possibilidade de transmisso de doenas. As
hepatites B, C e D, por exemplo, tem contaminado incontveis profissionais, entre
cirurgies, perfusionistas e enfermeiros de
centro cirrgico. Nos dias atuais, altamente recomendvel a vacinao preventiva de todo o pessoal do ambiente hospitalar, contra a hepatite B. O uso de luvas
de ltex alm da mscara facial, pelos perfusionistas, eficaz na preveno contra a
inoculao acidental de agentes do sangue
dos pacientes. As luvas devem ser usadas
no apenas durante o preparo do material
e da perfuso, mas durante todo o tempo
de contato com os equipamentos, at o seu
descarte final.
Em um estudo publicado em 1988,
Williams e cols. relatam a incidncia de
25% de infecco de cirurgies pelo vrus
da hepatite B. Fry, em 1993 discutiu a estimativa de 250 bitos dentre o pessoal hospitalar, no ano de 1992, em conseqncia
de infeco por hepatite B. Kurusz, em recente pesquisa nos Estados Unidos, encontrou que 4,6% do total de perfusionistas
em atividade contrairam doenas transmi128
tidas pelo sangue, possivelmente pelo manuseio durante a perfuso.
Diversos estudos tem demonstrado a
eficincia das medidas preventivas simples,
para proteo do pessoal contra contaminao acidental.
A expanso do vrus HIV exigiu a introduo de novas rotinas de cuidados no
ambiente hospitalar, que privilegia a proteo do pessoal que tem contato com os
pacientes.
Alm dos cuidados gerais contra o cruzamento de infeces, em casos de cirurgia de pacientes portadores do vrus HIV,
recomenda-se, ao final do procedimento e
antes do descarte dos equipamentos, circular no oxigenador, cardiotomia e circuitos usados, uma soluo de formaldeido a
10%, com o objetivo de esterilizar o material que vai ser desprezado. Esta medida
um importante complemento na proteo
contra infeco acidental do pessoal responsvel pelo manuseio do lixo hospitalar.
HEMOSTASIA E COAGULAO
DO SANGUE
Normalmente o sangue flui no organismo em contato com o endotlio vascular.
A fluidez do sangue depende, alm da integridade do endotlio, da velocidade do
fluxo sanguneo, do nmero de clulas sanguneas circulantes e, possivelmente, da
presena de heparina como anticoagulante natural, produzido pelos mastcitos.
Quando o sangue sai do interior dos
vasos, perde a fluidez, torna-se viscoso e
em pouco tempo forma um cogulo que,
posteriormente se retri, organiza ou dissolve. Este o fenmeno normal da
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
hemostasia, que consiste de um conjunto
de fenmenos que visam interromper a
perda continuada de sangue.
Existem trs mecanismos principais,
que se destinam a interromper a perda de
sangue atravs de um vaso lesado, e que
constituem os alicerces da hemostasia. Esses mecanismos so: resposta vascular, atividade plaquetria e coagulao do sangue.
1. RESPOSTA VASCULAR
Quando um vaso sanguneo lesado,
ocorre imediata contrao da sua parede,
que reduz o fluxo de sangue no seu interior, na tentativa de interromper a perda de
sangue. A reduo de calibre do vaso resulta da contrao das suas fibras musculares e o espasmo vascular local pode durar at 20 ou 30 minutos.
Os tecidos injuriados liberam diversas
substncias, como serotonina, histamina e
a tromboplastina tissular, modernamente
denominada fator tissular, capaz de atuar
nas duas vias da coagulao. Localmente,
a serotonina induz vasoconstrio que contribui para a eficincia do mecanismo
vascular da hemostasia. Tanto a serotonina,
como a histamina, se liberadas em grandes
quantidades, so absorvidas e, na circulao sistmica tem efeito vasodilatador, que
tende a reduzir a presso arterial e, em conseqncia minimizar a perda sangunea.
2. ATIVIDADE PLAQUETRIA
Quando as plaquetas ou trombcitos
entram em contato com os tecidos, no vaso
lesado, aderem regio da injria e agregam-se a outras plaquetas, formando um
tampo plaquetrio, que busca obstruir a
leso vascular. A primeira reao das plaquetas em contato com superfcies no
revestidas por endotlio, mesmo que de
natureza biolgica, a adeso. Aquele contato ativa as plaquetas que, imediatamente, aderem superfcie no endotelial. A
seguir, as plaquetas entumescem, assumem
formas irregulares com prolongamentos ou
pseudpodos, tornam-se pegajosas, secretam e liberam grandes quantidades de
enzimas, difosfato de adenosina (ADP) e
tromboxano A2. A presena da trombina
contribui para acelerar a agregao das plaquetas, enquanto o tromboxano A2 atua
sobre as plaquetas prximas, agregando-as
s plaquetas anteriormente ativadas, para
formar o grumo ou tampo. A serotonina
liberada pelas plaquetas, contribui para
manter a vasoconstrio. A converso do
trifosfato de adenosina em difosfato, libera energia para manter a agregao das plaquetas. O fator IV plaquetrio inibe a atividade anticoagulante da heparina, para
preservar o grumo e permitir a formao
do cogulo.
3. FORMAO DO COGULO
O mecanismo hemosttico final se
constitui na modificao das proteinas do
plasma para a formao do cogulo no local da injria do vaso, interrompendo a
perda de sangue. Substncias da parede
vascular lesada, das plaquetas, como o fator III plaquetrio, e proteinas plasmticas
aderem parede vascular lesada, iniciando o processo de coagulao do sangue. A
formao do cogulo resultado de complexas alteraes de um conjunto de proteinas do plasma, cuja etapa final a trans129
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
formao do fibrinognio em fibrina. A
fibrina a matriz proteica do cogulo, que
forma um emaranhado semelhante uma
rede, em que ficam retidas as plaquetas e
as clulas vermelhas que participam do cogulo formado.
O conjunto de proteinas plasmticas
que determinam a formao do cogulo
chamado sistema de coagulao.
Aps a sua formao, o cogulo sofre
um processo de organizao, que consiste
na invaso por fibroblastos que formaro
tecido conjuntivo cicatricial ou, simplesmente pode ser dissolvido, como resultado
da ao de enzimas proteolticas. Em geral, ambos os mecanismos ocorrem; o mais
precoce a lise ou dissoluo de parte do
cogulo, enquanto a sua organizao completa em tecido conjuntivo fibroso, demora de 5 a 10 dias.
SISTEMA DE COAGULAO
A hemostasia natural envolve mecanismos vasculares, plaquetrios e das proteinas plasmticas, atuando em sinergia
para interromper a perda de sangue atravs um vaso seccionado. Durante os procedimentos cirrgicos a hemostasia obtida por meios mecnicos e trmicos, como
a ligadura dos vasos seccionados ou a coagulao com o termocautrio.
A coagulao do sangue, cuja etapa final a converso do fibrinognio em
fibrina, envolve a participao de um grande nmero de substncias, possivelmente
mais de trinta, identificadas no sangue e
nos tecidos. Algumas dessas substncias
promovem a coagulao e so denominadas pr-coagulantes enquanto outras, ini130
bem a coagulao, sendo denominadas
anticoagulantes. Em condies normais,
predomina a ao das substncias anticoagulantes e o sangue circulante no coagula. Quando, entretanto, um vaso se rompe, a atividade dos pr-coagulantes na rea
lesada torna-se predominante e se desenvolve um cogulo.
De uma maneira simplificada, podemos
dizer que a formao do cogulo ocorre em
trs etapas principais: a. um complexo de
substncias, denominado ativador da
protrombina formado, em resposta rotura
de um vaso, b. o ativador da protrombina
promove a converso da protrombina em
trombina, e c. a trombina atua como uma
enzima, para converter o fibrinognio em
filamentos de fibrina, que retm as plaquetas,
hemcias e plasma, formando o cogulo
propriamente dito.
A formao do cogulo de fibrina
iniciada pela ativao de um grupo de proteinas do sangue, que constituem um sistema complexo e no inteiramente conhecido, denominado sistema de coagulao
do sangue. O sistema de coagulao funciona em cascata, mediante reaes em
cadeia, em que uma reao desencadeia ou
acelera a reao seguinte.
As proteinas da cascata da coagulao,
circulam continuamente no sangue e so
conhecidas como fatores da coagulao. Esses fatores so representados internacionalmente por algarismos romanos. Reagem em
cadeia, em uma determinada seqncia,
diferente da sua seqncia numrica que
representa a ordem em que os fatores foram descobertos. A tabela 6.7, lista os fatores da coagulao pela ordem numrica,
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
com os nomes pelos quais so mais conhecidos. Note que a relao no inclui o fator VI, que ainda no foi descrito.
Tradicionalmente a coagulao do sangue tem sido estudada de um modo simplificado, para favorecer a compreenso desse fenmeno de alta complexidade. Os mecanismos da coagulao do sangue,
conforme a natureza do estmulo desencadeador, tem sido propostos como se ocorressem seguindo duas vias distintas, conhecidas como via intrnseca e via extrnseca,
capazes de serem ativadas simultnea ou
separadamente, convergindo ambas para
uma via terminal comum que consiste na
formao do cogulo. A coagulao, contudo, na prtica ocorre de um modo bastante diferente e as vias intrnseca e extrnsecas so interdependentes e sem limites to precisos quanto se aceitava, at
alguns anos passados. O fator tissular (FT)
o desencadeador do fenmeno da coagulao e pode atuar sobre fatores da coagulao tanto da via intrnseca quanto da
via extrnseca.
Tabela 6.7. Fatores da coagulao do sangue.
A via mais comum a via extrnseca,
que ocorre pela leso de vasos sanguneos
ou partir de estmulos tissulares. Na via
extrnseca, uma substncia dos tecidos, a
tromboplastina (FT) liberada no local da
injria do endotlio vascular e desencadeia
as reaes da coagulao. A tromboplastina
tecidual ou fator III, se combina com o fator VII (acelerador da converso da
protrombina do soro), na presena do fator IV (clcio), para ativar o fator X (
Stuart-Prower), conforme o diagrama da
figura 6.8.
A via intrnseca envolve a ativao de
um fator existente no sangue, o fator
Hageman (fator XII), tambm conhecido
como fator de ativao pelo contato. Este
fator se ativa ao contato com qualquer superfcie que no seja o endotlio vascular
e, em seguida ativa o fator XI. Ambos os
fatores foram a ativao do fator IX que,
por uma vez ativado, converte o fator VIII
Fig. 6.8. Representa a via extrnseca da coagulao do
sangue partir da estimulao pela tromboplastina
tissular.
131
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
(fator anti-hemoflico) sua forma ativa,
que forma um complexo com o clcio e um
fosfolipdeo (fator plaquetrio III). Este
complexo do fator VIII, clcio e o
fosfolipdeo, ativa o fator X (Fig. 6.9).
As vias extrnseca e intrnseca de ativao da coagulao iniciam-se partir de
estmulos diferentes, mas convergem na
ativao do fator X. O resultado da ativao da via extrnseca ou da via intrnseca
o mesmo, a presena do fator X ativado.
A via extrnseca mais veloz que a intrnseca. partir da ativao do fator X, ambas
as vias, extrnseca e intrnseca, seguem a
mesma via comum de estimulao, at a
formao do cogulo final (Fig. 6.10).
O fator X ativado, juntamente com
o fator V (pr-acelerina), o fator IV (Clcio) e o fosfolipdeo convertem o fator II
(protrombina) em trombina. A trombina
estimula uma srie de reaes, como a
agregao plaquetria, a liberao de
serotonina, ADP e do fator plaquetrio
IV. Contudo, a ao mais importante da
trombina ocorre sobre o fator I (fibrinognio). A trombina fragmenta o fibrinognio em um monmero da fibrina e dois
outros peptdeos, os fibrinopeptdeos A
e B. Os monmeros da fibrina se unem
para formar os filamentos de fibrina, atravs a polimerizao. Os filamentos de
fibrina aderem entre s, estimuladas pelo
fator XIII, o fator estabilizador da fibrina,
que exige a presena da trombina e do
clcio. A malha de fibrina resultante, engloba plaquetas, hemcias e plasma, formando o cogulo definitivo. A antitrombina III (ATIII) um inibidor da
trombina circulante e contribui para impedir a polimerizao da fibrina.
As plaquetas retidas no interior dos
cogulos liberam certas substncias prcoagulantes. medida que o cogulo se
retrai, as bordas dos vasos sanguneos rompidos aproximam-se, para o final da
hemostasia.
Fig. 6.9. Representa a via intrnseca da coagulao do
sangue, partir da ativao pelo fator XII (Hageman).
Fig. 6.10. Representa a via comum da coagulao do
sangue, partir da ativao do fator X (Stuart-Power). O
estmulo ativador inicial pode ter percorrido a via
extrnseca, a via intrnseca ou ambas as vias. A coagulao
sempre ocorre atravs aquelas vias, independente da
natureza do estmulo inicial.
132
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
Uma vez formado, um cogulo sanguneo pode se estender ao sangue
circundante, ou seja, o prprio cogulo
pode iniciar um ciclo vicioso para promover mais coagulao. Uma das causas
desse fenmeno a ao proteoltica da
trombina sobre diversos outros fatores da
coagulao, alm do fibrinognio. A
trombina possui um efeito proteoltico direto sobre a protrombina, que induz a formao de mais trombina. Isto no ocorre regularmente no interior dos vasos porque o fluxo sanguneo remove a trombina
e outros pr-coagulantes, liberados durante o processo de coagulao, com
grande rapidez. Contudo, pode ocorrer
com sangue extravasado para o pericrdio
ou para o mediastino.
O sistema fibrinoltico, que dissolve os
cogulos formados incorporado ao sistema de hemostasia. A fibrinlise (dissoluo do cogulo) depende do plasminognio ou da pr-fibrinolisina, uma globulina
que, quando ativada, transforma-se em
plasmina. A plasmina uma enzima que
digere o filamento de fibrina e outras substncias como o fibrinognio, o fator V, o
fator VIII, a protrombina e o fator XII.
A heparina atua no sistema de coagulao, impedindo a ao da trombina sobre o fibrinognio, mediante a formao de
um complexo heparina-antitrombina III.
O sistema fibrinoltico de extraordinria importncia na delimitao da formao de trombos intravasculares; ativado ao mesmo tempo que a cascata de
coagulao. O ativador tissular do plasminognio (t-Pa) sintetisado pelas clulas
endoteliais e funcionam como o principal
ativador do plasminognio. Esse mecanismo de grande importncia na manuteno do equilbrio entre as foras que tendem a produzir coagulao e as que tendem a impedi-la.
DOENAS HEMORRGICAS
Existem doenas que afetam os sistemas da hemostasia ou da coagulao e predispem os seus portadores a fenmenos
hemorrgicos espontneos ou desencadeados por procedimentos cirrgicos. Alteraes do fgado podem produzir deficincia de vitamina K e produzir hemorragias,
em circunstncias semelhantes. As principais alteraes da coagulao e da
hemostasia so:
1. Deficincia de vitamina K
2. Hemofilia
3. Trombocitopenia
Algumas doenas hepticas podem
diminuir a formao de protrombina e
dos fatores VII, IX e X. A vitamina K
sintetizada por bactrias no aparelho
gastro-intestinal. A deficincia da vitamina K ocorre como resultado de absoro insuficiente de gorduras e da vitamina, pelo aparelho gastrointestinal. A
diminuio ou a ausncia de bile impedem a digesto e a absoro pelo aparelho gastrointestinal. Por essas razes, as
doenas hepticas podem diminuir a produo de vitamina K. Em um paciente
com deficincia de vitamina K, quando
seu fgado tem, pelo menos metade da
funo normal, a administrao de vitamina K, pode promover a formao de
fatores da coagulao em deficit no sangue circulante.
133
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
HEMOFILIA
Alguns tipos de deficincias hereditrias da coagulao, que causam sangramento excessivo so as hemofilias. Cerca de
83% das pessoas que apresentam sndrome
hemoflica, tem deficincias do fator VIII.
Deficincias do fator XI so apontadas em
2% daqueles indivduos.
Modernamente consideram-se trs tipos de hemofilias. A hemofilia clssica,
conhecida como hemofilia A, que ocorre
no sexo masculino devida deficincia
da atividade hemosttica do fator VIII. A
hemofilia B resulta da deficincia do fator
IX, enquanto a deficincia do fator XI da
cascata da coagulao produz a hemofilia
C, que a forma mais rara.
TROMBOCITOPENIA
Trombocitopenia corresponde reduo do nmero de plaquetas (trombcitos)
em circulao no sangue perifrico. Esta
alterao predispe os indivduos pequenas hemorragias em todos os tecidos do
corpo. Estas hemorragias, em geral, provm
dos capilares e no dos vasos maiores, como
na hemofilia. A maior parte das pessoas que
possuem trombocitopenia, desenvolve
anticorpos especficos que destroem as plaquetas. Em alguns casos, esses anticorpos
apareceram em conseqncia de transfuses de sangue recebidas, porm, em geral,
a causa mais comum est relacionada
alteraes auto-imunes, que favorece o desenvolvimento de anticorpos contra as prprias plaquetas.
A leso da medula ssea por irradiao,
a aplasia da medula por hipersensibilidade a
medicamentos e a anemia perniciosa, podem
134
tambm produzir grande diminuio no nmero de plaquetas, abaixo do nvel mnimo
necessrio hemostasia adequada.
Algumas crianas portadoras de cardiopatias congnitas cianticas, com grus
elevados de poliglobulia e hematcrito superior a 60%, podem apresentam distrbios da coagulao. Nestes casos, com freqncia coexiste reduo da concentrao de
alguns dos fatores da coagulao. Estas
deficincias tornam-se manifestas imediatamente aps a circulao extracorprea.
Algumas vezes, embora o nmero de
plaquetas circulantes seja normal, a sua
funo deficiente. Esta condio conhecida como trombastenia. Modernamente a aspirina e uma variedade crescente
de agentes farmacolgicos inibem as propriedades de adeso plaquetria, como preveno das tromboses, resultando em um
fenmeno semelhante trombastenia.
TRANSPLANTES COM E
SEM COMPATIBILIDADE ABO
O transplante de rgos pode ser
considerado um dos grandes avanos da
cincia mdica do sculo XX. No por
acaso, dentre os principais ganhadores
do Prmio Nobel incluem-se alguns dos
pesquisadores e pioneiros das tcnicas de
transplante de rgos. O grande fascnio
exercido pelos transplantes de rgos
deve-se ao fato de que a tcnica pode ser
aplicada a uma variedade de rgos, contribuindo para a recuperao funcional
de indivduos que, de outra forma, estariam condenados morte ou uma existncia com severas limitaes.
A atual pletora de conhecimentos e
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
potenciais aplicaes das clulas-tronco
totipotenciais (embrionrias) tem desviado as atenes da comunidade cientfica para os transplantes de tecidos e de
rgos e, conseqentemente, tem estimulado a busca de doadores compatveis ou
a busca de mtodos capazes de minimizar os efeitos das pequenas incompatibilidade que, naturalmente, so decorrentes da necessidade de aproveitar-se ao
mximo o sempre escasso nmero de
doadores disponveis.
O transplante de rgos tornou-se uma
modalidade de tratamento de pacientes
portadores de diversas doenas, em seus estgios terminais. Vrios tipos de transplantes de rgos so feitos com grande margem de sucesso enquanto outros transplantes so tecnicamente mais complexos ou
dependem de uma compatibilidade quase
absoluta para que no haja rejeio. A barreira imunitria, contudo, ainda constitui
o grande obstculo, aceitao dos rgos
transplantados. Uma linha de drogas antirejeio procura domar a acentuada atividade do sistema de defesa do organismo
que interpreta o rgo transplantado como
um agente agressor ou invasor.
TRANSFUSO (TRANSPLANTE)
DE SANGUE
O transplante mais realizado no mundo o transplante de tecidos sangue-sangue, ou seja, a transfuso de sangue entre
dois indivduos, doador e receptor. A compatibilidade exigida refere-se exclusivamente aos sistemas de antgenos ABO e
Rh. Recomenda-se sempre transfundir
sangue do mesmo tipo, exceto em circuns-
tncias especiais, cada vez mais raras. As
incompatibilidades de outros sistemas sanguneos so detectadas pelas provas cruzadas. A grande disponibilidade de doadores,
em relao aos demais transplantes, faz
com que um doador compatvel seja encontrado com grande facilidade.
Ao contrrio do que ocorre com a
crnea, os rgos vascularizados e habitualmente transplantados, como corao,
pulmo, pncreas, rim e fgado, representando os principais, requerem uma avaliao completa do doador, em busca de doenas capazes de serem transmitidas ao receptor. Alm disso, a remoo dos rgos a
serem transplantados apenas pode ser feita aps a constatao da morte cerebral
que requer uma bateria de exames e avaliaes neurolgicas por um grupo de especialistas, conforme um protocolo definido
pela legislao especfica.
Em linhas gerais podemos dizer que um
potencial doador deve preencher os seguintes critrios:
No apresentar insuficincia orgnica
que comprometa a funo dos rgos ou
tecidos que possam ser doados, como insuficincia renal, heptica, cardaca, pulmonar, pancretica e medular;
No apresentar doenas infecto-contagiosas transmissveis por meio do transplante, como soropositivos para HIV, hepatite C, doena de Chagas, etc...
No apresentar sepsis ou falncia mltipla de rgos;
No apresentar neoplasias, exceto tumores restritos ao sistema nervoso central,
carcinoma de pele;
No apresentar doenas degenera135
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
tivas crnicas e com carter de transmissibilidade.
A compatibilidade sangunea (sistema
ABO) e a compatibilidade tissular (histocompatibilidade) so condies essenciais
para o sucesso de um transplante de rgos, ainda que, em alguns centros e para
determinados transplantes, o protocolo seja
resumido apenas tipagem ABO e ao uso
prvio e posterior de potentes drogas
imunosupressoras. Esse, em verdade, o
caso mais comum na maioria dos centros,
devido s dificuldades logsticas para fazer
o encontro do melhor receptor para o doador disponvel.
No caso do transplante renal, com doador vivo, alm da compatibilidade ABO,
so realizadas a prova cruzada HLA e a
tipagem HLA em seis loci, A, B e DR. No
caso de doadores aparentados usa-se tambm a cultura mista de linfcitos. Neste
caso geralmente escolhido aquele que,
gozando de boa sade, apresente melhor
compatibilidade imunolgica.
Quando se trata de um doador cadver, so necessrias a tipagem ABO e a ausncia de anticorpos linfotxicos, evidenciada atravs da prova cruzada HLA com
linfcitos T e B. O receptor que apresentar o perfil de antgenos mais aproximado
do perfil do doador ser o receptor mais
adequado para o transplante.
Em todos os casos indispensvel a cobertura do receptor com um esquema farmacolgico capaz de suprimir as defesas
imunolgicas e, desse modo, tornar improvvel a rejeio. Vrias combinaes de
drogas incluem glicocorticoides, ciclosporina e outros agentes imunosupressores.
136
O sistema de antgenos que determina
a histocompatibilidade genericamente
denominado HLA, sigla derivada de
Human Leukocyte Antigens. Corresponde uma srie de antgenos presentes nas
clulas brancas do sangue (leuccitos) e
nas clulas dos demais tecidos.
O sistema HLA possui mais de 100
genes, que so responsveis pela presena
de antgenos HLA na superfcie da membrana de nossas clulas. A tipagem de tecidos o nome dado ao teste que identifica as caractersticas do sistema HLA. Esta
tipagem fundamental para as pessoas que
recebem transplantes de rgos.
Os conjuntos de HLA so herdados dos
nossos pais, portanto, possvel identificar
qual conjunto de informaes so provenientes do pai e qual conjunto herdado da
me, se a tipagem for realizada para a famlia.
Os antgenos mais freqentemente
analisados so representados por letras, (A,
B, C)/(G, H, I).
possvel que entre os seus familiares
(avs, tios, sobrinhos, etc..) voc encontre
algum indivduo com caractersticas do sistema HLA semelhantes ao seu. Entre indivduos sem graus de parentesco, as
chances de encontrar-se caractersticas
semelhantes do sistema HLA variam entre 1:100 e 1:100.000.
TRANSPLANTES SEM
COMPATIBILIDADE ABO
O transplante cardaco em crianas,
especialmente, neonatos portadores de leses de extrema gravidade, como o caso
da hipoplasia do corao esquerdo, algumas vezes apenas podem sobreviver por um
CAPTULO 6 FISIOLOGIA DO SANGUE
curto perodo de tempo. Nesses casos, essas crianas ou so colocadas em sistemas
de suporte circulatrio temporrio, enquanto aguardam um doador compatvel
ou sucumbem sua doena.
A disponibilidade de doadores nessa
faixa etria mnima. Alm dessa restrio a necessidade de compatibilidade
ABO e tissular costumam inviabilizar uma
substancial parcela dos poucos transplantes possveis.
Com o objetivo de otimizar o aproveitamento dos poucos doadores existentes,
algumas equipes de cirurgia cardaca optaram por realizar os transplantes independentemente de compatibilidade de qualquer natureza. Assim, a compatibilidade
ABO deixa de ser um pr-requisito essencial para a realizao do transplante.
Essa conduta tem oferecido bons resultados iniciais. A incidncia de rejeio
maior do que quando a compatibilidade
ABO respeitada mas, apesar disso, um
maior nmero de vidas podem ser salvas,
devido ao melhor aproveitamento dos poucos rgos disponveis para os muitos receptores das listas de espera.
TESTES DE COAGULAO
DO SANGUE
A perfuso, com alguma freqncia se
acompanha de dificuldades com a
hemostasia e a coagulao, mesmo aps a
neutralizao adequada da heparina administrada para o procedimento. Esta tendncia hemorragia ps-perfuso maior nas
crianas de baixo peso, ocorrendo, contudo, em qualquer faixa etria.
A cirurgia cardaca com circulao extracorprea requer o estudo pr-operatrio da coagulao do sangue. Os testes mais
comumente usados, so os tempos de coagulao e sangramento, contagem de plaquetas, tempo e atividade de protrombina
e tempo parcial de tromboplastina. A atividade de protrombina mnima aceitvel
para uma coagulao adequada, aps a circulao extracorprea, corresponde a
aproximadamente 75 a 80% do normal.
O conjunto de testes acima listados,
constitui um bom rastreamento de deficincias qualitativas da hemostasia e da coagulao. Valores anormais de qualquer
dos testes, indicam a necessidade de estudos mais detalhados da coagulao e avaliao por especialistas.
137
FUNDAMENTOS DA CIRCULAO EXTRACORPREA
REFERNCIAS SELECIONADAS
1.
Brown, B. Hematology Principles and Procedures.
4 th. edition Philadelphia 1984.
2.
Cooper, J.R.; Slogoff, S. Hemodilution and Priming
Solutions for Cardiopulmonary Bypass. in, Gravlee,
G.P.; Davis, R.F; Utley, J.R.: Cardiopulmonary
Bypass. Principles and Practice. Williams & Wilkins,
Baltimore, 1993.
3.
Dailey, J. F. The concept of blood. Daileys notes
on blood. Medical Consulting Group Somerville,
M.A.; 1 1991.
4.
Dailey, J. F. The origin of blood. Daileys notes on
blood. Medical Consulting Group Somerville, M.
A.; 3 1991.
5.
Friedman, J.J. Functional properties of blood. in,
Selkurt, E.E.: Physiology. 3rd. edition. Little, Brown
& Co. Boston, 1971.
6.
Fry, D.E. HIV and Othe Viruses in Surgery: A
Continued Occupational Risk. in Karp, R.B.; Laks,
H.; Wechsler, A.S.: Advances in Cardiac Surgery.
Mosby Year Book, St. Louis, 1993.
7.
Gerberding, J. L.; Lettell, C., Tarkington, A. Risks
of exposure of surgical personnel to patients blood
during surgery at San Francisco General Hospital.
New Engl. J. Med. 322, 1788 1793 - 1990.
8.
Gordon, R. J.;Ravin, M.; Rawitscher, R. E.; Daicoff,
G. R. Changes in arterial pressure, viscosity and
resistance during cardiopulmonary bypass. J.
Thorac. Cardiovasc. Surg. 69, 552 -561 1975.
9.
Gravlee, G.P. Anticoagulation for
Cardiopulmonary Bypass. in Gravlee, G.P.; Davis,
R.F.; Utley, J.R.: Cardiopulmonary Bypass. Principles
and Practice. Williams & Wilkins, Baltimore, 1993.
10. Guyton, A. C. Fisica do sangue,fluxo samguineo e
presso. Tratado de Fisiologia Mdica ; 18,178 - 188,
1986.
11. Guyton, A. C. Eritrcitos, Anemia e Policitemia.
Tratado de Fisiologia Mdica 5, 50 - 56, 1986.
12. Guyton, A. C. Formao da hemoglobina. Tratado de Fisiologia Mdica. 53 - 54, 1986.
13. Hovig, T. The role of platelets in thrombosis.
Thromb Diather Haemorrhag. 42, 137 - 153, 1970.
14. Kurusz, M. Blood and Blood Handling. in Reed,
C.C.; Kurusz, M.; Lawrence, A.E., Jr. Safety and
Techniques in Perfusion. Quali-Med, Inc. Texas,
1988.
138
15. Laver, M. B., Buckley, M. J. Extreme hemodilution
in the surgical patient. Hemodilution theoretical
basis and clinical applications. Messner, K., Schimid
Schoenbein, H. eds. Basel; Karger. 215 - 222, 1972.
16. Long, D.M. Fluorocarbons and synthetic bloods:
Capabilities and future uses. in Utley, J.R.:
Pathophysiology
and
Techniques
of
Cardiopulmonary Bypass. Vol. I, Williams &
Wilkinson, Baltimore, 1982.
17. Matta, H.; Thompson, A.M.; Rainey, J.B. Does
wearing two pair of gloves protect operating theatre
staff from skin contamination ? Br. J. Med. 279, 597598, 1988.
Você também pode gostar
- Fisiologia Do SangueDocumento22 páginasFisiologia Do SangueVanessa ArrudaAinda não há avaliações
- RESUMODocumento13 páginasRESUMOKim BandeAinda não há avaliações
- Hematologia - Formação Do Sangue e EritrocitosDocumento5 páginasHematologia - Formação Do Sangue e EritrocitosLEILA TEIXEIRAAinda não há avaliações
- Hematologia Apostila 2Documento54 páginasHematologia Apostila 2Rafa Arshavin100% (2)
- Eritrócitos e EritropoeseDocumento16 páginasEritrócitos e EritropoeseLarissa Barboza CardosoAinda não há avaliações
- HematoloiaDocumento6 páginasHematoloiarafael souzaAinda não há avaliações
- Sistema HematopoiéticoDocumento13 páginasSistema Hematopoiéticoalinecoimbra3Ainda não há avaliações
- A Hematopoese - A Formação Do SangueDocumento10 páginasA Hematopoese - A Formação Do SangueCristiano Gley Carvalho MoreiraAinda não há avaliações
- Biologia Modulo3Documento44 páginasBiologia Modulo3GleidsonRodriguesAinda não há avaliações
- Apostila de HematologiaDocumento65 páginasApostila de Hematologiabbaa20ddAinda não há avaliações
- Resumo de Fisiologia - Prova Parcial 09-11-2022Documento26 páginasResumo de Fisiologia - Prova Parcial 09-11-2022Thamily OliveiraAinda não há avaliações
- Fisiologia HematológicaDocumento10 páginasFisiologia HematológicaaeadaAinda não há avaliações
- Apostila 1 Hemato para Impressão - 2 (2019)Documento4 páginasApostila 1 Hemato para Impressão - 2 (2019)LEILA TEIXEIRAAinda não há avaliações
- Introdução Á Hematologia IDocumento25 páginasIntrodução Á Hematologia IMaria ClaraAinda não há avaliações
- Hematopoiese FinalDocumento5 páginasHematopoiese FinaleduardaferreirabarbosaAinda não há avaliações
- Assistência de Enfermagem Ao Paciente Com Distúrbios HematológicosDocumento8 páginasAssistência de Enfermagem Ao Paciente Com Distúrbios Hematológicosingrid.naruto.fbAinda não há avaliações
- Histologia Do Sangue - Células Do Sangue - Resumos MedicinaDocumento17 páginasHistologia Do Sangue - Células Do Sangue - Resumos MedicinaAdriana CravoAinda não há avaliações
- Trabalho Citologia-5Documento47 páginasTrabalho Citologia-5kynhoAinda não há avaliações
- HematopoieseDocumento3 páginasHematopoieseSara Veiga AndradeAinda não há avaliações
- Composição Do SangueDocumento9 páginasComposição Do SangueMA TE USAinda não há avaliações
- Tecido SanguíneoDocumento4 páginasTecido SanguíneoMaria AbellaAinda não há avaliações
- TEMA 1 OkDocumento27 páginasTEMA 1 OkDaniela LimaAinda não há avaliações
- Fisiologia Do Sistema CardiovascularDocumento32 páginasFisiologia Do Sistema CardiovascularNúbia SantosAinda não há avaliações
- Resumo Hematologia BásicaDocumento9 páginasResumo Hematologia BásicaBiouma MadeiraAinda não há avaliações
- Hematologia Basica Parte 3 - HematopoeseDocumento16 páginasHematologia Basica Parte 3 - HematopoeseP2P3ESTATISTICA CIPTUR100% (1)
- Resumo - O Sangue e HematopoeseDocumento3 páginasResumo - O Sangue e HematopoeseMarcos Antonio D'Queiroz JuniorAinda não há avaliações
- Módulo II - Unid. 05 HematologiaDocumento44 páginasMódulo II - Unid. 05 HematologiaMarcelaAinda não há avaliações
- Sangue - Funções, Tipos e Componentes - Mundo EducaçãoDocumento17 páginasSangue - Funções, Tipos e Componentes - Mundo EducaçãoHospital Agamenon MagalhãesAinda não há avaliações
- O SangueDocumento13 páginasO SangueNathan GuilhermeAinda não há avaliações
- AULA1Documento37 páginasAULA1Faizal abacar SaideAinda não há avaliações
- Introduçao Ao SangueDocumento12 páginasIntroduçao Ao SangueFernando MarquesAinda não há avaliações
- HEMATOLOGIADocumento56 páginasHEMATOLOGIAIFÁC EDUCACIONALAinda não há avaliações
- Origem e Formação Dos LeucócitosDocumento3 páginasOrigem e Formação Dos LeucócitosAline PaulinoAinda não há avaliações
- 4 - Interpretação de Exames LaboratoriaisDocumento74 páginas4 - Interpretação de Exames LaboratoriaisGermana Leitao100% (1)
- Aula 11classeDocumento11 páginasAula 11classenelsonaugusto496Ainda não há avaliações
- Estudo Dirigido - Sangue, Hematopoiese e CartilagemDocumento5 páginasEstudo Dirigido - Sangue, Hematopoiese e CartilagemGabriel ResendeAinda não há avaliações
- Aula 07 - Tecido SanguíneoDocumento8 páginasAula 07 - Tecido SanguíneoGabriella ASAinda não há avaliações
- Trabalho BiologiaDocumento5 páginasTrabalho BiologiaBiah AmorimAinda não há avaliações
- Hematologia Básica LDocumento34 páginasHematologia Básica LgilsilAinda não há avaliações
- Apostila de Hematologia PDFDocumento32 páginasApostila de Hematologia PDFEdi Paiva100% (1)
- Aula 4 - Tecido HematopoieticoDocumento28 páginasAula 4 - Tecido HematopoieticoOilson SartoriAinda não há avaliações
- Introdução Principais Tipos de LeucócitosDocumento2 páginasIntrodução Principais Tipos de LeucócitosMaria LopesAinda não há avaliações
- Hematopoiese - Formação Das Celulas SanguineasDocumento10 páginasHematopoiese - Formação Das Celulas SanguineaszilmarAinda não há avaliações
- Tecido HematopoiéticoDocumento24 páginasTecido HematopoiéticoMariSuzarte100% (5)
- AsdffdDocumento12 páginasAsdffdeulerluizodontoAinda não há avaliações
- SangueDocumento7 páginasSangueAntonio SantiagoAinda não há avaliações
- Sistema CirculatorioDocumento10 páginasSistema Circulatorioelaine santosAinda não há avaliações
- SangueDocumento8 páginasSangueMarcos TemboAinda não há avaliações
- Hematologia Basica Parte 2 - Composição Do SangueDocumento21 páginasHematologia Basica Parte 2 - Composição Do SangueP2P3ESTATISTICA CIPTURAinda não há avaliações
- Aula 1 HematologiaDocumento32 páginasAula 1 HematologiaIrane OlirioAinda não há avaliações
- Tutorial 01Documento13 páginasTutorial 01gabriel zeferinoAinda não há avaliações
- HematologiaDocumento38 páginasHematologiaMirlane Andrade costaAinda não há avaliações
- Células Do Sangue e HematopoieseDocumento6 páginasCélulas Do Sangue e HematopoieseTayna BrasileiroAinda não há avaliações
- Apostila Tecido Sanguà Neo - CNMDocumento9 páginasApostila Tecido Sanguà Neo - CNMDébora GuedesAinda não há avaliações
- Cabeçalho de Literatura Com ResoluçaoDocumento3 páginasCabeçalho de Literatura Com ResoluçaoJulia Baldo DouradoAinda não há avaliações
- VI Unidade - III Aula - III AtividadeDocumento3 páginasVI Unidade - III Aula - III AtividadePedro Henrique Souza de SantanaAinda não há avaliações
- Rejuvenescer Com O Plasma Sanguíneo Dos JovensNo EverandRejuvenescer Com O Plasma Sanguíneo Dos JovensAinda não há avaliações