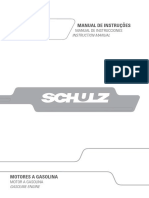Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Materiais de Constru o Mec Nica II PDF
Materiais de Constru o Mec Nica II PDF
Enviado por
Suzan Magno Leão NoschangTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Materiais de Constru o Mec Nica II PDF
Materiais de Constru o Mec Nica II PDF
Enviado por
Suzan Magno Leão NoschangDireitos autorais:
Formatos disponíveis
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
MATERIAIS DE CONSTRUO
MECNICA II
Prof. Cludio Roberto Losekann, Dr. Eng.
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
NDICE ANALTICO
NDICE ANALTICO ............................................................................................... II
NDICE DE FIGURAS ........................................................................................... VI
1 CLASSIFICAO DE METAIS ........................................................................ 1
1.1 - INTRODUO ........................................................................................... 1
1.2 - CLASSIFICAO ....................................................................................... 1
1.2.1 - METAIS ESCUROS ............................................................................. 1
1.2.2 - METAIS CLAROS ................................................................................ 2
2 - AOS E FERROS FUNDIDOS ......................................................................... 3
2.1 - INTRODUO ........................................................................................... 3
2.2 - MINRIO DE FERRO................................................................................. 3
2.3 OBTENO DO FERRO GUSA................................................................ 5
2.4 - AO............................................................................................................ 7
2.4.1 - DEFINIO ....................................................................................... 10
2.4.2 - CONSTITUINTES DA LIGA FERRO CARBONO............................... 13
2.4.3 - CLASSIFICAO DOS AOS - ABNT - SAE - AISI.......................... 18
2.4.4 - INFLUNCIA DOS ELEMENTOS DE ADIO ................................. 22
2.4.4.1 Elementos de adio .................................................................. 23
2.4.5 - RESUMO DOS PRINCIPAIS AOS PARA CONSTRUO
MECNICA ................................................................................................... 27
2.5 FERRO FUNDIDO ................................................................................... 30
2.5.1 - CLASSIFICAO DOS FERROS FUNDIDOS - ABNT ..................... 31
2.6 - TRATAMENTOS TRMICOS E DE SUPERFCIES................................. 32
2.6.1 - TRATAMENTOS TRMICOS ............................................................ 32
2.6.1.1 - Recozimento................................................................................ 36
2.6.1.2 - Normalizao............................................................................... 37
2.6.1.3 - Revenimento ............................................................................... 37
2.6.1.4 - Tmpera ...................................................................................... 38
2.6.1.5 Diagramas ttt temperatura-tempo-transformao .................... 40
2.6.1.6 Tipos de tratamentos isotrmicos ............................................... 45
2.6.2 - TRATAMENTOS DE SUPERFCIES ................................................. 49
2.6.2.1 - Tratamentos termo-qumicos....................................................... 50
2.6.2.2 - Tratamentos de revestimentos .................................................... 65
3 - ALUMNIO E SUAS LIGAS ............................................................................. 68
3.1 INTRODUO......................................................................................... 68
3.2 - PRODUO DE ALUMNIO..................................................................... 69
3.3 - PROPRIEDADES DO ALUMNIO E SUAS LIGAS ................................... 71
3.3.1 - LIGAS DE ALUMNIO ........................................................................ 73
3.3.1.1 - Liga de Al-Cu............................................................................... 74
3.3.1.2 - Liga de Al-Mg (alumag) ............................................................... 74
3.3.1.3 - Liga de Al-Mn .............................................................................. 75
3.3.1.4 - Liga de Al-Si ................................................................................ 75
3.3.1.5- Liga de Al-Si ................................................................................. 76
3.3.2 - NORMALIZAO DAS LIGAS DE ALUMNIO .................................. 78
4 - COBRE E SUAS LIGAS.................................................................................. 80
4.1 - INTRODUO ......................................................................................... 80
4.2 - PRODUO DE COBRE ......................................................................... 81
II
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.3 - PROPRIEDADES DO COBRE E SUAS LIGAS ....................................... 83
4.3.1 - LIGAS DE COBRE............................................................................. 85
4.3.1.1 - Lato ........................................................................................... 85
4.3.1.2 - Bronze ......................................................................................... 90
4.3.1.3 - Ligas de cobre-alumnio .............................................................. 95
4.3.1.4 - Cupronquel ................................................................................. 97
4.3.1.5 - Ligas de cobre e berlio ............................................................... 98
4.3.1.6 - Ligas de cobre e silcio ...............................................................100
4.3.2 - NORMALIZAO DAS LIGAS DE COBRE......................................100
5 - NQUEL E SUAS LIGAS ................................................................................101
5.1 - INTRODUO ........................................................................................101
5.2 - PROPRIEDADES DO NQUEL E SUAS LIGAS......................................102
5.2.1 - NQUEL.............................................................................................102
5.2.2 - LIGAS DE NQUEL ...........................................................................103
5.2.2.1 - Ligas de nquel e berlio .............................................................104
4.2.2.2 - Ligas de nquel e cromo .............................................................104
5.2.2.3 - Ligas de nquel e molibdnio ......................................................104
6 - COBALTO E SUAS LIGAS ............................................................................105
6.1 - INTRODUO ........................................................................................105
6.2 - PROPRIEDADES DO COBALTO E SUAS LIGAS ..................................105
6.2.1 - COBALTO .........................................................................................105
6.2.2 - LIGAS DE COBALTO .......................................................................106
7 - TITNIO E SUAS LIGAS ...............................................................................107
7.1 - INTRODUO ........................................................................................107
7.2 - PROPRIEDADES DO TITNIO E SUAS LIGAS .....................................107
7.2.1 - TITNIO............................................................................................107
7.2.2 - LIGAS DE TITNIO ..........................................................................109
8 - MAGNSIO E SUAS LIGAS ..........................................................................109
8.1 - INTRODUO ........................................................................................109
8.2 - PROPRIEDADES DO MAGNSIO E SUAS LIGAS ................................110
8.2.1 - MAGNSIO.......................................................................................110
8.2.2 - LIGAS DE MAGNSIO .....................................................................111
9 - ZINCO E SUAS LIGAS ..................................................................................111
9.1 - INTRODUO ........................................................................................111
9.2 - PROPRIEDADES DO ZINCO E SUAS LIGAS ........................................111
9.2.1 - LIGAS DE ZINCO .............................................................................113
9.2.2 - LIGAS DE ZINCO E ALUMNIO........................................................113
10 - CHUMBO E SUAS LIGAS............................................................................113
10.1 - INTRODUO ......................................................................................113
10.2 - PROPRIEDADES DO CHUMBO E SUAS LIGAS .................................114
11 - OUTROS METAIS .......................................................................................116
11.1 - ESTANHO .............................................................................................116
11.2 - CROMO.................................................................................................117
11.3 - TUNGSTNIO .......................................................................................118
11.4 - PRATA...................................................................................................119
11.5 - OURO....................................................................................................119
12 - POLMEROS................................................................................................121
12.1 - INTRODUO ......................................................................................121
12.2 PROPRIEDADES .................................................................................123
12.2.1 - MORFOLOGIA................................................................................123
III
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.2.2 COMPORTAMENTO MOLDAGEM ............................................125
12.2.3 - ADITIVOS .......................................................................................126
12.2.4 PROPRIEDADES TRMICAS .......................................................128
12.2.5 PROPRIEDADES MECNICAS.....................................................129
12.3 - PLSTICOS ..........................................................................................130
12.3.1 - POLIOLEFINAS ..............................................................................131
12.3.2 - POLICARBONATOS.......................................................................138
12.3.3 - ALLICOS........................................................................................140
12.3.4 - ACRILICOS.....................................................................................140
12.3.5 - POLIIMIDAS ...................................................................................143
12.3.6 - AMINOPLSTICOS ........................................................................144
12.3.7 - CELULSICOS...............................................................................145
12.3.8 - POLIOXIMETILNICOS .................................................................145
12.3.9 - EPOXDICOS..................................................................................145
12.3.10 - FLUOROPLSTICOS ...................................................................146
12.3.11 - POLISULFONAS...........................................................................147
12.3.12 - FENLICOS .................................................................................147
12.3.13 POLIALMEROS.........................................................................148
12.3.14 - POLIFENILNICOS ......................................................................148
12.3.15 - SILICONES ...................................................................................149
12.3.16 - POLIAMIDAS ................................................................................149
12.3.17 POLISTERES E POLIURETANOS ............................................152
12.4 - ELASTMEROS ...................................................................................153
12.5 POLMERO NATURAL - MADEIRA......................................................158
12.5.1 - MADEIRAS TRANSFORMADAS ....................................................162
12.5.2 - TRATAMENTO SUPERFICIAL .......................................................163
12.5.3 - TIPOS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS PARA MADEIRA.
.....................................................................................................................163
13 CERMICOS...............................................................................................168
13.1 INTRODUO......................................................................................168
13.2 CERMICA CONVENCIONAL .............................................................170
13.2.1 CERMICA VERMELHA................................................................170
13.2.1.1 Massa cermica.......................................................................170
13.2.1.2 Esmaltes ..................................................................................172
13.2.1.3 Engobe ....................................................................................173
13.2.2 CERMICA BRANCA ....................................................................174
13.2.2.1 - Processamento.........................................................................176
13.3 CERMICA AVANADA ......................................................................177
14 ENSAIOS DE MATERIAIS ..........................................................................187
14.1 INTRODUO......................................................................................187
14.2 - ENSAIO DE TRAO ...........................................................................189
14.2.1 - DIAGRAMA TENSO - DEFORMAO ........................................191
14.2.2 - PROPRIEDADES MECNICAS AVALIADAS ................................193
14.2.3 - CORPOS DE PROVA .....................................................................196
14.2.3.1 - Limite de escoamento: valores convencionais .........................198
14.3 - ENSAIO DE COMPRESSO ................................................................199
14.3.1 - LIMITAES DO ENSAIO DE COMPRESSO .............................200
14.3.2 - ENSAIO DE COMPRESSO EM MATERIAIS DCTEIS...............200
14.3.3 - ENSAIO DE COMPRESSO DIAMETRAL ....................................201
14.4 - ENSAIO DE FLEXO ............................................................................205
IV
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.4.1 - SIGNIFICADO DE FLEXO............................................................205
14.4.2 - MTODO DO ENSAIO DE FLEXO ..............................................207
14.5 - ENSAIO DE DUREZA ...........................................................................208
14.5.1 - DUREZA BRINELL .........................................................................209
14.5.2 - DUREZA ROCKWELL ....................................................................210
14.5.3 - DUREZA VICKERS.........................................................................212
14.5.4 - DUREZA SHORE............................................................................212
14.6 - ENSAIO DE IMPACTO..........................................................................213
14.6.1 - TEMPERATURA DE TRANSIO .................................................214
14.6.1.1 - Fatores que influenciam a temperatura de transio................215
14.6.1.2 - Resfriamento do corpo de prova ..............................................216
14.7 - ENSAIOS METALOGRFICOS ............................................................220
14.7.1 - ENSAIO METALOGRFICO MACROGRFICO ............................221
14.7.2 - ENSAIO METALOGRFICO MICROGRFICO .............................221
14.7.2.1 - Etapas metalogrficas ..............................................................221
14.8 - PROPRIEDADES TRMICAS...............................................................228
14.9 - PROPRIEDADES ELTRICAS .............................................................228
14.10 - PROPRIEDADES MAGNTICAS........................................................231
14.10.1 - MATERIAIS MAGNTICOS MOLES E DUROS ...........................237
14.11 - PROPRIEDADES TICAS..................................................................238
14.11.1 - REFLETIVIDADE, TRANSMITNCIA E ABSORO. .................238
14.12 - PROPRIEDADES QUMICAS .............................................................244
14.12.1 - RESISTNCIA A CORROSO .....................................................244
14.12.2 - RESISTNCIA DEGRADAO ................................................245
15 NOES DE RECICLAGEM DE MATERIAIS ............................................246
15.1 - INTRODUO .....................................................................................246
16 - EXERCCIOS PROPOSTOS .......................................................................249
17 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS .............................................................251
ANEXOS .............................................................................................................254
V
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
NDICE DE FIGURAS
Figura 2.1 Minrio de ferro. ................................................................................. 3
Figura 2.2 Campo de minerao. ........................................................................ 4
Figura 2.3 Snter.................................................................................................. 4
Figura 2.4 Pelotas. .............................................................................................. 4
Figura 2.5 Vista parcial de um alto-forno............................................................. 5
Figura 2.6 Alto-forno............................................................................................ 5
Figura 2.7 Sistema de transformao do minrio em ferro gusa......................... 6
Figura 2.8 Conversor recebendo carga (ferro gusa). .......................................... 7
Figura 2.9 Aspecto construtivo de um conversor. ............................................... 7
Figura 2.10 Operao de um conversor. ............................................................. 8
Figura 2.11 Estrutura cristalina da cementita. ................................................... 10
Figura 2.12 Diagrama de equilbrio do ferro-carbono........................................ 11
Figura 2.13 Curva de resfriamento do ferro....................................................... 12
Figura 2.14 Diagrama de equilbrio - ao. ......................................................... 12
Figura 2.15 Ferritas. .......................................................................................... 13
Figura 2.16 cementitas. ..................................................................................... 13
Figura 2.17 Perlitas. A) Perlita normal; B) Perlita sorbtica................................ 14
Figura 2.18 Austenita. ....................................................................................... 14
Figura 2.19 Martensita. ..................................................................................... 15
Figura 2.20 Bainita inferior. ............................................................................... 15
Figura 2.21 Trostita. .......................................................................................... 16
Figura 2.22 Sorbita............................................................................................ 16
Figura 2.23 Ledebuirta. ..................................................................................... 16
Figura 2.24 Esteadita. ....................................................................................... 17
Figura 2.25 Microestrutura do ao hipo-eutetide. Ferritas (claras), perlitas
(escuras). ............................................................................................................. 17
Figura 2.26 Microestrutura de ao eutetide. Somente perlitas. ....................... 17
Figura 2.27 Microestrutura de ao hiper-eutetide. Perlitas e cementitas......... 18
Figura 2,28 Microestrutura do ferro fundido cinzento. ....................................... 30
Figura 2.29 Microestrutura do ferro fundido nodular. ........................................ 31
Figura 2.30 Ciclos de aquecimentos e tratamentos trmicos ............................ 34
Figura 2.31 Diagrama Fe-C Campo de austenizao. ................................... 35
Figura 2.32 Ciclo do recozimento...................................................................... 36
Figura 2.33 Ciclo da esferoidizao. ................................................................. 37
Figura 2.34 Ciclos de tratamentos.................................................................... 37
Figura 2.35 Diagrama TTT para o ao eutetide............................................... 41
Figura 2.36 Diagrama TTT para o ao eutetide com tratamentos trmicos..... 41
Figura 2.37 Diagrama TTT considerando a espessura da pea........................ 42
Figura 2.38 Diagrama TTT para o ao hipo-eutetide....................................... 43
Figura 2.39 Diagrama TTT para o ao hiper-eutetide. .................................... 43
Figura 2.40 Transformao da martensita em funo da concentrao de
carbono. ............................................................................................................... 44
Figura 2.41 Diagrama TTT para o ao 4340. .................................................... 44
Figura 2.42 Austmpera. ................................................................................... 45
Figura 2.43 Martmpera. ................................................................................... 49
Figura 2.44 - Diagrama de equilbrio Fe-N. .......................................................... 53
VI
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 2.45 Clula unitria da fase . ............................................................... 53
Figura 2.46 Clula unitria da fase . ................................................................ 54
Figura 2.47 Influncia do tempo de nitretao a gs sobre a espessura da
camada nitretada.................................................................................................. 56
Figura 2.48 Profundidade de penetrao da camada nitretada em alguns aos,
submetidos ao processo lquido. .......................................................................... 57
Figura 2.49 Esquema do reator inico. ............................................................. 58
Figura 2.50 Profundidade da camada cementada em ao de baixo carbono. .. 60
Figura 2.51 Esquema da eletrodeposio. ........................................................ 66
Figura 3.1 Diagrama de fases da liga Al-Cu...................................................... 74
Figura 3.2 Diagrama de fases da liga Al-Mg. .................................................... 74
Figura 3.3 - Diagrama de fases da liga binria Al-Si. ........................................... 75
Figura 3.4 - Diagrama de fases da liga binria Al-Si. ........................................... 77
Figura 4.1 Beneficiamento do cobre. A) Triturao do minrio; B) Flotao ..... 81
Figura 4.2 - Esquema do forno revrbero e obteno do mate. ........................... 82
Figura 4.3 - Obteno do cobre blster e placa eletroltica. .................................. 82
Figura 4.4 - Efeito das impurezas na condutividade eltrica do cobre. ................ 83
Figura 4.5 Diagrama de fases da liga Cu-Zn..................................................... 87
Figura 4.6 Micrografias de lates. a) Cu-Zn 33% (laminado e recozido) [fase ];
b) Cu-Zn 40% (fundido) [fase + ] ; Cu-Zn 24,7% Sn 2,4% Pb 2,9% [fase +
Cu3Sn]; Cu-Zn 34% Mn 1,7% Ni 3,12% Pb 1,92% [fase + ndulos de Pb]. ...... 88
Figura 4.7 - Diagrama do comportamento mecnico dos lates. ......................... 89
Figura 4.8 - Aplicaes dos lates. ...................................................................... 90
Figura 4.9 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Sn.......................................... 92
Figura 4.10 - Micrografias de bronzes. a) Cu-Sn 5% (laminado e recozido) [fase
]; b) Cu-Sn 16% (recozido) [fase + ] ; c) Cu-Sn 10%, Pb 5%. ....................... 92
Figura 4.11 - Aplicaes do bronze...................................................................... 94
Figura 4.12 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Al......................................... 95
Figura 4.13 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Ni......................................... 97
Figura 4.14 - Aplicaes do cupronquel. ............................................................. 98
Figura 4.15 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Be........................................ 99
Figura 5.1 - Aplicaes do nquel. .......................................................................103
Figura 6.1 - Aplicaes do cobalto. .....................................................................106
Figura 7.1 - Aplicaes do titnio. .......................................................................108
Figura 8.1 - Aplicaes do magnsio. .................................................................111
Figura 8.1 - Aplicaes do zinco. ........................................................................112
Figura 10.1 - Diagrama de fases da liga Pb-Sn...................................................115
Figura 10.2 - Diagrama de fases da liga Pb-Sb...................................................115
Figura 11.1 - Aplicaes do cromo......................................................................117
Figura 11.2 - Aplicaes da tungstnio. ..............................................................118
Figura 11.3 - Aplicaes da prata........................................................................119
Figura 11.4 - Aplicaes do ouro.........................................................................120
Figura 12.1 - Monmeros. a) metano; b) etano; c) eteno. ...................................121
Figura 12.2 - Monmeros. a) propano; b) n-butano; c) isobutano. ......................121
Figura 12.3 - Monmeros. a) n-pentano; b) Isopentano; c) Neopentano.............121
Figura 12.4 Representao de polmero. .........................................................122
Figura 12.5 Reao de polimerizao do policloreto de vinila..........................122
Figura 12.6 Reao de copolimerizao do nilon 66......................................123
VII
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 12.7 Representao das cadeias polimricas. a) Cadeia linear; b) cadeia
com ramificaes incompletas; c) cadeias com ramificaes transversais ou
cruzadas..............................................................................................................123
Figura 12.8 Formas isomricas. .......................................................................124
Figura 12.9 Cristalinidade em polmeros. .........................................................125
Figura 12.10 Reao do baquelite. ..................................................................127
Figura 12.11 Reao do agente de esponjamento...........................................128
Figura 12.12 Curvas de volume especfico em funo da temperatura. A) regio
vtrea; B) regio viscosa; C e D) regio lquida com baixa viscosidade; E) regio
com cristalitos na regio vtrea; F) regio viscosa com cristalitos. ......................128
Figura 12.13 Curva ndice de cristalinidade em funo da temperatura para um
polmero cristalino. ..............................................................................................129
Figura 12.14 Comportamento ao ensaio de trao de um polmero linear.......129
Figura 12.15 Frmula geral da poliolefina. .......................................................131
Figura 12.16 Frmula policarbonato.................................................................139
Figura 12.17 Polimetacrilato de metila. ............................................................140
Figura 12.18 Poliacrilonitrilo. ............................................................................141
Figura 12.19 ABS. ............................................................................................141
Figura 12.20 SAN.............................................................................................143
Figura 12.21 Poliimida......................................................................................144
Figura 12.22 Frmula do teflon. .......................................................................146
Figura 2.23 PCTFE. .........................................................................................147
Figura 12.24 - Polisulfona ...................................................................................147
Figura 12.25 Fenlicos. ....................................................................................147
Figura 12.26 Comportamento ao ensaio de trao de polmeros.....................153
Figura 12.27 Polisopreno. ................................................................................154
Figura 12.28 SBR.............................................................................................155
Figura 12.29 Uso da floresta. ...........................................................................158
Figura 12.30 Cortes da madeira.......................................................................162
Figura 12.31 Efeito ptina. ...............................................................................164
Figura 12.32 Efeito decap. .............................................................................165
Figura 12.33 Efeito satin.................................................................................165
Figura 12.34 Efeito estncil. .............................................................................167
Figura 13.1 Peas de cermica........................................................................169
Figura 13.2 Produo de cermica. .................................................................174
Figura 13.3 - Loua sanitria...............................................................................174
Figura 13.4 Forno tnel para queima de peas cermicos. .............................176
Figura 13.5 - Microscopia eletrnica de varredura de cermetos e metal duro.....180
Figura 13.6 - Revestimento de TiN em uma pastilha de metal duro....................183
Figura 14.1 - Equipamentos de ensaios mecnicos. a) Mquina de ensaio
universal;
b) Durmetro. ..............................................................188
Figura 14.2 - Pea tracionada. ............................................................................190
Figura 14.3 - Corpo de prova de ensaio de trao. a) antes do ensaio; b) aps o
ensaio..................................................................................................................190
Figura 14.4 - Comportamento dos materiais atravs do diagrama x . .............192
Figura 14.5 - Material dctil. a) diagrama x ; b) aspecto da fratura. .............192
Figura 14.6 - Material frgil. a) diagrama x ; b) aspecto da fratura. ................192
Figura 14.7 - diagrama x para ligas do tipo ao baixo carbono. ....................193
Figura 14.8 - Alongamentos na trao e na compresso....................................195
Figura 14.9 - Curvas de tenses reais e de engenharia......................................195
VIII
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 14.9 - Mquina de ensaio e registrador....................................................196
Figura 14.10 - Corpos de prova...........................................................................196
Figura 14.11 - Tipos de fixao. ..........................................................................197
Figura 14.12 - Preparao de corpo de prova.....................................................197
Figura 14.13 - Ruptura do corpo de prova no centro...........................................198
Figura 14.14 - Ruptura do corpo de prova fora de centro. ..................................198
Figura 14.15 - Determinao do limite de escoamento. ......................................198
Figura 14.16 - Esquema da compresso. ...........................................................199
Figura 14.17 - Ensaio de compresso. a) normal; b) flambagem........................200
Figura 14.18 - Ensaio de compresso em materiais dcteis. ..............................200
Figura 14.19 - Esquema de esforos aplicados em um corpo de prova cilndrico de
dimenses D e L. ................................................................................................201
Figura 14.20 - Representao esquemtica da distribuio das tenses de
compresso e de trao. .....................................................................................201
Figura 14.21 - Ensaios em molas........................................................................202
Figura 14.22 - Flexo em uma barra de seco retangular.................................205
Figura 14.23 - Elemento da barra submetido flexo.........................................206
Figura 14.24 - Viga em balano com engaste rgido sendo fletida por uma fora F
aplicada em sua extremidade..............................................................................206
Figura 14.25 - Mtodo de flexo a quatro pontos................................................207
Figura 14.26 - Mtodo de flexo a trs pontos. ...................................................207
Figura 14.27 - ngulo nas impresses Brinell. .................................................210
Figura 14.28 - Penetradores de Dureza Rockwell...............................................210
Figura 14.29 - Aspectos da fratura . ....................................................................213
Figura 14.30 - Temperatura de transio. ...........................................................214
Figura 14.31 - Curvas de energia absorvida de um mesmo material. .................216
Figura 14.32 - Mquina de ensaio de impacto. ...................................................217
Figura 14.33 - Ensaio Charpy e Izod...................................................................218
Figura 14.34 - Corpos de prova Charpy e Izod. ..................................................219
Figura 14.35 - Macrografia de uma pea de alumnio fundido com contornos de
gros revelado por ataque com HCl....................................................................221
Figura 14.36 - Influencia da localizao de um corte longitudinal axial sobre o
aspecto de segregao. ......................................................................................221
Figura 14.37 - Esquema de um metal policristalino atacado quimicamente e com
feixes incidentes e de reflexo de luz..................................................................223
Figura 14.38 - Micrografia da perlita....................................................................224
Figura 14.39 - Curva de resistividade eltrica em funo da temperatura. .........231
Figura 14.40 - Esquema de momentos magnticos em um cristal e em uma clula
unitria. ...............................................................................................................232
Figura 14.41 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material
diamagntico. a) Na ausncia de um campo magntico; b) Na presena de um
campo magntico. ...............................................................................................233
Figura 14.42 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material
paramagntico. a) Na ausncia de um campo magntico; b) Na presena de um
campo magntico. ...............................................................................................234
Figura 14.43 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material
ferromagntico na ausncia de um campo magntico. .......................................235
Figura 14.44 - Esquema de momentos magnticos do MnO. .............................235
Figura 14.45 - Esquema dos momentos magnticos da ferrita. ..........................236
IX
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 14.46 - Curva de histerese de materiais magnticos moles (interno) e duros
(externo). .............................................................................................................237
Figura 14.47 - Esquema da incidncia de um feixe luz que encontra interfaces
entre dois meios. .................................................................................................238
Figura 14.48 - Esquema de uma anlise de transmitncia por um feixe incidente
normal a superfcie de uma amostra de vidro. ...................................................239
Figura 14.49 - Detalhe do compartimento aberto [ 1 ] de um espectrmetro. .....239
Figura 14.50 - Curvas de transmitncia da amostra BLC1. Espectro com
irradiao do ultravioleta. ....................................................................................240
Figura 14.51 - Espectro de transmitncia de uma amostra de vidro dopado. .....240
Figura 14.52 - a) Esquema de um experimento de transmisso. A) transmisso
de um feixe de laser atravs de um semicondutor.; b) Um espectro tpico de
absoro do semicondutor GaAs. .......................................................................242
Figura 14.53 - Espectros de radiao eletromagntica. ......................................243
Figura 14.54 - Esquema dos tipos de corroso...................................................245
Figura 15.1 Smbolo da reciclagem..................................................................246
X
2007
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
1 CLASSIFICAO DE METAIS
1.1 - INTRODUO
Conforme a qumica, entende-se como metais os elementos qumicos que
se situam na parte esquerda da Tabela Peridica dos Elementos Qumicos
construda por Mendeleyev. A caracterstica deles de possuir poucos eltrons
na ltima camada, camada de valncia. O tipo de ligao caracterstica entre os
elementos metlicos a ligao metlica, onde os eltrons da ltima camada no
pertencem ao tomo, mas ao grupo todo, com mobilidade livre do eltron,
caracterizando a boa condutibilidade eltrica, uma das caractersticas principais
dos metais.
Na prtica, entende-se por metais, toda substncia que possui brilho,
entretanto, o elemento qumico selnio (Se) possui brilho e no metal. A maioria
dos metais se oxida com facilidade diminuindo o seu brilho, tornando-o opaco,
com grau menor para o ouro, a prata, e a platina. Estas propriedades dos metais
de opacidade tica e refletividade atribuem-se a capacidade dos eltrons livres de
absorverem energia dos ftons e de poderem re-emitir, quando o eltron, excitado
pelo impacto de uma radiao, cai em um nvel mais baixo de energia. Deste
modo, um feixe luminoso que incide sobre a superfcie de um metal, quase
inteiramente refletido, dando lugar ao brilho metlico. Outra caracterstica que os
metais possuem a ductibilidade. Esta caracterstica tambm pode ser afetada
por impurezas ou incluses por outros elementos qumicos. A condutibilidade
eltrica e trmica so duas caractersticas dos metais que esto relacionadas com
a configurao eletrnica dos mesmos.
1.2 - CLASSIFICAO
Cada metal se diferencia de outro pela sua estrutura e propriedades, mas
existem certos indcios pelas quais podem ser agrupados. Em primeiro lugar,
todos os metais podem dividir-se em dois grandes grupos: metais escuros e
metais claros.
1.2.1 - METAIS ESCUROS
Apresentam cor cinza escuro, densidade elevada (menos os alcalinos),
elevada temperatura de fuso, dureza elevada e, em muitos casos, possuem
polimorfismo. O metal mais caracterstico deste grupo o ferro.
Os metais escuros, por sua vez, dividem-se em:
1. Metais frricos: ferro, cobalto, nquel (chamados ferromagnticos) e o
mangans, cujas propriedades se aproximam daqueles. O cobalto, o nquel e o
mangans se empregam com freqncia como elementos de adio s ligas
de ferro para alterar as propriedades mecnicas da liga, como nos aos, por
exemplo;
2. Metais refratrios: apresentam temperatura de fuso superior a do ferro
(1.539 C). Tambm empregados como elemento de adio s ligas de ferro;
1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3. Metais urnicos: (actindeos) Os elementos que constituem um grupo com
propriedades semelhantes, que inclui o actnio, o trio, o protactnio, o urnio, o
netnio, o plutnio, o amercio, o crio, o berqulio, o califrnio, o einstinio, o
frmio e o mendelvio. So utilizados como fonte de energia nuclear;
4. Metais lantandeos: (terras-raras) Grupo de elementos, de nmero atmico
entre 57 e 71, de propriedades metlicas muito parecidas, e que compreende:
crio, disprsio, rbio, eurpio, gadolnio, hlmio, itrbio, lantnio, lutcio,
neodmio, prasiodmio, promcio, samrio, trbio e tlio. Estes metais possuem
propriedades qumicas muito parecidas, porm suas propriedades fsicas so
muito distintas.
5. Metais alcalinos-trreos: No estado livre so pouco utilizados, com exceo
de alguns casos especiais.
1.2.2 - METAIS CLAROS
Apresentam colorao amarela, vermelha ou branca. Possuem grande
ductibilidade, pouca dureza, temperatura de fuso relativamente baixa e neles
caracterstico a ausncia de polimorfismo. Os metais mais caractersticos deste
grupo so o ouro, o cobre e a prata.
Os metais claros, por sua vez, dividem-se em:
1. Metais ligeiros: Berlio, magnsio e alumnio, cuja densidade baixa;
2. Metais nobres: Ouro, prata e metais do grupo da platina (platina, paldio,
irdio, smio, rutnio. O cobre considerado como seminobre. Possuem
grande a resistncia a oxidao;
3. Metais facilmente fusveis: Zinco, cdmio, mercrio, estanho, chumbo,
bismuto, tlio, antimnio e os elementos com propriedades metlicas
debilitadas como o glio e germnio.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2 - AOS E FERROS FUNDIDOS
2.1 - INTRODUO
O ferro se conhece h tempos remotos. No Egito, h 7 mil anos a.C.,
encontrou-se amuletos de ferro que provavelmente provinham de minrios
beneficiados. Tambm h 7 mil anos a.C. se fazia experincia com esse metal em
um lugar chamado Anatolia na Rssia. Na ndia encontrou-se uma coluna de ferro
que media 7 m de altura e 40 cm de dimetro com peso de 6 toneladas,
provavelmente construda em 912 anos a.C. A fabricao do ferro fundido,
partindo do minrio de ferro, muito antiga. Os gregos, 500 anos a.C., j tinham
ferro temperado e cr-se que a obteno foi por uma maneira casual.
2.2 - MINRIO DE FERRO
O ferro no se encontra puro na natureza, mas sim combinado (ganga)
com outros elementos qumicos formando os denominados minrios. Os minerais
que contm ferro em quantidade aprecivel so xidos, carbonatos, silicatos e os
sulfetos. Quando se pode extrair economicamente um elemento qumico de um
mineral, o mesmo passa a ser denominado de minrio. Na natureza, encontra-se
em torno de 50 minerais que contm ferro. Os minrios de ferro mais importantes
sob o ponto de vista da siderurgia so:
Hematita - xido - Fe2O3 - de 45
a 70% de ferro cor cinza a
vermelho fosco - abundante no
Brasil;
Magnetita - xido Fe3O4 - de 45
a 72% de ferro cor cinza escuro;
Limonita - xido - 2Fe2O33H2O de 40 a 62% de ferro cor
amarela para marrom escuro;
Siderita - carbonato - FeCO3
(carbonato frrico) - de 30 a 48%
de ferro cor cinza esverdeado;
Pirita - sulfeto - Cu2SFe2S3
(sulfeto frrico) baixo teor de
ferro.
Figura 2.1 Minrio de ferro.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O minrio de ferro submetido a beneficiamento, aps a extrao da
jazida, como britagem, peneiramento, mistura, moagem, concentrao,
classificao, aglomerao.
Figura 2.2 Campo de minerao.
A aglomerao visa o aproveitamento dos finos de minrio, melhorar a
permeabilidade da carga do alto-forno, reduzindo-se o consumo de carvo. Os
principais processo de aglomerao do minrio de ferro so:
Sinterizao Neste processo o minrio de ferro, carvo modo, calcrio e
gua so misturados e aglomerados e depois so colocados sobre uma grelha
em um equipamento especial, que est a uma temperatura em torno de 1.000
a 1.300 oC, unem-se e acabam formando
um bloco poroso. Quando quebrados em
pedaos menores so chamados de sinter
de ferro. Sinter - 51 a 61% de ferro.
Aproveitamento dos finos de minerao de
0,15 mm at 8 mm. Resistncia mecnica
mdia e possvel degradao no transporte.
Tamanho de 5 a 50 mm de formato
irregular. Gera 7 a 10% de finos de retorno
no transporte da sinterizao ao alto-forno.
Redutibilidade alta.
Figura 2.3 Snter.
Pelotizao Um tambor giratrio que contm um disco inclinado e em
rotao alimentado com finos de minrio e aglomerantes, recebendo jatos de
gua que unem as partculas molhadas para formar um aglomerado na forma
de bolas (pelotas). Aps esta etapa as pelotas
so
aquecidas
para
secagem
e
endurecimento. Pelotas - 64 a 67% de ferro.
Aproveitamento dos finos de minerao
abaixo de 0,5 mm. Elevada resistncia
mecnica e baixa degradao no transporte.
Tamanho de 10 a 12 mm de formato esfrico.
Gera 5 a 10% de finos de retorno do altoforno. Redutibilidade alta.
Figura 2.4 Pelotas.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Nos processos de reduo do minrio de ferro em ferro gusa, usa-se, como
combustvel, o coque (carvo mineral tratado em temperaturas de mais ou menos
1.000 C em cmaras ausentes de oxignio, com eliminao dos produtos volteis
do carvo mineral) com possibilidade do carvo vegetal. A ao do carvo se faz
sentir de trs maneiras:
a) como fornecedor de calor para a fuso do minrio;
b) como fornecedor de carbono para a reduo do xido de ferro e
c) como fornecedor de carbono, como principal elemento de liga.
2.3 OBTENO DO FERRO GUSA
o processo de obteno do ferro, onde o minrio a ser reduzido, atinge
seu ponto de fuso, obtendo-se no final um
produto da fuso denominado de ferro gusa,
que posteriormente utilizado na fabricao
do ao ou ferro fundido. O ferro gusa uma
liga metlica de Fe, C, Si, P, S, Mn, onde
apresenta a seguinte composio mdia 3%
a 8% de C, 0,5% a 4,5% de Si, 0,5% a 2,5%
de P, e at 0,2% de S.
O processo consiste em aquecer o
minrio de ferro em temperaturas acima de
1.600 C na presena de uma substncia
redutora (coque) em um equipamento
denominado de alto-forno. O alto-forno
construdo de tijolos e envolvido por uma
carcaa protetora de ao. Todas as suas
partes internas, sujeitas a altas temperaturas,
so revestidas com tijolos refratrios. Os
refratrios so materiais resistentes a altas
temperaturas, utilizados nos revestimentos
dos fornos e panelas de vazamento.
Figura 2.5 Vista parcial de um alto-forno.
Trs zonas fundamentais caracterizam o
alto-forno: o cadinho; a rampa; e a cuba (seo
superior). O cadinho o lugar onde o ferro gusa
lquido depositado. A escria que se forma
durante o processo, flutua sobre o ferro que
mais pesado. Escria um produto resultante
da ao do fundente sobre a ganga (do minrio)
e do combustvel. A escria pode ser utilizada
como base para estradas de ferro, na fabricao
de cimento, como corretivo de solo, na
fabricao de tijolos refratrios e em isolamento
trmico e acstico.
Figura 2.6 Alto-forno.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Na rampa acontece a combusto e a fuso. Para facilitar esses processos,
entre o cadinho e a rampa ficam as ventaneiras, que so furos distribudos
uniformemente por onde o ar pr-aquecido soprado sob presso. Se a carga for
bsica, o fundente deve ser cido; e se a carga for cida, o fundente deve ser
bsico. Para o caso de no se querer alterar a natureza da carga, se utiliza
fundentes neutro. Em resumo, no alto-forno ocorre o seguinte:
Os xidos de ferro sofrem reduo, ou seja, o oxignio eliminado do minrio
de ferro;
A ganga se funde (as impurezas reagem com o fundente formando escria e
metal fundido);
O gusa se funde (o ferro de primeira fuso se derrete);
O ferro sofre carbonetao (o carbono proveniente do combustvel
incorporado ao ferro lquido);
Certos elementos da ganga so parcialmente reduzidos, ou seja, algumas
impurezas so incorporadas ao ferro gusa.
Estas so as reaes qumicas provocadas pelas altas temperaturas
obtidas dentro do forno que trabalham com o princpio da contra-corrente. Isso
quer dizer que enquanto o gs redutor sobe, a carga slida desce.
Figura 2.7 Sistema de transformao do minrio em ferro gusa.
A reduo dos xidos de ferro acontece medida que o minrio, o agente
redutor (coque ou carvo vegetal) e os fundentes (calcrio ou fluorita) descem em
contra-corrente, em relao aos gases. Esses so os resultados da queima do
coque (basicamente, carbono) com o oxignio do ar quente (em torno de 1.000
C) soprado pelas ventaneiras, e que escapam da zona de combusto,
principalmente para cima, e queimam os pedaos de coque que esto na
abbada (ou parte superior) da zona de combusto.
Conforme o coque vai se queimando, a carga vai descendo para ocupar os
espaos vazios. Esse movimento de descida vai se espalhando lateralmente pela
carga, at atingir toda a largura da cuba. As reaes de reduo, carbonetao e
fuso, que foi descrito anteriormente, geram dois produtos lquidos: a escria e o
6
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
ferro gusa, que so empurrados para os lados, pelos gases que esto subindo e
escorrem para o cadinho, de onde saem pelo furo de corrida (gusa) e pelo furo da
escria.O alto forno possui ainda alguns equipamentos auxiliares como:
Coletor de poeiras;
Lavadores de gs;
Regeneradores de calor ou estufas;
Instrumentos de controle e medio.
2.4 - AO
Sendo o ferro gusa uma liga de Fe, C, Si, P, S e Mn, para transform-lo em
ao, que uma liga de mais baixo teor destes ltimos elementos qumicos,
necessrio um processo de oxigenao desta liga para reduzir a percentagem
destes elementos at os valores desejados. Na reduo do ferro gusa em ao,
utiliza-se agentes oxidantes, de natureza gasosa, como o ar ou oxignio, ou de
natureza slida como minrio na forma de xidos. Assim, os processos para
produo do ao podem ser
classificados de acordo com
agente redutor utilizado.
Processos pneumticos - onde
o agente oxidante o ar ou
oxignio
Processo
SiemensMartin,
Eltrico, Dplex etc. onde os
agentes
oxidantes
so
substncias slidas contendo
oxignio.
Figura 2.8 Conversor recebendo carga (ferro gusa).
Processo
Pneumtico
Bessemer
O
equipamento usado no
processo de Bessemer
no possui fonte de calor
prprio, e por isso no
denominado forno e sim
conversor. O conversor
Bessemer consta de um
recipiente,
tipo
pra,
formado de chapas de ao
e revestimento interno de
material refratrio cido
(silcio alumnio).
Figura 2.9 Aspecto construtivo de um conversor.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O conversor basculante, isto , gira em torno de um eixo, a fim de coloclo na posio horizontal para receber ou retirar a carga. A capacidade de carga do
conversor Bessemer varia de 25 a 40 toneladas, de ferro gusa lquido procedente
do alto-forno cuja composio mdia a seguinte: carbono - 4%, silcio - 1,5%,
mangans - 1%, fsforo e enxofre o mnimo possvel.
A transformao do ferro gusa em ao conseguida pelo insuflamento de
ar, pouco a pouco e com presso moderada, atravs dos orifcios existentes na
parte inferior do conversor, ao tempo que se situa o conversor na posio vertical.
O ar atravessa o ferro gusa lquido e o oxignio presente vai reagindo com o
silcio, mangans e a maior parte do carbono durante o tempo de 15 minutos
aproximadamente. O borbulhamento do ar, atravs do metal lquido, elimina o
carbono (em CO e CO2, formando uma chama larga), o silcio e o mangans (em
silicatos, que passam a escria). Quando a chama da boca do conversor est a
ponto de se apagar, o ao contm aproximadamente 0,05 a 0,1% de carbono e
porcentagens mais baixas de Mg e Si. Sendo o ponto de fuso do ao maior que
do ferro gusa, cabem as reaes exotrmicas do oxignio com o silcio e carbono,
aumentar a temperatura do banho lquido. Durante o processo forma-se xido de
ferro que deixa o ao frgil e quebradio. A fim de eliminar o xido de ferro e
controlar o teor do carbono, adiciona-se quantidade de ferro-silcio ou ferromangans ou pequenas quantidades de alumnio. At mesmo carvo para
recarburar o ao. Estes elementos, principalmente o alumnio, combinam-se
facilmente com o oxignio, transformando-se em escria. realizado o
vazamento inclinando o conversor e tendo cuidado de que no deslizem as
escrias com o ao lquido.
Processo Pneumtico Thomas - O processo
Thomas difere um pouco do processo Bessemer.
Quando o ferro gusa rico em fsforo, este no pode
ser tratado no conversor Bessemer porque o
revestimento dele cido (carbono (4%), silcio
(1,5%), mangans (1%), fsforo e enxofre o mnimo
possvel, impedindo que as reaes exotrmicas
permitem a passagem do fsforo para as escrias. O
conversor Thomas revestido internamente com
material refratrio bsico derivado da dolomita (xido
de clcio e mangans). Neste processo, o fsforo
tambm reage exotermicamente com o oxignio,
aumentando a temperatura do banho. Para evitar a
oxidao excessiva do ao, usa-se certa quantidade
de cal. A escria obtida com o processo Thomas
um fosfato de clcio (combinao do fsforo do metal
com o clcio da cal adicionado) e pode ser emprega
como fertilizante na agricultura.
Figura 2.10 Operao de um conversor.
O ao produzido em conversor Thomas mais mole do que do Bessemer,
usado na fabricao de chapas, arames e perfilados.
8
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Processo Pneumtico L.D. - Este processo introduzido pelos austracos Linz e
Donavitz em 1.950, uma variante do processo Bessemer. Ao invs de usar o
oxignio do ar (que em cada 100 m3 aproveita apenas 21 m3 de oxignio) usa
oxignio puro com 99 99,5% de pureza. O oxignio previamente aquecido e
injetado na massa lquida pela parte superior do conversor, lana de oxignio que
fica a uma distncia de 0,3 m a 1 m do fundo. As reaes exotrmicas produzidas
alcanam temperatura de 2.400 C e o tempo total da operao de 35 a 40
minutos. O consumo de oxignio em torno de 50 m3 por tonelada de ferro gusa
lquido. A capacidade dos conversores modernos de mais ou menos100
toneladas. O ao L.D. de qualidade superior ao Bessemer, Thomas e SiemensMartins, porm o alto custo de operao e instalao, torna-o dispendioso e de
baixa aplicao na siderurgia.
Processo Siemens-Martin - No processo Siemens-Martin pode-se alcanar
temperaturas de at 2.000 C, usando gs combustvel e ar, previamente
aquecidos. O forno constitudo de uma mufla de tijolos refratrios para receber a
carga que pode ser slida ou lquida, e de dois pares de cmaras recuperadoras,
tambm de tijolos refratrios. O forno funciona pelo sistema de regenerao de
calor dos gases quentes que saem do forno que vo aquecendo o gs e o ar,
respectivamente, dando entrada no forno em altas temperaturas. Segundo a
composio da carga (como acontece no processo Bessemer e Thomas), os
fornos Siemens-Martin so construdos com revestimento cido, para o
tratamento da carga silicosa, e revestimento bsico, quando a carga fosforosa.
A capacidade do forno varia de 50 a 300 toneladas.
Adiciona-se ferro-silcio, ferro-mangans ou cal, dependendo da natureza
da carga e do refratrio, como elementos desoxidantes. O processo de obteno
do ao pode levar de 4 a 5 horas.
Os ferros fundidos aptos para o conversor podem ser:
Ferro fundido sado do cubil:
Ctot = (3% - 4%C) + (1,5% - 2%Si) + (0,5% - 1%Mn) + P e S o mnimo possvel.
Ferro fundido sado do alto forno:
Ctot = (3,6% - 4,2%C) + (1% - 1,5%Si) + (0,5% - 2%Mn) + P e S o mnimo
possvel.
O carbono, o silcio, e o mangans contidos no ferro fundido reagem ao
entrar em contato com o oxignio do ar: o calor gerado por esta reao no
somente mantm lquida a massa, como tambm eleva a temperatura de 300 a
400 C. Dos trs elementos citados, o silcio e o carbono so os que liberam maior
quantidade de calor, com efeito:
Si + O2 = SiO2 + 6.750 kcal/kg de silcio
C + O = CO + 2.407 kcal/kg de carbono
Mn + O = MnO + 1.757 kcal/kg de mangans.
A operao dura somente de 10 a 20 minutos. Os produtos da reao do
silcio e do mangans formam a escria e, os do carbono formam os gases (CO)
9
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
monxido de carbono (venenoso) que escapa da boca do conversor. A
capacidade dos conversores varia de 1 a 50 toneladas, aproximadamente.
2.4.1 - DEFINIO
Aps a reduo do carbono do ferro gusa
lquido nos conversores, entre os anos de 1.850 a
1.900, que pode se dizer da ocorrncia da
fabricao dos aos. Devido ao grande interesse
comercial, este material dctil e malevel fez com
que vrios pesquisadores da poca se
interessassem em investigar a estrutura e
comportamento
mecnico.
Desta
forma,
pesquisadores como A. C. Sorby, Gibbs, D. K
Chernov, F. Abel, J. A. Brinell, F. Osmond e outros
deram, com suas descobertas, o que hoje
definido como ao.
Figura 2.11 Estrutura cristalina da cementita.
Em 1.863 nasceu a metalografia, com o emprego do microscpio, na
observao da superfcie metlica polida, por A. C. Sorby;
Em 1.876, Gibbs anunciou a lei das fases que teve grande interesse no
estabelecimento dos diagramas de equilbrio dos sistemas de ligas;
Em 1.880, D. K Chernov apresentou o resultado dos seus estudos sobre
cristalizao e macroestruturas dos lingotes de ao vazado. Estuda tambm os
tratamentos trmicos;
Em 1.883, F. Abel determinou que o composto isolado por KARSTEN,
carboneto de ferro, corresponde a frmula Fe3C e conclui que nem todo o
carbono existente no ao pode ser isolado;
Em 1.885, J. A. Brinell verificou que propriedades mecnicas diferentes em
aos que foram forjados, laminados, estirados e dos que sofreram tratamentos
trmicos e passa a ser registrado fotograficamente as observaes
microscpicas. Neste mesmo perodo, F. Osmond publica Thorie cllulaires
des proprites de l' acier. Sugere as transformaes alotrpicas do ferro e a
existncia do ferro .
Em 1.890, F. Osmond estudou o comportamento do ferro em temperaturas
elevadas utilizando par termoeltrico Pt/Pt-Rh, e marca as posies dos
pontos crticos Ar1, Ar2, Ar3, Ac1, Ac2, Ac3 e as suas relaes com o ferro , e
;
Em 1.900, Rozeboon, utilizando os resultados de anlises trmicas feitas por
Robert Austen, e baseando-se nas leis de Gibbs, traa o diagrama da liga de
Fe-C contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento da indstria
siderurgica;
Em 1.903, F. Osmond consagrou os nomes dos constituintes Ferrita,
Cementita e Perlita, sugeridas por Howe e acrescentou os de Austenita e
Martensita.
10
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Em funo do diagrama de equilbrio traado por Rozeboon, O ao pode
ser definido como uma liga binria de ferro-carbono, tendo como teor mnimo de
carbono o valor de 0,008%, a temperatura ambiente e, como teor mximo de
carbono, o valor de 2,1%, a temperatura de mxima solubilidade (1.148 C), alm
de alguns elementos qumicos residuais oriundos de sua fabricao (Mn, P, Si, S)
e, s vezes, outros elementos adicionados para melhoria de suas propriedades
(Cr, V, W).
TEMPERATURA ( oC )
Do diagrama de equilbrio do Fe-C, pode-se definir tambm o denominado
ferro fundido que uma liga binria de ferro-carbono, tendo como teor mnimo de
carbono o valor de 2,1%, a temperatura ambiente e, como teor mximo de
carbono, o valor de 6,7%, a temperatura ambiente. Entretanto, o ferro fundido
obtido diretamente do ferro gusa que tem teores elevados de silcio,
denominando-se
assim como uma liga
DIAGRAMA DE EQUILBRIO Fe - C
ternria
composta
basicamente
de trs
FERROS FUNDIDOS
AOS
elementos:
ferro,
carbono (2 a 4,5%) e
silcio (1 a 3%) alm
de alguns elementos
1538
1500
qumicos residuais
Au
ste
Lquido
oriundos de sua
1394
nita
Liq
(
F
u
fabricao (Mn, P, S)
idu
So
e )
s
Lquido + Fe3C
+l
lid
qu
ou quando ligados
us
ido
com
elementos
Austenita (Fe )
4,3%
1148 oC
adicionados
para
melhoria
de
suas
1000
propriedades.
Na
912
prtica,
o
ferro
Austenita (Fe ) + Fe3C
fundido contm de
o
2% a 4,5% de
0,77%
727 C
(Fe )
carbono
e
principalmente com
500
teores prximo de
4,3% de carbono
(Fe ) + Fe3C
visto que o euttico
(Fe ) + Fe3C + (Grafite)
produzido por esta
concentrao
de
carbono reduz a
0
temperatura
de
0
1
2
3
4
5
6 6,7
solidificao (1.148
2,11
0,008
C).
%C
Figura 2.12 Diagrama de equilbrio do ferro-carbono.
11
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O ferro, como todos os metais no estado slido, tem estrutura cristalina.
Alm disso, pode apresentar-se em duas formas cristalinas diferentes: cbica de
corpo centrado e cbica face centrada. A
importncia deste fato que, enquanto a
forma CCC pode dissolver carbono at um
mximo de 0,008%, a forma CFC pode
dissolver at 2,1 % de carbono. Pelo grfico
esquemtico abaixo, observa-se que h
pontos de parada (temperatura constante),
denotando mudana de fase. Pode-se
observar que, no resfriamento, h expanso
de volume. Entretanto, nas paradas, (Ar1, Ar2
e Ar3 transformaes no resfriamento)
observa-se contraes que so devidas
tambm s mudanas de fase. No
considerada a varivel presso, visto que a
maioria das reaes metalrgicas ocorre
sempre presso constante, e no caso, a
presso uma atmosfera.
Figura 2.13 Curva de resfriamento do ferro.
A figura, que segue, mostra de forma ampliada o diagrama de equilbrio do
ao. A regio circulada mostra a rea de interesse de conformao mecnica a
quente dos aos comuns no comrcio. V-se, pelo diagrama de equilbrio do FeC, que os aos podem ser divididos
em trs grupos:
DIAGRAMA DE EQUILBRIO Fe-C - AOS
hipo-eutetide - com carbono
1600
at 0,77%;
Lquido
Liquidu
s
1400
Lquido + austenita
TEMPERATURA
( oC )
1200
a 0,77%;
2,11%
Austenita
Fe
1000
912
800
Fe +Fe
A1 727 C
600
Fe + Fe3C
0,77%
A1
0,0218%
400
200
0,0
0,5
1,0
hiper-eutetide - com carbono
superior a 0,77%;
Acm
A3
eutetide - com carbono igual
1,5
2,0
2,5
3,0
%C
Figura 2.14 Diagrama de equilbrio - ao.
12
Como
observao,
interessante salientar que este
diagrama terico, pois parte do
princpio que a velocidade de
resfriamento infinitamente lenta e
que no h outros elementos de liga
que possam influenciar nas curvas
de resfriamento. Assim sendo, no
deve ser usado para tratamentos
trmicos comerciais.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2.4.2 - CONSTITUINTES DA LIGA FERRO CARBONO
As ligas Fe-C so formadas por grupos de cristais que recebem o nome de
constituintes, e dependendo da forma de resfriamento da liga, podem ser
denominados em constituintes primrios (por resfriamento lento) ou secundrios
(por tratamento trmico) e tambm de acordo com as propores dos
componentes das ligas. So denominados: ferrita, cementita, perlita, austenita,
martensita, bainita, troostita, sorbita, ledeburita, esteadita e grafita, cujas
caractersticas sero visto a seguir:
Ferrita - A ferrita uma soluo slida de carbono em ferro alfa (Fe ). Sua
solubilidade na temperatura ambiente to
pequena que dissolve apenas 0,008% de
carbono. Por isso, praticamente se considera
a ferrita, como sendo ferro puro. A mxima
solubilidade de carbono no ferro alfa
0,0218% de carbono a 727 C. A ferrita um
dos constituintes mais moles e dcteis dos
aos. Cristaliza-se sob a forma cbica de
corpo centrado (CCC). Tem dureza de 90HB
aproximadamente, resistncia a ruptura de 28
kgf/mm (Lr 280 MPa), alongamento de 35 a
40%, magntica at 770C.
Figura 2.15 Ferritas.
Cementita o carboneto de ferro de frmula Fe3C, e contm, portanto 6,67%C
e 93,33% de ferro. um dos constituintes
mais duros e frgeis dos aos, alcanando
dureza de 700HB ou 68HRC. magntica
at a temperatura de 2.110 C, a partir da
qual perde o magnetismo. Cristaliza-se sob
forma ortorrmbica.
Figura 2.16 cementitas.
Perlita um constituinte composto por 88% de ferrita e 11,5% de cementita.
Tem semelhana com madre-prola A perlita tem uma dureza de
aproximadamente de 200HB, resistncia a ruptura de 80 kgf/mm2 (Lr 800 MPa)
e alongamento de 15%. Cada gro de perlita est formado por lminas ou placas
alternadas de cementita e ferrita. A estrutura lamelar se observa na perlita quando
ocorre resfriamento lento.
13
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
a)
b)
Figura 2.17 Perlitas. A) Perlita normal; B) Perlita sorbtica.
Se o resfriamento mais brusco, a estrutura mais borrosa e
denominada ento de perlita sorbtica. H outros autores que consideram essa
estrutura como sorbita. Se a perlita lamelar permanecer durante algum tempo a
uma temperatura um pouco inferior a critica (727 C) a cementita toma a forma de
glbulos incrustrados massa da ferrita, recebendo assim, a denominao de
perlita globular ou esferoidizada.
Austenita - uma soluo slida de carbono em ferro gama (Fe ). um dos
constituintes mais elsticos dos aos. A quantidade de carbono dissolvido na
estrutura cristalina, varia entre 0 e 2,11%, sendo a concentrao de carbono de
2,11% a mxima solubilidade a temperatura de 1.148 C. Pode-se obter
estruturas austenticas nos aos na temperatura ambiente, em aos com elevado
teor de nquel, sendo esta austenita no
estvel e com o tempo poder transformar-se
em ferrita e perlita ou perlita e cementita. Elas
se apresentam em aos ligas especiais como,
por exemplo, o cromo-nquel, sendo
denominadas de austenita retida ou residual.
A austenita formada por cristais cbicos de
face centrada (CFC), onde os tomos de
carbono esto inseridos principalmente nas
faces das clulas unitrias.
Figura 2.18 Austenita.
A austenita nos aos carbono, se os mesmos no contem elementos de
liga, comea a se formar em temperaturas de 727 C (linha A1 ponto crtico
inferior), e a partir da temperatura crtica superior (linha A3 ou Acm), encontra-se
toda a massa transformada em cristais de austenita. A austenita tem dureza de
aproximadamente 300HB, resistncia a ruptura de 100 kgf/mm2 (Lr 1.000 MPa)
e alongamento de 30% e no magntica.
Martensita - uma soluo slida saturada de carbono em ferro alfa (Fe ).
obtida por resfriamento muito rpido dos aos, uma vez elevando-se
temperatura suficiente para conseguir uma constituio austentica. A martensita
se apresenta sob a forma agulhas devido a grande deformao da rede cristalina,
visto que o resfriamento rpido mantm os tomos de carbono que estavam
dissolvidos na estrutura cbica de face centrada da austenita, mantendo-se na
estrutura cbica de corpo centrado do ferro alfa, a baixa temperatura.
14
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Antigamente acreditava-se que a martensita originava uma estrutura tetragonal
em virtude da grande dureza, assemelhando-se a estrutura do diamante. A
dureza da martensita pode atribuir-se tenso produzida entre os cristais
deformados, da mesma maneira que os
metais deformados a frio, onde a tenso
entre os gros aumenta, em conseqncia,
a dureza aumenta. A percentagem de
carbono da martensita no constante,
sendo que varia at o mximo de 0,8%C,
aumentando
sua
dureza,
resistncia
mecnica e fragilidade, com o aumento de
carbono. Sua dureza varia de 50 a 68 HRC,
resistncia mecnica de 175 a 250 kgf/mm2
(1.750 a 2.500 MPa), alongamento de 0,5 a
2,5% e magntica.
Figura 2.19 Martensita.
Bainita - uma soluo slida saturada de carbono em ferro alfa (Fe ). obtida
tambm por resfriamento rpido dos aos com concentrao de carbono acima de
0,3%. O processo de obteno de bainita similar ao da martensita, entretanto
esta e evidenciada pelo incio da
transformao
das
lamelas
de
cementita, ou seja, um processo de
transformao interrompida da perlita.
Apresenta durezas intermedirias da
perlita fina com a martensita. Em outras
palavras, a bainita, tanto quanto a
martensita,
um
constituinte
secundrio da liga Fe-C que sofreu
tratamento trmico com resfriamento
rpido.
Figura 2.20 Bainita inferior.
A bainita obtida por transformao isotrmica da austenita, entre as
temperaturas de 250 e 500 C, durante um tempo suficiente para que toda massa
se transforme. Tal operao recebe de peas de pequenas dimenses. Possui
excelentes propriedades mecnicas e no necessita de operaes de revenido
aps ter sido obtida. Pode-se obter dois tipos de bainita, dependendo da
temperatura em que o material foi tratado. A bainita superior, de aspecto
arborescente, obtida entre a temperaturas de 300 e 500 C e a bainita inferior
de aspecto acicular, similar a martensita, obtida entre temperaturas de 250 e
400 C. As duas bainitas so constitudas por placas de carbono sobre uma
matriz ferrtica.
15
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Trostita - A trostita se obtm por transformao isotrmica da austenita entre as
temperaturas de 500 e 600 C. A trostita tambm obtida atravs do resfriamento
com a velocidade inferior a crtica
(velocidade crtica de resfriamento a
mnima velocidade para que toda a
austenita se transforme em martensita). A
trostita se apresenta em forma de mdulos
de lminas radiais de cementita sobre a
ferrita, parecidas com as da perlita, porem
mais finas. A dureza da troostita de
aproximadamente
450HB,
resistncia
mecnica de 250 kgf/mm2 (2.500 MPa) e
alongamento de 7,5%.
Figura 2.21 Trostita.
Sorbita - A sorbita obtida por transformao isotrmica da austenita, entre as
temperaturas de 600 e 650 C e mantendo esta temperatura constante durante
um tempo suficiente para toda massa se transforme. Tambm obtida, quando
resfriamos a austenita a uma velocidade bem inferior a velocidade crtica de
resfriamento. Por essa razo aparece nos
aos forjados e laminados, nos quais a
velocidade de resfriamento suficientemente
rpida no d tempo para a formao da
trostita. A sorbita se apresenta sob a forma
de lminas, ainda mais finas que as da
trostita, e tambm parecidas com as da
perlita. A dureza da sorbita de
aproximadamente 350 HB e resistncia a
ruptura de 100 kgf/mm2 (Lr 1.000 MPa) e
alongamento de 15%.
Figura 2.22 Sorbita.
Ledeburita - A ledeburita no um constituinte dos aos, mas sim dos ferros
fundidos. encontrada nas ligas Fe-C com
teores de carbono superior a 2,11%. um
constituinte euttico e empregada para
designar uma mistura de componentes que
passam
sem
decomposio
nem
segregao do estado slido para o
lquido. A ledeburita obtida resfriando-se
a liga lquida de 4,3% C desde temperatura
de 1.148 C, sendo estvel at 727 C,
decompondo-se em ferrita e cementita.
formada por 52% de cementita e 48% de
austenita. A quantidade total de carbono
da ledeburita de 4,3%.
Figura 2.23 Ledebuirta.
16
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Esteadita - um constituinte de natureza euttica, e aparece nos ferros fundidos
com mais de 0,15% de fsforo. Como a esteadita se compem de uns 10% de
fsforo aproximadamente, e quase todo
fsforo da liga se encontra neste
constituinte,
pode-se
calcular
a
percentagem de esteadita que contm o
ferro fundido por sua quantidade de
fsforo. Por exemplo, um ferro fundido que
contm
0,15%
de
fsforo,
ter
aproximadamente 15% de esteadita.
muito dura e frgil, funde a 960 C.
Figura 2.24 Esteadita.
Grafita - A grafita um dos trs estados alotrpicos em que encontramos
carbono livre na natureza. Possui cor marrom escuro e peso especfico 2,25
g/cm3. Apresenta-se em forma de lminas nos ferros fundidos cinzentos e em
forma de esferoidal em alguns ferros fundidos especiais. Confere a liga ferrosa
baixo valor de dureza, resistncia mecnica, elasticidade e plasticidade. No
entanto melhora a resistncia ao desgaste (serve como lubrificante seco) e a
corroso.
Em condies de resfriamento lento, as seguintes estruturas so formadas
no ao:
a) No ao hipo-eutetide abaixo de 727
C; Ferrita + Perlita.
As quantidades de perlitas aumentam
com o aumento do teor de carbono,
diminuindo a quantidade de ferrita.
Figura 2.25 Microestrutura do ao hipo-eutetide. Ferritas (claras), perlitas (escuras).
b) No ao eutetide;
Perlita.
Com concentrao de 0,77% de
carbono encontram-se na matriz do ao
somente gros de perlitas.
Figura 2.26 Microestrutura de ao eutetide. Somente perlitas.
17
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
c) No ao hiper-eutetide at 2% de C;
Perlita + Cementita.
Nos aos com teores acima de 0,77%
de carbono se encontram gros perlticos e,
no contorno de gro, a cementita,
caracterizando fragilidade intergranular.
Figura 2.27 Microestrutura de ao hiper-eutetide. Perlitas e cementitas.
Nas condies normais, evidente que nunca h velocidade infinitamente
lenta. Por outro lado, os elementos de liga influem na morfologia do diagrama de
equilbrio. No caso de resfriamento convencional, por exemplo, forno, ar, leo e
gua, h a formao de outros constituintes, como perlita fina, bainita superior e
inferior, martensita.
2.4.3 - CLASSIFICAO DOS AOS - ABNT - SAE - AISI
A classificao, denominada classificao SAE, foi organizada,
apresentada e normalizada em 1.912 nos Estados Unidos da Amrica do Norte,
pela famosa Society of Automotive Engineers (Sociedade dos Engenheiros
Automobilistas) - conhecida pela sigla SAE , tornou-se conhecida mundialmente,
sendo suas normas de classificao dos aos ou das bases de seu sistema,
adotadas hoje por muitos pases. A base deste sistema , em princpio, o da
classificao em relao a sua composio qumica.
Em 1.941 estas normas foram encampadas pela AISI, sigla da American
Iron and Steel Institute (Instituto Americano de Ferro e Ao), entidade norteamericana que congrega e normaliza toda a indstria de ferro e ao naquele pas.
Assim sendo, o que faz a AISI no foi nada mais do que adotar em princpio, a
classificao bsica inicial SAE e partindo desta foram feitas modificaes
necessrias e ampliaes. Desta forma, podemos falar em classificao SAE ou
AISI ou tambm SAE-AISI, que estaremos praticamente nos referindo a um
mesmo critrio de tipos e valores. So perfeitamente equivalentes, permanecendo
o princpio adotado anteriormente, ou seja, a classificao tem como critrio
bsico a composio qumica de ao.
No Brasil tambm foi, praticamente, adotada a classificao SAE, de
acordo com a norma NB-82, da Associao Brasileira de Normas Tcnicas,
cuja sigla ABNT.
Assim, tem-se como exemplo: Ao-Nquel:
SAE - 2315
ABNT - 2315
AISI - 2315
18
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Sistema bsico de classificao
Um sistema codificado usado para designao dos aos laminados na
classificao SAE - AISI tornando possvel especificar, nos desenhos de oficina e
especificaes tcnicas, o tipo de ao usado, permitindo descrever, parcialmente,
a composio qumica dos mesmos. Entende-se como aos laminados (wrought
or rolled steel) os aos carbono (carbon steel) e aos-liga (alloy steel) usados
em construo mecnica e obtidos por laminao em laminadores. O propsito
desta publicao exatamente de estudar o sistema de classificao destes tipos
de aos.
O cdigo bsico de representao dos tipos de aos, nos sistemas
normalizados SAE e ou AISI constitudo sistematicamente por quatro algarismos
(ocasionalmente por cinco algarismos no SAE e trs no sistema AISI), precedidos
da sigla indicadora da constituio normalizadora.
Tem-se ento:
UMA sigla e QUATRO algarismos
SAE XXXX
SAE : Sigla da Instituio Normalizadora
X - 1o algarismo: indica o tipo de ao;
X - 2o algarismo: indica o grupo dentro do tipo;
XX - 3o e 4o algarismos: indicam o percentual mdio de carbono;
Em alguns casos, antes dos 4 algarismos, ou entre o 2 e o 3 ocorre a
incluso de letras como:
Prefixo X indica a variao de enxofre ou cromo;
Prefixo T empregado para indicar a maior proporo de Mn;
A letra L intercalada entre o 2 e o 3 algarismo indica a presena de
chumbo (lead);
A letra D precedendo os algarismos indica aos com composio qumica
exatamente igual a estabelecida pelas norma DIN (Deutsche Industrie
Norm).
Exemplo: D5116 corresponde a 16 Mn Cr 5
Os aos fundidos so designados por 4 algarismos seguidos de AF, onde
os dois primeiros nmeros indicam a tenso de ruptura em kgf/mm2 e os dois
ltimos algarismos representa o alongamento. Ex. ABNT 4524 AF ao fundido
com tenso de ruptura de 45 kgf/mm2 e alongamento de 24%.
Sigla
Cada instituio normalizadora usa a sua sigla:
Society of Automotive Engineers SAE - XXXX
American Iron and Steel Institute AISI - XXXX
Associao Brasileira de Norma Tcnica ABNT - XXXX.
19
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
1o algarismo - Tipo de Ao
Um sistema numrico de 1 a 9, procura identificar de uma maneira geral e
global o tipo de ao a que pertence, significando a indicao de metal (ou metais)
bsico adicionado a liga de ferro carbono, e que geralmente lhe d o nome. O
quadro abaixo indica esta identificao:
TIPO DE AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DESIGNAO
Ao Carbono (sem metal de liga)
Ao Nquel
Ao Nquel-Cromo
Ao Molibdnio
Ao Cromo
Ao Cromo-Vandio
Ao Tungstnio-Cromo
Ao Nquel-Cromo-Molibdnio
Ao Silcio-Mangans
2o Algarismo - grupo dentro do tipo
Nas ligas simples, um elemento de liga que, geralmente, indica a
percentagem aproximada deste elemento.
Nas ligas com dois elementos de liga, algumas vezes, indica a
percentagem aproximada do elemento predominante na liga.
Nas ligas com trs elementos de liga e tambm, em alguns casos, com
dois elementos de liga indica uma determinada combinao de porcentagem
mdia dos (ou de alguns dos) componentes da liga, que, muitas vezes,
permanecem constantes para todos os aos com o mesmo 2o algarismo; que
nestes casos denominamos de combinao da liga.
Dentro do mesmo tipo e grupo esto compreendidas uma srie de ligas
com as mesmas porcentagens de elementos componentes.
3o e 4o Algarismo - Percentagem mdia de Carbono
Os dois ltimos algarismos XX indicam sempre a percentagem mdia de
carbono no ao, em centsimo percentual, ou seja:
0, XX % C Ex.: 0,25% C
Significado especial do 4o Algarismo
Muitas vezes, para identificar bem os aos comerciais disponveis, o 4o ou
ltimo algarismo, quando for considerado isoladamente, pode indicar a existncia
de variaes de outros elementos da liga. Ser visto, posteriormente nas tabelas,
que, por exemplo, entre os aos indicados por SAE 1020 (0,2% C) e SAE 1021
(0,21% C) as tabelas no apresentam diferena na porcentagem mdia de
carbono. Ambos apresentam uma porcentagem de C entre 0,18 a 0,23% C. Por
20
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
outro lado, no entanto, apresentam na porcentagem de Mn; o ltimo contm maior
porcentagem.
Aos classificados com cinco algarismos
Algarismos (XXXXX), como os aos SAE 50100, SAE 51100 e 52100, com
percentagem mdia de carbono de 1%, os trs ltimos (XXX) indicam a
percentagem mdia de carbono (entre 0,98 e 1,10%C). Exemplos:
Ao SAE - 1035
1 - Caracteriza Ao Carbono.
0 - Sem elemento de liga alm da combinao ferro e carbono, exceto elementos
residuais.
35 - Corresponde a uma percentagem mdia de 0,35% de carbono na liga.
Ao SAE - 5140
5 - Caracteriza Ao Cromo
1 - Percentagem aproximada de Cromo na liga - 1% Cr.
40 - Percentagem mdia de 0,40% de C.
Ao SAE - 8630
8 - Caracteriza Ao Nquel-Cromo-Molibdnio
6 - Caracteriza a combinao em determinadas percentagens dos trs elementos
de liga, cujos valores mdios esto especificados nas respectivas tabelas
de composio qumica.
30 - Percentagem mdia de 0,30% de C.
Ao SAE - 51100
5 - Caracteriza Ao Cromo.
1 - Percentagem aproximada de cromo na liga - 1% Cr.
100 - Percentagem mdia de 1% de carbono - (0,98 a 1,10% de C.).
Tipo
Ao carbono
Ao Ni
Ao Ni-Cr
Ao Mo
Classe
10xx
11xx
12xx
13xx
T-13xx
14xx
15xx
20xx
21xx
23xx
25xx
30xx
31xx
32xx
33xx
34xx
40xx
Teor aproximado dos elementos
Ao sem elemento de adio
Ao resulfurado de usinagem fcil
Ao resulfurado e refosfatado
Ao com 1,75% de Mn
Ao com elevado teor de Mn
Ao com 0,10% de Nb
Ao com Mn entre 1,00 a 1,65%
Ao com 0,5% de Ni
Ao com 1,5% de Ni
Ao com 3,5% de Ni
Ao com 5,5% de Ni
Inox e resistente altas temperaturas
Ao com 1,25% Ni e 0,65% Cr
Ao com 1,75% Ni e 1,0% Cr
Ao com 3,5% Ni e 1,5% Cr
Ao com 3,0% Ni e 0,8% Cr
Ao com 0,25% Mo
21
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Ao Cr
Ao V
Ao W
Ao Ni-Cr-Mo
Ao Si-Mn
41xx
43xx
46xx
48xx
50xx
50xxx
501xx
51xxx
511xx
514xx
515xx
52xx
52xxx
521xx
61xx
70xx
86xx
87xx
92xx
93xx
94xx
97xx
98xx
Ao com 0,2% Mo e 0,9% Cr
Ao com 1,75% Ni e 0,8% Cr e 0,25% Mo
Ao com 1,75% Ni e 0,25% Mo
Ao com 3,5% Ni e 0,15% Mo
Ao com 0,3% a 0,6% de Cr
Ao com 0,5% de Cr
Ao com 0,5% de Cr e 1% de C (para rolamentos)
Ao com 1% de Cr (para rolamentos)
Ao com 1% de Cr (para rolamentos)
Ao com 1,2% de Cr
Ao com 1,45% de Cr e 1% de C
Ao com 1,45% de Cr
Ao com 0,9% de Cr a 0,15% de V
Ao com tungstnio
Ao com 0,55% Ni e 0,5% Cr e 0,10% Mo
Ao com 0,55% Ni e 0,5% Cr e 0,25% Mo
Ao com 2,0% Si e 0,55% Mn
Ao com 3,25% Ni e 1,2% Cr e 0,12% Mo
Ao com 0,45% Ni e 0,4% Cr e 0,12% Mo e 1% Mo
Ao com 0,55% Ni e 0,17% Cr e 0,20% Mo
Ao com 1% Ni e 0,8% Cr e 0,25% Mo
2.4.4 - INFLUNCIA DOS ELEMENTOS DE ADIO
Como foi estudado anteriormente, o ao, tal como usado industrialmente,
possui alm do ferro e do carbono, outros elementos que podem ser classificados
e divididos em trs grupos.
1o Grupo - Elementos resultantes da elaborao;
2o Grupo Impurezas;
3o Grupo - Elementos de liga.
1o Grupo - Elementos resultantes da elaborao
Pertencem a este grupo os elementos como o mangans (Mn), o silcio
(Si), o alumnio (Al) ou o titnio (Ti), cuja presena no ao, como decorrncia dos
processos de fabricao e que, embora em pequenas percentagens, sempre
existem nos aos.
2o Grupo - Impurezas
So constitudas pelos elementos que sendo componentes das matrias
primas usadas, ou introduzidas durante os processos de fabricao, devem ser
reduzidas as menores porcentagens possveis, por serem no caso,
manifestamente prejudiciais a qualidade do ao. So constitudas principalmente
22
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
por elementos no metlicos como o enxofre, fsforo, oxignio, etc., mas tambm
por diversos metais, como o cobre, nquel, chumbo, estanho, etc.
Sabe-se que entre as matrias primas usadas para a fabricao do ao, uma boa
percentagem de sucata ou seja, uma quantidade de peas de ao (de diversas
ligas) adicionada junto com o ferro e carbono para formar o ao. Podero dar ao
ao propriedades indesejveis para o fim a que se destinam.
3o Grupo - Elementos de Liga
Tambm denominados de elementos especiais, so aqueles que se
adiciona intencionalmente ao ao, conferem propriedades particulares. O seu
valor porcentual est, em geral, compreendido entre dois limites. Se nenhum
destes elementos atinge a porcentagem de 5% o ao diz-se baixo teor elementos
de liga se a percentagem ultrapasse os 5% so classificados como de mdio ou
alto teor em elementos de liga, ou ainda, aos especiais. Mangans, silcio,
titnio, nitrognio, cobre, nquel, cromo, molibdnio, vandio, zircnio, selnio,
alumnio, cobalto, tntalo, tungstnio, boro, chumbo.
Para cada um dos elementos de adio existentes ou adicionados aos
aos de construo, ser abordado um resumo da sua ao especfica e em
especial, relacionando a sua influncia sobre os tratamentos trmicos e a
influncia destes elementos e destes tratamentos sobre as caractersticas de
comportamento mecnico dos aos.
2.4.4.1 Elementos de adio
Carbono (C) - o elemento que desafia o ao e estabelece suas propriedades
bsicas. Aumenta a dureza e resistncia e diminui a ductilidade e
plasticidade. O teor de carbono varia entre 0,10 a 1,5% aproximadamente.
Percentagens que oscilam entre 0,10% a 0,70% C, classificam-no como
aos de construo. Percentagens entre 0,50 a 1,50% C constituem os
Aos Ferramentas. A percentagem de carbono influi apenas na dureza de
ao, enquanto que as outras propriedades dependem do grau de pureza,
que definem a qualidade do ao. As impurezas provenientes da matriaprima, ou conseqentes dos processos de fabricao so constitudos
principalmente pelo enxofre, fsforo, silcio e mangans.
Mangans (Mn) - um elemento que se apresenta em todos os aos, em
pequenas percentagens, devido aos processos de fabricao. Faz
aumentar moderadamente a temperabilidade e contrabalana a fragilidade
dos aos devido ao enxofre. Aumenta a dureza e a resistncia, assim como
a resistncia ao desgaste. Aumenta a velocidade de penetrao do
carbono na cementao. As deformaes produzidas pela tmpera so
diminudas pela adio de Mn. Associado ao silcio, serve para fabricar
aos especiais para molas. Somente considerado como elemento de liga
nos aos, quando a percentagem mdia excede a 0,6% de Mn.
Silcio (Si) - O silcio como o Mn, acha-se presente em todos os aos em
pequenas propores, at 0,35% pois empregado como desoxidante
durante o processo de fabricao do ao. Aumenta a resistncia mecnica
dos aos de baixa liga e melhora a resistncia oxidao em altas
23
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
temperaturas. empregado tambm como elemento de liga, por sua ao
de aumentar a temperabilidade e penetrao da tmpera. Faz aumentar o
coeficiente de elasticidade o que torna sua presena inconveniente nos
aos destinados a receberem deformao por estampagem. Os aos-silcio
resistem muito bem ao desgaste, empregando-se em ferramentas para
trabalhos em pedreiras. usado tambm na fabricao de molas, atingindo
os aos especiais, para este efeito, altos valores de carga de ruptura. Os
aos-silcio so muito usados para chapas de ncleo de transformadores e
motores eltricos, com carbono at 0,10% e percentagens de silcio at
4,0% por possurem boa permeabilidade magntica; prestando-se muito
bem para imantao por corrente alternada, magnetizando e perdendo
rapidamente o magnetismo. Para ser considerado como elemento de liga, a
percentagem de silcio deve ser superior a 0,4% Si, sendo ento
considerado como ao-silcio.
Titnio (Ti) - usado para desoxidao e como estabilizador dos aos
inoxidveis austenticos, prevenindo a corroso intergranular e a tendncia
fragilidade. Aumenta a dureza e a resistncia dos aos de baixo teor de
carbono. Percentagens de 2,0% de Ti tornam os aos com 0,5% C no
temperveis.
Enxofre (S) - um elemento prejudicial aos aos tornando-os frgeis e
quebradios ao rubro, de modo que o seu teor deve ser mantido o mais
baixo possvel. A presena do enxofre faz com que os aos tenham
caractersticas mecnicas inferiores. A percentagem mxima admissvel e
em torno de 0,05%. Em um caso especial, considerado elemento
benfico, pois sua edio em percentagem, de at 0,35% usado na
produo dos aos de corte livre, para permitir altas velocidades de corte,
pois aumenta a facilidade de usinagem e os cavacos se destacam em
pequenos pedaos, devido a fragilidade destes aos. So tambm
chamados aos para tornos automticos, por serem usados para a
fabricao de pequenas peas.
Fsforo (P) - uma impureza normal existente nos aos, porem considerada de
natureza nociva. Por esta razo nos aos de alta qualidade, deseja-se
limites mximos entre 0,30 a 0,5%. Aumenta a existncia e dureza dos
aos de baixa percentagem de carbono melhora nestes aos a sua
usinabilidade, dando origem aos aos de corte livre. Melhora ligeiramente
a resistncia corroso.
Oxignio (O) - Como o nitrognio, o oxignio prejudicial ao ao. O oxignio
endurece o ao, tornando-o frgil, diminuindo conseqentemente sua
tenacidade. Felizmente, durante os processos de fabricao, adicionam-se
elementos de liga, que possui, maior afinidade pelo oxignio do que o ferro,
da forma que a combinao daqueles elementos com o oxignio torna-se
inofensivo.
Nitrognio (N) - Em princpio o nitrognio tem muitas vezes uma influncia nociva
sobre os aos, causando principalmente dureza e fragilidade. Atualmente,
o Nitrognio deixou de ser considerado elemento nocivo, pois foi verificado
que, em muitos casos, melhora certas propriedades dos aos. Aumenta a
24
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
resistncia ao calor e fadiga dos aos austenticos. O nitrognio
tambm usado num processo de endurecimento superficial chamado de
nitretao.
Cobre (Cu) - Em percentagens de 0,10 a 0,20% aumenta a profundidade de
tmpera. Aumenta a resistncia a ruptura trao e o limite de
elasticidade. Tem pouca influncia sobre a ductibilidade. Em percentagem
de 0,5% melhora a resistncia corroso atmosfrica. Aumenta a
resistncia ao corrosiva dos cidos, sendo as vezes usados nos aos
cromo-nquel resistentes corroso.
Nquel (Ni) - Consiste um dos elementos de liga mais importantes, e um dos
primeiros a serem utilizados nos aos. Os aos so classificados e
representam propriedades sensivelmente diferentes, quando a
percentagem menor ou maior de 25% de Ni. Aumenta a resistncia a
trao, a tenacidade e a resistncia ao choque, especialmente a baixas
temperaturas. Eleva a resistncia corroso a temperatura ambiente e
altas temperaturas. O ao-nquel com baixa percentagem de Carbono
(0,15% C) e 2% de Ni prestam-se notavelmente bem para cementao. As
ligas com altas percentagens de Ni (e Cr) so os elementos bsicos dos
aos inoxidveis. As ligas com fortes percentagens de Ni apresentam
reduzido coeficiente de dilatao pelo calor, como o Invar (35,5% de Ni) e a
Platinite (46% de Ni), sendo usados para rguas padro, peas para
relgios, etc.
Cromo (Cr) - Junto com o Ni, constitui um dos elementos mais importantes na
fabricao dos aos de alta qualidade. O cromo aumenta
consideravelmente a resistncia a temperatura ambiente e a altas
temperaturas: aumenta a dureza e o limite de escoamento do ao, do que
resulta uma grande resistncia ao desgaste e alta capacidade de corte.
Aumenta a penetrao da tmpera, assim como a resistncia a corroso e
a oxidao. largamente utilizado na fabricao dos aos inoxidveis,
onde entrar como elemento de liga, ou associado ao Ni. Os aos-cromo
melhoram consideravelmente as suas propriedades pelo tratamento de
revenido aps o tratamento de tmpera.
Molibdnio (Mo) - A ao do molibdnio muito intensa, pois mesmo com
pequenas porcentagens obtm-se efeitos considerveis. O molibdnio atua
sobre propriedades muito diversas do ao e o seu emprego generaliza-se
cada vez mais, pela contribuio efetiva e econmica para as
caractersticas pretendidas, sendo invariavelmente usado em complemento
de outros elementos de liga (pois o molibdnio, isoladamente, tende a
diminuir a tenacidade dos aos). D ao ao resistncia trao, alta
tenacidade e boa ductibilidade. Em conjunto com o nquel e cromo, nos
aos inoxidveis, melhora ainda a corroso; melhora a resistncia ao
choque e a resistncia fluncia a quente, sobretudo nas percentagens de
0,5% e confere boas propriedades mecnicas para utilizao a
temperaturas elevadas, especialmente nas de corte rpido. Oferecem
tambm boa resistncia ao desgaste. De um modo geral, os efeitos
produzidos pelo Mo nos aos assemelham-se as produzidas pelo
tungstnio, porm seu efeito muito mais intenso.
25
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Vandio (V) - Uma das principais caractersticas da adio do vandio nos aos,
torn-lo insensvel ao super aquecimento, melhorando as suas
caractersticas de forjamento e usinagem. Aumenta o limite de escoamento
e resistncia, sem diminuir, entretanto, como seria de esperar, o
alongamento. Geralmente so adicionados com outros elementos, sendo o
mais comum o cromo. elemento importante em todos os aos rpidos. O
vandio aliado ao molibdnio melhora a resistncia fluncia. Oferecem
tambm boa resistncia ao desgaste. Tambm so empregados em peas
que esto sujeitos fadiga, como as molas, especialmente com o cromo.
Alumnio (Al) - O alumnio empregado nos aos, principalmente como
desoxidante durante o processo de fabricao. Devido a grande afinidade
pelo oxignio, um elemento importante nos aos que vo ser submetidos
a nitretao, pois facilita a penetrao do nitrognio. Como elemento de
liga, o alumnio aumenta a resistncia do ao oxidao e ao calor.
Melhora a resistncia ao choque dos aos de construo.
Cobalto (Co) - Aumenta a resistncia do ao. Emprega-se especialmente nos
aos ferramentas com o W e o Cr em teores de 3 a 10%. Aumenta a
dureza e contribui para a melhoria acentuada da capacidade de corte a
altas temperaturas. Emprega-se nos aos para ims e ligado ao Cr e ao Ni
nos aos superinvar de baixo coeficiente de dilatao. Sempre
empregado em conjunto com outros elementos, como o Cr, Mo, W, V, etc.
Tungstnio (W) - Aumenta consideravelmente a dureza a resistncia do ao a
temperatura ambiente e em especial a altas temperaturas. Forma
carbonetos muito estveis e resistentes ao desgaste, pelo que
extraordinariamente importante seu efeito nos aos para ferramentas, onde
muito empregado, sendo o elemento bsico dos aos rpidos. Os aos
ao tungstnio podem ser temperados em gua sem rachar, e resistem bem
ao revenido. O seu emprego em teores elevados, deve ser acompanhado
por um aumento do teor de carbono, afim de que os aos no percam a
sua capacidade de tmpera. Mantm uma dureza elevada em temperatura
elevada (500 C) e, por esta razo, so geralmente usados na fabricao
de estampas e matrizes. So aos com preo elevado, o que torna pouco
econmico o seu uso quando so desejveis as suas excelentes
propriedades mecnicas.
Boro (B) - um elemento muito interessante, incorporado recentemente na
tecnologia de fabricao do ao. A sua ao mais importante o
extraordinrio aumento da temperabilidade do ao, que se obtm, mesmo
com teores bastante baixos, em torno de 0,004%. Melhora a resistncia
fadiga e as suas caractersticas de laminao, forjamento e usinagem.
Chumbo (Pb) - O objetivo da adio de chumbo no ao o de melhorar a
usinabilidade dos aos-carbono, alm de melhorar o acabamento. O
cavaco formado e frgil descontnuo.
26
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2.4.5 - RESUMO DOS PRINCIPAIS AOS PARA CONSTRUO MECNICA
1010 - Ao ao carbono sem elementos de liga, para uso geral, usado em
peas mecnicas, peas dobradas, partes soldadas, tubos e outras
aplicaes.
1020 - Ao ao carbono, de uso geral, sem elementos de liga, usado em peas
mecnicas, eixos, partes soldadas, conformada ou cementadas, arames em
geral, etc.
1045 - Ao com teor mdio de carbono, de uso geral em aplicaes que
exigem resistncia mecnica superior ao 1020 ou tmpera superficial (em leo
ou gua), usados em peas de construo mecnica em geral.
1212 - Fcil de ser usinado, oferecendo um bom acabamento superficial,
contudo, de difcil soldabilidade exceto mediante a uso de eletrodos de baixo
teor de hidrognio. Como exemplo, E6015 (AWS). Usa-se comumente na
fabricao de porcas, parafusos, conexes e outros produtos que necessitam
de alta usinabilidade, porm no devem ser utilizados em partes vitais de
mquinas ou equipamentos que estejam sujeitos a esforos severos ou
impactos.
12L14 - Idntico s caractersticas do 1212 com exceo da usinabilidade,
onde apresenta capacidade superior a 60% em relao ao 1212.
12T14 - Idntico s caractersticas do 1212 com exceo da usinabilidade,
onde apresenta capacidade superior a 100% em relao ao 1212. Apresenta
algumas melhorias em trabalhos que necessitem de compresso, como por
exemplo, roscas laminadas ou partes recartilhadas em relao ao 1212 e
12L14.
8620 - Ao cromo-niquel-molibdnio usado para cementao na fabricao de
engrenagens, eixos, cremalheiras, terminais, cruzetas, etc., (limite de
resistncia do ncleo: entre 70 e 110 kgf/mm2).
8640 - Ao cromo-nquel-molibdnio de mdia temperabilidade, usado em
eixos, pinhes, bielas, virabrequins, chavetas e peas de espessura mdia.
4320 - Ao cromo-nquel-molibdnio para cementao que alia alta
temperabilidade com boa tenacidade, usado em coroa e pinhes, terminais de
direo, capas de rolamentos, etc., (limite de resistncia do ncleo: entre 80 120 kgf/mm2).
4340 - Ao cromo-nquel-molibdnio de alta temperabilidade, usado em peas
de sees grandes como eixos, engrenagens, componentes aeronuticos,
peas para tratores e caminhes, etc.
5140 - Ao cromo-mangans para beneficiamento, de mdia temperabilidade,
usado em parafusos, semi-eixos, pinos, etc.
5160 - Ao cromo-mangans de boa tenacidade com mdia temperabilidade,
usado tipicamente na fabricao de molas semi-elpticas e helicoidais para
veculos.
6150- Ao cromo-vandio para beneficiamento que apresenta excelente
tenacidade e mdia temperabilidade sendo usado em molas helicoidais, barras
de toro, ferramentas, pinas para mquinas operatrizes, etc.
9260 - Ao de alto teor de silcio com alta resistncia, usado em molas para
servio pesado como tratores e caminhes.
27
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
52100 - Ao que atinge elevada dureza em tmpera profunda, usado
tipicamente em esferas, roletes e capas de rolamentos e em ferramentas como
estampos, brocas, alargadores, etc.
As aplicaes dos aos mencionados na tabela que se segue no passam
de orientaes gerais. Portanto, uma seleo criteriosa do material depende,
sobretudo, das caractersticas precisas do trabalho a que se destina, da
usinabilidade do material, do custo, alm de outros fatores.
APLICAO
Ao de corte livre
Ao de deformao mnima
Ao p/ ferramentas agrcolas
Ao p/ferramentas agrcolas
Ao para laminao a frio
Alavanca de freio
Alavanca temperada
Anel de rolamento
Arame de ao
Arruela de encosto
Arruela de encosto temperada
Arruela de presso
Barra de distribuio
Barra de distribuio
Barra do amortecedor
Barra para estiragem a frio
Biela
Chapas, tiras e tubos
Chapas, tiras e tubos
Chaveta
Corrente de transmisso
Disco de arado
Disco de frico
Eixo
Eixo de automvel
Eixo do ventilador
Eixo ranhurado
Eixo para servio severo
Eixo temperado em leo
Eixo de transmisso
Engrenagem cementada
Engrenagem de corrente
Engrenagem do diferencial
Engrenagem em servio severo
Engrenagem temperada
TIPO DE AO SAE
12L14, 12T14, 1212, 1213, 1132, 1137, 1144
4615
4620
1070, 1080
1070
1030, 1040
2330
52100
1085
1060
5150
1060
1020
1040
1085
1035
1040, 2340, 3141
1008
1010, 1015
1030, 2330, 3115
3135, 3140
1080, 1095
1060, 1070 1085
1040, 1045, 2340, 3140, 3141, 4063, 4340
1040, 2340
2340, 2345, 4140
1045, 1320, 2340, 2345, 5115, 3120, 3135, 3140, 4023,
8640, 4340, 6150
4615, 4620
5150
4140
1320, 2317, 3115, 3510, 4119, 4125 4320, 4615, 4815,
4820, 8620
3115, 3120, 4119
4023
4640, 6150
2345
28
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Engrenagem temperada em leo
Esfera de rolamento
Estampagem profunda
Excntrico para volante
Junta universal
Lmina para molas
Mola de compresso
Mola helicoidal
Mola temperada em leo
Parafuso
Parafuso de barra de direo
Parafuso de corte livre
Parafuso estampado a frio
Parafuso esticador
Parafuso para biela
Parafuso para cilindro
Parafuso para servio severo
Parafuso temperado
Pea cementada
Pea forjada
Pea forjada mdia e pequena
Pea forjada p/ar comprimido
Pea forjada temperada
Pea forjada p/trabalho severo
Pinho cementado
Pino (corrente de transmisso)
Pino (pisto)
Porca
Porca temperada
Rebite
Roletes para rolamento
Tubos para peas mecnicas
Tubos sem costura
Tubos soldados
Virabrequim
3145, 3150, 4340, 8640, 5150
52100
1008, 1010, 1015
4615, 4620
1144
1085, 1095, 4063, 4068, 9260, 6150
1060, 4063
1095, 4063, 6150
5150
1035
3130
1211, 1212, 1213
4042
3130
3130
3130
4815, 4820
2330, 2340
1020, 1022, 1024, 1320, 2317, 2515, 3310, 3115, 3120,
4023, 4032, 8620, 1117, 1118, 1040
1045, 1036
1035
4140
3240, 5140, 6150
6150
3115, 3120, 4320
3135, 4815, 4820
3115, 3120
3130
2330
1008, 1010, 1015
52100
1010
1010
1020
1045 1145, 3135, 3140, 4140
29
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2.5 FERRO FUNDIDO
Pelo diagrama de equilbrio do Fe-C acima, pode-se definir tambm o ferro
fundido como uma liga binria de ferro-carbono, tendo teor mnimo de carbono o
valor de 2,1%, a temperatura ambiente e, teor mximo de carbono, de 6,7%, a
temperatura ambiente, entretanto, o ferro fundido obtido diretamente do ferro
gusa que tem teores elevados de silcio, denominando-se assim como uma liga
ternria composta basicamente de trs elementos: ferro, carbono (2 a 4,5%) e
silcio (1 a 3%) alm de alguns elementos qumicos residuais oriundos de sua
fabricao (Mn, P, S) ou quando ligados com elementos adicionados para
melhoria de suas propriedades. Na prtica, o ferro fundido contm de 2% a 4,5%
de carbono e principalmente com teores prximo de 4,3% de carbono visto que o
euttico produzido por esta concentrao de carbono reduz a temperatura de
solidificao (1.148 C).
Dependendo da concentrao de cada elemento e da maneira como o
material resfriado ou tratado termicamente, o ferro fundido ser branco,
cinzento, malevel ou nodular. Estas denominaes que se d ao ferro fundido
devido ao aspecto da fratura do material e tambm pela forma como o carbono se
apresenta na massa metlica. De acordo com o diagrama de Fe-C, o carbono
pode se apresentar de duas formas: na forma de cementita (Fe3C) e na forma de
grafite.
No ferro fundido cinzento, o carbono se apresenta na forma de grafita,
lminas ou flocos, dando cor acinzentada ao
material. Esta formao do carbono deve-se
ao silcio quando tem teores de at 2,8%,
alm de um resfriamento muito lento. A
figura ao lado mostra este tipo de estrutura.
Este tipo de ferro fundido apresenta boa
usinabilidade tima capacidade de
amortecer vibraes. Devido a estas
caractersticas so muito empregados na
indstria automobilstica e indstria de
equipamentos agrcolas.
Figura 2,28 Microestrutura do ferro fundido cinzento.
O ferro fundido branco formado atravs de um resfriamento mais rpido
do metal lquido, entretanto, so tambm necessrias concentraes menores de
carbono e de silcio. Desta forma, no ocorre a formao de grafite e todo
carbono fica na forma da cementita. Em funo disto, este ferro fundido apresenta
cor clara. Os elementos qumicos adicionados ao ferro fundido branco como
cromo, molibdnio e vandio estabilizam os carbonetos, aumentando a dureza.
Assim, os ferros fundidos brancos so frgeis, embora tenham uma grande
resistncia compresso e ao desgaste. As principais aplicaes deste ferro
fundido so em equipamentos de minerao, moagem, revestimentos de moinhos
e outras, onde a dureza a principal caracterstica.
30
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O ferro fundido malevel produzido a partir do ferro fundido branco que
submetido a tratamento trmico, tornando as peas fabricadas mais resistentes
ao impacto e s deformaes. Dependendo das condies do tratamento trmico
o ferro pode apresentar o ncleo preto ou branco.
O ferro fundido malevel de ncleo
preto submetido a tratamento trmico em
atmosfera neutra, fazendo com que a
cementita se decompe em ferro e grafite de
forma compacta, diferente da forma da
grafite do ferro fundido cinzento. So muito
usados para fabricao de suporte de molas,
caixas de direo, cubos de rodas, bielas,
conexes hidrulicas.
Figura 2.29 Microestrutura do ferro fundido nodular.
O ferro fundido malevel de ncleo preto submetido a tratamento trmico
em atmosfera neutra, fazendo com que a cementita se decompe em ferro e
grafite de forma compacta, diferente da forma da grafite do ferro fundido cinzento.
So muito usados para fabricao de suporte de molas, caixas de direo, cubos
de rodas, bielas, conexes hidrulicas.
O ferro fundido malevel de ncleo branco submetido a um tratamento
trmico em atmosfera oxidadante, na qual o carbono removido por
descarbonetao, no havendo a formao de grafita. Em virtude disto, este ferro
fundido adquire caractersticas similares ao dos aos de baixo teor de carbono,
podendo ser soldado. As principais aplicaes so de fabricao de flanges,
barras de toro, e partes de mancais.
2.5.1 - CLASSIFICAO DOS FERROS FUNDIDOS - ABNT
Os ferros fundidos so classificados pela ABNT conforme o tipo de ferro
fundido. Para o ferro fundido cinzento utiliza-se a norma NBR 6589, cuja
classificao codificada por duas letras e um nmero de trs dgitos: FC-XXX,
onde as letras so as abreviaturas de ferro fundido cinzento e os dgitos indicam a
resistncia trao em MPa. Exemplo: FC-350 um ferro fundido cinzento com
tenso de ruptura trao de 350 MPa (Lr = 35 kgf/mm2).
O ferro fundido malevel de ncleo preto classificado segundo a norma
NBR 6590, cuja codificao composta por trs letras e cinco dgitos, das quais
os trs primeiros dgitos indicam a resistncia trao em MPa e os dois ltimos
algarismos representam a deformao em percentual. Exemplos: FMP 45007 (r
= 450 MPa e = 7%); FMP 32015 (r = 320 MPa e = 15%).
O ferro fundido malevel de ncleo branco classificado segundo a norma
NBR 6914, cuja codificao composta por quatro letras e cinco dgitos, das
quais os trs primeiros dgitos indicam a resistncia trao em MPa e os dois
31
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
ltimos algarismos representam a deformao em percentual. Exemplos: FMBS
39012 (r = 390 MPa e = 12%); FMBS 32008 (r = 320 MPa e = 8%).
O ferro fundido nodular utiliza-se a norma NBR 6916, cuja classificao
codificada por duas letras e um nmero de cinco dgitos: FE-XXXXX, onde as
letras so as abreviaturas de ferro fundido esferoidal e os trs primeiros dgitos
indicam a resistncia trao em MPa e os dois ltimos a deformao em
porcentual. Exemplo: FE-35010 (r = 350 MPa e = 10%).
2.6 - TRATAMENTOS TRMICOS E DE SUPERFCIES
Os processos de produo industrial nem sempre fornecem materiais de
construo nas condies desejadas, ou seja, as tenses internas que se
originam nos processos de fundio, conformao mecnica, usinagem, entre
outros, podem criar problemas de distores e empenamentos. Devido a isso, h
a necessidade de submeter as peas metlicas, antes de serem aproveitadas
efetivamente, a determinados tratamentos trmicos ou termo-qumicos, que
objetivam minimizar ou eliminar aqueles problemas. Por outro lado, independente
do processo de fabricao utilizado para obteno de peas e aumentar a
longevidade destas em relao corroso , muitas vezes, necessrio tratar as
superfcies das peas por meio de pintura ou tambm por meio de tratamento
termo-qumico. Desta forma, os objetivos gerais dos tratamentos trmicos ou de
superfcie so:
Remoo de tenses internas (oriundas de resfriamento desigual, trabalho
mecnico ou outras causas);
Aumento ou diminuio da dureza;
Aumento da resistncia mecnica;
Melhoria da ductilidade;
Melhoria da usinabilidade;
Melhoria da resistncia ao desgaste;
Melhoria das propriedades de corte;
Melhoria da resistncia corroso;
Melhoria da resistncia ao calor;
Modificao das propriedades eltricas e magnticas.
2.6.1 - TRATAMENTOS TRMICOS
Os materiais metlicos formados por ligas de Fe-C, em geral os aos, so
os mais submetidos a tratamentos trmicos, embora muitas outras ligas e metais
no ferrosos tambm sejam tratados termicamente, que sero vistos
posteriormente. Deve-se verificar que a melhoria de uma ou mais propriedades do
material geralmente obtida com prejuzo de outras. Por exemplo, aumentandose a resistncia mecnica e a dureza de aos, obtm-se, simultaneamente uma
diminuio da ductilidade. Assim, o tratamento trmico deve ser planejado
cuidadosamente, verificando-se sempre o resultando final que se deseja obter.
32
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Fatores que influenciam os tratamentos trmicos:
1. Aquecimento: a temperatura indicada para se obter um resultado
satisfatrio corresponde, geralmente, a temperatura de recristalizao do
material. O resfriamento subseqente completa as alteraes estruturais e
confere ao material as propriedades mecnicas desejadas. Tambm, devese considerar a velocidade de aquecimento, que no pode ser muito lenta
(promove o crescimento do gro), nem muito rpida (pode causar
empenamento ou fissuras). Cada material tem a sua prpria velocidade
ideal de aquecimento;
2. Tempo de permanncia na temperatura: deve ser suficiente para que a
pea se aquea uniformemente. Evita-se que esse tempo ultrapasse o
estritamente necessrio, pois pode haver crescimento indesejvel dos
gros ou possibilidade de oxidao (em algumas ligas);
3. Ambiente de aquecimento: em certas ligas metlicas a atmosfera comum
pode provocar alguns fenmenos prejudiciais como a oxidao e a
descarbonetao. Esses fenmenos so evitados pela utilizao de uma
atmosfera protetora ou controlada no interior do forno;
4. Resfriamento: em algumas ligas, principalmente as de ao, modificandose a velocidade de resfriamento, pode-se obter mudanas estruturais que
promovem o aumento da ductilidade ou elevao da dureza ou da
resistncia mecnica. Deve-se observar que meios muito drsticos de
resfriamento, como soluo aquosa, por exemplo, pode levar ao
aparecimento de elevadas tenses internas. Os meios mais comuns de
resfriamento so: soluo aquosa a 10% de NaCl, gua pura, leos de
vrias viscosidades, ar ou vcuo.
Tipos de tratamentos trmicos:
Os tratamentos trmicos mais comuns das ligas metlicas so:
recozimento, normalizao, tmpera, revenimento, tratamentos isotrmicos,
coalescimento, endurecimento por precipitao. De uma forma geral, os
tratamentos trmicos obedecem a um aquecimento, manuteno a uma
determinada temperatura e, posteriormente um resfriamento que pode ser rpido,
lento ou intermedirio, cujo objetivo transformar os constituintes primrios em
outros constituintes, geralmente denominados secundrios, que significa
constituintes que sofreram tratamento trmico. Estas transformaes dos
constituintes dependem tambm da liga metlica. Se a liga contm elementos
qumicos que possuem alotropia como as ligas de ferro-carbono (aos e ferros
fundidos) cujos dois elementos principais, ferro e carbono, possuem formas
alotrpicas diferentes, estrutura CCC e CFC para o ferro e tetragonal e hexagonal
compacta para o carbono.
33
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2
5
Manuteno
600
Aqu
ecim
ento
Temperatura ( oC)
800
400
Resfriamento
lento
Resfriamento
intermedirio
Resfriamento
rpido
200
0
0
20
40
60
80
Tempo (min)
Figura 2.30 Ciclos de aquecimentos e tratamentos trmicos
O aquecimento em uma liga metlica depende muito da inrcia do forno ou
do meio de aquecimento, que depende por sua vez, da massa metlica que se
deseja aquecer. Os fornos mais comuns, para aquecimento de ligas como o ao,
so: fornos de resistncia eltrica, de induo e fornos que produzem
aquecimento por chama que pode ser direta ou indireta. A figura acima
esquematiza um ciclo de aquecimento de um ao carbono ABNT 1030 com uma
taxa constante de aquecimento, representado pela linha 1, a manuteno da
temperatura representada pela linha 2, e diferentes taxas de resfriamento
representado pelas linhas 3, 4, 5. O ferro contido no ao, a baixa temperatura,
tem a estrutura cristalina cbica de corpo centrado e, a temperatura de 800 C
esta estrutura transformado em cbica de face centrada onde nas faces da
estrutura cristalina o tomo de carbono dissolvido. Com resfriamento rpido,
representada pela linha 3, a estrutura cbica de face centrada deveria se
transformar na estrutura cbica de corpo centrado, permitindo a ocupao do
carbono no centro do cubo, entretanto, o resfriamento rpido impede esta
transformao fazendo a distoro da rede cristalina. Em um resfriamento lento,
pode-se conseguir a estrutura inicial cbica de corpo centrado.
34
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
1600
Lquido
1400
C)
Liquidu
s
TEMPERATURA
Lquido + austenita
1200
2,11%
Austenita
1000
912
Acm
Fe
A3
o
800 790 C
Fe +Fe
Fe +Fe
A1
600
0,0
727 C
0,5 0,77%1,0
%C
A1
1,5
2,0
Dependendo da espessura da
pea, como o e de uma agulha, por
exemplo, o resfriamento rpido como o
mostrado na figura acima poder ocorrer
em toda a massa metlica. Em peas
com espessuras maiores poder ocorrer
na superfcie o resfriamento rpido,
conforme a linha 3, mas no seu interior,
um resfriamento lento, conforme as
linhas 4 ou 5. Isto produziria a formao
do constituinte martensita na superfcie
com dureza muito elevada e no interior,
ou na parte central da pea, constituintes
como perlita e ferrita. Um resfriamento
muito rpido em uma pea como uma
agulha para um ao carbono comum
pode produzir tenses internas que
produz
micro-fissuras
na
pea,
produzindo uma fratura total aps o
tratamento trmico. A escolha do tipo de
tratamento trmico depende da natureza
do material e de sua composio
qumica, alm da aplicao que se
deseja da pea.
Figura 2.31 Diagrama Fe-C Campo de austenizao.
Tendo-se o ao carbono ABNT 1050 como exemplo e verificando no
diagrama de equilbrio do Fe-C, pode-se tirar o intervalo de temperatura
considerado como zona crtica, isto , o intervalo de temperatura que comea
ocorrer a transformao de gros perlticos e gros ferrticos em gros
austenticos.
At 727 C, o ao com 0,5% de carbono apresenta os constituintes perlita e
ferrita. Em temperaturas acima de 727 C a perlita comea a se transformar em
austenita, ou seja, a matriz da perlita (Fe ) tem estrutura CCC e vai se
transformando em CFC (Fe ) - austenita, e as lamelas de cementita (Fe3C)
comea a se diluir na estrutura cbica de face centrada. Ao mesmo tempo ocorre
com os gros ferrticos. Esta transformao se completa a 790 C. Portanto, a
zona crtica para este ao, corresponde ao intervalo de temperatura de 727 C a
790 C. A mesma analogia pode ser feita para os demais aos, com exceo para
o ao eutetide ABNT 1080 que, acima de 727 C os gros perlticos se
transformam em gros austenticos, no apresentando zona crtica ou o intervalo
de temperatura muito pequeno. Os aos comerciais tm, em geral, a
composio qumica at 1% de carbono e, por isto, muitos tratamentos trmicos
que precisam da transformao da austenita, faz-se aquecimento em
temperaturas em torno de 800 C. O correto verificar no diagrama de equilbrio
qual a temperatura limite superior da zona crtica adicionando-se mais ou menos
50 C em virtude de imprecises de registros de temperaturas em alguns fornos.
35
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Resumindo, na temperatura ambiente ou a 500 C, os aos-carbonos
apresentam os constituintes perlita, ferrita e cementita. A partir da temperatura de
727 C estes constituintes vo se transformando em austenita. O fim destas
transformaes vai depender da composio de carbono que o ao apresenta
que, conforme as curvas A2 ou Acm, para aquele tipo de ao, definem o intervalo
da zona crtica. O tempo necessrio para ocorrer transformao completa
depende tambm da composio de carbono presente no ao.
Durante o processo de solidificao do ao na sua fabricao, a regio da
superfcie do ao pode se resfriar com velocidade diferente da regio central.
Como foi visto em captulo anterior, essa diferena d origem a gros com formas
tambm diferentes entre si, que pode provocar tenses internas na estrutura do
ao. Estas tenses podem decorrer tambm de outros fatores como os que
ocorrem nos processos de conformao mecnica, como exemplos tm-se os
processos de laminao, forjamento e estampagem.
Na laminao, os gros so comprimidos uns contra os outros e
apresentam aparncia de gros amassados (encruados). Tanto na laminao
quanto no forjamento, os gros deformados no tm a mesma resistncia e as
mesmas propriedades mecnicas dos gros normais. As tenses internas
comeam a ser aliviadas quando o ao atinge a temperatura ambiente, porm,
esse processo leva um tempo relativamente longo, podendo dar margem a
empenamentos, rupturas ou corroso. Para isto, podem-se fazer tratamentos de
alvio de tenses que so: recozimento, normalizao e revenimento.
2.6.1.1 - Recozimento
Temperatura
Seus objetivos principais so remover tenses devidas aos processos de
fundio e conformao mecnicas a quente ou a frio, diminuir a dureza, melhorar
a ductilidade, ajustar o tamanho dos gros e eliminar defeitos de quaisquer
naturezas
provocados
por
processos mecnicos ou trmicos
que o material tenha sido
Zona crtica
anteriormente
submetido.
O
recozimento mais comum o
chamado de total ou pleno, onde o
material geralmente aquecido a
uma temperatura acima da zona
crtica (zona de austenizao),
seguido de resfriamento lento,
desligando o forno e mantendo-se
Tempo
as peas no seu interior, conforme
a figura 2.30, linha 5.
Figura 2.32 Ciclo do recozimento.
O tempo de permanncia na temperatura de austenizao depende da
quantidade de material e da sua massa. Esse tratamento aplica-se a todas as
ligas Fe-C e a um grande nmero de ligas no-ferrosas.
36
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Temperatura
H tambm o recozimento em caixa que aplicado principalmente no ao.
Nesse processo existe uma atmosfera protetora que elimina o efeito do
encruamento e protege a superfcie contra a oxidao.
Zona crtica
A esferoidizao um tipo de
recozimento aplicvel em aos de
mdio a alto teor de carbono, com o
objetivo
de
melhorar
sua
usinabilidade. Nesse processo, o
aquecimento levado a efeito a
uma temperatura em torno da linha
inferior da zona crtica.
Tempo
Figura 2.33 Ciclo da esferoidizao.
2.6.1.2 - Normalizao
Tem os mesmos objetivos do recozimento e se faz tambm com
aquecimento at a zona de austenizao, figura 2.34. A diferena do processo
que o resfriamento na normalizao ao ar, fora do forno, portanto mais rpido
que o recozimento o resultando uma estrutura mais fina do que a produzida no
recozimento, e conseqentemente propriedades mecnicas ligeiramente
superiores. Aplica-se, esse processo, principalmente nos aos.
2.6.1.3 - Revenimento
Aplicado nos aos temperados, imediatamente aps a tmpera, a
temperaturas inferiores a da temperatura crtica. As temperaturas mais usuais do
revenimento so 400 C, 500 C e 600 C. O revenimento melhora a ductilidade,
reduz os valores de
dureza e resistncia
AO 1060 - AO 1090
a trao, e diminui ou
2 Manuteno
mesmo elimina as
800
765 C
tenses
internas.
Zonacrtica
727 C
Dependendo
da
5 Recozimento
600
temperatura em que
4 Normalizao
o
revenido
processado pode-se
1
3 Tmpera
400
obter
nos
aos
melhores condies
200
de usinabilidade. A
tmpera e o revenido
0
esto
sempre
associados.
o
Aqu
ecim
ento
Temperatura ( C)
20
40
60
Tempo (min)
Figura 2.34 Ciclos de tratamentos.
37
80
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2.6.1.4 - Tmpera
Em muitos aos necessrio conferir dureza na superfcie ou parte dela ou
mesmo em toda a pea. Dentes de engrenagem, engate de veculos, partes do
amortecedor do carro e as brocas devem ser fabricadas com ao endurecido para
suportarem esforos a que so submetidos. A tmpera um dos tratamentos
trmicos destinados obteno de dureza nos aos. Uma tmpera feita
corretamente possibilita vida longa ferramenta, que no se desgasta nem se
deforma rapidamente.
O tratamento consiste em aquecer o ao em um forno com temperatura
acima da zona crtica e resfriar rapidamente, figura 2.34. As condies de
aquecimento so idnticas as que ocorrem no recozimento e na normalizao.
Para o ao-carbono, a temperatura varia de 750 C a 900 C, pois varia com a
composio de carbono presente, mas a quantidade de carbono deve ser
suficiente para produzir a martensita. Em geral, utilizam-se aos com teores de
carbono acima de 0,3%. A pea permanece nessa temperatura o tempo
necessrio para se transformar em austenita. A forma do resfriamento o que
distingue esse tipo de tratamento. No resfriamento rpido em gua, os tomos de
carbonos, dissolvidos na austenita - estrutura CFC, no tem cintica qumica para
se alojar nas estruturas CCC da ferrita e da estrutura complexa da cementita.
Desse modo, os tomos produzem considervel deformao no retculo da ferrita,
dando tenso ao material e aumentando sua dureza. Neste tipo, a pea retirada
do forno e mergulhada apenas em gua. A temperatura cai de 850 C para 20 C
se for a temperatura ambiente, em poucos segundos. Trata-se de um
resfriamento brusco que produz a martensita.
Os resfriamentos menos bruscos so os realizados em leo queimado, ou
leos especiais (leo para tmpera) emulsionveis em gua produzidos por
fabricantes de leo. As peas temperadas possuem considerveis aumento de
sua dureza, da resistncia do desgaste e da resistncia a trao, porm, sofrem
uma aprecivel diminuio na ductilidade. Esse problema pode ser corrigido
posteriormente pelo revenimento.
Tmpera superficial - O endurecimento superficial dos aos, em grande nmero
de aplicaes de peas de mquinas, , geralmente, mais conveniente que seu
endurecimento total pela tmpera normal, visto que, nessas aplicaes, objetivase apenas a criao de uma superfcie dura e de grande resistncia ao desgaste
e abraso. A tmpera superficial consiste em produzir uma tmpera localizada
apenas na superfcie das peas de ao, que assim adquirir as propriedades e os
caractersticos tpicos da estatura martenstica.
Vrios so os motivos que determinam a preferncia do endurecimento
superficial em relao ao endurecimento total como:
Dificuldade, sob os pontos de vista prtico e econmico, de tratar-se de
peas de grandes dimenses nos fornos de tratamento trmico
convencional;
Possibilidade de endurecer apenas as reas crticas de determinadas
peas, como exemplo, dentes de grandes engrenagens, guias de mquinas
operatrizes, grandes cilindros, etc;
38
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Possibilidade de melhorar a preciso dimensional de peas planas,
grandes ou delgadas, evitando-se o endurecimento total. Exemplos: hastes
de mbolos de cilindros hidrulicos;
Possibilidade de se utilizar aos mais econmicos, como aos-carbono, em
lugar de aos-liga;
Possibilidade de controlar o processo, de modo a produzir, se desejvel,
variaes em profundidades de endurecimento ou de dureza, em sees
diferentes das peas;
Investimento de capital mdio, no caso de se adotar endurecimento
superficial por induo e bem menor, no caso de endurecimento por
chama;
Diminuio dos riscos de aparecimento de fissuras originadas no
resfriamento, aps o aquecimento.
Por outro lado, as propriedades resultantes da tmpera superficial so:
Superfcies de alta dureza e resistncia ao desgaste;
Boa resistncia fadiga por dobramento;
Boa capacidade para resistir cargas de contato;
Resistncia satisfatria ao empenamento.
Algumas recomendaes so necessrias para a obteno de melhores
resultados como:
Procurar obter camadas endurecidas pouco profundas; de fato,
profundidades maiores desnecessrias podem provocar o empenamento
ou fissura de tmpera ou desenvolver tenses residuais excessivamente
altas, sob a camada endurecida;
Levar em conta que a espessura da camada endurecida depende de cada
caso especfico, tendo em vista as resistncias ao desgaste e fadiga
desejadas, a carga de servio das peas, as dimenses destas e, inclusive
o equipamento disponvel; como exemplo, deve-se lembrar que se a
camada endurecida corresponder a uma frao significativa da espessura
da pea, podem resultar tenses residuais de compresso de pequeno
valor nessa camada endurecida, de modo a ter-se melhora significativa na
resistncia fadiga.
As temperaturas, os meios de resfriamento recomendados e as durezas
resultantes para aos-carbonos so os seguintes, conforme mostro quadro
abaixo:
Teor de carbono Temperaturas Meio
de
recomendveis resfriamento
0,30%
gua
900 - 975 C
0,35%
gua
900 - 975 C
0,40%
gua
870 - 900 C
0,45%
gua
870 - 900 C
0,50%
gua
870 - 900 C
0,60%
gua
850 - 875 C
39
Dureza
50 HRC
52 HRC
55 HRC
58 HRC
60 HRC
64 HRC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Os aos-liga e os aos de usinagem fcil, com o teor de carbono acima,
so endurecidos por induo, no caso de se adotar o processo de tmpera
superficial. Quando os elementos de liga provocam a formao de carbonetos
(cromo, molibdnio, vandio ou tungstnio), os aos correspondentes devem ser
aquecidos a temperaturas 50 a 100C acima das indicadas. A durao do
aquecimento muito curta, geralmente poucos segundos, para produzir uma
ntida fronteira entre a seco endurecida e o resto da seco.
O meio de resfriamento usual na tmpera superficial a gua, fcil de
instalar e manter e menos perigosa que os outros meios. Estes outros so
salmoura, leo, ar comprimido e polmeros lquidos. Normalmente, a pea
imersa no meio refrigerante, ou o meio refrigerante jorrado sobre a seco
aquecida. Os processos mais comuns de tmpera superficial so: tmpera por
chama (com maaricos de oxiacetileno ou GLP) e tmpera por induo. H
tambm mtodos mais modernos de aquecimento como a de utilizao de feixes
de laser e de eltrons, na qual se faz em zonas muito pequenas e precisamente
localizadas, entretanto o custo operacional destes mtodos muito elevado.
2.6.1.5 Diagramas ttt temperatura-tempo-transformao
A partir deste ponto necessrio introduzir as curvas denominadas de TTT
(temperatura, tempo e transformao), pois, para a compreenso dos tratamentos
trmicos denominados isotrmicos, estes diagramas tornam-se imprescindveis.
A figura que segue mostra esquematicamente um diagrama TTT de um ao
eutetide, que no apresenta zona crtica e o produto da transformao da
austenita em velocidade relativamente lenta a perlita que ocorre a 727 C. O
diagrama mostra que possvel obter diferentes tipos de constituintes em funo
do tipo de resfriamento que se queira dar. A abcissa do grfico mostra o tempo
em segundos em escala logartmica e a ordenada, a temperatura em graus
centgrados.
A linha acima das curvas a linha limite inferior da zona crtica de
temperatura 727 C. A curva representa pelas letras Pi, Bi e Mi a curva de incio
de transformao respectivamente para perlita (Pi), bainita (Bi) e martensita (Mi) e
a curva representa pelas letras Pf, Bf e Mf a curva de fim de transformao
respectivamente para perlita (Pf), bainita (Bf) e martensita (Mf). Pode-se ver que o
diagrama apresenta constituintes diferentes como: perlita grossa, perlita fina,
bainita superior, bainita inferior e martensita, lembrando que estes podem ser os
constituintes do ao eutetide. O cuidado que se deve ter aqui, que na abcissa o
fator 100 significa 1 segundo, tempo extremamente curto para obter a martensita
exclusivamente.
40
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Diagrama TTT (temperatura-tempo-transformao)
800
727 oC
Austenita
700
Pi
Temperatura ( oC)
600
Pf
Perlita grossa
HRC 5 a 25
500
Perlita fina
HRC 30 a 40
Bainita superior
HRC 40 a 50
Bainita inferior
HRC 50 a 60
400
300
Austenita
Bf
Bi
Mi
200
Mf
100
Martensita
HRC 65 a 70
0
10-1
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.35 Diagrama TTT para o ao eutetide.
A figura que segue mostra os tratamentos trmicos de recozimento,
normalizao e tmpera ao leo e gua, representados pelas curvas com letras
A, B, C, D e E respectivamente. A seta na extremidade das curvas indica a
direo do resfriamento. Tomando-se como exemplos os tratamentos trmicos
de recozimento, curva com letra A e tmpera gua. Em ambos os casos partese da temperatura de 800 C.
Diagrama TTT (temperatura-tempo-transformao)
800
727 oC
Austenita
700
A
B
600
Pi
Temperatura ( oC)
D
500
Pf
Perlita grossa
HRC 5 a 25
Bi
E
400
300
200
100
0
10-1
Bf
Austenita
Mi
Perlita fina
HRC 30 a 40
Bainita superior
HRC 40 a 50
Bainita inferior
HRC 50 a 60
Mf
Martensita
HRC 65 a 70
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.36 Diagrama TTT para o ao eutetide com tratamentos trmicos.
No recozimento, o incio da transformao da austenita em perlita ocorre a
temperatura de 624 C em 300 segundos (5 minutos) e o fim da transformao
41
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
ocorre a temperatura de 563 C em 1500 segundos (25 minutos). Na tmpera
gua, o incio da transformao da austenita em martensita ocorre a temperatura
de 200 C em 2,3 segundos e o fim da transformao ocorre a temperatura de
100 C em 3,2 segundos.
Considerando estas duas anlises de resfriamento do ao pode-se concluir
que, dependendo da espessura da pea, podero ocorrer os dois resfriamentos
ao mesmo tempo. Na superfcie um resfriamento muito rpido produzindo a
martensita e, no centro da pea, um resfriamento mais lento, produzindo perlitas.
A figura abaixo representa esta situao. De qualquer forma, se for considerado
um eixo, com dimetro relativamente grande, poder se encontrar vrios
tratamentos trmicos na sua massa partindo de um nico tratamento trmico a
tmpera gua, isto , mergulhando esta suposta pea na gua resfriada e
observando a seco transversal no microscpio, poder se encontrar todos os
constituintes descritos na figura 2,36 como martensita, bainita inferior, bainita
superior, perlita fina e perlita grossa da superfcie ao centro e conseqentemente
diferentes durezas. Mais duro na superfcie e menos duro no centro.
Diagrama TTT (temperatura-tempo-transformao)
800
727 oC
Austenita
700
Temperatura ( oC)
500
400
300
200
100
0
10-1
ie
erfc
Sup
600
Ce
ntr
o
Pi
Pf
Perlita grossa
HRC 5 a 25
E
Austenita
Mi
Mf
Martensita
HRC 65 a 70
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.37 Diagrama TTT considerando a espessura da pea.
Os diagramas TTT para os aos hipo-eutetides e hiper-eutetides variam
ligeiramente em relao ao ao eutetide em funo dos constituientes ferrita e
cementita. Conforme foi visto anteriormente, o ao eutetide apresenta como
constituinte primrio a perlita unicamente quando resfriado lentamente. O ao
hipo-eutetide apresenta ferrita e perlita e o ao hiper-eutetide apresenta perlita
e cementita, considerando apenas resfriamento lento. As figuras abaixo mostram
estes casos.
42
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
800
Diagrama TTT (temperatura-tempo-transformao)
Fi
Austenita
700
Temperatura ( oC)
600
500
Austenita +
Ferrita +
727 oC
Pi
Perlita grossa
Austenita +
Ferrita +
Cementita
Pf
Perlita fina
Mi
400
Mf
300
Martensita
200
100
0
10-1
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.38 Diagrama TTT para o ao hipo-eutetide.
Diagrama TTT (temperatura-tempo-transformao)
1000
900
727 oC
Austenita
800
Cementita
Temperatura ( oC)
700
Pi
600
500
Austenita +
Ferrita +
Cementita +
Perlita grossa
Pf
Perlita fina
400
300
200
100
0
10-1
Mi
Mf
Martensita
0
10
101
102
103
104
Tempo (segundos)
Figura 2.39 Diagrama TTT para o ao hiper-eutetide.
43
105
106
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Temperatura ( oC)
Direitos autorais reservados
Observando-se os diagramas TTT para os aos hipo-eutetides e hipereutetides verifica-se ainda que o
aumento da concentrao de
500
carbono desloca a curva em C
para a direita, retardando o incio
400
e o fim da transformao da
Mi
300
perlita
e
tambm
que
a
temperatura, tanto para o incio
200
quanto
para
o
fim
da
Mf
100
transformao da martensita
diminuda. A figura abaixo mostra
0
estas condies.
-100
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
Concentrao de carbono (%)
Figura 2.40 Transformao da martensita em funo da concentrao de carbono.
Outros fatores podem modificar a posio das linhas de incio e de fim de
transformao dos diagramas TTT. Alm do carbono, os elementos de liga no ao
tambm podem influenciar a posio das curvas. Com exceo do cobalto, os
elementos de liga deslocam a curva para a direita, retardando as transformaes.
Em certos casos como em aos cementados com alto teor de carbono nquel ou
cromo em teores variveis, no se ter formao completa da martensita
temperatura ambiente pelo resfriamento comum em gua, em virtude da linha Mf
ficar localizada abaixo dessa temperatura.
Diagrama TTT (ao ABNT 4340)
800
Austenita
727 oC
700
A+ F
F +C
Temperatura ( oC)
600
500
Bi
400
Austenita
Mf
200
100
0
10-1
Bf
Mi
300
Martensita
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.41 Diagrama TTT para o ao 4340.
Nessas condies, tem-se temperatura ambiente uma certa quantidade
de austenita residual ou austenita retida. Isto pode produzir algumas
conseqncias como a transformao destas em lugares muito frio, como por
exemplo, equipamentos que para trabalhos em regies do crculo polar. O ao
ABNT 4340 altamente tempervel, visto que as curvas em C encontram-se
44
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
posterior a 10 segundos. A figura acima mostra esta situao. O tamanho do gro
da austenita e sua homogeneidade so outros dois fatores que afetam a posio
das curvas de transformao.
2.6.1.6 Tipos de tratamentos isotrmicos
So os tratamentos de austmpera e martmpera.
Austmpera
A austmpera um processo de tratamento isotrmico dos aos, cujo
objetivo a obteno de peas com alta tenacidade e resistncia fadiga, aliando
uma boa dureza como o exigem, por exemplo, molas de qualquer natureza. Esse
tratamento pode proporcionar melhores resultados do que a combinao de
tmpera, seguido de revenimento. O processo caracteriza-se pela formao de
uma microestrutura metalogrfica constituda por bainita e apresenta,
basicamente as seguintes etapas, conforme a figura 2.42:
Aquecer at a temperatura de austenitizao (posio 1).
Resfriar bruscamente em banho de sal fundido ou em leo quente at a
temperatura de formao da bainita, ou seja, temperaturas entre 250 C a
400 C (posio 2).
Manter a temperatura pelo tempo necessrio at a completa transformao
da austenita em bainita (transformao isotrmica).
Resfriar at a temperatura ambiente (posio 3).
Para ficar mais claro o tratamento por austmpera, segue o diagrama TTT.
Diagrama TTT (transformao da bainita inferior)
800
1
Austenita
727 oC
700
Pi
Temperatura ( oC)
600
Pf
500
400
Austenita
300
200
100
0
10-1
Perlita fina
HRC 30 a 40
Bi
Bf
2
Mi
Perlita grossa
HRC 5 a 25
Bainita superior
HRC 40 a 50
Bainita inferior
HRC 50 a 60
Mf
Martensita
HRC 65 a 70
100
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.42 Austmpera.
A austmpera pode produzir 3 tipos de bainita que so: bainita inferior,
bainita superior e bainita isenta de carbono ou ferrita acicular.
45
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A bainita inferior possui grande semelhana com a martensita. A principal
diferena entre ambas est na presena de carbonetos, cuja forma e distribuio
depende muito do teor de carbono do ao. Tpica da bainita inferior a
distribuio ordenada de bastonetes de carbonetos que, se alinham com
ngulos de 50 a 60 em relao ao eixo das agulhas de bainita. Provavelmente
estes carbonetos so inicialmente segregados como carbonetos, dando origem
formao de Fe3C medida que a transformao baintica progride, enquanto que
a caracterstica principal da bainita superior a presena de placas longas de
ferrita, paralelas a carbonetos alongados que somente so visveis atravs de
microscopia eletrnica.
Na bainita superior a microestrutura metalogrfica similar da perlita,
porm apresenta menor regularidade geomtrica do que esta e pode, ainda,
apresentar imagens bastante variadas em funo da maior ou menor presena de
carbono e elementos de liga no ao.
Diferenciar a microestrutura metalogrfica da bainita superior daquela da
perlita fina, por meio de microscopia ptica, praticamente impossvel. Por
microscopia eletrnica, percebe-se que a ferrita da bainita superior apresenta
maior densidade de discordncias do que aquela apresentada pela ferrita contida
na perlita.
Observada num microscpio eletrnico, a ferrita acicular ou bainita isenta
de carbono sempre acompanhada por uma esponja de austenita retida e uma
leve segregao de carbonetos. As agulhas so longas, estendem-se, s vezes,
atravs de todo o comprimento dos gros e partem, normalmente, dos contornos
dos gros originais de austenita.
As propriedades das peas austemperadas podero ser melhores
compreendidas quando comparadas quelas obtidas por peas do mesmo ao,
temperadas e revenidas. A ttulo de exemplo, toma-se um corpo de prova 10 x
100mm, de ao ABNT 5160, submetido aos seguintes tratamentos trmicos :
TR ____ tmpera
+ 830 C
leo
460 C
revenido...
320C
ar
AT ____ austmpera............ 830 C
...
Os resultados dos ensaios mecnicos realizados encontram-se descritos
no quadro abaixo.
Propriedades mecnicas de um ao para molas submetidos aos tratamentos
trmicos TR e AT.
PROPRIEDADES
TR
AT
limite de resistncia (MPa)
1.530
1.590
limite de escoamento (MPa)
1.400
1.210
alongamento (%)
4,8
8,2
estrico (%)
9,5
36,0
resistncia ao impacto (J/cm2)
38 a 43
72 a 76
resistncia fadiga (ciclos)
8.150
17.060
46
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Analisando-se estes dados percebe-se que, mesmo apresentando um
limite de resistncia superior ao das peas temperadas e revenidas, as peas
austemperadas alcanam valores significativamente maiores de alongamento,
estrico e resistncia ao impacto. J, o limite de escoamento das peas
austemperadas consideravelmente menor que o alcanado pelas peas
temperadas e revenidas, o que no pode ser desprezado ao dimensionar-se
qualquer elemento de mquina.
Quanto resistncia fadiga por flexes alternadas, a austmpera
apresenta vantagens significativas, mesmo que as peas apresentem regies
com grandes concentraes de tenses como, por exemplo, entalhes, furaes,
variaes geomtricas abruptas, etc.
Uma aplicao vantajosa da austmpera aplic-la a aos que
apresentem tendncia fragilidade de revenido, ou seja, aos ligados com Cr
e/ou Mo que, aps a tmpera devam ser revenidos entre 350 C e 500 C. A
formao da bainita, entre 280 C e 350 C, permite que se alcance a dureza
desejada, evitando-se o intervalo crtico de fragilizao.
Evidentemente, a austmpera tem suas limitaes. As excelentes
propriedades de resistncia fadiga por flexes alternadas e tenacidade, obtidas
pela austmpera, limitam-se ao intervalo de durezas entre 40 e 50 HRC. Quando
a dureza necessria for inferior a 40 HRC, a tmpera e o revenimento
proporcionaro melhores resultados.
Tanto a profundidade endurecida, quanto a dureza alcanada pela
austmpera so inferiores quelas possveis de serem obtidas pelo tratamento de
tmpera e revenido. Por esta razo, os aos-carbono utilizados para a
austmpera devem conter um teor de carbono mnimo de 0,5% e, as peas
tratadas no devem ser mais espessas do que 3mm. Para peas maiores
aconselhvel escolherem-se aos com teores de mangans e cromo mais
elevados.
A austmpera requer rgido controle da qualidade do ao e dos parmetros
(tempos e temperatura) do tratamento trmico. Pequenas variaes no teor de
cromo, por exemplo, podem aumentar ou diminuir significativamente o tempo
necessrio transformao isotrmica.
A temperatura de transformao isotrmica precisa ser cuidadosamente
mantida. Se a dureza final desejada estiver abaixo daquela obtida aps a
austmpera, deve-se retratar o lote pois, caso seja realizado um simples
revenimento, ocorrero alteraes indesejadas na microestrutura metalogrfica
que, determinaro uma queda significativa da tenacidade e da resistncia fadiga
das peas, no campo. Evidentemente, o mesmo raciocnio vlido para peas
que sejam resfriadas muito depois, ou muito antes, do tempo correto para a
transformao isotrmica.
A austmpera aplica-se com sucesso a todos os tipos de molas, pois
requerem alta resistncia fadiga e, normalmente, suas durezas encontram-se na
faixa de 40 a 50HRC. Peas que necessitem de elevada resistncia trao e
tenacidade como, por exemplo, fechos de cintos de segurana, ps de pedreiros,
47
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
componentes de fechaduras, alavancas para mquinas de escrever, elos para
determinadas correntes de transporte de rao animal, etc. podem ser
austemperadas com sucesso.
Genericamente, pode-se afirmar que elementos de mquinas sujeitos a
esforos de fadiga, onde a vida til um fator decisivo e a geometria favorece a
concentrao de tenses localizadas podem ser submetidas ao tratamento de
austmpera. Antes, porm, de tomar-se a deciso de substituir um tratamento
trmico de tmpera e revenido por austmpera, deve-se realizar alguns ensaios
mecnicos, pois a microestrutura baintica, apesar de oferecer praticamente os
mesmos valores de resistncia trao (e, portanto, de dureza) que a
microestrutura martenstica, apresenta menor limite de escoamento. Quase
sempre possvel compensar-se esta diferena atravs da seleo de uma
dureza mais alta para as peas austemperadas.
A transformao isotrmica necessria obteno de uma microestrutura
metalogrfica baintica normalmente realizada em leitos fluidizados ou em
banhos de sais fundidos, constitudos por uma mistura de nitretos e nitritos
alcalinos.
Caractersticas fsicas dos sais Durferrit.
Tipo
Sal
de Temperatura
de Fuso (C)
AS 140
AS 220
AS 235
140
220
235
Temperatura
de Trabalho
(C)
Min.
Mx.
Densidade
160
250
280
1,8
1,8
1,8
550
550
550
(g/cm2)
Calor
Mdio
Especfico Calor Latente
de Fuso (
J/g)
a C (J/g.C) entre
20C e
300 1,43
200C
256
400 1,18
350C
310
400 1,47
400C
293
Os fornos que contm estes banhos de sais podem ser estacionrios ou
contnuos, sendo equipados com sistemas de aquecimento eltrico, trocadores de
calor, recirculadores e a automao necessria manuteno de uma
temperatura constante para a transformao isotrmica, em funo do volume de
produo.
Martmpera
A martmpera um tipo de tratamento indicado para aos-liga porque
reduz o risco de empenamento das peas. A pea aquecida acima da zona
crtica para se obter a austenita (posio 1), conforme mostra a figura 2.43, e
depois resfriada em duas etapas. Na primeira, a pea mergulhada num banho
de sal fundido ou leo quente, com temperatura um pouco acima da linha Mi
(posio 2). Mantm-se a pea nessa temperatura por certo tempo, tendo-se o
cuidado de no cortar a primeira curva (posio 3). A segunda etapa a do
resfriamento final, ao ar, em temperatura ambiente (posio 4).
A martensita obtida apresenta-se uniforme e homognea, diminuindo riscos
de trincas. Aps a martmpera necessrio submeter a pea a revenimento. A
martmpera proporciona as mesmas propriedades que a tmpera e o revenido,
porm as tenses resultantes do processo so mais facilmente eliminadas. O
48
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
processo ilustrado no diagrama seguinte.
Diagrama TTT (transformao da martensita)
800
1
Austenita
727 oC
700
Pi
Temperatura ( oC)
600
Pf
500
400
Austenita
300
200
100
0
10-1
Perlita fina
HRC 30 a 40
Bi
Bf
Bainita superior
HRC 40 a 50
Bainita inferior
HRC 50 a 60
Perlita grossa
HRC 5 a 25
Mi
Mf
Martensita
HRC 65 a 70
100
4
101
102
103
104
105
106
Tempo (segundos)
Figura 2.43 Martmpera.
2.6.2 - TRATAMENTOS DE SUPERFCIES
Na seco anterior foram abordados, exclusivamente, os tratamentos
trmicos que produzem modificaes nos constituintes primrios das ligas
ferrosas (aos e ferros fundidos) sem alterar a composio qumica. Entretanto h
o tratamento trmico-qumico que pode ser produzido nas superfcies destas ligas
como cementao, nitretao, cianitretao, ferroxidao e outros que, por sua
vez, produzem modificaes parciais em sua composio qumica para melhorar
as propriedades de suas superfcies. Isto leva dvida se os tratamentos trmicoqumicos devem situar-se na seco de tratamentos trmicos ou, se devem se
situar na seco de tratamentos de superfcie. Quando se trata de pintura, no h
dvida qualquer que um tratamento de superfcie de revestimento, mas, alm da
pintura, existem os processos de revestimentos metlicos, denominados tambm
de metalizao como a galvanizao (zincagem), cromagem, estanhagem,
deposio de ouro e etc. Alguns destes revestimentos podem ser feitos frio ou
quente, caracterstica dos tratamentos trmicos. Em virtude disto, optou-se em
classificar os tratamentos trmico-qumicos ou termoqumicos como tratamento de
superfcie, no podendo ser regra, mas sim, aconselhamento.
Em virtude da explanao feita acima, pode-se generalizar tratamento
superficial os tratamentos que objetivam melhorar o aspecto do material utilizado,
proteg-lo contra possveis agresses do meio que o cerca como a corroso e
tambm aumentar a resistncia ao desgaste elevando a dureza da superfcie.
Pode-se definir por corroso como a destruio dos metais devido as suas
reaes qumicas eletroqumicas em um meio corrosivo. O meio corrosivo pode
ser o prprio ambiente em que se encontra o metal como o solo, o qual pode
apresentar caractersticas cidas ou bsicas, a gua que pode conter sais
49
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
minerais, eventualmente cidos ou bsicos e o ar que contm umidade e sais em
suspenso. Uma das formas de combater a corroso consiste em evitar o contato
do metal com o meio corrosivo, por exemplo, recobrir o metal com substncias
orgnicas como leo de peroba, de mamona, cera de carnaba, cera de abelha,
leo mineral ou atravs de substncias inorgnicas como fosfatos, nitratos,
fluoretos. No caso de substncias orgnicas, a proteo geralmente tem
durabilidade baixa, enquanto que a proteo oferecida por substncias inorgnica
durabilidade maior.
Em relao ao aumento da dureza na superfcie os tratamentos trmicoqumicos que promovem uma modificao parcial na composio qumica do
metal como aumento do teor de carbono, de nitrognio e cromo so mais
eficientes para o aumento da resistncia ao desgaste.
Em virtude da complexidade deste tema, sero classificados os
tratamentos superficiais em dois tipos de tratamentos: tratamentos para aumentar
a resistncia ao desgaste ou tratamentos termo-qumicos e tratamentos de
proteo contra corroso ou tratamentos de revestimentos, lembrando que as
aplicaes destes podem ser mtuos.
Antes de se efetuar os tratamentos classificados acima, deve-se limpar e
preparar adequadamente a superfcie. Para isso, dependendo do caso, pode-se
utilizar as seguintes tcnicas:
Detergncia: uso de reativos qumicos, como alcalinos pesados ou mdios
(depende de seu PH). Os mais comuns so sais sdicos, entre eles, os
fosfatos, carbonatos, hidrxidos e os silicatos;
Solubilizao: uso de solventes, aplicados pelos processos de
desengraxamento por vapor, associado a um jato de solvente, associado
imerso a quente ou vapor ou, lquido/vapor;
Ao qumica: decapagem cida, que remove a casca de xidos,
hidrxidos, sulfetos, etc., ou a decapagem alcalina, que utilizam cidos
orgnicos como acticos, ctricos, oxlicos, tartricos, etc;
Ao mecnica: atividade abrasiva por meio de lixas, raspadeiras,
lixadeiras, politrizes, etc, ou limpeza a jato (mais eficiente).
2.6.2.1 - Tratamentos termo-qumicos
Na indstria utilizada uma multiplicidade de tratamentos termo-qumicos
que se diferenciam pelos elementos que se difundem, pelo tipo e composio do
meio externo, pelos processos qumicos, pelas tcnicas de execuo e outras
caractersticas. De maneira geral os processos termo-qumicos consistem em
submeter as peas ao calor em um meio apropriado, sendo estes dois fatores , os
responsveis pela alterao da composio qumica superficial, alm do fator
tempo de processo, que ser responsvel pela profundidade at a qual esta
alterao se efetuar.
O objetivo principal destes tratamentos aumentar a dureza e a resistncia
ao desgaste superficial, ao mesmo tempo em que se mantm dctil e tenaz o
ncleo do material. Essa possibilidade de se aliar uma superfcie dura com um
ncleo mais mole e tenaz de grande importncia em inmeras aplicaes, sobre
50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
tudo porque, pelo emprego de aos com elementos de liga, pode-se conseguir
ncleo de elevada resistncia e tenacidade, com superfcie extremamente dura,
resultando num material capaz de suportar em alto grau certos tipos de tenses.
Dependendo do estado de agregao do meio externo no qual se introduz a pea
que esta sendo tratada, diferenciam-se os tratamentos termo-qumicos em meio
slido, lquido e gasoso.
Os tomos do elemento difusor ingressam da substncia slida,
diretamente pelos locais de seus contatos com a superfcie da pea. Este
processo pouco efetivo e pouco utilizado. Geralmente o meio slido utilizado
para produzir um gs ativo ou fase gasosa, da qual os tomos ingressam na
pea. Por exemplo, na cementao os tomos de carbono do carburante slido
(carvo vegetal) que difundem no ao formam-se do xido de carbono,
2CO C + CO2 , necessrio apenas para a formao da fase gasosa. Outro
exemplo a crometao por difuso no meio slido, quando a pea
empacotada no p de cromo ou liga ferro-cromo. Com o aquecimento, o cromo
vaporiza e seus tomos ingressam na pea, principalmente da fase gasosa, e no
nos locais de contato direto do p com a superfcie da pea.
No tratamento termo-qumico em meio lquido, os tomos do elemento
difusor na pea, formam-se como resultado de reaes qumicas no sal fundido
(por exemplo, no NaCN durante a cianetao).
No tratamento termo-qumico em meio gasoso, o elemento difusor forma-se
como resultado das reaes de dissociao
CH 4 C + 2H 2 , disperso
2CO C + CO2 ,
troca CrCl 2 + Fe Cr + FeCl 2
ou
reconstituio
VCl 2 + H 2 V + 2 HCl .
O meio gasoso e a fase gasosa ativa, que se formam com o aquecimento
da pea no meio slido, servem, nos processos industriais, como os fornecedores
dos elementos dos tomos que enriquecem as camadas superficiais das peas.
Para o tratamento termo-qumico mais conveniente o meio gasoso puro:
sua composio fcil de controlar, aquecido rapidamente at a temperatura
desejada, permite mecanizar e automatizar completamente o processo e realizar
imediatamente a tmpera (sem repetio de aquecimento).
Os exemplos citados mostram que a classificao dos mtodos de
tratamento termo-qumicos pelo estado de agregao do meio no qual a pea
introduzida, nem sempre coincide com a essncia fsico-qumica do processo de
tratamento. Baseando-se nas caractersticas fsico-qumicas da fase ativa que
fornece o elemento difusor, G. N. Dubinin props os seguintes mtodos de
classificao dos tratamentos termo-qumicos: saturao da fase slida,
saturao da fase vaporizada, saturao da fase gasosa e saturao da fase
lquida. De acordo com essa classificao, a cementao do ao no carburante
slido deve se relacionar com o mtodo de saturao da fase gasosa, e
crometao por difuso no cromo pulverizado com o mtodo de saturao da fase
vaporizada.
51
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Pela caracterstica da variao da composio qumica da pea tratada
todas as variedades de tratamentos termo-qumicos podem ser divididas em trs
grupos: saturao com no-metais por difuso, saturao com metais por difuso
e remoo dos elementos por difuso. Estes grupos incluem os diversos
processos industriais de tratamento termo-qumico como pode ser visto no quadro
abaixo.
Variedades de tratamento termo-qumico.
Saturao com no-metais por Saturao com metais por Remoo
de
difuso
difuso
elementos
por
difuso
Carbonetao(cementao)
Aluminetao
Desidrogenao
Nitretao
Crometao por difuso
Desoxidao
Cianetao
Cromocalorizao
Descarboneta
o
Nitrocementao
Galvanizao por difuso
Remoo
de
conjunto
de
impurezas
Boretao
Cupretao por difuso
Silicietao
Titanetao
Sulfetao
Beliretao
Sulfocianetao
Vanadetao
Saturao de oxignio*
Oxigenao interna *
* Saturao de oxignio superficial, e oxigenao interna a saturao de todo
o volume da pea com oxignio com o objetivo de formao de xidos dispersos.
A superfcie do ao, saturada em carbono e nitrognio, ou simultaneamente
com estes dois elementos, o processo de tratamento termo-qumico mais
amplamente usado. O carbono e o nitrognio se solubilizam intersticialmente no
ferro, e por isso podem difundir rapidamente a uma profundidade significativa. Os
meios ativos contendo estes elementos so baratos, e as fases que se formam
com a participao do carbono e do nitrognio no processo de saturao, ou com
posterior tratamento trmico, modificam bruscamente as propriedades mecnicas
e fsico-qumicas do ao.
Nitretao
A nitretao um processo de endurecimento superficial em que se
introduz superficialmente no ao, at uma certa profundidade, nitrognio, sob a
ao de um meio nitrogenoso, a uma determinada temperatura. A nitretao
realizada com os seguintes objetivos:
- Obteno de elevada dureza superficial.
- Aumento da resistncia ao desgaste e escoriao.
- Baixo coeficiente de atrito.
- Aumento da resistncia fadiga.
- Melhora da resistncia corroso e oxidao.
52
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Algumas caractersticas do processo so:
- A temperatura de tratamento inferior crtica (500 C a 570 C), o que leva a
menores distores dimensionais e empenamentos nas peas.
- No h necessidade de qualquer tratamento trmico posterior a nitretao.
- No modifica as caractersticas mecnicas do ncleo obtidas por tmpera e
revenido, desde que este ltimo tenha sido executado a uma temperatura em
torno de 30 C acima da temperatura de nitretao.
- Como as temperaturas so relativamente baixas no h aumento significativo do
tamanho de gro.
O entendimento do processo requer um adequado conhecimento do
sistema ferro-nitrognio e por isto h necessidade de analisar o diagrama de
equilbrio Fe-N, em termos de identificao das diferentes fases.
900
Fe4N
800
Temperatura ( oC)
650 oC
2,8%
4,5%
600
0,1%
Fe2N
650 oC
700
2,35%
590 oC
500
490 oC
400
+ '
300
' ' +
200
100
6,2%
5,7%
8,25%
11,1%
11,35%
10
12
14
16
Concentrao de nitrognio (%)
Figura 2.44 - Diagrama de equilbrio Fe-N.
A fase constituda de uma soluo
slida de nitrognio no ferro com um limite
mximo de solubilidade prxima de 0,1%. A
fase constituda de uma soluo de
nitrognio no ferro e tem estrutura CFC da
austenita, figura 2.45. estvel acima de 590
C e pode conter at um mximo de cerca de
3 % de nitrognio. A fase constituda de
(composto
no
estequiomtrico,
Fe4N
composio terica 5,7% a 6,2% de
nitrognio) de reticulado CFC; estvel at 680
C. O eutetide - ocorre temperatura de
590 C.
Figura 2.45 Clula unitria da fase .
53
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A fase (Fe2-3N) tem estrutura hexagonal compacta, 2.46, e pode conter uma
quantidade de nitrognio bastante varivel. Quando o nitrognio alcana a
concentrao de 11,1% a 11,35% se transforma na fase (Fe2-3N).
A nitretao acima de 590 C forma camadas duras, mas extremamente
frgeis, sendo que o processo acima desta temperatura tem aplicao industrial
restrita. Isto se deve a formao do constituinte eutetide denominado braunita
com 2,35% de nitrognio, sendo Fe
+ Fe4N. A nitretao abaixo de 590 C
forma microconstituintes muito finos,
dispersos e difceis de se observar ao
microscpio tico. Resumindo, a
formao da camada de nitretos de
ferro durante a nitretao, nas
temperaturas usadas industrialmente,
em funo do aumento do teor de
nitrognio na pea ser:
Figura 2.46 Clula unitria da fase .
- At o valor de 0,1% de N, a temperatura de 590 C, limite de solubilidade do N
no ferro, tem-se a fase ;
- Acima de 0,1% comea a se formar a fase em contornos de gros e ao longo
de certos planos cristalogrficos, at o valor de 6,2% de nitrognio;
- Para teores acima de 6,2 % a fase comea a se transformar na fase ;
- Entre 11,1 e 11,35% forma-se a fase , mas que s estvel abaixo de 450 C,
portanto raramente observada.
Os aos utilizados para nitretao podem conter elementos de liga como
Al, Ti, Cr, Mo e V. O alumnio e o titnio promovem a maior dureza da camada
nitretada, seguidos pelo Cr, Mo e V. O aumento de dureza conferido por estes
elementos devido formao de seus respectivos nitretos (AlN, TiN, CrN, MoN
e VN) em planos preferenciais da ferrita {0,0,1}. A profundidade da camada
nitretada decresce com o aumento dos teores dos elementos de liga. O Al e o Ti,
que possuem a maior influncia na dureza, tambm tem o maior efeito na reduo
da na espessura da camada nitretada, quando seus teores so elevados. Esses
elementos de liga, principalmente Al, Ti e o Cr, possuem alta afinidade qumica
com o nitrognio, e quando esto presentes em teores elevados, reduzem o teor
de nitrognio livre para a zona de difuso, atravs da formao da camada
branca.
O carbono um elemento comum nos aos, e sendo intersticial como o
nitrognio, possui uma forte influncia na formao da fase e . Na presena de
carbono, a fase na realidade um carbonitreto de composio varivel entre o
Fe3(CN) e o Fe2(CN). Um outro fenmeno importante durante a nitretao, a
transformao de carbonetos em nitretos. Isto pode ser entendido considerandose as energias de Gibbs para carbonetos e nitretos. Para o cromo, por exemplo, o
G do Cr2N menor do que o G do Cr7C3. de se esperar, portanto, que
54
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
durante o processo de nitretao os carbonetos de cromo se desestabilizem para
formar nitretos de cromo, e o carbono livre se difunde para o lado de menor
potencial qumico, formando CrFe3C nos contornos de gro da ferrita e no Fe3C
isento de cromo, indicando que o potencial qumico do CrFe3C mais baixo do
que o da cementita, Fe3C. Assim, pode-se se esperar que o carbono dificulte a
difuso do nitrognio para a zona de difuso.
Como os aos empregados para a nitretao so temperados e revenidos
entre 550 C e 650 C, ocorre a precipitao e crescimento de carbonetos,
preferencialmente em contornos de gro durante o revenimento. Como a difuso
do nitrognio muito mais rpida pelos contornos de gro, estes precipitados
dificultam a difuso deste. Por outro lado a temperatura de revenimento deve ser
acima da temperatura de nitretao para minimizar erros dimensionais que
possam vir a ocorrer devido precipitao de carbonetos durante a nitretao.
Os aos especiais para a nitretao, alm de teores relativamente elevados
de carbono, contm, como j vimos, alumnio, cromo, molibdnio e ainda o nquel.
Os teores usuais destes elementos nos aos para nitretao so os seguintes:
- Carbono: 0,30 a 0,45% - confere ao ao no s temperabilidade como tambm
suporte adequado camada nitretada extremamente dura e muito fina;
- Alumnio: 0,85 a 1,20% e Cromo: 0,90 a 1,80% - so elementos que formam
nitretos de elevada dureza;
- Molibdnio: 0,15 a 0,45% - diminui a fragilidade de revenido que pode ocorrer
durante a nitretao, em funo das temperaturas usadas;
- Nquel: normalmente ausente, adicionado em teores de 3,25 a 3,75%, quando
de deseja um ncleo de dureza mais elevada.
Os aos para nitretao, contendo como elementos de ligas fundamentais
como cromo e o alumnio so conhecidos como Nitralloy, sendo que apresentam,
aps a nitretao, a camada superficial mais dura e o ncleo de resistncia
mecnica mais adequada. Alm destes aos especialmente desenvolvidos para a
nitretao, outros tipos de aos podem ser submetidos nitretao, desde aos
comuns ao carbono, aos com altos teores de elementos de liga, como os aos
para matrizes e inoxidveis. O resultado obtido em um determinado tipo de ao,
em termos das caractersticas especficas da camada de nitretos formada, vai
depender ainda do processo de nitretao utilizado, sendo normalmente, um
deles o mais apropriado para uma determinada classe de aos.
A nitretao pode ser realizada por trs processos: nitretao a gs,
nitretao lquida ou em banho de sal e nitretao por plasma ou inica, sendo
este ltimo, objeto de estudo nos ltimos 10 anos em virtude de ser menos
poluente, por formar camada nitretada com espessura e composio bem definida
e por obter timos resultados com menor custo.
Nitretao a gs - Este o processo clssico, consistindo em submeter as peas
a serem nitretadas ao de um meio gasoso contendo nitrognio, geralmente
amnia (NH3), a uma temperatura determinada, entre 500 e 570 C. Neste
processo a difuso do nitrognio muito lenta, de modo que a operao muito
demorada, durando s vezes at 90 horas. Geralmente o tempo varia de 48 a 72
horas. Mesmo com tempos mais longos a espessura da camada nitretada
inferior da camada cementada, dificilmente ultrapassando 0,8 mm.
55
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Industrialmente, requer-se aos ligados para a nitretao gasosa, com
elementos de liga formadores de nitreto. De modo geral, no se nitreta aos
comuns por este processo, pois em princpio, no h vantagem em se nitretar
aos comuns (baixo carbono), pois o nitreto de ferro que se forma, apesar de ser
duro, muito frgil.
0,9
Profundidade nitretada (mm)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
-10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Tempo (horas)
Figura 2.47 Influncia do tempo de nitretao a gs sobre a espessura da camada
nitretada.
Nitretao lquida - Trata-se de um processo de nitretao que permite, em
tempos muito mais curtos que a nitretao gasosas, obter superfcies muito
resistentes ao desgaste, sem tendncia ao engripamento, de alto limite de fadiga
e elevada resistncia corroso atmosfrica. Alm disso, ao contrrio da
nitretao a gs que exige aos especiais para a obteno de melhores
resultados, a nitretao lquida pode ser realizada em aos comuns, de baixo
carbono, como o ABNT 1045.
A faixa de temperatura aproximadamente a mesma que utilizada na
nitretao a gs, 500 a 575 C. O meio lquido utilizado cianeto fundido, como
na cementao lquida, no entanto a nitretao adiciona muito mais nitrognio que
carbono superfcie das peas.
Um banho comercial tpico para nitretao lquida constitudo de uma
mistura de sais de sdio e potssio, os primeiros de 60 a 70% em peso da mistura
total e os segundos de 30 a 40%.
Os sais de sdio consistem de:
- 96,5% NaCN (cianeto de sdio);
- 2,5% Na2CO3 (carbonato de sdio);
- 0,5% NaCNO (cianato de sdio).
56
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Os sais de potssio consistem de:
- 96,0% KCN (cianeto de potssio);
- 0,6% K2CO3 (carbonato de potssio);
- 0,75% KCNO (cianato de potssio);
- 0,5% KCl (cloreto de potssio)
A relao entre cianeto e cianato crtica, sendo o cianato o principal
responsvel pela nitretao. Nas temperaturas de nitretao o cianato decompese, liberando carbono e nitrognio, entretanto nestas temperaturas o nitrognio se
difunde mais que o carbono, resultando nitretos em maior quantidade que
carbonetos na camada branca (ou faixa de compostos) que pode atingir deste 5 a
15 mm, conforme o tempo de operao, que pode variar de 1 a 3 horas. A figura
que segue mostra a profundidade de nitretao para alguns aos submetidos
nitretao lquida a 570 C.
O efeito do nitrognio na camada de difuso depende do tipo do ao: nos
aos comuns, forma segregaes aciculares de Fe4N, que no interferem na
dureza; nos aos ligados com Cr, Al, W, V ou outros elementos formadores de
nitretos especiais, ocorre um considervel aumento de dureza, devido
precipitao de partculas muito finas destes nitretos. O efeito mais importante da
zona de difuso o de aumentar consideravelmente a resistncia fadiga,
atribuda ao fato dos nitretos formados nesta zona bloquearem as deformaes
dos cristais de ferro, elevando seu limite de escoamento e, portanto, seu limite de
fadiga. Depois do tratamento resfria-se ao ar ou em salmoura com o objetivo de
manter o nitrognio em soluo, para garantir alto limite de fadiga.
0,9
1015
Profundidade nitretada (mm)
0,8
0,7
1045
0,6
0,5
0,4
Aos ligas
0,3
0,2
0,1
0,0
10
Tempo (horas)
Figura 2.48 Profundidade de penetrao da camada nitretada em alguns aos, submetidos
ao processo lquido.
O efeito do nitrognio na camada de difuso depende do tipo do ao: nos
aos comuns, forma segregaes aciculares de Fe4N, que no interferem na
dureza; nos aos ligados com Cr, Al, W, V ou outros elementos formadores de
57
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
nitretos especiais, ocorre um considervel aumento de dureza, devido
precipitao de partculas muito finas destes nitretos. O efeito mais importante da
zona de difuso o de aumentar consideravelmente a resistncia fadiga,
atribuda ao fato dos nitretos formados nesta zona bloquearem as deformaes
dos cristais de ferro, elevando seu limite de escoamento e, portanto, seu limite de
fadiga. Depois do tratamento resfria-se ao ar ou em salmoura com o objetivo de
manter o nitrognio em soluo, para garantir alto limite de fadiga.
Nitretao inica - A aplicao de uma tenso contnua entre dois eletrodos,
mantidos em uma atmosfera gasosa, permite a obteno de um gs ionizado,
tambm chamado de plasma. O plasma composto de eltrons, ons e partculas
neutras, no estado fundamental ou excitado. O tratamento consiste basicamente
em submeter uma mistura de gases (N2 ou N2 + CH4) em uma cmara
hermeticamente fechada, a uma tenso eltrica entre dois plos, negativo
(ctodo) e positivo (nodo). As
peas ficam presas ao ctodo,
conforme mostra o esquema
abaixo. Neste ambiente so
monitoradas as variveis do
processo como presso do gs,
os regimes de descarga,
dependendo da relao entre
tenso
e
corrente,
e
temperatura. O ctodo
totalmente
envolvido
pelo
plasma,
promovendo
um
tratamento uniforme em toda a
pea, o que no acontece em
outros regimes de descarga.
Figura 2.49 Esquema do reator inico.
Na nitretao por plasma, o importante a queda de tenso catdica, j
que a pea a ser nitretada o ctodo. Esta queda de tenso provoca uma
acelerao dos ons N+ a partir da regio luminescente em direo ao ctodo. Na
regio da bainha ocorre ento, colises entre os ons acelerados e molculas,
com transferncia de carga e energia cintica. O nmero de colises
diretamente proporcional a presso de N2 no reator, tendo em vista que o livre
caminho mdio diminui com a presso. Quando o nmero de colises atinge um
valor suficientemente alto, as energias dos ons e molculas se tornam iguais,
estabelecendo-se um equilbrio trmico na bainha catdica. Nestas condies de
equilbrio o aquecimento da pea provocado igualmente pelas colises de
molculas e ons e, portanto, a temperatura da pea igual a temperatura do gs.
O bombardeamento de uma superfcie por ons, molculas ou tomos, produz um
efeito fsico, independente do gs utilizado, que tem um pronunciado efeito sobre
a cintica de nucleao e crescimento do filme depositado, alm de um efeito
qumico, que depende da reatividade do gs utilizado, com o substrato.
Quando estas espcies colidem com a superfcie do substrato (ctodo),
podem ocorrer os seguintes eventos:
- O on incidente pode ser implantado na rede cristalina do substrato: Implantao
inica;
58
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
- Reflexo do on a partir da superfcie e posterior neutralizao;
- Emisso de eltrons secundrios, os quais so acelerados na bainha catdica
pelo campo eltrico, contribuindo para a manuteno da descarga;
- Reaes qumicas entre o gs da descarga e o material do substrato;
- Ejeo de tomos do substrato (sputtering);
- Rearranjos de ordem microestrutural no interior do material, aumentando sua
densidade de defeitos, como, por exemplo, vazios.
As colises de eltrons com molculas do gs podem provocar
dissociao, excitao e ionizao, formando espcies que reagem como
substrato. As principais espcies reativas em um plasma de N2 so: N, N*, N2*, N+
e N2+ , e no caso de um plasma N2 + H2, podem surgir, ainda, espcies do tipo Ni
+ Hj, alm das espcies correspondentes ao hidrognio.
Os mecanismos de nitretao por plasma propostos so vrios. Em funo
dos vrios modelos, admitido atualmente, que o fato mais importante na
nitretao por plasma, a formao de espcies reativas de nitrognio, na forma
atmica ou molecular, no estado excitado e tambm NHj ou NHj+ em misturas
N 2 + H 2 com energia potencial suficiente para a formao de nitretos de ferro. A
vantagem de usar hidrognio na mistura funo de seu potencial redutor, alm
de propiciar uma ionizao maior e, portanto, uma melhoria na eficincia do
processo. O modelo de mecanismo de nitretao sugerido por Kobel e Edenhoffer
prope que os tomos de ferro so arrancados da superfcie por
bombardeamento inico e combinam com o nitrognio atmico no plasma,
formando o composto FeN que se deposita por retro-difuso na superfcie da
pea. Este composto instvel entre 350 e 600 C, e se dissocia, liberando
nitrognio atmico que se difunde no reticulado cristalino do ferro, ocupando
posies intersticiais ou pelos contornos de gros, formando nitretos estveis
como Fe2-3N ou Fe4N.
Em termos prticos a nitretao por plasma consiste em aplicar-se uma
diferena de potencial de 500 a 1000 VDC entre dois eletrodos, em uma
atmosfera de N 2 + H 2 em baixa presso (4 Torr). As peas a serem nitretadas
so colocadas no ctodo. Devido a diferena de potencial e baixa presso no
reator, a mistura gasosa se ioniza e os ons formados so acelerados contra as
peas e as colises promovendo seu aquecimento. As diversas espcies reativas
de nitrognio (com potencial nitretante), formadas no plasma, combinam-se com o
ferro e elementos de liga presentes na pea promovendo a formao da camada
nitretada. As diferentes fases de nitretos que se formaro dependero das
condies adotadas. A espessura da camada branca varia de 5 a 25 m e a de
difuso pode se aproximar de 1,0 mm para tempos longos. Este processo pode
ser aplicado em todos os tipos de aos, sendo de grande importncia para os
aos sinterizados.
As vantagens da nitretao por plasma, frente aos outros processos de
nitretao, podem ser resumidas citando-se os seguintes aspectos:
- Possui uma maior taxa de crescimento de camadas, o que permite reduzir-se o
tempo e a temperatura do processo, o que o torna mais econmico;
- Permite nitretar apenas as reas desejadas em uma mesma pea;
59
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
- Permite escolher o tipo de fase da camada nitretada pela adequada escolha dos
parmetros operacionais;
- Apresenta tima repetibilidade de resultados;
- um processo no poluente, por no produzir resduos txicos.
Cementao
Espessura da camada (mm)
Em pargrafos anteriores foram citadas vrias vezes a cementao. um
dos tratamentos trmico-qumicos realizados com freqncia. A cementao est
baseada nas propriedades do ferro que, em altas temperaturas de 800 C a 950
C, quando o ferro apresenta-se com estrutura CFC, absorve o carbono em
processo de saturao a camada superficial dos aos de baixo carbono. A
camada superficial, saturada de carbono, chama-se camada cementada. A
finalidade da cementao elevar a dureza e a tenacidade da pea para depois
sofrer
a
tmpera,
mantendo ao mesmo
tempo o ncleo dctil.
1.000 oC
2,5
So cementadas as
peas de ao com
2,0
baixo teor de carbono
o
850 C
(algumas
vezes
1,5
o
tambm
de
aos
ligas)
800 C
que contm de 0,1% a
1,0
0,2% de carbono e que
so
submetidas
0,5
simultaneamente
durante ao trabalho ao
0,0
desgaste e as cargas
0
2
4
6
8
dinmicas.
Tempo (horas)
Figura 2.50 Profundidade da camada cementada em ao de baixo carbono.
Dependendo das condies e solicitaes de trabalho da pea, a
profundidade da camada cementada pode variar de 0,5 mm at 2,0 mm ou mais.
O processo de cementao pode ser efetuado em um meio slido, lquido ou
gasoso. No meio slido normalmente utiliza-se carvo vegetal ou coque com
adies especiais de carbono de brio. Em meio lquido faz-se por meio de sais
fundidos, e em meio gasoso, o gasognio, que produto da decomposio do
petrleo, como querosene, os leos etc. O meio em que efetuado a cementao
chama-se carburizador.
Cementao slida - A composio do carburizador contm geralmente a
seguinte composio: 20 a 25% em peso de carbonato de brio, de 3,5 at 5,5%
de carbonato de sdio e o restante de carvo vegetal. Posteriormente, a pea
levada ao forno a uma temperatura em torno de 930 C, durante o tempo
necessrio para obteno da camada desejada. O tempo de permanncia no
forno pode variar de um a trinta horas, depois, submete-se a pea tmpera para
obter a dureza desejada.
60
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Cementao lquida - Neste processo, efetua-se a cementao mergulhando a
pea em sais fundidos de cianeto ou carbonatos que contm carbono em
suspenso em 5 a 10%. Este processo transcorre temperatura de 870 a 900 C
durante 0,5 a 2 horas. A espessura da camada cementada da ordem de 0,2
mm em 40 a 50 minutos. A vantagem da cementao em sais o aquecimento
uniforme da pea, produo contnua, menor tempo e possibilidade de tmpera
imediatamente aps o banho. Para evitar deformaes, as peas devem ser praquecidas at 500 C antes de entrar para o banho de cementao. A
cementao lquida empregada em aos com baixos teores de carbono, ou
ainda aos especiais de nquel ou de nquel cromo.
Cementao gasosa - A cementao gasosa efetuada em uma atmosfera de
gases que contm carbono. Na cementao gasosa, as peas so introduzidas
em cmaras especiais, atravs dos quais passam os gases, e a temperatura nas
cmaras mantida entre os limites de 900 C a 950 C. Atualmente muito
empregado a cementao rpida com gases, em que a camada cementada de
1mm de profundidade se obtm em 45 minutos aproximadamente.
Boretao
Por este processo introduz-se na superfcie de ao, por difuso, o elemento
boro, formando boreto de ferro com uma dureza Vickers de 1.700 a 2.000 kgf/cm2.
O meio difusor slido formado de um granulado de carboneto de boro B4C e de
um ativador, fluoreto duplo de boro e potssio. O carboneto fornece o metal para
a boretao, enquanto o ativador facilita e acelera a formao da camada
superficial dura e de grande uniformidade.
A temperatura de tratamento varia entre 800 e 1.050 C (sendo 900 C a
mais usada), e seu controle necessita ser rigoroso. O tempo depende da
espessura de camada desejada, por exemplo, um ao ABNT 1045, em 4 horas de
tratamento apresenta uma camada de boreto de ferro, Fe2B com 100 m em 8
horas, 150 m a 200 m em 12 horas.
Podem ser boretados os aos carbono, aos com baixa e alta liga, ferro
fundido comum e nodular. Aps a boretao os aos so normalmente
temperados e revenidos.
Ferroxidao
As propriedades fsicas de peas ferrosas sinterizadas podem ser
melhoradas por um processo econmico e verstil que vem sendo usado desde
1950 e, que pode ser visto como uma operao secundria na indstria de peas
sinterizadas: o tratamento a vapor (steam treatment, steam oxidation, steam
blackning), tambm chamado de ferroxidao. Os principais benefcios trazidos
por este processo so:
- Aumento da dureza e densidade das peas;
- Aumento da resistncia compresso;
- Aumento da resistncia corroso;
61
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
- Selamento da porosidade interligada, dando estanqueidade pea;
- Obteno de um excelente acabamento superficial com a reduo da
rugosidade inicial.
De maneira geral, como desvantagens da ferroxidao podem-se citar o
decrscimo:
- Do limite de resistncia trao, dependendo das condies de tratamento;
- Da resistncia ao impacto;
- Da ductilidade.
O processo aplicado principalmente em peas sinterizadas de baixa e
mdia densidade (5,4 7,0 g/cm3 ). Como nestas peas existe uma rede de poros
comunicantes, um fluxo de gs pode passar atravs de toda sua seo. Ento,
quando se faz passar um fluxo de vapor de gua superaquecido pelas mesmas,
uma camada de xido de ferro se forma nas paredes da rede de poros
comunicantes, bem como sobre a superfcie externa da pea. A camada xida
obtida desta forma muito aderente e menos propensa a defeitos, como trincas e
bolhas, do que xidos formados ao ar.
A ferroxidao geralmente realizada em fornos verticais com conveco
forada, os quais so projetados para serem relativamente estanques. Uma
ventoinha interna usada para forar o vapor a circular, assegurando a exposio
uniforme de todas as peas temperatura e atmosfera de tratamento. A melhoria
das propriedades das peas sinterizadas com a aplicao do processo de
ferroxidao conseguida com baixo investimento de capital, pois os
equipamentos no so caros; alm disso, o custo por pea ferroxidada baixo.
O processo de ferroxidao utilizado para criar uma camada de
magnetita, Fe3O4, na superfcie e na rede de poros comunicantes de peas
ferrosas sinterizadas. Um xido intermedirio, a wustita, FeO, estvel somente
acima de 570 C. Acima do ponto de ebulio da gua (100 C) e abaixo de 570
C a reao do vapor dgua com o ferro para formar o Fe3O4 :
3Fe + 4 H 2 O (gs) Fe3 O2 + 4 H 2 (gs)
Inicialmente a carga do forno deve ser aquecida acima de 100 C, mas
sempre abaixo do ponto critico de oxidao ao ar e descolorao, ou seja, 427 C.
Normalmente usada a temperatura de 315 C para o primeiro estgio, por um
tempo de 15 a 30 minutos at que todas as peas atinjam esta temperatura, ou
pelo menos at que o centro da carga do forno atinja a temperatura mnima de
100 C, para evitar a condensao do vapor sobre as peas. O fluxo de vapor
ento introduzido na cmara do forno com alta taxa (4,5 a 163 kg/h, dependendo
do tamanho do forno) para purgar o ar. Quando a purga do forno for completada,
o fluxo de vapor reduzido metade e a temperatura aumentada para valores
entre 430 e 600 C (no limite inferior o xido produzido tem a cor preta azulada e
no superior, o xido cinzento). A carga ento mantida a esta temperatura de
0,5 a 4 horas, dependendo da quantidade de xido que se deseja.
Aps o tempo necessrio, a carga removida do forno ou resfriada sob
vapor at temperaturas abaixo de 427 C, para depois remov-la e introduzir nova
carga. Durante a ferroxidao uma camada de xido, Fe3O4, vai crescendo em
62
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
todas as superfcies expostas, ou seja, nas paredes da rede interligada de poros e
na superfcie externa da pea. Com o prosseguimento do tempo, a taxa de
formao de xidos diminui por causa do fechamento dos poros. Quando todos os
poros esto fechados o vapor no tem mais acesso ao interior do corpo
sinterizado e, a partir deste momento, s a oxidao superficial progride. A taxa
de crescimento da camada superficial decresce porque a camada de xido
dificulta a difuso do Fe e O atmicos. E razovel assumir que a reatividade do
vapor, dentro dos poros, decresceria com a distncia abaixo da superfcie
externa, em funo da diminuio da proporo H2O/H2 e que a taxa de
crescimento da camada xida seria um tanto maior prximo superfcie. Portanto
os poros prximos superfcie, at um dado tamanho, seriam fechados mais
rapidamente, e aps o fechamento da superfcie, a continuidade do processo de
ferroxidao produziria muito pouca mudana na porosidade final da pea. A
dependncia do ganho em peso e da densidade final da pea, com relao ao
tempo de ferroxidao, confirma tal pressuposto.
Processos variantes
So tratamentos trmico-qumicos similares aos de nitreo e cementao
quanto ao meio. So eles:
a) Carbonitretao ou cianetao a gs - Este processo consiste em submeter
o ao a uma temperatura geralmente acima da crtica em uma atmosfera gasosa
capaz de fornecer tanto carbono como nitrognio que difundem simultaneamente
para superfcie da pea. Industrialmente o processo uma cementao a gs
modificada pela injeo de amnia na atmosfera carbonetante.
Os constituintes da atmosfera utilizada na carbonitretao so:
- Gs endotrmico (N2, H2 e CO, mais impurezas: O2, H2O e CO2), na proporo
de 77 a 89% em volume. Tem a funo de criar presso positiva para impedir a
entrada de oxignio e diluir gases ativos (hidrocarbonetos e amnia) de modo a
facilitar o controle do processo;
- Gs natural, propana ou butana, na proporo de 9 a 15%. Torna a atmosfera
carbonetante;
- Amnia (NH3), na faixa de 2 a 8%. Na sua dissociao forma nitrognio
nascente na superfcie do ao, promovendo sua nitretao.
O objetivo principal da carbonitretao conferir ao ao uma camada dura
e resistente ao desgaste. A camada produzida tem espessura entre 0,07 a 0,7
mm, sendo menor que as obtidas na cementao, no entanto possui melhor
temperabilidade e mais resistente ao amolecimento durante o revenimento,
alm disso, apresenta um custo menor que a cementao, para esta faixa de
espessura de camada.
b) Nitrocarbonetao a gs de ciclo curto DEGANIT - Esta variao do
processo de nitretao a gs consiste em submeter as peas a uma temperatura
em torno de 580 C (abaixo da crtica) em uma atmosfera com nitrognio e
carbono. Na prtica consiste em introduzir um gs carbonetante na atmosfera de
nitretao.
63
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A atmosfera constituda de amnia dissociada, gs endotrmico ou outro
qualquer que fornea CO e nitrognio. O tempo de tratamento normalmente de
1 a 3 horas e o resfriamento das peas feito sob atmosfera de nitrognio at a
temperatura ambiente. Este processo produz camadas brancas de 10 a 30 m de
espessura altamente resistente ao desgaste por atrito, corroso e ao
engripamento, alm de uma camada de difuso de at 0,3 mm que aumenta e
resistncia fadiga.
c) Sulfocarbonitretao gasosa - O processo consiste em introduzir enxofre,
alm do carbono e nitrognio no meio difusor, submetendo as peas a uma
temperatura entre 550 e 575 C, por um tempo em torno de 2 horas. Possui a
vantagem de conferir aos aos tratados (comuns e de baixo teor de elementos de
liga) melhores caractersticas de resistncia ao engripamento, mantendo as
outras propriedades equivalentes. A camada branca contm enxofre, sulfeto de
ferro e carbonitretos. A camada de difuso apresenta nitrognio em soluo slida
no ferro alfa, quando o resfriamento rpido, e agulhas de nitretos, para
resfriamentos lentos.
d) Cianetao ou carbonitretao lquida - Consiste em submeter as peas a
uma temperatura acima da crtica, de 760 a 870 C, num banho adequado de sal
cianeto fundido, ocorrendo difuso simultnea de carbono e nitrognio. O tempo
de tratamento varia de 0,5 a 1 hora, produzindo camadas de 0,1 a 0,3 mm. A
tmpera posterior produz uma camada superficial dura e de elevada resistncia
ao desgaste, contendo mais nitrognio e menos carbono que as camadas
cementadas
e) Nitrocarbonetao em banho de sal - TENIFER/TENOX - O TENIFER
realizado em banhos de sais fundidos, onde as peas so submetidas a
temperaturas entre 550 e 570 C seguido de resfriamento ao ar, ou gua. A
denominao TENOX uma variante deste processo, onde o resfriamento
realizado em um banho de sal oxidante seguido de polimento e nova oxidao em
banho de sal. Os sais so compostos de cianetos e cianatos alcalinos que
fornecem o nitrognio e o carbono ao meio, e o carter oxidante para o TENOX
obtido por insuflamento de ar ao banho.
A camada branca resultante da ordem de 10 a 20 m e constitui-se
carbonitretos de ferro e carbonetos e nitretos dos elementos de liga presentes no
material. A camada de difuso apresenta valores da ordem de 0,3 mm e
constituda por nitretos de ferro e dos elementos de liga.
O processo aplicado em aos, ferros fundidos ou materiais sinterizados e
em muitos casos uma alternativa a outros tratamentos, como, cementao e
cromo duro, com resultados equivalentes ou superiores, porm com maior
economia.
f) Sulfocarbononitretao lquida SURSULF - um processo similar ao
processo TENIFER, diferenciando-se pelo fator do banho conter sais de ltio e
compostos de enxofre, alm dos cianetos e cianatos. Os objetivos e resultados
so praticamente idnticos aos da sulcarbonitretao gasosa.
64
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
g) Cementao por plasma (Ioncarburizing) - Este processo uma variao
da nitretao por plasma, na qual a diferena consiste em utilizar-se um gs
carbonetante, metano (CH4), no lugar do hidrognio e nitrognio, numa faixa de
temperatura entre 840 e 1.050 C com um tempo de tratamento em torno de 2
horas. As vantagens deste processo de cementao sobre os convencionais so
as mesmas obtidas com a nitretao por plasma.
2.6.2.2 - Tratamentos de revestimentos
Revestimentos metlicos
Dentre outros, pode-se citar os seguintes processos de tratamentos
superficiais com revestimento metlico em metais:
a) Cladizao: consiste em colocar o metal, ou liga, entre camadas de um outro
metal de maior resistncia corroso. O metal mais comum utilizado nessa
tcnica o alumnio, e a operao efetuada por laminao a quente ou a frio.
Atravs dessa tcnica, pode-se obter materiais em que so combinados
resistncia mecnica, atravs do elemento de liga, com a resistncia corroso
(atravs do alumnio).
b) Imerso quente: nessa tcnica as peas a serem protegidas so imersas
num banho de metal protetor fundido. Existem trs processos: a galvanizao, a
estanhagem e o banho em chumbo.
No caso da galvanizao, formam-se, em peas de ferro e ao, camadas
aderentes de zinco. Desse modo, um revestimento galvanizado apresenta uma
estrutura de componentes qumicos complexa, que varia gradualmente sua
composio e suas propriedades fsicas e mecnicas, dependendo da atividade
qumica, difuso e subseqente resfriamento. um processo utilizado
basicamente para peas sujeitas corroso atmosfrica, aquosa ou em solo. O
tempo de imerso das peas determina, em parte, a espessura da camada
galvanizada, sendo esse tempo normalmente prximo a 2 minutos.
No caso da estanhagem, a principal vantagem do revestimento seu
aspecto no-txico, permitindo seu uso na aparelhagem de armazenamento e
manuseio de alimentos. Conforme for o grau de acabamento, pode-se fazer a
estanhagem simples, dupla ou tripla, sendo que a ltima, aps a dupla
estanhagem, recebe, ainda quente, um banho de leo de coco (ou sebo quente),
que promove a drenagem do excesso de material e auxilia na formao de um
revestimento uniforme de espessura satisfatria e isenta de defeitos.
c) Eletrodeposio: o processo de revestimento metlico mais empregado,
pois promove espessuras finas, uniformes e isentas de poros. Nesse processo
podem ser empregados como metais de deposio zinco, estanho, cobre, nquel,
cromo, cdmio, prata e ouro. A figura seguinte mostra o processo. A pea a ser
revestida funciona como ctodo numa clula eletroltica, onde o eletrlito contm
sal do metal protetor, podendo o nodo ser do mesmo metal a ser depositado. A
eficincia depende de uma srie de fatores, entre eles a composio qumica do
eletrlito, a temperatura, densidade da corrente do ctodo, etc. Uma conhecida
65
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
aplicao dessa tcnica a
eletrodeposio de estanho, que
origina as folhas de flandres ou
latas. Tambm so usados em
componentes eltricos e eletrnicos,
conectores eltricos e aplicaes
que exijam alta soldabilidade. Os
processos que utilizam nquel e
cromo so mais utilizados para fins
decorativos, embora utiliza-se o
cromo
duro
para
revestir
ferramentas, matrizes e peas que
necessitem boa resistncia ao
desgaste, ao atrito e corroso.
Figura 2.51 Esquema da eletrodeposio.
d) Metalizao (sputtering): o processo se d atravs do aquecimento de um
metal at seu ponto de fuso, fazendo-o passar, na forma de um filete, atravs de
uma fonte de calor a alta temperatura, de modo a desintegr-lo em partculas que
so lanadas contra a superfcie da pea. No choque, as partculas aderem-se
tenazmente superfcie metlica que se deseja proteger. Esse mtodo utilizado
para proteger peas contra oxidao, corroso, abraso, eroso e impactos, alm
de restaurar componentes de mquinas desgastados ou usinados erradamente.
Praticamente todos os metais e ligas podem servir como agente protetor e o
mtodo tambm pode ser usado para proteger superfcies no metlicas, como
papel, vidro, madeira, concreto, etc.
e) Difuso: nesse processo, colocam-se as peas a serem protegidas no interior
de tambores rotativos. Nesses tambores, colocado uma mistura do metal
protetor, na forma de p, com um fundente. O conjunto aquecido a altas
temperaturas e ento ocorre a difuso do metal protetor nas peas a serem
revestidas. Os revestimentos comuns usados nessa tcnica so: o alumnio
(calorizao), o zinco (sherardizao) e o silcio (siliconizao).
f) Anodizao: utiliza o alumnio, que colocado em uma clula eletroltica. As
peas a serem protegidas constituem o nodo e ocorre a converso do alumnio
em xido de alumnio. Com esse processo ocorre nas peas um aumento da
resistncia corroso, aumento da adeso de tintas, permite um revestimento por
eletrodeposio (devido a sua porosidade), melhora a aparncia superficial,
confere isolamento eltrico e aumenta a resistncia a abraso. Os principais tipos
de anodizao so: crmico (cido crmico como agente ativo), sulfrico (cido
sulfrico como agente ativo) e duro (cidos sulfrico e oxlico como agentes
ativos);
g) Cromatizao: so obtidos a partir de solues contendo cromatos com
adio de ativadores como sulfatos, nitratos, cloretos, fosfatos, fluoretos, etc.
Esse processo preferencialmente aplicado em alumnio, magnsio, zinco e
cdmio, mas pode ser usado em ferro, ao, cobre, ligas de nquel, de titnio e de
zircnio;
66
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
h) Fosfatizao: processo que objetiva um tratamento prvio da superfcie para
posterior pintura. Consiste basicamente no tratamento de peas de ferro e ao,
mediante uma soluo diluda de cido fosfrico e outras substncias qumicas.
Pequenos objetos, como parafusos e porcas e peas estampadas de pequenas
dimenses so revestidas em tambores rotativos contendo soluo fosfatizante;
as peas maiores so colocadas em tanques. Alm de servirem de base para a
pintura, a fosfatizao serve de base para aplicao de leo e outros materiais
que previnem contra corroso, aumenta a resistncia ao desgaste e escoriao
de peas que se movimentam em contato, produzem uma superfcie que facilita a
conformao a frio e servem de base para adesivos em laminados metal-plstico.
Revestimentos polimricos
Dos revestimentos polimricos, as tintas constituem o principal
revestimento anticorrosivo, por serem de mais fcil aplicao e de menor custo
que os demais. As tintas constituem-se basicamente dos seguintes componentes:
veculo, cuja funo formar a pelcula (alm de agregar os pigmentos e as
cargas, de modo a torn-las parte integrante da pelcula); pigmentos, que so
pequenas partculas cristalinas insolveis nos solventes utilizados (orgnicos ou
inorgnicos); carga, que eventualmente substitui o pigmento; solvente, que
dissolve o veculo para que este possa ser aplicado em camadas mais finas; e
materiais auxiliares, onde os mais comuns so os secantes.
Os veculos podem ser no-conversveis (mais fcil de aplicar, de secagem
rpida, porm necessitam vrias demos) ou conversveis (so os vernizes leoresinosos, resinas alqudicas, epxi, poliuretadas e silicones).
Os pigmentos tambm so de natureza inorgnica (naturais ou sintticos)
ou orgnica. As cargas so compostos inorgnicos, que objetivam reduzir o custo
das composies. Os solventes podem ser hidrocarbonatos (aguarrs, naftas
leves e pesadas, tolueno) ou sintticos (etanol, acetatos, etc.).
Revestimentos cermicos
A esmaltao porcelana constitui o principal processo. Os esmaltes so
revestimentos vtreos aplicados principalmente em ao, ferro fundido e alumnio,
para melhorar a aparncia superficial e conferir melhor resistncia a corroso. Os
principais constituintes do esmalte so sistemas complexos vtreos ou cermicos,
completamente misturados e fundidos. Geralmente aplicado numa suspenso
em gua. Aps a aplicao do esmalte, as peas so deixadas secar antes da
queima ou sinterizao final. A secagem realizada ao ar ou em estufas. Essa
secagem se faz necessrio para novas aplicaes de esmalte, facilitar o
manuseio e reduzir a quantidade de vapor de gua que seria introduzida nos
fornos de queima.
67
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3 - ALUMNIO E SUAS LIGAS
3.1 INTRODUO
O alumnio um metal leve ( = 2,7 gf/cm3 ), resistente corroso, bom
condutor de calor e eletricidade, possui brilho e tem um baixo ponto de fuso 658 oC.
H mais de 7 mil anos, os ceramistas da Prsia (atualmente alguns pases
como Ir, Iraque, Afeganisto) faziam seus vasos com um tipo de argila contendo
xido de alumnio - a alumina. Sculos depois, os egpcios e babilnicos usavam
o xido de alumnio em cosmticos e produtos medicinais. Apesar de ser o metal
mais abundante na crosta terrestre, ele no se encontra naturalmente na forma de
metal, mas na forma de xido (Al2O3) no minrio da bauxita.
Vrios pesquisadores participaram da descoberta do alumnio. O primeiro
foi o ingls Humphrey Davy, entre 1.808 e 1.812, que tentou isolar o metal,
obtendo uma liga de ferro-alumnio e sem saber direito o que havia obtido, sugeriu
que poderia ser um xido de um metal, dando o nome de aluminium. Logo depois,
em 1.825, o fsico alemo Hans Christian Oersted se encarregou de produzir
pequenas quantidades do metal, separando-o do oxignio, atravs da destilao
com aquecimento da mistura de potssio e xido de alumnio. Em 1.854, o
cientista francs Henri Saint Claire Deville, substituiu o potssio pelo sdio,
reduzindo o xido existente na alumina e obteve um alumnio com 97% de
pureza. Outros melhoraram seu processo at 1.869, quando 2 toneladas de
alumnio foram produzidas. Isso baixou seu custo de $545,00 para $17,00 o
grama, quase o mesmo valor da prata. Um preo razovel, tanto que serviu
para ornar a mesa da Corte Francesa, a coroa do rei da Dinamarca e a capa do
Monumento de Washington. Em meados de 1.880, o alumnio era um metal
semiprecioso, to raro quanto a prata. Na Oberlin College de Ohio, o professor
Frank Jewett mostrou a seus estudantes de Qumica um pequeno pedao de
alumnio e disse a eles que quem conseguisse descobrir um modo econmico de
se obter este metal ficaria rico. Um de seus estudantes, Charles Martin Hall, j
vinha fazendo experimentos com minrios desde os 12 anos de idade, em
laboratrio improvisado. Depois de formado, continuou seus experimentos.
Aprendeu como fazer xido de alumnio alumina. Em 1.886, ele colocou num
recipiente um banho de criolita contendo alumina e passou uma corrente eltrica.
O resultado foi uma massa que ele trabalhou com martelo. E ento, vrias
partculas de puro alumnio se formaram, dando origem a um dos metais mais
usados pela indstria na histria. Isto s foi possvel devido a inveno do dnamo
eltrico.
68
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3.2 - PRODUO DE ALUMNIO
O processo de produo de alumnio composto por uma srie de reaes
qumicas. At mesmo a bauxita - minrio do qual se extrai a alumina e o alumnio
- formado por uma reao qumica natural, causada pela infiltrao de gua em
rochas alcalinas que entram em decomposio e adquirem uma nova constituio
qumica. A bauxita encontra-se prxima superfcie, em uma espessura mdia de
4 a 5 metros, o que possibilita a sua extrao a cu aberto com a utilizao de
retroescavadeiras. Porm, antes de se iniciar a explorao, alguns cuidados
devem ser tomados para proteger o meio ambiente. A terra frtil acumulada sobre
as jazidas removida juntamente com a vegetao e reservada para um futuro
trabalho de recomposio do terreno, aps a extrao do minrio. Depois de
minerada, a bauxita transportada para a fbrica, onde chega em seu estado
natural, com impurezas que precisam ser eliminadas. E a se inicia a primeira
reao qumica da srie que vai viabilizar a obteno da alumina e do alumnio. A
bauxita, que contm em torno de 40 a 60% de alumina e o restante de xido de
ferro, slica, titnio e outras impurezas, moda e misturada a uma soluo de
soda custica que a transforma em pasta. Aquecida sobre presso e recebendo
nova adio de soda custica, esta pasta se dissolve formando uma soluo que
passa por processos de sedimentao e filtragem que eliminam todas as
impurezas. Esta soluo, chamada de aluminato de sdio, esta pronta para que
dela se extraia apenas a alumina. Isso feito atravs de reao qumica. Em
equipamentos chamados de precipitadores, a alumina contida na soluo
precipita-se atravs do processo chamado de "cristalizao por semente", e
nesse processo, obtm-se a alumina hidratada. Desta forma, pode ser usada no
tratamento de gua e na indstria de celulose e papel, corantes e cremes dentais.
Se for seca e calcinada (1.000 a 1.300 oC), a matria-prima - alumina - poder ser
utilizada como abrasivos, refratrios, isoladores trmicos, cermicas avanadas.
A alumina (Al2O3) tem uma ligao muito forte, predominantemente inica,
entre os seus tomos e que para separ-los necessrio a utilizao de fornos
eletrolticos. A alumina dissolvida dentro destes fornos em um banho a base de
fluoretos. Os fornos so ligados a um circuito eltrico de corrente contnua. No
momento que ocorre a passagem da corrente eltrica, ocorre a reao de
dissociao e o alumnio se separa do oxignio. O alumnio lquido se deposita no
fundo do forno que bombeado para fornalhas onde ser purificado ou receber
a adio de outros metais para formao de ligas. O calor gerado pela corrente
eltrica mantm a soluo em estado lquido, permitindo a adio de novas
cargas de alumina, o que torna o processo contnuo para fabricao de lingotes
ou laminados.
O alumnio facilmente moldvel e permite todo tipo de processo de
fabricao: pode ser laminado, forjado, prensado, repuxado, dobrado, serrado,
furado, torneado, lixado e polido. As peas de alumnio podem tambm ser
produzidas por processos de fundio, alm disso, o alumnio um material que
pode ser unido por todos os processos usuais: soldagem, rebitagem, colagem e
brasagem. Sua condutividade trmica quatro vezes maior que a do ao. Ele
pode ser anodizado, envernizado e esmaltado.
69
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Uma das grandes utilizaes do alumnio no seu formato de p.
produzido a partir da atomizao do alumnio em estado lquido, na qual, o
alumnio no estado lquido aspirado para uma cmara onde se introduz um jato
de ar pressurizado, desintegrando-o em pequenas partculas de formato semiesfrico que depois peneirado e classificado de acordo com a sua granulao
que pode ser: fino, mdio e grosso. As principais aplicaes do p de alumnio
so:
Aluminotermia: empregada na produo de ligas de ferro, ligas no-ferrosas
e metais puros: ferro-nibio, ferro-vandio, ferro-molibdnio, ferro-titnio,
cromo, etc... Funciona como agente de reduo de xidos e fonte de calor.
Refratrios: aplicado em tijolos e concretos para canal de corrida. O p de
alumnio reage com o oxignio da gua, gerando hidrognio que facilita a
secagem dos concretos e evita a formao de trincas. Em tijolos de magnsiacarbono, o alumnio reage com o oxignio do ao fundido, preservando o
carbono do ao, aumentando a vida til do refratrio.
Metalurgia: utilizado na produo de briquetes, que so misturas de alumnio
e outros ps metlicos, moldados em pequenos lingotes sob presso.
Endurecem, reforam e refinam a estrutura granular das ligas de alumnio.
Utilizado em solda exotrmica, a reao de ps de alumnio e xidos metlicos
fornece o calor e metal de enchimento, utilizado na soldagem de cabos,
bastes, trilhos, ligas de cobre, alumnio e outros metais.
Indstria qumica: utilizado na produo de derivados aluminosos quando se
necessita de uma reao de alta pureza e eficincia. aplicado em
cloridrxido de alumnio, cloreto de alumnio anidro, agentes de reduo,
fosfeto de alumnio, hidrxido de alumnio, produo de pigmentos para de
tintas automotivas e industriais, grfica, etc.
Explosivos: O p de alumnio misturado a compostos explosivos,
aumentando o desempenho e a potncia de exploso. Alguns tipos de
explosivos so NA/FO, aminometilaminas, etc.
Forno auto limpante: O p de alumnio age como elemento de suporte na
formulao de esmaltes, dando o efeito de limpeza.
Propelentes para msseis e foguetes: o p utilizado na produo de
combustveis slidos para msseis e foguetes. Os compostos slidos so
formados por um oxidante forte, p de alumnio, ligantes e aditivos especiais.
70
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3.3 - PROPRIEDADES DO ALUMNIO E SUAS LIGAS
O alumnio comercialmente puro ( 99,99% ) e recozido tem uma resistncia
de ruptura trao de 5 kgf/mm (49 MPa) e peso especfico de 2,7 gf/cm3 e a
tenso de escoamento est em torno de 1,3 kgf/mm (12,7 MPa). Quando
laminados, extrudados ou forjados, a tenso de ruptura trao pode alcanar a
57 kgf/mm2 (559 MPa) e a tenso de escoamento fica em torno de 50 kgf/mm
(490 MPa). As impurezas metlicas podem aumentar a sua resistncia trao
em cerca de 50% sem aumentar muito o peso especfico (dependente da
concentrao). O mdulo de elasticidade longitudinal depende tambm da
concentrao de elementos de liga, mas para o alumnio comercial vale E = 7.000
kgf/mm. A tabela abaixo mostra o mdulo de elasticidade longitudinal de alguns
materiais de engenharia.
Metal
Ferro,
nquel,
cobalto
Molibdnio,
tungstnio
Cobre
Mdulo de
Elasticidade
Longitudinal
(kgf/mm2)
21.000
35.000
11.900
Alumnio
Magnsio
7.000
4.550
Zinco
Zircnio
Estanho
Berlio
smio
Titnio
Chumbo
Rdio
Nibio
Ouro, prata
Platina
9.800
10.150
4.200
25.700
56.000
10.000
1.750
29.750
10.500
7.850
18.800
Liga
Aos-carbono
e
aos-liga
Aos
inoxidveis
austenticos
Ferro
Fundido
Nodular
Bronzes e lates
Bronzes
de
mangans
e
ao
silcio
Bronzes de alumnio
Ligas de alumnio
Monel
Hastelloy
Invar (nquel-ferro)
Inconel
Ilium (liga de nquel)
Ligas de titnio
Ligas de magnsio
Ligas de estanho
Ligas de chumbo
Mdulo de
Elasticidade
Longitudinal
(kgf/mm2)
21.000
19.600
14.000
7.700 - 11.900
10.500
8.400 - 13.300
7.000 - 7.450
13.000 - 18.200
18.900 - 21.500
14.000
16.000
18.700
11.200 - 12.100
4.550
5.100 - 5.400
1.400 - 2.950
O alumnio comercialmente puro pouco tenaz, mas possui excelente
maleabilidade sendo possvel laminar folhas de 0,005 mm de espessura. Tambm
tem boa ductilidade com alongamento de 30 a 40%, sendo possvel obter fios de
0,03 mm de dimetro. De pequena dureza podendo ser riscado pela maior parte
dos metais. Sob ao do trabalho mecnico a quente (laminao, forjamento) o
alumnio se encrua. Para melhorar ou modificar as propriedades do alumnio,
pode-se fazer tratamentos trmicos ou adicionar elementos qumicos quando o
metal est no estado lquido, fazendo-se as ligas.
71
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades fsicas
Massa atmica: 26,97 g
Peso especfico: 2,70 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 C): CFC, a = 0,404 nm
Ponto de fuso: 658 C [931,15K]
Ponto de ebulio: 2.000 C
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 C): 23 x 10-6/ C [24 - 24,2.10-6/K]
Resistividade: (20 C): 2,699 .cm [2,63 - 2,692.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 C): 0,52 cal.cm-1.s-1. C -1 [222 - 224,2 W/m.K]
Refletividade (chapa polida): 0,06
Calor especfico: 900,4 - 909,4 J/kg.K
Calor latente de fuso: 388 - 391,9 kJ/kg
Temperatura mxima de servio: 370 - 420K
Em relao ao cobre, a condutividade eltrica cerca de 62 % da do cobre
e tal como diminui ligeiramente por deformao a frio e fortemente com a
presena de impurezas.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,34
Dureza: 15 a 25 HB [147 a 245 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 26,2 - 26,4 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 68,9 - 69,6 GPa
Resistncia ao impacto:
Limite elstico: 12,7 a 30 MPa
Tenacidade a ruptura: 30 - 35 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 40 MPa
Tenso de ruptura por trao: 45 a 50 MPa
Alongamento: 30 a 40 %
Estrico: > 60 %
Estas caractersticas correspondem a alumnio no estado recozido. ,
portanto, um metal muito malevel. Pode ser trabalhado a frio e a quente e aps
recristalizao no apresenta maclas como o cobre. O trabalho a quente
efetuado entre 250 - 500 C.
Propriedades qumicas
Reage facilmente com o oxignio. Esta propriedade se d na superfcie do
alumnio e forma uma pelcula espessa e aderente de alumina que o protege da
continuao da reao para o alumnio subjacente. A adio de qualquer
elemento qumico prejudica esta resistncia a corroso, de tal modo que nas ligas
de alumnio de alta resistncia estas tm de ser revestidas por folha de alumnio
puro. Forma pares galvnicos com os metais mais nobres, como o cobre e o ferro,
os quais destroem a camada de alumina protetora e provocam forte corroso.
Devem por isso ser evitadas ligaes metlicas entre aqueles metais e o
alumnio. Resiste bem a corroso atmosfrica, solues salinas, mas e atacado
pela gua pura a temperatura elevada. Tambm resistente a atmosferas
sulfurosas ou muito midas. atacado pela maior parte dos cidos minerais,
72
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
sobretudo o cido clordrico. O cido ntrico e os cidos orgnicos, com exceo
do cido frmico, no atacam o alumnio. Os produtos mais resistentes so: os
vrios graus de alumnio puro, seguidos das ligas Al-Mg, Al-Mn, Al-Mg-Si, e Al-Si.
As ligas que contm cobre so as menos resistentes a corroso e, por isso,
devem ser revestidas de alumnio puro e no sofrer nenhum tratamento trmico
para evitar a difuso dos elementos entre as folhas da superfcie e da alma.
Composio qumica
Pode obter-se por refinao eletroltica o alumnio comercialmente puro,
99,99%. O alumnio comercial contm geralmente impurezas que atingem cerca
de 0,5%, sendo o ferro e o silcio as principais. Estas impurezas so vantajosas
do ponto de vista de propriedades mecnicas, elevando a resistncia mecnica,
mas so prejudiciais a maleabilidade, a resistncia corroso, a condutividade
eltrica. Se a proporo de silcio ultrapassar o teor de ferro poder ocorrer
trincas a quente. Os principais graus de alumnio so: 99,99%; 99,5%e 99%.
Tratamentos trmicos
O nico tratamento com interesse o recozimento de homogeneizao
que, ao assegurar a redistribuio do ferro sob a forma de precipitado fino
intragranular de FeAl3, retarda a recristalizao aps laminao e modifica a
estrutura (evita o aparecimento da estrutura cbica) o que tem como
conseqncia uma diminuio aprecivel da resistividade do metal vazado.
Aplicaes
O seu baixo peso especfico, cerca de 1/3 do peso especfico do cobre,
justifica o seu emprego na construo veculos motorizados e da aviao; na
indstria mecnica, pistes, eletrodos, folha de alumnio, portas e esquadrias,
latas, placas, embalagens, painis, sinalizadores, placas de sinalizao. A
condutividade trmica e apenas ultrapassada pela prata, cobre e o ouro, e por
isso, utilizado em material de cozinha, trocadores de calor, instalaes de
refrigerao, pistes, etc. Mas, devido ao baixo ponto de fuso a temperatura de
servio, no deve ser superior a 200 oC.
3.3.1 - LIGAS DE ALUMNIO
O principal objetivo da adio de elementos ao alumnio a melhorar o
limite elstico, resistncia trao e dureza. Em contrapartida, propriedades
como a ductilidade, condutividade trmica e resistncia corroso diminuem. As
ligas so formadas principalmente com a adio de cobre (Cu), magnsio (Mg),
mangans (Mn), silcio (Si) ou zinco (Zn) ao alumnio (Al). A escolha dos
elementos e sua proporo, nessa adio, dependem das propriedades finais que
se quer obter. A maior parte das ligas de alumnio ainda susceptvel de
endurecimento por precipitao que aumenta consideravelmente o limite de
elasticidade e resistncia trao e a dureza. O alumnio entra em grande
nmero de ligas de dois ou mais componentes. As principais ligas de alumnio
so: ligas de soluo slida Al-Cu; Al-Si, Al-Mg2Si, Al-Mg e Al-Mn.
73
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3.3.1.1 - Liga de Al-Cu
O diagrama de fases da liga binria Al-Cu mostrado abaixo mostra a
complexidade do conhecimento completo de ligas formadas pelo alumnio e
cobre.
Entretanto,
ao se fabricar uma
liga de alumnio AlCu e submeter essa
liga a processos
especiais
de
tratamento,
esse
material ter uma
resistncia trao
equivalente ou at
maior que a de aos
de baixo teor de
carbono com boa
usinabilidade.
indicada para peas
que devem suportar
temperaturas
em
torno de 150 oC.
Figura 3.1 Diagrama de fases da liga Al-Cu.
3.3.1.2 - Liga de Al-Mg (alumag)
As ligas de Al-Mg conhecidas como alumag so susceptveis de
endurecimento por precipitao ou por deformao a frio. O magnsio tem um
mximo de solubilidade no alumnio a 450 oC e para o teor de 15%, valor que
desce para 1,5% temperatura ambiente. As ligas comerciais tem mais de 4% de
Mg, sendo portanto bifsicas, ou seja, constituda pela fase pela fase , Al3Mg2,
que precipita durante o resfriamento. A resistncia corroso pode ser restaurada
por reaquecimento
seguido
de
resfriamento
controlado.
As
ligas de Al-Mg so
excelentes para a
soldagem, e por
serem
tambm
resistentes
corroso,
principalmente em
atmosferas
marinhas.
Figura 3.2 Diagrama de fases da liga Al-Mg.
74
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3.3.1.3 - Liga de Al-Mn
Quando se adiciona mangans (Mn) ao alumnio, a resistncia mecnica
dessa liga aumenta em at 20% quando comparada ao alumnio puro, com a
capacidade de ser trabalhado por todos os processos de conformao e
fabricao mecnicas, como por exemplo a prensagem, a soldagem e a
rebitagem. Essa liga aceita acabamento de superfcie; resistente corroso;
possui elevada condutividade eltrica. Esta liga usada na fabricao de latas de
bebidas, placas de carro, telhas, equipamentos qumicos, refletores, trocadores
de calor e como elemento decorativo na construo civil.
Existem tambm ligas de alumnio fabricadas com a adio de zinco e uma
pequena porcentagem de magnsio (Mg), cobre (Cu) ou cromo (Cr). Depois de
passar por tratamento trmico, essas ligas so usadas em aplicaes que exijam
uma alta relao resistncia/peso, principalmente na construo de avies.
Outros elementos de liga que podem ser adicionados ao alumnio so: bismuto
(Bi), chumbo (Pb), titnio (Ti), estanho (Sn), nquel (Ni) etc. So as variaes nas
quantidades e combinaes dos elementos que originam uma infinidade de ligas
com propriedades adequadas a cada urna das aplicaes.
3.3.1.4 - Liga de Al-Si
A liga de Al-Si
apresenta baixo ponto de
fuso e resistncia
corroso. Quando o teor
de silcio elevado, 13%
de Si, - composio
euttica - e se d com
adio de 0,1% de sdio
no
momento
de
vazamento, a liga
conhecida como alpax e
tem boas propriedades
mecnicas, com maior
tenacidade. Esta liga se
toma
adequada
para
produzir peas fundidas.
tambm indicada
como
material
de
enchimento em processos
de soldagem e brasagem.
Figura 3.3 - Diagrama de fases da liga binria Al-Si.
possvel tambm combinar elementos de liga. o caso das ligas de
alumnio que contm magnsio e silcio em sua composio. Essas ligas
apresentam uma resistncia mecnica um pouco menor que as ligas de alumnio
e cobre, porm, tm elevada resistncia corroso. So facilmente moldadas,
usinadas, soldadas e aceitam diversos tipos de processos de acabamento, tais
75
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
como o polimento, o envernizamento e a esmaltao. So usadas na construo
civil, fabricao de veculos e mquinas e fios para cabos de alta tenso. As ligas
Al-Cu e Al-Mg2Si so ligas do tipo duralumnio e podem endurecer
estruturalmente. Este endurecimento devido a precipitao de Al2Cu ou Mg2Si,
obtendo-se caractersticas mecnicas equivalentes as de um ao-carbono macio.
O duralumnio contm em mdia 2,5 a 5% de Cu e 0,5 a 1% de Mg e 0,5 a 1%
de Mn e 0,5 a 0,8% de Si, alm de pequenas porcentagens de Fe. Pode atingir r
= 50 kgf/mm2 = 3%
Existem tambm ligas de alumnio fabricadas com a adio de zinco e uma
pequena porcentagem de magnsio (Mg), cobre (Cu) ou cromo (Cr). Depois de
passar por tratamento trmico, essas ligas so usadas em aplicaes que exijam
uma alta relao resistncia/peso, principalmente na construo de avies.
Outros elementos de liga que podem ser adicionados ao alumnio so: bismuto
(Bi), chumbo (Pb), titnio (Ti), estanho (Sn), nquel (Ni) etc. So as variaes nas
quantidades e combinaes dos elementos que originam uma infinidade de ligas
com propriedades adequadas a cada urna das aplicaes.
Tratamentos trmicos
O tratamento trmico das ligas de alumnio consta, em geral, de tmpera e
revenido com tratamento de solubilizao devidamente controlada. Para este
tratamento a liga aquecida temperatura de 450 oC a 550 oC e mantida a essa
temperatura durante o tempo necessrio para soluo completa. Aps este
tratamento, a liga pode ser sujeita a tmpera em gua ou normalizada. No caso
de peas de formas complicadas, pode aparecer tenses internas que daro lugar
a distores. Neste caso deve-se usar gua a100 oC, leo ou sais fundidos. Aps
tmpera pode-se realizar um tratamento de alvio de tenses para reduzir as
tenses residuais em produtos extrudados e laminados ou em peas forjadas de
forma regular.
Estas ligas de alumnio podem, aps a tmpera, endurecer por revenido
temperatura ambiente. Em outros casos, o endurecimento acelerado por
revenido temperaturas de 110 a 215 oC e durante tempo determinado. Por
exemplo, nas ligas de Al-Cu-Mg e Al-Mg-Si, o endurecimento resultante devido ao
cobre e ao magnsio que precipitam sob a forma de Al2Cu e Al2MgCu.
3.3.1.5- Liga de Al-Si
A liga de Al-Si apresenta baixo ponto de fuso e resistncia corroso.
Quando o teor de silcio elevado, 13% de Si, - composio euttica - e se d
com adio de 0,1% de sdio no momento de vazamento, a liga conhecida
como alpax e tem boas propriedades mecnicas, com maior tenacidade. Esta liga
se toma adequada para produzir peas fundidas. tambm indicada como
material de enchimento em processos de soldagem e brasagem.
possvel tambm combinar elementos de liga. o caso das ligas de
alumnio que contm magnsio e silcio em sua composio. Essas ligas
apresentam uma resistncia mecnica um pouco menor que as ligas de alumnio
e cobre, porm, tm elevada resistncia corroso. So facilmente moldadas,
usinadas, soldadas e aceitam diversos tipos de processos de acabamento, tais
76
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
como o polimento, o envernizamento e a esmaltao. So usadas na construo
civil, fabricao de veculos e mquinas e fios para cabos de alta tenso. As ligas
Al-Cu e Al-Mg2Si so ligas do tipo duralumnio e podem endurecer
estruturalmente. Este
endurecimento
devido a precipitao
de Al2Cu ou Mg2Si,
obtendo-se
caractersticas
mecnicas
equivalentes as de um
ao-carbono macio. O
duralumnio contm em
mdia 2,5 a 5% de Cu
e 0,5 a 1% de Mg e
0,5 a 1% de Mn e 0,5
a 0,8% de Si, alm de
pequenas
porcentagens de Fe.
Pode atingir r = 50
kgf/mm2 = 3%
Figura 3.4 - Diagrama de fases da liga binria Al-Si.
Existem tambm ligas de alumnio fabricadas com a adio de zinco e uma
pequena porcentagem de magnsio (Mg), cobre (Cu) ou cromo (Cr). Depois de
passar por tratamento trmico, essas ligas so usadas em aplicaes que exijam
uma alta relao resistncia/peso, principalmente na construo de avies.
Outros elementos de liga que podem ser adicionados ao alumnio so: bismuto
(Bi), chumbo (Pb), titnio (Ti), estanho (Sn), nquel (Ni) etc. So as variaes nas
quantidades e combinaes dos elementos que originam uma infinidade de ligas
com propriedades adequadas a cada urna das aplicaes.
Tratamentos trmicos
O tratamento trmico das ligas de alumnio consta, em geral, de tmpera e
revenido com tratamento de solubilizao devidamente controlada. Para este
tratamento a liga aquecida temperatura de 450 oC a 550 oC e mantida a essa
temperatura durante o tempo necessrio para soluo completa. Aps este
tratamento, a liga pode ser sujeita a tmpera em gua ou normalizada. No caso
de peas de formas complicadas, pode aparecer tenses internas que daro lugar
a distores. Neste caso deve-se usar gua a100 oC, leo ou sais fundidos. Aps
tmpera pode-se realizar um tratamento de alvio de tenses para reduzir as
tenses residuais em produtos extrudados e laminados ou em peas forjadas de
forma regular.
Estas ligas de alumnio podem, aps a tmpera, endurecer por revenido
temperatura ambiente. Em outros casos, o endurecimento acelerado por
revenido temperaturas de 110 a 215 oC e durante tempo determinado. Por
77
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
exemplo, nas ligas de Al-Cu-Mg e Al-Mg-Si, o endurecimento resultante devido ao
cobre e ao magnsio que precipitam sob a forma de Al2Cu e Al2MgCu.
3.3.2 - NORMALIZAO DAS LIGAS DE ALUMNIO
Para organizar e facilitar a seleo das ligas de alumnio, a ABNT e outras
associaes de normas tcnicas classificaram essas ligas de acordo com o
processo de fabricao e a composio qumica. Foram divididas em ligas para
conformao (ou dcteis) e 1igas para fundio. Essa diviso foi criada porque as
diferentes ligas tm que ter caractersticas diferentes para os diferentes processos
de fabricao. Desta forma, as ligas para conformao devem ser bastante
dcteis para serem trabalhadas a frio ou a quente pelos processos de
conformao mecnica. Aps passarem por esses processos, as ligas so
comercializadas sob a forma de laminados planos (chapas e folhas), barras,
arames, perfis e tubos extrudados e peas forjadas.
As ligas para fundio devem ter resistncia mecnica, fluidez e
estabilidade dimensional e trmica para suportar os diferentes processos de
fundio. Tanto as ligas para conformao, quanto as ligas para fundio seguem
um sistema de designao de acordo com a norma da ABNT NBR - 6834
conforme o principal elemento de liga presente em sua composio.
Ligas de alumnio para conformao.
Designao
Indicao na composio
da srie
1XXX
99% mnimo de alumnio
2XXX
Cobre
3XXX
Mangans
4XXX
Silcio
5XXX
Magnsio
6XXX
Magnsio e silcio
7XXX
Zinco
8XXX
Outros elementos
9XXX
Srie no utilizada
Pela norma citada (NBR - 6834), os materiais para conformao mecnica
so indicados por um nmero de quatro dgitos:
O primeiro classifica a liga pela srie de acordo com o principal elemento
adicionado;
O segundo dgito, para o alumnio puro, indica modificaes nos limites de
impureza: 0 (nenhum controle) ou l a 9 (para controle especial de uma ou mais
impurezas). Para as ligas, se for diferente de zero, indica qualquer modificao
na liga original;
O terceiro e o quarto dgitos, para o alumnio puro, indicam o teor de alumnio
acima de 99%. Quando se referem s ligas, identificam as diferentes ligas do
grupo ( um nmero arbitrrio).
78
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Exemplos:
1 - Alumnio comercialmente puro;
0 - Sem controle especial de impurezas;
35 - 99,35% de alumnio.
2) Liga de alumnio 5470
5 - Alumnio com magnsio;
4 - Com controle especial de impurezas (modificado);
70 - a liga de nmero 70 desta srie.
Ligas de alumnio para fundio.
Designao
Indicao na composio
da srie
1XX.X
2XX.X
3XX.X
4XX.X
5XX.X
6XX.X
7XX.X
8XX.X
9XX.X
99% mnimo de alumnio
Cobre
Cobre e silcio e ou magnsio
Silcio
Magnsio
Srie no utilizada
Zinco
Estanho
Outros elementos
O primeiro dgito classifica a liga segundo o elemento principal da liga;
O segundo e o terceiro dgitos indicam centsimos da porcentagem mnima de
alumnio (para o alumnio puro) ou diferentes ligas do grupo;
O dgito aps o ponto indica a forma do produto: 0 - para peas fundidas, 1 para lingotes e 2 - para alumnio reciclado.
Exemplos:
1) Liga de alumnio 319.0
3 - Alumnio com silcio/cobre ou magnsio;
19 - a liga de nmero 19 desta srie;
0 - Pea fundida.
2) Liga de alumnio 580.1
5 - Alumnio com magnsio;
80 - a liga de nmero 80 desta srie;
1 - Lingote.
A ASTM designa as ligas de alumnio com letras e nmeros. As letras
indicam os principais elementos (C- cobre, G - magnsio, S - silcio, Z - zinco, N nquel, M - mangans).
Para conformao
Para fundio
M1A
CS41A
CG30A
CG42A
GS10A
GS11A
ZG62A
C4A
CG100A
CN42A
CS72A
G8A
G10A
SN122A
79
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4 - COBRE E SUAS LIGAS
4.1 - INTRODUO
O cobre foi o primeiro metal usado pela civilizao, a cerca de 10.000 anos
atrs. A primeira utilizao do cobre conhecida datada de 8.700 anos a.C.,
tendo sido encontrado vestgios de seu uso no norte do Iraque. Durante
aproximadamente 5.000 anos, o cobre foi o nico metal conhecido pelo homem,
tendo assim muitas aplicaes inclusive, utilizadas na arte, decorao, utenslios
e na guerra. Estima-se que somente 4.000 anos a.C. a civilizao veio a conhecer
o ouro e a liga mais antiga que existe, o bronze (Cu-Sn), pois pode ser
encontrada junto na natureza. O bronze teve absoluta supremacia durante
sculos, at o advento do ferro. Aproximadamente 3.000 anos a.C., vieram a ser
descobertos a prata e o chumbo.
O cobre um metal no-ferroso e no magntico que se funde
aproximadamente 1.083 C, e um excelente condutor de eletricidade e calor.
um metal dctil e malevel que pode ser laminado a frio ou a quente. Ao ser
laminado a frio, estirado ou estampado, ele adquire um endurecimento superficial
que aumenta sua resistncia, porm diminui sua maleabilidade. Isso o torna mais
frgil, o que corrigido com o tratamento trmico.
Em contato com o ar seco e em temperatura ambiente, o cobre no se
oxida. Porm em contato com ar mido ele se recobre de uma camada
esverdeada, conhecida por azinhavre ou zinabre (hidrocarbanato de cobre). O
azinhavre impede a oxidao do cobre. Em relao a outros metais, o cobre um
material relativamente escasso na crosta terrestre, sendo encontrado
aproximadamente 0,007% em toda a crosta. Por isso, para muitas aplicaes, o
cobre vem sendo substitudo pelo alumnio. Cerca de 50% da produo mundial
do metal consumida pela indstria eletrnica, seguida da construo naval,
automotiva, de aeronaves, instrumentao e indstria qumica.
As reservas mundiais de cobre so estimadas em, aproximadamente, 393
milhes de toneladas de metal, distribudas com a maior percentagem na
Rodsia, nos Estados Unidos da Amrica do Norte e no Chile. O Brasil tem
jazidas de cobre no Rio Grande do Sul, So Paulo, Gois e Bahia.
O teor de cobre, em depsitos de grande porte e lavra subterrnea, no
deve ser inferior a 1% de Cu e em depsitos de pequeno porte, a 3%. Para lavra
a cu aberto, os teores mnimos situam-se entre 0,5 e 0,7% de Cu. Elementos
indesejveis em jazidas de cobre compreendem o Bi, cujo teor no deve exceder
de 0,5%, 2% de As, 1% de Sb e 10% Zn.
80
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.2 - PRODUO DE COBRE
Os principais tipos de depsitos de cobre compreendem os de segregao
magmtica, os de escarnitos, os vulcanognicos, os de cobre prfiro, os
filoneanos e os das sries sedimentares e os principais minerais de minrio de
cobre so:
Calcopirita (CuFeS2) ............ 34% de Cu
Calcosita (Cu2S) ................... 80% de Cu
Covelina (CuS)...................... 66% de Cu
Bornita Cu5 FeS4 .................. 52-65% de Cu
Enargita (Cu3AsS4) ............... 48% de Cu
Cuprita (Cu2O) ...................... 89% de Cu
Os minrios devem passar por um processo que composto por vrias
etapas como:
1. Extrao do minrio;
4. Obteno do mate;
2. Triturao e moagem;
5. Obteno do cobre blster;
3. Flotao ou concentrao;
6. Refino.
Aps ser extrado o minrio da natureza, ele passa por um triturador
giratrio que ir reduzir o tamanho do mineral ao equivalente ao de uma bola de
futebol.
a)
b)
Figura 4.1 Beneficiamento do cobre. A) Triturao do minrio; B) Flotao
O minrio de cobre e modo em moinho de bolas para reduzir o seu
tamanho entre 0,05 e 0,5 mm. Em seguida, o minrio modo colocado em uma
mquina cheia de gua misturada a produtos qumicos. Na base desse
equipamento existe uma entrada por onde o ar soprado. As partculas que no
contm cobre so encharcadas pela soluo de gua e produtos qumicos,
formam um lodo, chamado ganga, e vo para o fundo do tanque. Como o minrio
sulfuroso flutua, porque no se mistura na gua, o sulfeto de cobre e o sulfeto de
ferro fixam-se nas bolhas de ar sopradas, formando uma espuma concentrada na
superfcie do tanque, a qual recolhida e desidratada. Essa etapa chama-se
flotao ou concentrao. Realizado essas etapas, resta em torno de 1% do
81
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
material inicial. A etapa seguinte a decantao e filtragem, quando se obtm um
concentrado com 15 a 30% de cobre.
A seguir, o concentrado levado a um forno de chama direta chamado
revrbero. A maior parte do enxofre e de impurezas como arsnico e antimnio
so eliminados. O material resultante passa a ter entre 35 e 55% de concentrao
de cobre e chamado de mate.
Figura 4.2 - Esquema do forno revrbero e obteno do mate.
O mate levado aos conversores para oxidao para retirar o enxofre e o
ferro. No conversor, o ferro se oxida e se une a slica para ser transformado em
escria que eliminada. Depois, o enxofre que sobrou tambm eliminado sob a
forma de gs. O cobre bruto obtido nesta etapa recebe o nome de blster, e
apresenta uma pureza entre 98% e 99,5% de cobre, com impurezas como
antimnio, bismuto, chumbo, nquel etc., e tambm metais nobres como ouro e
prata. A ltima etapa o refino do blster, podendo ser trmica ou eletroltica. Na
refinao trmica, o blster fundido e parte das impurezas restantes eliminada.
O cobre passa a ter 99,9% de impureza sendo o mais utilizado comercialmente.
Figura 4.3 - Obteno do cobre blster e placa eletroltica.
82
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.3 - PROPRIEDADES DO COBRE E SUAS LIGAS
As propriedades mecnicas do cobre favorecem a conformao a quente
(forjamento, laminao) e a conformao a frio (trefilao, laminao). O cobre
dctil e malevel a frio, de acordo com a sua estrutura cristalina. Por deformao
a frio, endurece facilmente e tanto mais quanto maior for a deformao e, por
isso, conveniente efetuar um recozimento para ir eliminando o endurecimento
obtido, a no ser que o trabalho de deformao realizado a quente. O mdulo
de elasticidade longitudinal mdio de 11.900 kgf/mm2 (119 GPa). Os valores da
dureza e da resistncia trao so bastante diferenciados entre as temperaturas
baixas e as temperaturas elevadas, diminuindo o limite de elasticidade muito
rapidamente acima de 200 oC.
O cobre comercial contm sempre impurezas que vo influir nas suas
propriedades fsicas, em particular na condutividade eltrica, e nas propriedades
mecnicas, de cuja natureza e teor, dependem do processo de fabricao. O
cobre mais puro ( > 99,99%)
obtido por eletrlise. As principais
impurezas que podem existir no
cobre so a prata, ferro, estanho,
chumbo, zinco, nquel, cobalto,
arsnio,
antimnio,
bismuto,
selnio, enxofre, oxignio, etc.
Estas impurezas, mesmo em
quantidades pequenas atuam
prejudicialmente
sobre
a
condutividade
eltrica,
particularmente, o fsforo, o ferro
e o arsnio. Por exemplo, 0,04%
de fsforo reduz a condutividade a
75% em relao ao cobre puro. A
reduo de condutividade
devida a deformao da rede
cristalina provocada pelos tomos
das impureza, a qual dificulta o
transporte dos eltrons.
Figura 4.4 - Efeito das impurezas na condutividade eltrica do cobre.
Tem tendncia a dissolver certos gases como o dixido de enxofre (SO2) e
o dixido de carbono (CO2) que, durante a solidificao produz poros. Tambm
dissolve o oxignio. O oxignio forma dixido cuproso (Cu2O) solvel no metal
lquido e pode dar o euttico Cu-CuO2 que funde em torno de 1.065 oC e que,
depositando-se nos contornos de gro, torna o metal frgil.
83
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades fsicas
Massa atmica: 63,57 g
Peso especfico: 8,94 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC): CFC, a = 0,360 nm
Ponto de fuso: 1.083 oC [1.356,15K]
Ponto de ebulio: 2.360 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 16,8 x 10-6/ oC [16,8.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 1,95 .cm [1,95.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 0,94 cal.cm-1.s-1. oC-1 [390 - 398 W/m.K]
Calor especfico: 383 - 387 J/kg.K
Calor latente de fuso: 200 - 208 kJ/kg
Temperatura mxima de servio: 350 - 360K
Constante dieltrica: No se aplica
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,23 - 0,25 %
Coeficiente de Poisson: 0,34 - 0,35
Dureza: 43 a 46 HB [430 a 460 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 45,1 - 47,4 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 122 - 128 GPa
Resistncia ao impacto:
Limite elstico: 28 a 40 MPa
Tenacidade a ruptura: 100 - 106,7 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 28 - 40 MPa
Tenso de ruptura por trao: 145 a 160 MPa
Propriedades qumicas
O cobre puro apresenta boa resistncia a corroso. Tem um potencial de
dissoluo cujo valor se situa entre os metais nobres, mas no se passiva e as
pelculas formadas pelos produtos de corroso so pouco resistentes, no dando
qualquer proteo. Assim, o cobre no se altera ao ar seco, mas reveste-se de
uma camada esverdeada no ar mido, sobretudo em presena de dixido de
enxofre (SO2) e de cido sulfdrico (SH2). Resiste muito bem a gua do mar,
sofrendo ataque uniforme em torno de 1 m/ano.
Tratamentos trmicos
Esta fragilidade pode ser eliminado por meio de recozimentos e forjamento
feito convenientemente. A presena de hidrognio, em uma atmosfera redutora,
pode reduzir o xido de cobre com formao de vapor de gua e tornar o metal
poroso e frgil. Por estes motivos o teor de oxignio deve ser inferior a 0,10% e o
total de impurezas inferior a 0,4%.
Aplicaes
As aplicaes mais importantes do cobre so conseqncias da elevada
condutividade eltrica e boa resistncia a corroso. A aplicao principal para
84
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
fabricao de condutores eltricos, trocadores de calor, condensadores e
tubulaes para gua do mar, doce e vapor saturado.
4.3.1 - LIGAS DE COBRE
Cada elemento adicionado o cobre permite obter ligas com diferentes
caractersticas tais como: maior dureza, resistncia a corroso, resistncia
mecnica, usinabilidade ou at para obter uma cor especial para combinar com
certas aplicaes. Em maior ou menor proporo diversos elementos so
miscveis com o cobre no estado slido e do lugar a uma soluo slida , ou
seja, a microestruturas idnticas as que correspondem a ligas tenazes e dcteis.
Os elementos que, geralmente, mais entram na composio das ligas de cobre
so, por ordem decrescente de solubilidade, o nquel, o zinco, o alumnio e o
estanho. Apenas no caso do nquel a solubilidade total, quer no estado lquido
quer no estado slido. Com os outros trs componentes h formao de diversas
fases intermedirias medida que os teores vo aumentando. O aparecimento de
uma segunda fase, a fase , melhora a resistncia mas piora a ductilidade e logo
que a liga contenha outras fases, alm de e , a liga deixa de ter interesse
industrial dada a sua elevada fragilidade. Igualmente a adio de um terceiro
componente d lugar a constituintes duros e frgeis que comprometem a
tenacidade da liga. So, ento, ligas, monofsicas (sol, sol. ) todas as ligas de
cobre e nquel; podem ser monofsicas () ou bifsicas ( + ) as ligas de cobrealumnio, cobre-zinco e cobre-estanho considerando apenas as ligas em que os
teores do segundo componente tm interesse industrial.
4.3.1.1 - Lato
uma liga formada por cobre e zinco sendo que a quantidade de zinco
pode variar de 5% a 45%. Sua temperatura de fuso varia de 800 C a 1.070 C,
pois depende do teor de zinco que apresenta, quanto maior, mais baixa para a
temperatura de fuso. Est liga utilizada em moedas, medalhas, bijuterias,
radiadores de automveis, ferragens, cartuchos, fechaduras, alas de mveis, etc.
uma liga dctil, boa condutora de eletricidade e calor, boa resistncia mecnica,
excelente resistncia corroso. Pode ser fundida, forjada e estirada ao frio, etc.
Quando contm at 30% de zinco, o lato conformado por estiramento, corte,
dobramento, e usinagem, pode se unir por solda de estanho e solda de prata;
aceita quase todos mtodos de conformao, a quente e frio. O lato que tem
entre 40 45% de zinco, usado na fabricao de barras para enchimento,
usadas na solda forte de aos-carbonos e outros mais.
A cor do lato varia de acordo com a porcentagem de cobre que a liga
apresenta, conforme mostra o quadro abaixo:
Porcentagem 2
10
de zinco ( % )
Cor
Cobre Ouro velho
15 a 20
30 a 35
Avermelhado Amarelo
brilhante
85
40
Amarelo
claro
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Diversos elementos qumicos podem ser adicionados em sua composio,
mas os teores admissveis dependem do fim a que se destina a liga. Por exemplo,
o chumbo e o bismuto, de baixo ponto de fuso, devem ser limitados a 0,02% e
0,002% respectivamente para trabalhos a quente. Para melhorar a resistncia
mecnica e a corroso do lato, outros elementos de liga so adicionados em sua
composio como: o alumnio, o estanho, o nquel, o ferro, o mangans e o silcio.
A influncia deles so:
Chumbo: Acima de 0,1% pode criar descontinuidades na estrutura da liga
favorescendo a usinabilidade e em propores superiores a 3%, diminui a
resistncia mecnica, aumentando a fragilidade;
Alumnio: Influencia na resistncia a trao. utilizado nos lates de alta
resistncia mecnica. Sua adio limitada pelo aparecimento da fase . Quando
lato ao alumnio utilizado na solda e na fundio, aparece um filme de xido de
alumnio, que no interior da liga, destri a coeso da liga. Melhora a resistncia
corroso por cavitao;
Estanho: Aumenta a resistncia trao, mas diminui a ductilidade quando
usado teores acima de 1%. resistente corroso em atmosferas marinhas.
empregado na fabricao de peas para construo de barcos;
Ferro: Terores acima de 0,25% facilita a introduo do chumbo. Para terores
acima de 0,7% e, em presena de silcio, h formao de manchas escuras. Entre
0,8 a 1,3% refina o gro. Quanto as propriedades mecnica, s e perceptvel com
teores acima de 2% e pode apresentar o composto metlico FeZn10, que diminui a
resistncia a corroso por guas salinas e aumenta a tendncia a fratura
intergranular;
Mangans: Forma soluo slida e aumenta a solubilidade do ferro no lato. o
elemento mais utilizado para obter lates de alta resistncia;
Nquel: D a cor prateada no lato, alm de melhorar a refletividade. Aumenta a
resistncia a corroso. usado no lugar do bronze para fabricar molas,
casquilhos de mancais.
Silcio: Melhora a fluidez, quando em estado lquido e, por isso, utilizado na
fundio por injeo.
Propriedades fsicas
Peso especfico: 7,8 a 8,8 kgf/dm3
Calor especfico: 372 - 383 J/kg.K
Calor latente de fuso: 220 - 240 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 16,5 - 20,7 x 10-6/K
Condutividade trmica: 110 - 220 W/m.K
Ponto de fuso: 1.150 - 1.340K
Temperatura mxima de servio: 370 - 480K
Resistividade: 3,09 - 20,89 x 10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,05 - 0,55 %
Coeficiente de Poisson: 0,34 -0,35
Dureza: 460 - 3.000 MPa
Mdulo de cisalhamento: 33 - 46 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 90 - 120 GPa
Limite elstico: 70 - 500 MPa
Tenacidade a ruptura: 30 - 86 MPa.m1/2
86
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Tenso de compresso: 70 - 500 MPa
Tenso de ruptura por trao:150 - 850 MPa
Constituio
Figura 4.5 Diagrama de fases da liga Cu-Zn.
Do diagrama de fases da liga Cu-Zn, acima, aparece as seguintes fases do
lato comercial.
Aps solidificao
Temperatura. ambiente
% Zn
+
32,4 - 36,8
36,0 - 46,6
0 - 32,5
0 - 36,0
36,8 - 56,5
46,6 - 50,6
A estrutura cristalina da fase cbica de face centrada (CFC) e a das
fases e cbica de corpo centrado (CCC). A fase atribui-se a composio
CuZn e a fase , Cu5Zn8. Dado que a fase demasiado frgil e as ligas com
interesse industrial ficam limitadas as de teor de zinco inferior a 50%. Deve-se
ainda notar que a solubilidade do zinco na soluo slida aumenta at
temperatura de 453 oC (29%), decrescendo depois at a temperatura ambiente.
Entre 470 oC e 453 oC a fase sofre uma transformao ordem desordem,
aparecendo a forma ordenada . Industrialmente, as ligas utilizadas so as ligas
monofsicas ou e as bifsicas + , com percentagens de zinco que variam
de 10 a 45%. Muitos dos elementos que se adicionam aos lates modificam a sua
microestrutura, exceto o nquel que tem efeito contrrio, fazendo aparecer mais
cedo o constituinte .
87
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Lates : Nas ligas monofsicas, a resistncia e o alongamento aumentam com o
teor de zinco, este ltimo com um mximo de 30% de Zn. Estas ligas tm uma
boa
aptido
a
conformao a frio. Acima
de 500 oC a maleabilidade
fraca. A resistncia ao
impacto no intervalo de
350 oC a 650 oC
extremamente baixa, mas
a resistncia a fluncia a
temperaturas elevadas,
superior das ligas
bifsicas.
Endurecem
fortemente por deformao
a frio e necessitam, tal
como
o
cobre,
de
recozimentos freqentes;
os lates so ainda
particularmente sensveis
ao tamanho de gro, mas
tem boa resistncia a
corroso
por
guas
salinas.
Figura 4.6 Micrografias de lates. a) Cu-Zn 33% (laminado e recozido) [fase ]; b) Cu-Zn
40% (fundido) [fase + ] ; Cu-Zn 24,7% Sn 2,4% Pb 2,9% [fase + Cu3Sn]; CuZn 34% Mn 1,7% Ni 3,12% Pb 1,92% [fase + ndulos de Pb].
Lates + : Nestas ligas bifsicas, o alongamento diminui, mas a resistncia e a
dureza aumentam com a proporo da fase , alcanando o mximo para 100%
desta fase e passando a diminuir logo que aparece a fase frgil . temperatura
ambiente, a fase mais dura que a fase e pouco deformvel a frio. No
entanto a 470 oC, aps a transformao ordem-desordem torna-se
repentinamente macia e, a 800 oC, muito mais fcil de deformar do que o
constituinte . Este fato torna estas ligas facilmente conformados a quente,
sendo, por isso, laminadas a quente entre 650 e 800 oC.
Lates + : As ligas bifsicas + so duras e extremamente frgeis. Apenas
se usa a liga com 50% de Zn devido ao seu baixo ponto de fuso para unio de
metais por brasagem.
88
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
As
principais
propriedades com interesse
tcnico so: resistncia a
corroso; aptido a brasagem,
aptido a conformao a frio
(lato ); aptido a conformao
a quente (lato ); usinabilidade
(sobretudo com adio de
chumbo); aptido a niquelagem
e a cromagem. Desta forma, as
propriedades de um lato
dependem da relao dos
volumes das fases presentes. A
figura
abaixo
mostra
a
correlao existente entre a
composio de zinco e as
propriedades mecnicas.
Figura 4.7 - Diagrama do comportamento mecnico dos lates.
Tratamentos trmicos
Os tratamentos mais usados so os de recozimentos para recristalizao e
os de alvio de tenses que se efetuam nos produtos endurecidos por deformao
a frio. O primeiro permite prosseguir a operao de conformao. O alvio de
tenses efetuado em torno de 300 oC durante 1 hora, sobretudo para eliminar as
tenses residuais provocadas nas ligas bifsicas + aps deformao a frio.
As tenses residuais sensibilizam os lates a um tipo particular de corroso trincas espontneas - que se manifesta por fratura intergranular em ambientes
corrosivos fracos como a atmosfera ambiente e pode ser acelerada pela presena
de certos elementos como o ferro, e talvez o chumbo, e certos reagentes coma o
amonaco.
Aps o vazamento, a estrutura dos lates dendrtica e, portanto, zonada
e torna-se necessrio um recozimento para homogeneizao a 600 - 650 oC, de
modo a obter um gro uniforme e adequado aos tratamentos mecnicos. Quando
o recozimento efetuado acima de 700 oC aparece gro grosso e aps a
deformao reconhece-se pelo aspecto da superfcie casca de laranja. Estes
lates podem recuperar-se por recozimento a 800 oC aps deformao a frio.
Pode-se aplicar tmpera nas ligas Cu-Zn 40 a partir de 600 oC em que a
liga se encontra na fase . Suprime-se assim a fase que pode precipitar no
resfriamento segundo certos planos cristalogrficos da fase inicial ou nos
contornos de gro, o que aumenta a resistncia, mas diminui a ductilidade. O
aquecimento de lates d lugar a alterao da superfcie devido a oxidao e
volatilizao do zinco.
89
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Aplicaes
Dada a variao da resistncia a corroso e das propriedades mecnicas
com o teor de zinco, as aplicaes de lates so bastante diversificadas. Os
lates se destinam especialmente a laminao a frio, estiragem, fabricao de
tubos e prensagem. Pertencem a este grupo entre outros as seguintes ligas:
- Cu-Zn 5, usada para medalhas, moeda e objetos decorativos e ainda
pequenos cartuchos de amas;
- Cu-Zn 15, usada em imitaes de joalharia, devido semelhana da sua cor
com o ouro, e para artigos obtidos por conformao;
- Cu-Zn 30, utilizada em trocadores de calor, evaporadores e aquecedores; na
indstria eltrica, nas cpsulas e rosca das lmpadas; na construo mecnica,
na fabricao de cartuchos, rebites, pregos e parafusos.
Figura 4.8 - Aplicaes dos lates.
4.3.1.2 - Bronze
uma liga formada por cobre e estanho, sendo que a quantidade de
estanho pode chegar at 20%. O bronze apresenta elevada dureza e boa
resistncia mecnica a corroso, e tambm um bom condutor eltrico.
Atualmente a proporo de estanho que adicionada ao cobre de at 12%,
sendo que estas quantidades variam de acordo com as propriedades que se quer
aproveitar. O bronze com at 10% de estanho pode ser laminado e estirado e tem
alta resistncia a trao, a corroso e fadiga. As ligas com esta faixa de estanho
(10%) so usadas para fabricao de parafusos e engrenagens para trabalho
pesado, mancais e componentes que suportam pesadas cargas de compresso,
tubos, componentes para industria txtil, qumica e de papel. A liga de cobre e
estanho que desoxidada com fsforo, chama-se bronze fosforoso. Este bronze
possui 98,7% de cobre e 1,3% de estanho. Podem ser conformados por
dobramento, recalcamento, prensagem e forjamento em matrizes, sendo
facilmente unido por meio de solda, forte, de solda prata. O bronze tambm pode
receber pequenas quantidades de outros elementos cuja influncia descrito
abaixo:
Alumnio: Com 0,005% pode apresentar de zonas de porosidade devidas a
retrao ou reteno de gases pela pelcula de alumina;
Antimnio: D com o cobre diversas fases intermedirias que aumentam a
dureza mas igualmente a fragilidade. O seu teor , geralmente, limitado a 0,3%.
S se usa em casos especiais;
Bismuto: Causa fragilidade devido a formao de uma pelcula intergranular para
teores superiores a 0,04%; prejudicando a laminao;
90
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Chumbo: O cobre e o chumbo no so miscveis no estado lquido para teores de
chumbo de 36 a 92,5%, dando, devido diferena de densidade, lugar a
heterogeneidades difceis de evitar. Por este motivo o teor de chumbo nos
bronzes est limitado a 30%, entretanto, a presena de 1% de nquel tende a
uniformizar a distribuio dos glbulos de chumbo na matriz. Mesmo em teores
baixos prejudica a laminao. Embora, em proporo limitada (< 4%), no
praticamente solvel no bronze , facilita o vazamento e melhora o aspecto
superficial da pea (ausncia de porosidade) e, portanto, a estanqueidade das
peas fundidas; em porcentagem superior a 2% prejudica a resistncia mecnica,
mas facilita a usinagem:
Ferro: Endurece e torna os bronzes frgeis com teores superiores a 0,2%;
Fsforo: Entra na composio de bronzes bifsicos cujos constituintes so a
soluo slida e o eutectide. Aumenta a dureza visto que, reduzindo a
solubilidade do estanho na soluo slida , aumenta a quantidade de eutectide.
Para teores de 0,3% de P e 10% de Sn forma-se o constituinte Cu3P, duro que
vem, em geral, associado a fase ;
Zinco: Diminui a dureza da soluo slida o que se aproveita na cunhagem de
moedas e medalhas. Melhora a fluidez no estado lquido visto que abaixa o ponto
de fuso.
Propriedades fsicas
Peso especfico: 8,5 a 9 kgf/dm3
Calor especfico: 140 - 800 J/kg.K
Calor latente de fuso: 220 - 240 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 16,5 - 19 x 10-6/K
Condutividade trmica: 50 - 90 W/m.K
Ponto de fuso: 1.140 - 1.340K
Temperatura mxima de servio: 420 - 450K
Resistividade: 7,08 - 19,95 x 10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,02 - 0,6 %
Coeficiente de Poisson: 0,34 -0,35
Dureza: 460 - 2.400 MPa
Mdulo de cisalhamento: 25 - 46 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 70 - 120 GPa
Limite elstico: 65 - 500 MPa
Tenacidade a ruptura: 24 - 90 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 65 - 700 MPa
Tenso de ruptura por trao:140 - 800 MPa
Constituio
A figura 4.9 representa o diagrama de equilbrio do sistema de ligas cobre
e estanho. Comporta sete fases , , , , , , e , cinco pontos peritcticos, um
ponto eutctico e quatro pontos eutectides. Aps solidificao, e para teores de
estanho de 0% a 13,5%, a 799 oC, forma-se a soluo slida de estrutura
cristalina cbica de face centrada. Esta solubilidade aumenta at 15,8% de Sn
temperatura de 520 oC para se reduzir progressivamente a 1% temperatura
ambiente. Para ligas com 13,5% < Sn < 25,5%, d-se a 799 oC uma reao
91
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
peritctica de que resulta o aparecimento da fase , soluo slida de estrutura
cbica de corpo centrado. Assim, neste intervalo as ligas podem ser bifsicas, +
, ou monofsicas, . Por resfriamento, a fase transforma-se em a 586 oC e
esta, por sua vez, a 520 oC sofre a transformao eutectide (27% de
Sn), + , tal como nos aos, a austenita, fase , se transforma a 723 oC em
ferrita e cementita. A soluo slida intermediria de estrutura cbica de faces
centradas e o constituinte
parece ser o composto
intermedirio
Cu31Sn8,
muito duro e frgil; para
fase
atribui-se
a
composio
Cu3Sn.
Entretanto,
como
o
equilbrio difcil de se
obter, a estrutura + s
se
obtm
depois
de
tratamento
trmico
prolongado
a
baixa
temperatura nas ligas de
at 15% de Sn. As ligas
fundidas esto fora de
equilbrio e tem uma
estrutura + eutectide (
+ ).
Figura 4.9 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Sn.
a)
b)
c)
Figura 4.10 - Micrografias de bronzes. a) Cu-Sn 5% (laminado e recozido) [fase ]; b) Cu-Sn
16% (recozido) [fase + ] ; c) Cu-Sn 10%, Pb 5%.
Os bronzes industriais, em que Sn menor que 20% (com exceo dos
destinados a sinos), so ento constitudos temperatura ambiente ou s pela
fase , monofsicas, ou pelas fases + , a no ser que por tmpera se
mantenha a fase temperatura ambiente. O limite entre estas duas estruturas
parece tender para a do cobre quando a temperatura abaixa; mas o equilbrio no
atingido a baixa temperatura seno em condies especiais (endurecimento a
frio e recozimento prolongado) e, na prtica, o limite entre os dois domnios
marcado aproximadamente pela linha pontilhada no diagrama. Por outro lado, o
grande intervalo de solidificao d lugar a zonamento pronunciado e a difuso
to lenta que o constituinte chega a aparecer em fundies com 7% de Sn.
92
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Deste fato resulta que, ligas com maior porcentagem de estanho so de difcil
laminao, a no ser aps recozimentos prolongados para homogeneizar a
soluo slida. Assim, as ligas de alto teor de estanho so deformveis a quente
(fases + ) ou deformveis a frio aps recozimento e tmpera.
No que se refere s propriedades mecnicas, verifica-se que melhoram
com o teor de estanho at 13% (sol, slida ), mas a partir deste valor as ligas
tornam-se cada vez mais frgeis e duras devido presena da fase .
Bronzes : So maleveis a frio e a quente, enquanto que os outros bronzes s
podem ser trabalhos a quente acima de 600 oC para se obter as solues slidas
e ; por deformao a frio podem adquirir caractersticas mecnicas
interessantes. No entanto, o teor de estanho deve ser tanto mais baixo quanto o
trabalho for mais difcil. Por isso limitado a 4% na fabricao de tubos; a 7% nas
ligas destinadas a fabricao de fios; mas para folhas laminadas pode alcanar
10%. Uma dessas propriedades mais interessantes, que e aproveitada na
fabricao de molas, resulta de, aps endurecimento a frio, apresentar um
elevado limite de elasticidade. De um modo geral, estas ligas tm boa resistncia
ao desgaste e muito boa soldabilidade.
Bronzes + : Estas ligas tm boas propriedades autolubrificantes, visto que
apresentam gros duros em uma matriz muito plstica (). Dado o intervalo de
solidificao, as peas fundidas de bronze so melhores, no que se refere a
homogeneizao da matriz do que os lates. devido a menores retraes. Em
contrapartida, so mais caras. A cor dos bronzes varia apreciavelmente com o
teor de estanho, sendo avermelhada at 5% e amarelo claro acima de 15%.
Tratamentos trmicos
O recozimento amplamente utilizado para homogeneizar os produtos
fundidos e para reduo de dureza devido ao encruamento por deformao a frio.
Se efetua tmpera nos bronzes com mais de 13% de Sn para evitar a precipitao
da fase . uma tmpera martenstica em que as fases so ou + de acordo
com o teor de estanho. Da mesma forma pode-se evitar, por tmpera, a estrutura
+ , mantendo-se a fase temperatura ambiente, do que resulta melhor
resistncia e facilidade de deformao devido ao fato de, ao contrrio do que
acontece nos aos, o material fica mais macio dada a ausncia da fase . No
entanto, este tratamento no , em geral, aconselhado visto que h outras ligas
mais baratas que os bronzes com propriedades equivalentes obtidas por este
tratamento. Por este motivo ligas com teores de Sn maiores que 7% so usadas
apenas em fundio.
Aplicaes
As qualidades autolubrificantes e boa resistncia corroso so as
principais aplicaes dos bronzes. Por outro lado, a dificuldade de usinagem e
boas qualidades de fundio levam a utiliz-los principalmente sob a forma de
peas fundidas:
93
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
- As ligas de 4% a 10% de Sn so usadas para fabricao de medalhas e
moedas;
- As ligas de 10% ou 12% de Sn so usadas para fabricao de torneiras,
acessrios de tubulaes, casquilhos, discos de frico;
- As ligas de 14% ou 18% de Sn so usadas para fabricao de peas que
exijam boa resistncia ao desgaste por abraso e resistncia a gua do mar.
Figura 4.11 - Aplicaes do bronze.
Os bronzes com teor acima de 20% de Sn so usados para fabricao de
sinos onde a sonoridade parece estar relacionada a fase (Cu31Sn8), podendo o
teor de estanho atingir 30% com baixos teores de zinco e de chumbo. Com o
desenvolvimento da tecnologia foram criados os bronzes especiais que contm
pouco estanho ou que no contm estanho.
Bronze ao zinco: Corresponde a composies de at 2% de zinco e esse teor
sempre inferior ao de estanho. As ligas de 3,5% de Sn e 1,5% de Zn so
empregados na fabricao de moedas e medalhas.
Bronze ao fsforo: So tambm chamados bronze fosforoso. Nas ligas
destinadas a fundio o estanho varia de 5 a 13% e o fsforo de 0,3% a 1%.
Usam-se para peas de mquinas resistentes ao desgaste ou sujeitos a esforos
elevados como rodas dentadas.
Bronze ao chumbo: Os teores de chumbo podem variar de 8 a 20% e at 30% e
o estanho at 10%. Podem funcionar sem lubrificante e suportam cargas maiores
que as ligas antifrico.
Bronze de alumnio: Possui normalmente 13% de alumnio, sendo que
empregado na laminao a frio de chapas resistentes a corroso, na fabricao
de tubos de condensadores, evaporadores e trocadores de calor, recipientes para
industria qumica, autoclaves, instalaes criognicas, componentes de torres de
resfriamento, engrenagens e ferramentas para conformao de plsticos, hastes
e hlices mavais, buchas e peas resistentes corroso.
Bronze ao silcio: Com at 4% de silcio, apresenta alta resistncia ruptura e
alta renacidade. usado para fabricao de peas para a indstria naval, pregos,
parafusos, tanques para gua quente, tubos para trocadores de calor e caldeiras.
Bronze ao berlio: Contm at 2% de berlio, possui alta resistncia a corroso e
fadiga, alta condutividade eltrica e alta dureza, conservando a tenacidade.
Estas caractersticas so adquiridas aps o tratamento trmico. Por sua alta
resistncia mecnica e propriedades anti-faiscantes, essa liga indicada para
equipamentos de soldagem e ferramentas eltricas no faiscante.
94
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.3.1.3 - Ligas de cobre-alumnio
As composies mais usuais satisfazem os seguintes tipos:
Cu-Al
- Cu > 90% e Al < 10%;
Cu-Al - Fe - Cu > 90%; Al < 7,5% e Fe < 2,5%;
Cu-Al-FeNi - Al > 15% e Fe + Mn + Ni < 15%.
As adies de mangans, ferro e nquel melhoram o limite de elasticidade
longitudinal das ligas bifsicas. O mangans melhora a fluidez no estado lquido.
Constituio
Os
do
de
equilbrio
relacionados com
as
ligas
que,
industrialmente
tm
mais
interesse,
esto
representados na
figura abaixo. O
diagrama abrange
os teores de 0 a
100%, embora as
ligas
industriais
raramente tenham
mais de 12% de
Al.
domnios
diagrama
Figura 4.12 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Al.
Aps a solidificao forma-se soluo slida com at 7,4% de Al a 1.036
C, porcentagem que aumenta at 9,4% por resfriamento a 565 oC, mantendo-se
este valor at temperatura ambiente. Entretanto, como h dificuldade em
estabelecer o equilbrio, a fase aparece j para 7% de Al. Para teores de Al >
7,4% aparece uma mistura de + ou s a fase . As fases + correspondem
a um eutctico de 8,3 % de Al formado a 1.036 oC, temperatura bastante elevada
que provoca a sua coalescncia de modo que, temperatura ambiente, no se
encontra a microestrutura eutctica. Quando a temperatura baixa, o domnio
reduz-se e desaparece a 565 oC dando lugar ao eutectide + 2, com cerca de
12% de alumnio, e que do tipo lamelar. Assemelhando-se a perlita dos aos. A
fase mais dura e mais frgil que a fase , mas, como a dos lates, pode ser
trabalhada a quente. A fase 2 muito dura e frgil e a sua existncia em
pequenas quantidades aumenta a resistncia da liga e, em grandes quantidades,
fragiliza o material e, por isso, o teor de alumnio raramente vai alm de 12%.
o
95
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
As ligas de cobre alumnio que se utilizam so todas hipoeutectides,
sendo monofsicas () de teor de alumnio at 8,5% (na prtica 7%) e bifsicas (
+ eutectide ou + ) as de 8,5% e 12% de Al. Estas tm um ponto de fuso
relativamente elevado ( > 1.000 oC) e um intervalo de solidificao muito estreito.
Estes dois fatos do lugar a forte retrao na fundio e tendncia notvel para
rechupe ou vazio. A compacidade das peas de fundio espessa, como hlices
de turbinas, pode ser comprometida pelos gases que tendem a desenvolver-se no
decurso da solidificao, devendo por isso a liga, no estado lquido, ser
cuidadosamente desgasificada. Da mesma forma a presena de alumnio d lugar
a formao de uma pelcula de alumina na superfcie do banho que pode ser
arrastada para o interior e comprometer a coeso da liga.
Ligas : A resistncia cresce regularmente com o teor de alumnio e, por isso, a
liga mais usual a que tem em torno de 7% de Al. Endurecem por deformao a
frio e so facilmente conformveis a frio ou a quente. Do estrutura maclada por
recozimento, aps trabalho a frio.
Ligas bifsicas, ( + 2): Tm caractersticas mecnicas mais elevadas que as
anteriores com exceo da resilincia. Destinam-se ao trabalho a quente,
forjamento, lamiminao ou fundio sob presso. No apresentam zona de
fragilidade a quente e, como o solidus corresponde a temperaturas mais elevadas
que nas outras ligas de cobre. As ligas de cobre-alumnio tm um mdulo de
elasticidade de 11 GPa e peso especfico de 7,6 kgf/dm3, permitindo grande
economia de material em relao a outras ligas de igual resistncia. A liga de 20%
de Al, temperada e revenida, tem caractersticas idnticas a de um ao meio
doce. Devido a pelcula protetora de alumina que se forma na superfcie, estas
ligas resistem bem a atmosferas urbanas ou martimas e a gua doce e salina.
Tratamentos trmicos
Estas ligas, tal como os aos, tm possibilidade de ser submetidos a
tratamentos trmicos. A tmpera martenstica realiza-se a partir da temperatura
de 850 oC a 900 oC e seguida de revenido a 550 - 650 oC durante 2 h. A
tmpera impede a precipitao do eutectide e o revenido d lugar a um
precipitado muito fino. Se a liga for revenida entre 350 oC a 560 oC formam-se
pequenas partculas do constituinte e a estrutura semelhante a perlita fina, isto
, + + ( + 2).
Aplicaes
Dadas as boas propriedades mecnicas e resistncia corroso, aplicamse em construo mecnica, hlices, tubos de condensadores, peas de bombas,
moedas, etc. Devido sua cor, semelhante ao ouro so usadas em bijuteria.
Ligas de 5 a 7% de Al - Tubos de trocadores de calor;
Ligas de 9 a 10% de Al - Instrumentos eltricos, recipientes para substncias
cidas e alcalinas;
Ligas de 8% de Al, 3% de Fe, 12% de Mn - a liga superstone; de alta
resistncia ao impacto (40 J Izod) e tenso de ruptura a trao 70 kgf/mm2.
96
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.3.1.4 - Cupronquel
As ltimas ligas do cobre so aquelas que o nquel participa com 5 a 50%.
So maleveis e resistem particularmente bem corroso. So sensveis a
corroso sob tenso apenas em meio amoniacal. Esta sensibilidade mxima
para 12% de Ni e desaparece, conforme o teor de ferro presente, para 40% de Ni
(0,1% de Fe) ou para 30% de Ni ( 0,5% < Fe < 1%). A partir de 20% de nquel, a
liga apresenta cor branca. Essas ligas tm boa ductilidade, resistncia mecnica e
a oxidao, boa condutividade trmica; facilmente conformveis, pode ser
transformadas em chapas, tiras, fios, etc. Podem ser unidas pela maioria dos
mtodos por solda forte e por solda de estanho. At 30% de nquel a liga usada
em medalhas e na fabricao de resistores, etc. As ligas com teores de nquel na
faixa de 35 a 57% recebem o nome de constantan e so usadas para fabricao
de resistores e termopares.
As ligas de cobre e nquel so solveis no estado lquido e totalmente
miscveis no estado slido.
Correspondem,
portanto,
sempre a solues slidas do
tipo . A estrutura da soluo
slida cbica de face
centrada;
o
parmetro
apresenta um mnimo e o
peso especfico de 8,94
kgf/dm3 para 32,2% de Ni. O
ponto
de
Curie
desce
o
linearmente de 368 C (para
o nquel puro) para 0 oC na
liga com 31,5% de Cr.
Figura 4.13 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Ni.
Propriedades fsicas
Material
Composio
Peso especfico (kgf/dm3):
Calor especfico (J/kg.K):
Calor latente de fuso (kJ/kg):
Coeficiente de dilatao trmica linear (10-6 K-1):
Condutividade trmica (W/m.K):
Ponto de fuso:
Temperatura mxima de servio:
Resistividade (ohm.m):
97
90/10
80/20
70/30
10% de Ni /
1,5% de Fe /
1% de Mn / Cu
20% de Ni /
0,5% de Mn /
Cu
8,7 - 8,75
384,5 - 384,6
220 - 240
16 - 17
30 - 33
1440 - 1450
470 - 480
26,9 - 30,9
8,85 - 8,89
384,8 - 384,9
220 - 240
16 - 17
19 - 23
1460 - 1510
440 - 470
32,4 - 37,15
30% de Ni /
1,25% de Fe /
0,8% de Mn/
0,5% de Si / Cu
8,85 - 8,89
384,8 - 384,9
220 - 240
16 - 17
40 - 44
1390 - 1420
420 - 450
20,42 - 22,91
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades mecnicas
Material
Composio
Ductilidade (%):
Coeficiente de Poisson:
Dureza (MPa):
Mdulo de cisalhamento (GPa):
Mdulo de elasticidade longitudinal (GPa):
Limite elstico (MPa):
Tenacidade a ruptura (MPa.m1/2):
Tenso de compresso (MPa):
Tenso de ruptura por trao (MPa):
90/10
80/20
70/30
10% de Ni /
1,5% de Fe /
1% de Mn / Cu
20% de Ni /
0,5% de Mn /
Cu
0,2 - 0,3
0,34 - 0,35
1200 - 1650
53,7 - 55,5
145 - 150
310 - 490
29,7 - 41,3
310 - 490
400 - 550
0,38 - 0,4
0,34 - 0,35
800 - 850
53,7 - 55,5
145 - 150
110 - 120
70,4 - 73,1
110 - 120
330 - 340
30% de Ni /
1,25% de Fe /
0,8% de Mn/
0,5% de Si / Cu
0,3 - 0,35
0,34 - 0,35
1000 - 1100
53,7 - 55,5
145 - 150
128 - 140
65,5 - 68,3
128 - 140
290 - 310
Tratamentos trmicos
Aps recozimento, as microestruturas so idnticas. O recozimento de
amolecimento feito a 550 oC - 690 oC e no deve ir alm de 800 oC para evitar a
precipitao de carbono presente.
Aplicaes
Ligas de Ni < 25% - Moedas e tubos de condensao para gua do mar;
Ligas de 35% a 50% de Ni (constantan) - usada em resistncias eltricas e
termopares. A sua resistividade eltrica de 41 .cm e praticamente
independente da temperatura no intervalo de 20 a 250 oC. Severamente
deformada, o valor da tenso de ruptura a trao igual a 77 kgf/mm2.
Ligas de 54% a 66% de Cu, 9% a 26% de Ni e 17 a 45% de Zn (alpacas ) - So
utilizados com artigos de decorao de ourivesarias, resistncia eltricas.
Ligas de 30% de Cu e 67% de Ni (monel ) - So resistentes a gua salina,
lcalis, cidos sulfrico, sulfuretos de sdio. Tem pouca resistncia ao cido
ntrico e cianetos. As caractersticas mecnicas do monel recozido so e = 250
MPa, e = 550 MPa, e 70 HB de dureza; e do monel extrudado, e = 600 MPa, e
= 770 MPa, e 100 HB de dureza.
Figura 4.14 - Aplicaes do cupronquel.
4.3.1.5 - Ligas de cobre e berlio
Estas ligas apresentam elevada resistncia trao e fadiga e elevado
limite de elasticidade, elevada resistncia ao desgaste e a corroso. So
utilizadas em molas de instrumentos, tubos de Bourbon, diafragmas e cabos
98
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
flexveis, clipes, moldes, componentes de alta condutividade e componentes
eltricos que necessitam alta resistncia mecnica, componentes eletrnicos, em
martelos e outras ferramentas quando necessrio propriedades no magntica.
So tambm usadas em matrizes para fundio.
A solubilidade do berlio no cobre varia com a temperatura. Com a
composio de 1,8% de berlio
e 0,5% de cobalto ou nquel,
obtm-se
ligas
com
caractersticas
interessantes
aps
endurecimento
por
revenido devido a precipitao.
Por tmpera, a partir de 800
o
C, produz-se uma soluo
macia sobressaturada que
pode ser endurecida por
trabalho a frio. So, portanto,
facilmente deformadas na
condio de pea fundida ou
temperada.
Figura 4.15 - Diagrama de fases da liga binria Cu-Be.
Propriedades fsicas
Peso especfico: 8,25 a 8,75 kgf/dm3
Calor especfico: 390 - 413 J/kg.K
Calor latente de fuso: 220 - 240 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 16,5 - 1,5 x 10-6/K
Condutividade trmica: 85 - 210 W/m.K
Ponto de fuso: 1.135K no eutctico de 5,3% de Be
Temperatura mxima de servio: 330 - 470K
Resistividade: 15,85 - 19,20 x 10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,01 - 0,45 %
Coeficiente de Poisson: 0,34 -0,35
Dureza: 600 MPa
Mdulo de cisalhamento: 45 - 52 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 120 - 138 GPa
Limite elstico: 110 - 1200 MPa
Tenacidade a ruptura: 15 - 70 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 110 - 1200 MPa
Tenso de ruptura por trao:300 - 1450 MPa
99
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4.3.1.6 - Ligas de cobre e silcio
Tm composies dos tipos: Cu > 95%; Si < 5% e Cu > 90%; Si < 3% e
Al + Fe + Mn + Sn + Zn < 7%. S tem interesse as ligas monofsicas at 4% de
Si. So maleveis e dcteis, embora menos que o cobre. So deformveis a
quente e a frio. Por endurecimento, devido a trabalho a frio, obtm-se resistncias
muito elevadas (750 MPa para 1% de Si). A condutividade eltrica melhorada
com a adio de 1,4% de nquel, conseguindo-se obter um valor que 40% em
relao ao cobre. So aplicadas nas linhas telefnicas.
4.3.2 - NORMALIZAO DAS LIGAS DE COBRE
As ligas de cobre so classificadas em dois grupos: ligas dcteis e ligas
para fundio. Dentro de duas classificaes elas ainda so designadas com sua
composio qumica. Onde est estabelecido a NBR 7554, baseada na
ASTM. As ligas dcteis so designadas a seguinte maneira.
Classe
C 1XXXX
C 2XXXX
C 3XXXX
C 4XXXX
C 5XXXX
C 6XXXX
C 7XXXX
Liga dcteis
Designao comum
Cobre puro e ligas com alto teor de Cobre
cobre
Cobre-zinco
Lates
Cobre-zinco-chumbo
Lates com chumbo
Cobre-zinco-estanho
Lates especiais com
estanho
Cobre-estanho
Bronzes
Cobre-alumnio, cobre-silcio, cobre- Bronzes de alumnio,
zinco ( especiais )
bronze de silcio. Lates
especiais
Cobre-nquel ou cobre-nquel-zinco
Alpacas
As ligas so identificadas pela letra C, seguida de cinco algarismos. O
primeiro ou os dois primeiros algarismos indicam a classe do material e os dois
ltimos referem-se a identificao desse material. Considere a liga C 22000, esse
cdigo indica que uma liga de cobre e zinco, conhecida popularmente como
lato.
Classe
C 80XXX a C 81100
C 81XXX a C 82XXX
C 83XXX a C 84XXX
C 85XXX
C 86XXX
Liga para fundio
Cobre puro
Ligas com elevado teor de cobre
( exceto 81100 )
Cobre-estanho-zinco com ou
sem chumbo e com teor de
zinco igual ou maior que do
estanho
Cobre-zinco (com ou sem
chumbo )
Cobre-zinco
100
Designao comum
Cobre com pequenas
adies
Bronzes especiais
Lates
Lates especiais de
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
C 87XXX
C 90XXX a C 91XXX
C 92XXX
C 93XXX a C 945XX
C 947XX a C 949XX
C 95XXX
C 96XXX
C 97XXX
C 98XXX
C 99XXX
elevada resistncia
mecnica
Cobre-silcio
Bronze de silcio
Cobre-estanho; cobre-estanho- Bronzes;
bronzes
zinco com teor de zinco inferior especiais.
ao de estanho
Cobre-estanho com chumbo; Bronzes.
Cobre-estanho-zinco
com Bronzes especiais.
chumbo e teor de zinco inferior
ao de estanho
Cobre-estanho com elevado teor Bronzes.
de chumbo; cobre-estanho-zinco Bronzes especiais.
com elevado teor de chumbo.
Cobre-estanho-nquel
com Bronzes com nquel
outros elementos
Cobre-alumnio
Bronzes
com
alumnio
Cobre-nquel-ferro
Cobre-nquel-zinco com outros Alpacas
elementos
Cobre-chumbo
Ligas diversas
Nesta segunda tabela, o sistema de designao o mesmo. Veja um
exemplo: C 94400, na tabela existem vrias ligas da classe 9. A que foi escolhida
est entre 93XXX e 945XX, portanto C 94400 uma liga cobre-estanho com
elevado teor de chumbo ou liga de cobre-estanho-zinco com elevado teor de
chumbo, designando um bronze comum ou especial.
5 - NQUEL E SUAS LIGAS
5.1 - INTRODUO
O nquel comercialmente puro, Ni > 99,98%, obtido por eletrlise. um
metal branco de brilho intenso quando polido, tendo todas as qualidades
mecnicas e tecnolgicas que podemos exigir de um metal: maleabilidade,
fusibilidade, soldabilidade aliada a uma boa resistncia mecnica e tenacidade.
Muito importante tanto na metalurgia de ligas ferrosas quanto na de no ferrosas.
mais resistente a corroso e oxidao do que o ferro. Seu minrio a garnierita
com aproximadamente 5% de Ni. O processo de extrao se faz de modo
semelhante ao do cobre, sendo o nquel bruto submetido, na ltima fase, a uma
refinao eletroltica. O nquel um metal que ligado a outros transmite
propriedades distintas e caractersticas na liga resultante. Para certas ligas
assegura resistncia a corroso; a outras assegura mdulo de elasticidade
constante numa extensa faixa de temperatura.
101
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
5.2 - PROPRIEDADES DO NQUEL E SUAS LIGAS
5.2.1 - NQUEL
As aplicaes mais comuns do nquel e suas ligas so para equipamentos
que devem suportar temperatura elevada como ps e discos de turbinas,
queimadores, ligas magnticas, elementos trmicos, tubos de fornos da
engenharia qumica e em tratamentos de superfcie como niquelagem de peas.
Os principais processos de fabricao de peas a base de nquel so fundio,
usinagem, conformao mecnica e metalurgia do p.
O nquel industrial contm sempre um pouco de carbono, cobalto < 0,5%,
cobre < 0,1%, Fe < 0,25% e Si < 0,25%. O enxofre pela sua ao fragilizante deve
ser limitado a 0,005%. O nquel destinado a elaborao das ligas deve ser de no
mnimo de 98,5% de pureza.
Propriedades fsicas
Massa atmica: 58,71 g
Peso especfico: 8,9 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC): CFC, a = 0,352 nm
Ponto de fuso: 1.451 oC [1.724,15K]
Ponto de ebulio: 2.730 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 13,3 x 10-6/ oC [13,3.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 6,76 .cm [6,76.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 0,21 cal.cm-1.s-1. oC-1 [11 -90 W/m.K]
Ponto de Curie: 358 oC
Calor especfico: 381 - 520 J/kg.K
Calor latente de fuso: 284 - 300 kJ/kg
Temperatura mxima de servio: 600 oC [873,15K]
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,04 - 0,6%
Coeficiente de Poisson: 0,3 - 0,32
Dureza: 110 HB
Mdulo de cisalhamento: 69 - 90 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 180 - 234 GPa
Limite elstico: 150 a 1600 MPa
Tenacidade a ruptura: 60 - 130 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 180 MPa
Tenso de ruptura por trao: 400 MPa
Alongamento: 40%
Estrico: 45%
Estas caractersticas, com exceo do mdulo de elasticidade longitudinal
correspondem ao metal recozido. Como conseqncia da sua estrutura cristalina
e como evidenciam as suas propriedades mecnicas, o nquel muito malevel e
o mais tenaz de todos os metais puros. Oferece tambm boa resistncia ao
desgaste.
102
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades qumicas
O nquel tem elevada resistncia corroso. E inaltervel ao ar mido e
resiste maior parte dos agentes qumicos. Tem boa resistncia aos lcalis,
amnia, solues salinas e cidos orgnicos. atacado unicamente pelo cidos
ntrico, sulfrico e clordrico. Em temperaturas superiores a 375 oC, o nquel
susceptvel de um ataque geral bastante ativo e de um ataque intergranular por
gases que contenham enxofre ou compostos sulfurados, devido a formao de
filmes intracristalinos de Ni3S2 que funde a 787 oC e que pode dar com o nquel
um eutctico de ponto de fuso ainda mais baixo, 645 oC. A dessulfurao feita
com mangans e magnsio que do lugar a sulfuretos que no formam eutcticos
com o nquel. A absoro de oxignio fragiliza o metal e na sua desoxidao
utilizam-se adies de boro e de titnio.
Aplicaes
As principais aplicaes do nquel residem na excelente resistncia a
corroso e como componente de diversas ligas. Cerca de 64% do Ni produzido
empregado para adies no ao e no ferro fundido, 14% s ligas de Cu e Zn, 9 %
em ligas base de nquel tais como Ni malevel, 9 % em galvanoplastia e 3%
para ligas de resistncia eltrica e peas resistentes ao calor. Assim, emprega-se
nas indstrias qumicas e de alimentos, em revestimentos eletrolticos ou
qumicos, chapas de ao recobertas de nquel por laminao, folhas de nquel ,
etc. Na construo mecnica a sua maior utilizao como revestimento,
instrumentos cirrgicos, moedas, etc.
Figura 5.1 - Aplicaes do nquel.
5.2.2 - LIGAS DE NQUEL
O nquel forma solues slidas de substituio com numerosos metais
dos quais, os de maior interesse so o cobre, o ferro e o cromo. Entra, alm
disso, como componente secundrio em vrias ligas como lato, bronze, aos
inoxidveis. componente principal. principal dos seguintes sistemas de ligas:
nquel-berlio, nquel-cromo, nquel-molibdnio e nquel-cobalto. Estas ligas so
monofsicas e quando intervm uma segunda fase , em geral, sob a forma de
precipitado e d lugar a endurecimento estrutural.
103
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
5.2.2.1 - Ligas de nquel e berlio
A importncia destas ligas deve-se a possibilidade de endurecimento
estrutural, tal como nos casos das ligas cobre-berlio, com a vantagem de se usar
um teor de berlio mais baixo e a dureza obtida ser mais elevada. Assim, a liga
com 2% de Be, tratada aps endurecimento por deformao a frio, obtm-se
resistncia a trao de 1.850 MPa e um alongamento de 8% que assegura a sua
aplicao em agulhas para injeo, molas, etc. A dureza pode ser ainda
aumentada com 1% de Ti em ligas utilizadas para esferas inoxidveis para
mancais de rolamentos.
4.2.2.2 - Ligas de nquel e cromo
Neste sistema, de miscibilidade parcial no estado slido, as ligas de maior
interesse so as ligas monofsicas de estrutura CFC, isto , com Ni > 70%. A
adio de ferro , estruturalmente, equivalente ao nquel. A liga mais clssica a
liga NiCr 20 (Nimonic) que, a altas temperaturas, apresenta boa resistncia
oxidao. Mantendo durante tempo prolongado a 1.100 oC, no apresenta
fragilidade de sobreaquecimento. Esta liga usada em resistncias eltricas visto
que a sua resistividade bastante elevada e varia pouco com a temperatura. As
ligas NiCr 50 servem para fundio e so usadas em caldeiras e refinarias.
Adies de nibio e zircnio melhoram a ductilidade e a fluncia. Pertencem a
este tipo as ligas Nicrome (60% de Ni; 16% de Cr; 24% de Fe) e Inconel (60%
de Ni; 16% de Cr; 24% de Fe).
5.2.2.3 - Ligas de nquel e molibdnio
So como as ligas de nquel - berlio, ligas susceptveis de endurecimento
estrutural. Aps tmpera em gua, entre 800 oC e 1.200 oC, obtm-se uma liga
macia que pode endurecer por revenido a 600 - 800 oC, obtendo se tenses de
ruptura a trao de 860 MPa e uma dureza de 270 HB. Se for deformada a frio e
depois revenido, a resistncia sobe para 1.080 MPa e com dureza de 310 HB.
Com adio de ferro formam-se ligas complexas, conhecidas por hastelloys de
excepcional resistncia a cidos em altas temperaturas e de elevada resistncia
mecnica. A tabela abaixo mostra a composio e aplicao destas ligas.
Tipo
Ni
Hastelloy A 56
Hastelloy B 62
Hastelloy C 53
Composio (%)
Mo Fe Cr W
22 22
32 6
19 6 17 5
Resistncia a corroso
cido clordrico
cido clordrico
Agentes oxidantes, solues a base de cloro e
cido ntrico
104
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
6 - COBALTO E SUAS LIGAS
6.1 - INTRODUO
O cobalto foi empregado pela primeira vez como metal de adio nas
ferramentas de aos rpido em meados de 1.910, mas apenas a partir de 1.950
seu uso teve maior importncia para fabricao de ligas complexas como turbinas
e pastilhas cermicas.
6.2 - PROPRIEDADES DO COBALTO E SUAS LIGAS
6.2.1 - COBALTO
Consegue-se obter um elevado grau de pureza, 99,9%, mesmo por fuso e
vazamento. Pelo processo de fuso por zona flutuante consegue-se um grau de
pureza de Co = 99,98%. As aplicaes mais comuns so em implantes cirrgicos.
Tambm utilizado para melhorar propriedades dos aos em relao as
resistncia a alta temperatura. Os principais processos de fabricao de peas a
base de cobalto so fundio, usinagem, conformao mecnica e metalurgia do
p. Taxa de reciclagem: 0,05 - 0,1
Propriedades fsicas
Massa atmica: 58,93 g
Peso especfico: 8,9 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC):
HC, c/a = 1,623 nm
CFC, a = 0,361 nm
Temperatura de transformao: : 427 oC [700,15K]
Ponto de fuso: 1.493 oC [1.766,15K]
Ponto de ebulio: 3.100 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 13,8 x 10-6/ oC [13,8.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 6,4 .cm [6,4.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 0,165 cal.cm-1.s-1. oC-1
Ponto de Curie: 1.121 oC
Calor especfico: 456 - 520 J/kg.K
Calor latente de fuso: 260 - 266 kJ/kg
Permeabilidade magntica: 68 at 245 gauss/oersted
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,03 - 0,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,31 - 0,32
Dureza: 125 HB [1.250 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 76 - 95 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 21 GPa
Limite elstico: 240 MPa
Tenacidade a ruptura: 25 - 40 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 345 - 1.500 MPa
105
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Tenso de ruptura por trao: 760 - 2.100 MPa
Alongamento: 8 %
O cobalto pode ser utilizado em trabalho a frio e a quente, sobretudo a
quente (forma ) e pode ser extrudado em arame fino.
Aplicaes
essencialmente utilizado como elemento de liga, aproveitando-se
especialmente as suas propriedades refratrias, magnticas e de resistncia a
abraso.
Figura 6.1 - Aplicaes do cobalto.
6.2.2 - LIGAS DE COBALTO
Estas ligas so caracterizadas por propriedades muito especiais:
refratariedade, propriedades magnticas especificas, boa resistncia corroso,
propriedades mecnicas excelentes, etc. So, em geral, ligas muito complexas
que, segundo a composio, podem se classificar nos tipos que constam a tabela
abaixo.
Tipo
Superliga
s HS 23
Co
66
Ni
2
Composio (%)
Cr
Fe
24
1
Alnicos
5 - 35 12 - 25 25 - 35
Estelites
40 - 65
Aplicaes
C
0,4
Dif.
Mn
0,3 0,6
Al
5 - 11
>1
Invar
54
9,5
Vitalium
64
30
36,5
5
106
Peas resistentes
em
temperaturas
elevadas, fundio
de preciso
Ims permanentes
Peas resistentes a
corroso
e
a
abraso
(ferramentas,
tesouras, vlvulas)
Instrumentos
de
preciso
Prteses
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
7 - TITNIO E SUAS LIGAS
7.1 - INTRODUO
O Titnio um metal no-ferroso que ganhou importncia estratgica h
somente 40 anos por sua alta resistncia mecnica ,alta resistncia a corroso e
por ter, aproximadamente, 55% da densidade do ao. O fato mais interessante a
respeito do titnio que, embora ele exista em grande quantidade na crosta
terrestre , o custo de sua obteno muito alto. Em contado com o ar, forma-se,
em sua superfcie, um oxido impermevel e protetor muito importante em um meio
muito corrosivo. Disso decorre sua propriedade mais importante: a resistncia a
corroso a gua salina e outras solues cloretos, hipocloritos e ao cloro mido e
a resistncia ao acido ntrico. Essa qualidade torna-o ideal para a fabricao de
prtese humanais tais como componentes de vlvulas cardacas, placas e pinos
para unir ossos, pois os fluidos que existem dentro de nosso corpo so solues
salinas, com Ph cido. Elas contm outros cidos orgnicos aos quais o titnio
inerte. Os processos de fabricao usuais de peas a base de titnio so:
fundio, usinagem, conformao e metalurgia do p.
7.2 - PROPRIEDADES DO TITNIO E SUAS LIGAS
7.2.1 - TITNIO
Este metal, tal como o zircnio, o berlio e o nibio, passou a ter um
interesse grande com o desenvolvimento das indstrias de aviao e nucleares. O
calor especfico e a condutividade eltrica e trmica do titnio so idnticas dos
aos inoxidveis. Tem caractersticas mecnicas superiores aos do ferro que
podem ser ainda melhoradas em certas ligas, mas pouco resistente a fluncia.
No titnio comercial os teores de no-metais esto, geralmente, limitados a 0,08%
de C, 0,05% de N e 0,015% de H.
Propriedades fsicas
Massa atmica: 47,90 g
Peso especfico: 4,43 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC):
HC, c/a = 1,587 nm
CCC, a = 0,332 nm
Temperatura de transformao: : 880 oC [1.153,15K]
Ponto de fuso: 1.660 oC [1.933,15K]
Ponto de ebulio: 3.260 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 8,5 x 10-6/ oC [8,5.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 50 .cm [50.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 0,037 cal.cm-1.s-1. oC-1 [4 - 21,9 W/m.K]
Calor especfico: 510 - 650 J/kg.K
Calor latente de fuso: 360 - 370 kJ/kg
107
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,02 - 0,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,358 - 0,364
Dureza: 200 HB [2.000 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 35 - 50 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 95 - 125 GPa
Limite elstico: 172 -1.050 MPa
Tenacidade a ruptura: 55 - 123 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 130 - 1.400 MPa
Tenso de ruptura por trao: 241 - 1.280 MPa
Alongamento: 28 %
Propriedades qumicas
Em temperatura elevada, tem grande afinidade com o oxignio, nitrognio,
carbono e hidrognio, no-metais que o tornam frgil. Resiste bem a todos os
meios naturais (atmosfera, gua salina, e a numerosos produtos qumicos, em
particular os que contm cloro. atacado por solues concentradas de cidos,
at mesmo os orgnicos, Acima de 350 oC, o titnio susceptvel de corroso sob
tenso em presena de cloretos.
Aplicaes
Os elementos que so adicionados as ligas resistentes corroso so: paldio
(Pd), molibdnio, alumnio, nquel, mangans e estanho. Essas ligas so usadas
na fabricao de prteses. Ligas de titnio com alumnio e estanho e alumnio e
vandio so usadas em aplicaes muito especiais, pois apresentam resistncia
especfica, ou seja, relao resistncia mecnica/peso muito elevadas em
temperaturas abaixo de zero (entre -196 e -269 C ). Por isso, elas so
empregadas em vasos de presso que fazem parte do sistema de controle de
propulso e reao dos foguetes que transportaram as naves Apollo e Saturno e
dos mdulos lunares. So empregados tambm em rotores de bombas usadas
para bombear hidrognio lquido.
Figura 7.1 - Aplicaes do titnio.
108
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
7.2.2 - LIGAS DE TITNIO
So, em geral, ligas muito complexas que, segundo a composio, podem
se apresentar conforme a influncia dos elementos adicionados e suas aplicaes
de acordo com a tabela abaixo.
ELEMENTO
ADICIONADO
Alumnio,
molibdnio,
vandio.
Molibdnio, zircnio e
estanho.
Alumnio,
silcio.
Molibdnio,
paldio.
molibdnio
nquel
INFLUNCIAS
Resistncia
a
temperaturas elevadas.
Resistncia mecnica e
corroso
sob
tenso;
menor ductilidade.
e Elevada
resistncia
especfica e a altas
temperaturas; resistente
corroso.
e Resistncia corroso em
salmoura
a
altas
temperaturas e em meios
oxidantes e redutores.
APLICAES
Estruturas aeroespaciais.
Geradores de turbinas a
vapor e a gs.
Peas
estruturais
naves supersnicas.
de
Tanques e tubulaes em
indstrias qumicas.
8 - MAGNSIO E SUAS LIGAS
8.1 - INTRODUO
O magnsio um metal branco, leve com ponto de fuso 650 C.
Inaltervel ao ar seco. Suas principais aplicao eram em certos processos
qumicos e pirotcnico. Na indstria aeronutica, bem como na indstria
automobilstica, magnsio desempenha um papel importante. A propriedade mais
importante do magnsio seu baixo peso especfico 1,74 gf/cm. Outra
propriedade importante aliada ao magnsio e suas ligas facilidade de ser
usinado. O coeficiente de dilatao trmica linear maior do que o coeficiente de
dilatao trmica linear do Al e a maioria de suas ligas ferrosas. A baixa
resistncia a corroso uma das desvantagens do magnsio. Devem ser
adequadamente protegidas a sua superfcie. Ao contrrio do Al, o magnsio e
suas ligas formam uma pelcula natural de hidrxido de magnsio ou de
carbonato de magnsio que facilita a continuao do ataque.
109
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
8.2 - PROPRIEDADES DO MAGNSIO E SUAS LIGAS
8.2.1 - MAGNSIO
Nas caractersticas acima descritos, tem influncia o tamanho de gro do
metal. De acordo com a sua estrutura cristalina, a maleabilidade baixa e por
isso a obteno de peas s pode ser feita por fundio e trabalho a quente
temperatura de 300 a 900 oC. O magnsio pode ser obtido bastante puro (Mg >
99,99 %). O magnsio industrial contm cerca de 0,8% de impurezas como K, Fe,
Si, Al e Ca.
Propriedades fsicas
Massa atmica: 29,32 g
Peso especfico: 1,739 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC):
HC, c/a = 1,624 nm
Ponto de fuso: 650 oC [923,15K]
Ponto de ebulio: 1.120 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 26,1 x 10-6/ oC [24,6 - 27,2.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 4,46 .cm [4,46.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 0,37 cal.cm-1.s-1. oC-1 [51 - 80 W/m.K]
Calor especfico: 960 - 1.050 J/kg.K
Calor latente de fuso: 358 - 366 kJ/kg
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,03 - 0,14 %
Coeficiente de Poisson: 0,29 - 0,305
Dureza: 36 HB [36 MPa]
Mdulo de Bulk: 32 - 36 GPa
Mdulo de cisalhamento: 15,3 - 17 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 40 - 45 GPa
Limite elstico: 80 - 220 MPa
Tenacidade a ruptura: 11 - 18 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 80 - 350 MPa
Tenso de ruptura por trao: 138 - 310 MPa
Propriedades qumicas
Tem extraordinria afinidade com oxignio e, por isso, se utiliza com
desoxidante de certas ligas de cobre, zinco e nquel. inaltervel ao ar seco
temperatura ambiente; ao ar mido forma uma pelcula superficial de Mg(OH)2
que, somente aps um tratamento oxidante, pode proteger as camadas
subjacentes. E inaltervel em meio alcalino, mas muito atacado em atmosferas
marinhas, cidas e solues de cloretos.
Aplicaes
Equipamentos
esportivos.
aeroespaciais,
automotivos,
110
nucleares
produtos
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 8.1 - Aplicaes do magnsio.
8.2.2 - LIGAS DE MAGNSIO
O magnsio entra na composio das chamadas ligas leves. O principal
objetivo destas ligas e a diminuio de peso que pode atingir 20 a 35 % de peso
em relao ao alumnio. Alm, do magnsio entram na sua composio o Al, Zn,
Mn, Cu e Zn, cujos teores no ultrapassam l0% em massa. A principal liga tem a
seguinte composio: 8,5% de Al; 0,5% de Zn e 0,2% de Mn e suas
caractersticas mecnicas aps a tmpera e revenido a 250 oC por 5 horas so:
limite elstico de 15 kgf/mm2 e tenso de ruptura a trao de 26 kgf/mm2. Outras
ligas com a adio de zircnio e composies aproximadas tem dado bons
resultados de resistncia mecnica, considerando que os teores de alumnio
devem ficar em torno de 8% em virtude da formao do composto metlico Mg3Al3
que dificultam a deformao a quente.
9 - ZINCO E SUAS LIGAS
9.1 - INTRODUO
um metal pouco resistente trao e a fluncia o que reduz as suas
possibilidades como material de construo. No susceptvel de endurecimento
a frio devido baixa temperatura de recristalizao e a estrutura cristalina explica a
anisotropia importante verificada nos produtos de zinco laminados. As impurezas
normais do zinco so Pb, Cd, Fe, Sn e Cu. O zinco 99,99% destina-se a fundio
injetada. Para outras utilizaes, o teor mximo de chumbo de 0,006%.
9.2 - PROPRIEDADES DO ZINCO E SUAS LIGAS
Propriedades fsicas
Massa atmica: 65,38 g
Peso especfico: 7,14 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC):
HC, c/a = 1,856 nm
o
Ponto de fuso: 419 C [692,15K]
Ponto de ebulio: 907 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 28 - 34 x 10-6/ oC [28 - 34.10-6/K]
Resistividade: (20 oC): 5,957 .cm [5,957 - 6,31.10-8 .m]
111
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
-1
-1 o
-1
Condutividade trmica: (20 C): 0,265 cal.cm .s . C [108 - 115 W/m.K]
Calor especfico: 385 - 397 J/kg.K
Calor latente de fuso: 108 - 113 kJ/kg
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,1 - 0,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,248 - 0,25
Dureza: 50 HB [500 - 1260 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 32 - 42 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 80 - 104,5 GPa
Limite elstico: 160 -421 MPa
Tenacidade a ruptura: 18,5 - 40 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 160 - 421 MPa
Tenso de ruptura por trao: 200 - 500 MPa
Alongamento: 50 %
Propriedades qumicas
Resiste bem a corroso pelos agentes atmosfricos e pela gua. Revestese de uma camada de hidrocarbonato que protege o metal subjacente, a qual
leva, em presena de ar mido, cerca de 3 dias a se formar, enquanto que, em
atmosfera seca, a sua formao muito mais lenta levando cerca de 3 meses.
Esta propriedade aproveitada quando se utiliza o zinco ou materiais zincados
em coberturas expostas atmosfera. Em relao ao seu potencial eletroqumico
confere uma aplicao importante na proteo superficial, isto , o zinco
utilizado como nodo, corroendo-se e protegendo assim o ao ou qualquer outro
metal. facilmente atacado por cidos e lcalis.
Aplicaes
As suas aplicaes baseiam-se essencialmente como pelculas protetivas
em metais, como o ao. Assim usado em coberturas, canalizao de
esgotamento de chuva em telhados. Os principais processos de proteo de
revestimento de zinco so:
- zincagem a quente por imerso (galvanizao), onde a pea, previamente
decapada, imersa em zinco fundido;
- zincagem eletroltica (tratamento termoqumico), onde ocorre deposio do zinco
sobre o ao por meio de soluo eletroltica de sais de zinco;
- Pintura com tintas com elevada percentagem de zinco em p.
Figura 8.1 - Aplicaes do zinco.
112
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
9.2.1 - LIGAS DE ZINCO
O zinco entra na composio de numerosas ligas como componente
secundrio ou componente menor - lato, alpacas, antifrico, etc. mas este
elemento tem tambm interesse como componente principal em ligas para
fundio e ligas para forjamento e estampagem, de acordo com o teor de alumnio
e outros elementos. A fluidez no estado lquido e as propriedades mecnicas so
melhoradas pela adio de Al, Cu, Sn e Pb.
9.2.2 - LIGAS DE ZINCO E ALUMNIO
De todas as ligas no-ferrosas para fundio por injeo, estas ligas so as
de maior utilizao devido as suas particularidades fsicas, mecnicas e de
fundio associadas capacidade de serem facilmente revestidas por
eletrodeposio (cobre, nquel e cromo) ou por pinturas com tintas e vernizes. A
boa fluidez permite a fundio de peas de formas complexas com paredes finas.
A liga zamac a que tem maior importncia. Na sua maior parte esta liga tem
composies hipoeutcticas, geralmente at 4% de Al e at 3% de Cu para
melhorar as propriedades mecnicas e a corroso. O magnsio pode ser
adicionado, com teores de at 0,05%, como inibidor da corroso intergranular. Os
zamacs so extremamente sensveis s impurezas, sobretudo chumbo e cdmio.
Estas impurezas, precipitam-se nos contornos de gro, formando um par
galvnico que d lugar a forte corroso em atmosfera mida. O magnsio
contraria este efeito e refina o gro. A fabricao destas ligas exige matriasprimas, principalmente o zinco, quase puras.
As principais aplicaes destas ligas encontram-se em: componentes de
automveis como radiadores, manmetros, fechaduras, carburadores,
componentes de aparelhos eletrodomsticos, aspiradores, maanetas,
dobradias, componentes de relgios; componentes de equipamentos eltricos,
roldanas, engrenagens; brinquedos.
10 - CHUMBO E SUAS LIGAS
10.1 - INTRODUO
O chumbo um metal de cor acinzentada pouco tenaz, porm dctil e
malevel. bom condutor de eletricidade embora no seja magntico e mau
condutor de calor. Funde-se a 327C. facilmente laminado, pois o mais mole
dos metais pesados. Pode ser endurecido em liga com enxofre ou antimnio.
resistente a gua do mar e aos cidos, mas fortemente atacado por substncias
bsicas. Oxida-se com facilidade em contato com o ar. Outras propriedades que
permitem grande variedade de aplicaes so: elevado peso especfico,
flexibilidade, alto coeficiente de expanso trmica, boa condutividade eltrica,
facilidade em fundir e formar ligas com outros elementos. O principal minrio do
113
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
qual o chumbo extrado a galena (PbS), cujo teor de chumbo varia entre 1 e
12%.Em geral, esse minrio possui tambm prata .O processo de obteno do
chumbo tem vrias etapas, mas as principais so: concentrao por flotao,
formao do aglomerado, reduo dos xidos, desargentao, ou seja, retirada
da prata, destilao a vcuo e refino. Ele pode ser laminado a espessuras de at
0,01mm. Sua maior utilizao (80%), entretanto, na fabricao de baterias.
10.2 - PROPRIEDADES DO CHUMBO E SUAS LIGAS
Propriedades fsicas
Massa atmica: 207,2 g
Peso especfico: 11,34 kgf/dm3
Estrutura cristalina (20 oC):
CFC, a = 0,492 nm
o
Ponto de fuso: 327 C [600,15K]
Ponto de ebulio: 1.749 oC
Coeficiente de dilatao trmica linear: (20 oC): 28 - 29,3 x 10-6/ oC [28 - 29,3.106
/K]
Resistividade: (20 oC): 20,61 .cm [20,61 - 21,88.10-8 .m]
Condutividade trmica: (20 oC): 28 - 35,3 W/m.K
Calor especfico: 159 - 170 J/kg.K
Calor latente de fuso: 23,2 - 25 kJ/kg
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,2 - 0,8 %
Coeficiente de Poisson: 0,44 - 0,45
Dureza: 1,6 HB [16 - 150 MPa]
Mdulo de cisalhamento: 4,5 - 6 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 16,1 - 18 GPa
Limite elstico: 5,5 - 50 MPa
Tenacidade a ruptura: 30 - 50 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 5,5 - 50 MPa
Tenso de ruptura por trao: 14 - 60 MPa
Alongamento: 60 %
Propriedades qumicas
Ao ar, o chumbo recobre-se de uma camada protetora de Pb20 e de
hidrocarbonato. Na gua, devido existncia de sulfatos e/ou de carbonatos
forma-se tambm uma camada insolvel de sulfato e/ou carbonato de chumbo
que permite o emprego deste metal em condutas de gua potvel sem perigo de
toxicidade. E, pelo contrrio, atacado por gua muito pura, como a gua da
chuva. Resistente ao cido sulfrico pouco concentrado. Ao chumbo pode-se
acrescentar os seguintes elementos de liga: cobre, prata e antimnio.
Aplicaes
Devido ao seu elevado peso especfico usado como contrapeso em
determinados equipamentos e nos lastros de navios. tambm material utilizado
como dispositivos de balanceamento de massa em rodas automotivas. Devido o
seu baixo ponto de fuso e elevada maleabilidade, o chumbo e moldado com
114
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
facilidade. Todavia, o baixo valor da tenso limite de fluncia produz, em alguma
casos, a estrico local, o que provoca falhas em certas aplicaes como
tubulaes de esgoto de grande extenso. O Chumbo usado como isolante
acstico e amortecedor de vibraes e isolante de radiaes X e devido a sua
massa atmica. empregado tambm em juntas para vedao, em ligas para
fabricao de mancais, gaxetas e arruelas.
-
Ligas de chumbo e estanho - o tipo de liga usada para soldas eltricas que,
com teores de estanho prximo do eutctico ( 62 % de Sn), produz a menor
temperatura de fuso - 183 oC. Com esta composio a liga muda de estado
slido para lquido de forma rpida ao atingir aquela temperatura. Com
composies maiores
ou menores, passa a
ter uma passagem
pastosa, podendo ser
utilizada em alguns
tipos de fusveis. A
figura abaixo mostra o
diagrama de fase da
liga binria Pb-Sn;
Figura 10.1 - Diagrama de fases da liga Pb-Sn.
Ligas de chumbo e antimnio - o tipo de liga que apresenta um eutctico
com 11,2 % de Sb a uma temperatura de 251 oC. As ligas de chumbo e
antimnio podem ter composies de 1 a 3% de Sb, usado para revestimento
de cabo e laminados como folhas de chumbo, 6 a 12% de Sb, para placa de
acumuladores e acessrios isolantes de radiaes. A figura abaixo mostra o
diagrama de fase da
liga binria Pb-Sn;
Ligas de chumbo e
cobre - Com adio
de at 0,006% de
cobre apresenta boa
resistncia a corroso
e tem como principal
aplicao construo
de
equipamentos
para cido sulfrico;
Figura 10.2 - Diagrama de fases da liga Pb-Sb.
Ligas de chumbo e prata - Com adio de at 2% de prata apresenta boa
resistncia a corroso por gua salina e tem como principal aplicao a
proteo catdica de equipamentos marinhos;
Outras ligas - Ligas de chumbo, antimnio e estanho, usadas como ligas
antifrico, e ligas de chumbo com adio de bismuto, cdmio, antimnio e
estanho, utilizados como fusveis e sistemas anti-incndio.
115
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
11 - OUTROS METAIS
11.1 - ESTANHO
A caracterstica de maior interesse o seu baixo ponto de fuso que baixa
consideravelmente o ponto de fuso em ligas. A baixa temperatura de
transformao alotrpica (16 oC) chamado de doena do estanho, entretanto
como o tempo de transformao completa relativamente longo,
s
significativo a temperaturas abaixo de 0 oC, mas se o estanho for conservado
abaixo de 16 oC em um perodo muito longo, formam-se manchas localizadas de
estanho cinzento, quebradio e pulverulento devido grande variao de volume
que acompanha a transformao. Dado a transformao e fazendo-se o
reaquecimento acima daquela temperatura, o sentido da reao muda, mas o
metal conserva-se em p. Como a velocidade de transformao muito baixa,
sempre que a temperatura se eleva acima de 16 oC, os embries (pequenos
cristais) de estanho cinzento so recristalizados. O estanho forma solues
slidas com a maior parte dos metais. um metal macio mas muito malevel. Em
virtude de sua baixa temperatura de recristalizao no endurece por deformao
a frio. A adio de 2% de prata baixa o ponto de transformao alotrpica para 10 oC, e o cobre baixa esta temperatura para -30 oC, mas acelera o processo de
crescimento de embries que pode ser impedido pelo bismuto, cdmio, alumnio,
antimnio e chumbo. So prejudiciais o zinco e o magnsio.
Propriedades fsicas
Calor especfico: 213 - 225 J/kg.K
Calor latente de fuso:59,4 - 60 kJ/Kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 23 - 23,5 10-6/K
Condutividade trmica: 30 - 66,8 W/m.K
Ponto de fuso: 400 - 504,9 K
Peso especfico: 7,28 - 8 kgf/dm3
Resistividade: 12,59 - 15,85.10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,05 - 0,4 %
Coeficiente de Poisson: 0,35 - 0,363
Dureza: 21 - 135 MPa
Mdulo de cisalhamento: 15 - 19 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 44 - 53 GPa
Limite elstico: 7 - 45
Tenacidade a ruptura: 20 - 35 MPa.m1/2
Tenso de ruptura por compresso: 7 - 45 MPa
Tenso de ruptura por trao: 14 - 60 MPa
Propriedades qumicas
Oferece boa resistncia a corroso. inaltervel ao ar e gua. Resiste
bem aos cidos orgnicos.
116
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Aplicaes
As principais aplicaes do estanho devem-se ao seu baixo ponto de fuso
e da sua resistncia corroso, permitindo o revestimento de outros metais como:
- estanhagem de chapa de ao (folha de flandres);
- para a fabricao de soldas;
- para ligas antifrico e bronzes;
- folhas de estanho, tubos extrudados e objetos decorativos.
Para a estanhagem, o estanho pode conter at 2% de impurezas. Para a
indstria de alimentos, as folhas de flandres devem ser fabricadas com um
mximo de 0,5% de impurezas no estanho.
11.2 - CROMO
Aplicaes: Revestimentos protetores, eletrodeposio, elemento de liga
em aos, superlotas. Processos: eletrodeposio, usinagem, unies, outros.
Figura 11.1 - Aplicaes do cromo.
Propriedades fsicas
Calor especfico: 495 - 518 J/kg.K
Calor latente de fuso: 258 - 262 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 6,3 - 6,5 10-6/K
Condutividade trmica: 78 - 94 W/m.K
Ponto de fuso: 2.130 -2.140K
Peso especfico: 7,15 - 7,18 kgf/dm3
Resistividade:12,88 - 13,49 10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,03 - 0,2 %
Coeficiente de Poisson: 0,208 - 0,212
117
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Dureza: 1.300 -2.200 MPa
Mdulo de cisalhamento: 100 - 120 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 279 - 286 GPa
Limite elstico: 350 - 430 MPa
Tenacidade a ruptura: 20 - 30 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 350 - 430 MPa)
Tenso de ruptura por trao: 400 - 690 MPa
11.3 - TUNGSTNIO
Aplicaes: Filamentos de lmpadas incandescentes, contatos eltricos,
alvos de raio-x, combustvel nuclear, ligas de ao, ferramentas de corte.
Processos: fundio, usinagem, conformao, unies, outros.
Figura 11.2 - Aplicaes da tungstnio.
Propriedades fsicas
Calor especfico: 133 - 140 J/kg.K
Calor latente de fuso: 190 - 194 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 4,5 - 5,3 10-6/K
Condutividade trmica: 130 -173 W/m.K
Ponto de fuso: 3.500 - 3.680K
Peso especfico: 16 - 19,3 kgf/dm3
Resistividade: 5,37 - 6,026.10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,02 - 0,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,26 - 0,28
Dureza: 3.000 - 5.000 MPa
Mdulo de cisalhamento: 160 - 175 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 380 - 411 GPa
Limite elstico: 500 - 580 MPa
Tenacidade a ruptura: 20 - 40 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 500 - 580 MPa
Tenso de ruptura por trao: 550 - 1.920 MPa
118
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
11.4 - PRATA
Aplicaes: contatos eltricos, condutores, revestimentos protetores,
prteses dentrias, implantes, espelhos, moedas, medalhas, fotografia, joalharia.
Processos: conformao, fundio, usinagem, unies, outros.
Figura 11.3 - Aplicaes da prata.
Propriedades fsicas
Calor especfico: 234 - 240 J/kg.K
Calor latente de fuso: 100 - 106 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 18,6 - 19,6.10-6/K
Condutividade trmica: 350 - 429 W/m.K
Peso especfico: 6,9 - 7,8 kgf/dm3
Resistividade: 1,622 - 2,818.10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,3 - 0,6 %
Coeficiente de Poisson: 0,365 - 0,369
Dureza: 250 - 950 MPa
Mdulo de cisalhamento: 29 - 31 GPa
Mdulo de elasticidade longitudinal: 78 - 84 GPa
Limite elstico: 30 - 180 MPa
Tenacidade a ruptura:60 - 90
Tenso de ruptura por compresso: 30 - 180 MPa
Tenso de ruptura por trao: 172 - 330 MPa
11.5 - OURO
Aplicaes: Joalharia, circuito impresso, contatos eltricos, revestimento de
equipamentos qumicos.Processos: fundio, usinagem, conformao, unies,
outros.
119
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 11.4 - Aplicaes do ouro.
Propriedades fsicas
Calor especfico: 129 - 131 J/kg.K
Calor latente de fuso: 64,8 - 70 kJ/kg
Coeficiente de dilatao trmica linear: 14 - 14,2.10-6/K
Condutividade trmica: 310 - 318 W/m.K
Ponto de fuso: 1.340 - 1.340K
Peso especfico: 19,3 - 19,32 kgf/dm3
Resistividade: 2,188 - 2,203.10-8 ohm.m
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,5 %
Coeficiente de Poisson: 0,41 - 0,42
Dureza: 200 - 600 MPa
Mdulo de cisalhamento: 26 - 29 GPa
Mdulo de elasticidade: 78 - 79 GPa
Limite elstico: 40 - 200 MPa
Tenacidade a ruptura: 50 - 80 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 40 - 200 MPa
Tenso de ruptura por trao:130 - 220 MPa
120
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12 - POLMEROS
12.1 - INTRODUO
Para conceituar polmeros melhor definir antes os monmeros. Os
monmeros so molculas de cadeia pequena. Exemplos tpicos de monmeros
so os hidrocarbonetos bsicos como metano, etano, propano, butano e etc.
a) CH4
b) CH3C
c) CH2CH2
Figura 12.1 - Monmeros. a) metano; b) etano; c) eteno.
a) CH3CH2CH3
b) CH3(CH2)2CH3
c) (CH3)3CH
Figura 12.2 - Monmeros. a) propano; b) n-butano; c) isobutano.
a) CH3CH2CH(CH3
b) CH3(CH2)3CH3
c) (CH3)4C
Figura 12.3 - Monmeros. a) n-pentano; b) Isopentano; c) Neopentano.
121
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Observando os monmeros, conceitua-se polmeros, os compostos cuja
molcula constituda pela associao de diversas molculas de outro composto
mais simples atravs da reao de polimerizao (reao em que duas ou mais
molculas menores (monmeros) reagem entre si, formando outras maiores que
contm os mesmos elementos na mesma proporo que as pequenas,
caracterizadas pela repetio de uma unidade bsica mero). O nmero de vezes que se repete a unidade
bsica na molcula do polmero representa o grau de
polimerizao. Grau elevado de polimerizao assegura
melhores propriedades fsicas do produto. Exemplo: o
polietileno que tem sua estrutura molecular representada
pela frmula geral abaixo.
Figura 12.4 Representao de polmero.
Polmeros, em cujas molculas comparecem apenas um tipo de unidade
bsica, so conhecidos como homopolmero. Quando h dois ou mais meros
distintos na molcula dito copolmero.
As reaes de polimerizao podem ser de dois tipos: aditiva e
condensada. Muitos polmeros, especialmente os vinlicos, so formados por
reaes de adio, na qual um monmero no saturado, sob condies bem
definidas de temperatura e presso, e em presena de um catalisador adequado,
polimeriza pela ruptura de uma ligao covalente dupla, gerando meros que se
interencadeiam, sem liberar qualquer produto secundrio, ou seja, todo material
que intervm na reao convertido em polmero. o que ocorre, por exemplo,
na produo
do policloreto
de vinila ou
Perxido
PVC, a partir
De benzola
do cloreto de
vinila:
n
cloreto de vinila
policloreto de vinila
Figura 12.5 Reao de polimerizao do policloreto de vinila.
Nesta reao, o perxido de benzola atua como catalisador.
Outros polmeros so produzidos em uma reao condensada, ou de
policondensao, em que dois reagentes geram o polmero, liberando algum
produto secundrio, tambm sob condies de temperatura e presso controladas
e na presena de um catalisador adequado. Certas famlias de poliamidas
(nilons) so obtidas pela condensao de um cido adpico com uma diamina,
liberando gua como um subproduto da reao:
122
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
cido actico
n
cido adpico
Hexameilenodiamina
+ n (H2O)
n
Polihexametileno adipamida (nilon 66)
Figura 12.6 Reao de copolimerizao do nilon 66.
Em outras palavras, os polmeros so cadeias longas de um determinado
conjunto de molculas, tomos ou compostos. Desta forma, um macrocristal de
SiO2, que se forma atravs de polimerizao, pode ser considerado um polmero,
entretanto considerado tambm um material cermico. Usa-se muito o termo
polmero para representar os produtos derivados do petrleo ou hidrocarbonetos
naturais (derivado de plantas). Assim, os polmeros podem ser divididos em
plsticos e elastmeros.
12.2 PROPRIEDADES
12.2.1 - MORFOLOGIA
Os polmeros podem apresentar molculas sem ramificaes (lineares) ou
com ramificaes. As ramificaes podem ser constitudas de cadeia linear bsica
ou que promovam a interligao de diferentes cadeias lineares, formando
reticulados tridimensionais ou ligaes cruzadas. A figura abaixo representa estas
condies.
a)
b)
c)
Figura 12.7 Representao das cadeias polimricas. a) Cadeia linear; b) cadeia com
ramificaes incompletas; c) cadeias com ramificaes transversais ou
cruzadas.
Certas propriedades dos polmeros, em virtude destas diferentes
configuraes moleculares, so afetadas, especialmente a fusibilidade e a
solubilidade. Ao dificultarem a aproximao das molculas, as ramificaes
tendem a diminuir as interaes entre as mesmas, com isso impedindo a
formao de cristalitos e afetando as propriedades mecnicas. A formao de
123
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
ramificaes tridimensionais impede o deslizamento relativo das molculas,
aumentando a resistncia mecnica, dando um produto infusvel e insolvel.
A estrutura molecular dos altos polmeros pode ser amorfa, cristalina ou
cristalina e orientada. Em temperaturas acima do ponto de amolecimento, todas
as estruturas apresentam estruturas amorfas, com as molculas em forma de
novelo e catico. Com o resfriamento, certas resinas tendem a se dispor em
regies cristalinas (cristalitos) aleatoriamente orientadas, separadas por regies
amorfas. Os cristalitos satisfazem aos requisitos geral de cristalinidade um
arranjo ordenado das molculas que exibem franjas de interferncia definidas ao
raio-X. Os materiais polimricos totalmente cristalinos so muito raros e tem
pouco significado econmico. Por exemplo, possvel obter-se pequenos cristais
de polietileno por meio de precipitao em toluol, causada pela diminuio de
temperatura.
Os polmeros termorgidos so totalmente amorfos, por outro lado, os
termoplsticos apresentam-se freqentemente cristalinos, embora existam
termoplsticos totalmente amorfos. O termo tcnico microestrutura pouco
utilizado pelos especialistas em materiais e preferido o termo morfologia.
O grau de cristalinidade de um polmero depende muito da distribuio
geomtrica dos radicais mricos no espao. Os radicais mricos podem estar
arranjados de trs maneiras, conforme ilustrado abaixo.
a)Polmero isosttico
b) Polmero sindiosttico
c) Polmero attico
Figura 12.8 Formas isomricas.
124
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Quando o radical localiza-se sempre do mesmo lado da cadeia diz-se que
o arranjo isosttico. Se o radical localiza-se dos dois lados da cadeia de forma
organizada e repetitiva, diz-se que o arranjo sindiottico. Quando no existe
regularidade na distribuio dos radicais, o arranjo denominado attico. A
propenso a cristalizao maior nos arranjos isostticos, razovel nos
sindiotticos e pequena nos atticos. Os polmeros raramente apresentam apenas
um nico tipo de arranjo, mas sim uma mistura deles.
Em alguns materiais polimricos, como a borracha, a cristalizao pode ser
facilitada atravs de aplicao de tenses externas e desaparece gradualmente
com aquecimento, que se evidencia por uma sensvel transparncia progressiva
de certos polmeros. A distribuio das regies cristalinas em um polmero
parcialmente cristalino objeto de pesquisa. Quando a cristalizao nucleada
em uma resina rapidamente resfriada, podem desenvolver-se regies esfricas
contendo material cristalino (esferulitos), que crescem radialmente em direo
regio amorfa adjacente, alcanando dimenses que podem ser alguns
micrmetros de dimetro. A figura abaixo representa estas condies de
cristalinidade.
Um controle do teor de esferulitos, que depende das condies de
moldagem, permite um controle das propriedades mecnicas e ticas da pea. As
regies cristalinas so mais
densas, e apresentam maior
rigidez e resistncia mecnica
e trmica, enquanto que as
regies amorfas conferem
elasticidade,
maciez,
flexibilidade e, s vezes,
transparncia.
Figura 12.9 Cristalinidade em polmeros.
12.2.2 COMPORTAMENTO MOLDAGEM
Os materiais polimricos podem ser classificados em duas categorias:
termoplsticos ou termoestveis (termofixos, termoduros).
Os termoplsticos caracterizam-se por, ao completar-se a polimerizao,
possurem molculas com cadeia predominantemente linear, eventualmente
apresentam ramificaes. Se um termoplstico aquecido, desde que no seja
superada sua temperatura de degradao, estas interaes so mais
enfraquecidas, tornando possvel a movimentao relativa das molculas e,
portanto, a deformao do polmero amolecendo-o. O resfriamento restabelece as
foras de ligao intermoleculares, tornando-o rgido novamente. Um novo
aquecimento novamente torna-o amolecido para moldagem. Os termoplsticos
podem ser endurecidos ou amolecidos reversivelmente.
125
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Os termoestveis apresentam um comportamento inverso do termoplstico.
A polimerizao desses materiais ocorre em dois estgios. O primeiro estgio, ao
nvel do fabricante do produto, produz um composto intermedirio, cujas
molculas apresentam cadeias lineares ou ramificadas. A polimerizao completa
ocorre num segundo estgio, por ocasio da moldagem. Quando, por causa do
calor ou de um agente de cura ou mesmo de um catalisador, as molculas
reagem entre si ou com o agente de cura, estabelecendo ligaes transversais
que produzem complexas molculas tridimensionais, que so altamente estveis
temperatura e deformao. A cura pode ser induzida temperatura ambiente,
desde que sejam fornecidas as condies adequadas ao seu desencadeamento.
Os polmeros termoestveis geralmente apresentam melhor resistncia
temperatura, estabilidade dimensional, resistncia qumica e propriedades
eltricas superiores s dos termoplsticos.
12.2.3 - ADITIVOS
Para a produo de peas em material plstico so utilizados ingredientes
adicionais, com finalidades variadas, misturados resina previamente
moldagem. Entre esses ingredientes adicionais incluem-se, principalmente, os
seguintes: plastificantes, catalisadores, cargas, agentes de cura, corantes e
pigmentos, agentes de esponjamento, estabilizadores, retardantes de chama,
lubrificantes e agentes antiestticos
Plastificantes so, geralmente, produtos lquidos de alto ponto de fuso e
baixa taxa de evaporao, e de baixo peso molecular, que so adicionados s
resinas, em que devem ser solveis, a fim de melhorar seu comportamento
plstico. A adio de um ou mais plastificantes, em propores adequadas,
fornece ao produto composto que pode apresentar propriedades distintas da
resina original.
Carga ou enchimento um aditivo utilizado com finalidades especficas. A
serragem e ps-metlicos so utilizados para reforar e economizar resina.
Outros tipos de carga so tecidos, fibras de vidro e de carbono que tem por
objetivo tambm de melhorar as propriedades mecnicas. Mica e asbesto so
usados para melhorar caractersticas dieltricas.
Corantes e pigmentos tem a finalidade de conferir cores aos polmeros,
principalmente nos plsticos. Aditivos antioxidantes tem por objetivo retardar o
envelhecimento do plstico, ou seja, os plsticos tendem a se degradar com o
tempo quando esto expostos a ao de raios ultravioletas e da ao do oxignio.
A degradao torna os polmeros quebradios e porosos. Os lubrificantes tm a
finalidade de auxiliar no processo de moldagem, reduzindo a aderncia do
polmero s superfcies metlicas do molde.
Catalisadores so substncias qumicas que, adicionadas em pequena
quantidade, aumentam consideravelmente a velocidade das reaes qumicas ou
retardam uma reao que, em determinados casos, so inconvenientes.
Exemplos de catalisadores so o perxido de benzola e cido actico na
126
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
produo de PVC e nilon 66 respectivamente.
Agentes de cura so aditivos que servem para desencadear a reao de
cura dos termoestveis, quando a mesma pretendida. Eles possuem molculas
cujos terminais reagem com posies intermedirias ou terminais da cadeia
principal das molculas da resina, estabelecendo assim as ligaes transversais
que geram complexos tridimensionais. Ao contrrio dos catalisadores, que
estimulam as reaes sem participar das mesmas, os agentes de cura participam
ativamente da reao de cura. Por exemplo, a resina fenol-formaldedo obtida
no primeiro estgio da polimerizao pela reao condensada do fenol com o
formaldedo. A cura desencadeada, no segundo estgio, pela adio de
hexametileno-tetramina, que sob temperatura adequada (160 oC) e presso (7
MPa) se decompe em formaldedo e amnia. A amnia atua como catalisador, e
o formaldedo como agente de cura, estabelecendo as ligaes transversais numa
reao condensada.
+ n H2 O
n
Fenol
Formaldedo
Fenol-formaldedo
Amnia
2
Figura 12.10 Reao do baquelite.
Os retardantes de chama so adicionados por razes bvias de segurana,
visto que os polmeros tm por natureza a flamabilidade, com exceo do PVC e
de alguns elastmeros. Um destes agentes o trixido de antimnio usado em
materiais de construo e em fibras txteis, que reduz o risco de inflamao nos
polmeros. Os agentes antiestticos so aditivos que, quando empregados nos
polmeros, ajudam a reduzir as cargas eletrostticas na superfcie.
Os agentes de esponjamento so aditivos empregados na produo de
compostos polimricos como as espumas expandidas. Elas provocam a expanso
127
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
do polmero plastificado pela gerao de um gs, quando a temperatura
elevada, como conseqncia a decomposio do aditivo. A liberao deste gs
nitrognio ou dixido de carbono - deve coincidir com o momento de maior
plasticidade do polmero. Os agentes de esponjamento utilizados geralmente so
substncias orgnicas
nitrogenadas, como o
AZDN
(azobisdiisobutironitrila
), que se decompe na
forma:
Figura 12.11 Reao do agente de esponjamento.
12.2.4 PROPRIEDADES TRMICAS
Volume especfico
Uma massa de polmero mantida a temperatura suficientemente baixa,
relativamente dura, rgida, tenaz e quebradia, em virtude de apresentar pouca
mobilidade de suas molculas. As regies amorfas, nestas condies, se
comportam similar aos vidros (curva A-B-C-D), amorfo, figura 12.12. Aumentandose progressivamente a temperatura, passa por uma regio de transio,
conhecida como transio vtrea, em torno de uma temperatura tg que
caracterstico para cada polmero, a partir da qual as cadeias moleculares das
regies amorfas se afastam
e adquirem, aos poucos,
8
sua mobilidade. O material
D
dessas regies passa a
7
C
comportar-se como fluido
cada vez menos viscoso.
B
6
Alguns
polmeros
F
A
5
comportam-se com uma
E
regio brusca de variao
4
do
volume
especfico,
3
tornado-se fluido, com uma
temperatura
denominada
2
de moldagem ou fuso,
0
20
40 t
60
100
120
tm 80
g
(curva
E-F-C-D),
Temperatura
caracterstica de slido
semicristalino.
Figura 12.12 Curvas de volume especfico em funo da temperatura. A) regio vtrea; B)
regio viscosa; C e D) regio lquida com baixa viscosidade; E) regio com
cristalitos na regio vtrea; F) regio viscosa com cristalitos.
A maior mobilidade das cadeias moleculares pode, se o aquecimento for
lento e se o polmero for susceptvel de cristalizar, promover um momentneo
aumento do ndice de cristalinidade que prosseguindo o aquecimento torna a cair
este ndice, devido o aumento da mobilidade das cadeias. Enquanto isto, o
material se dilata progressivamente, mas de magnitudes diferentes nas regies
amorfas e cristalinas. A figura que segue mostra uma curva tpica do ndice de
cristalinidade em funo da temperatura para um polmero linear.
128
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
ndice de cristalinidade
Direitos autorais reservados
Prosseguindo o aquecimento, atinge-se uma temperatura tm, conhecida
como temperatura de
fuso cristalina, tambm
caracterstica para cada
5
tipo de polmero, na qual
desaparecem as regies
cristalinas e a partir da
4
qual o material passa a
comportar-se mais ou
menos como um lquido
3
viscoso. acima desta
temperatura que se pode
moldar o material. Mas se
2
a temperatura continuar a
aumentar, o polmero se
0
20
40
60
80
100
tm 120
tg
degrada ou queima, em
Temperatura
uma reao irreversvel.
Figura 12.13 Curva ndice de cristalinidade em funo da temperatura para um polmero
cristalino.
Certos materiais (polietileno, polipropileno) apresentam temperaturas de
transio vtrea bem abaixo das temperaturas ambientes usuais, e se
apresentam, por isso, como materiais flexveis. Materiais como policarbonatos e o
polistireno so frgeis e quebradios por que suas temperaturas de transio
vtrea se situam bem acima das temperaturas ambiente usuais. Estes materiais
no so adequados produo de fibras.
12.2.5 PROPRIEDADES MECNICAS
Tenso de ruptura trao (MPa)
Vrias propriedades mecnicas devem ser levadas em conta ao escolher
um material polimrico em um determinado projeto. Tenso de ruptura,
resistncia ao impacto, fluncia, resistncia abraso e fadiga so fundamentais.
Um material polimrico pode
sofrer deformaes progressivas
100
o
que podem afetar o desempenho
- 25 C
de uma determinada pea
80
quando submetidos a esforos
0 oC
mecnicos
a
temperaturas
60
ambiente. Por isso, perigoso
25 oC
40
projetar com dados de ensaios
50 oC
de curta durao. A figura ao
20
lado mostra o comportamento de
um mesmo material polimrico
0
submetido a ensaio de trao em
0
6
12
18
24
30
diferentes
temperaturas,
Deformao (%)
prximas da ambiente.
Figura 12.14 Comportamento ao ensaio de trao de um polmero linear.
129
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O comportamento dos plsticos ao impacto tambm bastante varivel e
fortemente dependente da temperatura e, com isso, a tenacidade deve ser levado
em conta nos projetos nas quais os mesmos podem ser submetidos a impactos.
Quanto resistncia fadiga, os plsticos so radicalmente distintos dos aos,
visto que os aos apresentam uma amplitude mxima de tenso de trabalho,
abaixo da qual no ocorre falha por fadiga, qualquer que seja o nmero de ciclos
de carga aplicada.
12.3 - PLSTICOS
Da mesma forma, a palavra plstico um termo geral que significa capaz
de ser moldado. Os materiais geralmente designados como plsticos no tem,
necessariamente, esta propriedade, mas apresentam esta propriedade em algum
momento da fabricao, quando foram moldados. Outros materiais como o ao e
o vidro tambm apresentam essa caracterstica e no so classificados como
plsticos. H, portanto, certa arbitrariedade na conceituao deste tipo de
material.
Os materiais plsticos so materiais artificiais, geralmente de origem
orgnica, que, em algum estgio de sua fabricao adquiriram condio plstica,
durante o momento de sua moldagem, atravs da ao de calor e presso, com o
emprego de molde. Materiais artificiais so aqueles provenientes de misturas e
reaes, sendo distintos dos materiais de ocorrncia natural (como madeira, areia
ou minrios). Materiais de origem orgnica sinttica resultam de processos
qumicos e de snteses, a partir de matrias primas orgnicas simples.
Vrios pesquisadores em meados de 1.800 procuravam um material para
substituir o marfim para fabricao de bola de bilhar. Em 1.862, Alexandre Parkes
patenteou sua inveno com nome de Parkesina que tratava-se de um material
celulsico (resduo de algodo) com cidos ntrico e sulfrico na presena de leo
de rcino. John Weley Hyatt, nos Estados Unidos da Amrica, em 1.870,
patenteou um processo alternativo de fabricao na qual substitua o leo de
rcino por cnfora, criando um produto que se tornou economicamente vivel, e
que denominou de Celulide. Durante vrias dcadas este material teve grande
utilizao na fabricao de pentes, bonecas, dentaduras artificiais, bolas de tnis
de mesa e filmes fotogrficos.
Leo Hendrik Baekeland, em 1.907, estudando a polimerizao e
condensao, conseguiu viabilizar um mtodo de reaes controladas de
polimerizao, sintetizando resina de fenol-formaldedo. Em vez de retardar a
polimerizao, ele acelerou o processo em autoclave a uma temperatura de 200
o
C. O produto obtido tinha cor de mbar, cuja superfcie detinha a impresso
exata do fundo da autoclave. Este produto posteriormente denominou-se de
Baquelite, com a vantagem de ser mais estvel e no inflamvel como os
primeiros. A partir deste perodo e, principalmente, aps a Segunda Grande
Guerra mundial, os polmeros tiveram avanos significativos.
130
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
As borrachas naturais ou sintticas possuem caractersticas que se
assemelham aos plsticos, mas tambm possuem caractersticas prprias que as
distinguem dos mesmos e por isto so denominados de elastmeros.
H mais de quarenta famlias de termoplsticos e dez diferentes famlias
bsicas de termoestveis entre os plsticos mais comuns de uso em engenharia.
Os copolmeros, misturas e verses quimicamente modificadas, ampliam o
nmero de materiais plsticos disponveis ao usurio. O uso de diferentes tipos de
aditivos gera uma variedade de produtos distintos, derivados de um mesmo
plstico bsico. Tcnicas de irradiao com ultravioleta, e outras tcnicas,
permitem alterar consideravelmente o comportamento de certos polmeros,
gerando novos produtos. Os plsticos mais comuns em engenharia podem ser
dividas em 19 famlias que so:
1. Poliolefinas
(resinas 2.
Policarbonatos
3.
Allicos
vinlicas)
4.
Acrlicos
5.
Poliimidas
6.
Aminoplsticos
7.
Celulsicos
8.
Polioximetilnicos 9.
Epoxdicos
10.
Fluoroplsticos
11.
Polissulfonas
12.
Fenlicos
13.
Polialmeros
14.
Polifenilnicos
15.
Silicones
16.
Poliamidas
17.
Polisteres
18.
teres
poliarlicos
19.
Poliuretanos
12.3.1 - POLIOLEFINAS
A frmula geral que representa a estrutura molecular desta famlia de
plsticos representada pela figura ao lado, onde X
representa um radical monovalente que caracteriza a
resina, e n indica o grau de polimerizao. O quadro
abaixo mostra alguma das poliolefinas mais comuns e
seus radicais.
Figura 12.15 Frmula geral da poliolefina.
Poliolefinas comuns
Polmero
Polietileno
Abreviatura
PE
Polipropileno
PP
Policloreto de vinila
PVC
Polistireno
PS
Radical X
131
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Poliacetato de vinila
PVAC
Polibuteno-1
PBT
Poli-4-metilpenteno- PMP
1
lcool polivinlico
PVAL
O polietileno (PE) um termoplstico tenaz usado na fabricao de
diversos brinquedos, filmes para embalagens, isolantes flexveis para cabos
eltricos e recipientes produzidos por injeo, extruso ou sopro. Sob presses
elevadas (1.000 a 2.000 atm) e temperaturas na faixa de 100 a 300 oC, obtm-se
o polietileno de baixa densidade (0,91 a 0,93) [molculas bastante ramificadas].
Com presses menores ( < 30 atm) e temperaturas de 40 a 150 oC, obtm-se o
polietileno de alta densidade (0,945 a 0,96) [molculas longas lineares]. O
polietileno de mdia densidade (0,93 a 0,945) obtido sob condies
intermedirias. O polietileno de peso molecular ultra elevado (PELUAPM)
caracterizado pela sua elevada viscosidade fuso, no sendo adequado para os
processos de injeo e extruso.
Polietileno de Alta Densidade PEAD - (CH2)n . Aplicaes: embalagens
finas, cabos e cordas para empacotamento, moldes para injeo canos e tubos,
tanques de combustvel para veculos automotores, etc. Processos: injeo,
extruso, termoformagem, sopro, usinagem, outros. Fornecedor: Ipiranga Qumica
IPQ, OPP, Polytech, Polialden.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 1,3 1,5 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,42
Dureza: D60 - D 70 Shore
Mdulo de cisalhamento: 0,3 0,46 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,8 1,6 GPa
Resistncia ao impacto: 150 - 200 (J/m, notao Izod), para PEAD de alta massa
molar. 025 - 080 (J/m, notao Izod), para PEAD de baixa massa molar.
Limite elstico: 20 - 28 (MPa)
Tenacidade a ruptura: 2,2 - 4 MPa.m1/2
Tenso de escoamento: 23 33,1 MPa
Tenso de compresso: 30 - 40 MPa
Tenso de ruptura por trao: 30 - 40 MPa
132
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades trmicas
Calor especfico: 2.200 J/kg
Dilatao trmica: 100 - 120 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,45 0,52 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 160 - 165 K
Temperatura mxima de servio: 340 - 370 K
Temperatura mnima de servio: 210 - 220 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: <0,01(%, espessura 1/8 polegada/24h)
Densidade: 0,941 0,965 gf/cm3
ndice de refrao: 1,54
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 2,3 2,4 (106 F/m)
Resistividade: 1,00 10,0 (1015 ohm.m)
Polietileno de Baixa Densidade PEBD - (CH2)n. Aplicaes: embalagens
de alimentos e de produtos de limpeza, sacos de lixo, sacolas plsticas,
plasticultura. Processos: injeo, sopro, laminao, outros. Fornecedor: Elf
Atochen, Ipiranga Qumica, OPP, PPH.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 3,5 - 4 %
Coeficiente de Poisson: 0,43 0,45
Coeficiente de atrito: 0,28 0,3
Dureza: D41 - D46 Shore
Mdulo de cisalhamento: 0,05 0,09 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,1 0,25 GPa
Resistncia ao impacto: No quebra.
Limite elstico: 6 - 10 MPa
Tenacidade a ruptura: 2 2,3 MPa.m1/2
Tenso de escoamento: 6,9 15,9 MPa
Tenso de compresso: 15 - 25 MPa
Tenso de ruptura por trao: 10 - 25 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.950 2.100 J/kg.K
Dilatao trmica: 180 - 200 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,29 0,35 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 180 - 185 K
Temperatura mxima de servio: 323 - 363 K
Temperatura mnima de servio: 210 - 220 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: <0,015 (%, espessura 1/8 polegada/24h)
Densidade: 0,91 0,93 gf/cm3
ndice de refrao: 1,51
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 2,25 2,35 (106 F/m)
Resistividade: 1,00 - 100 (1013 ohm.m)
133
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Polietileno tereftalato PET - (OOC-C6H4-COO-(CH2)2)n. Aplicaes:
garrafas de refrigerante, escovas. Processos: injeo, extruso, termoformagem,
sopro, spray, outros. Fornecedor: Rhodia, Du Pont, Bayer, Hoechst, GE, RhnePoulenc
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,65 - 3 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,43
Coeficiente de atrito: 0,2 0,4
Dureza: 140 - 210 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,83 1,1 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,2 3,5 GPa
Resistncia ao impacto: 15 - 35 (J/m; notao Izod)
Limite Elstico: 50 - 72 MPa
Tenacidade a Ruptura: 1,2 - 2 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 65 - 90 MPa
Tenso de ruptura por trao: 50 - 80 MPa
Propriedades Trmicas
Calor especfico: 1,40 1,60 (103 J/kg.K)
Dilatao trmica: 50 - 80 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,15 0,34 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 340 - 345 K
Temperatura mxima de servio: 388 - 430 K
Temperatura mnima de servio: 230 - 235 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,1 0,15 %
Densidade: 1,32 1,38 gf/cm3
ndice de refrao:
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3 3,6 (106 F/m, 23 oC)
Resistividade: 1,00 10,0 (1013 ohm.m)
O polipropileno (PP) - (CH2-CH-CH3)n - um plstico de caractersticas
similar ao do polietileno, sendo a densidade menor (0,905) com maior resistncia
ao calor. A temperatura de amolecimento de 160 oC, conferindo elevada
cristalinidade (como os polietilenos de alta densidade) e conseqentemente boa
resistncia mecnica. Aplicaes: fibras para tapetes, tecidos, embalagens,
sacolas, garrafas, ps de ventiladores, cabos de ferramentas e talheres, cadeiras
de piscinas, pedais de aceleradores, componentes automotivos. Processos:
injeo, extruso, termoformagem, sopro, usinagem, outros. Fornecedor: Amoco,
Chemicals, Exxon, Fina, Phillips, Rexene, Soltex, Thermofil, OPP, Elf Atochen,
Ipiranga Qumica, IPQ, Polibrasil.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 1 2 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,45
Coeficiente de atrito: 0,1 0,3
Dureza: 80 - 100 MPa
134
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Mdulo de cisalhamento: 0,5 0,6 GPa
Mdulo de elasticidade: 1 1,6 GPa
Resistncia ao impacto: 50 - 80 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 28 - 33 MPa
Tenacidade a ruptura: 1,9 2,1 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 40 - 45 MPa
Tenso de ruptura por trao: 25 - 40 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.920 2.100 J/kg.K
Dilatao trmica: 80 - 150 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,16 0,24 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 260 - 270 K
Temperatura mxima de servio: 370 - 380 K
Temperatura mnima de servio: 150 - 200 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,02 0,03 %
Densidade: 0,9 0,91 gf/cm3
ndice de refrao: 1,49
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,26 2,.4 (106 F/m)
Resistividade: 1,00 - 100 (1014 ohm.m)
xido de Polipropileno - PPO (Polipropileno-eter blenda poliestireno) (CH2-OHOCH3)n-(CH2-CH-C6H4)m . Aplicaes: bases de medidores eltricos,
paralamas e outros painis exteriores de automveis. Processos: injeo,
termoformagem, usinagem, outros. Taxa de reciclagem: 0.3 - 0.35
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,5 0,7 %
Coeficiente de Poisson: 0,35 0,4
Coeficiente de atrito: 0,33 0,36
Dureza: 120 - 180 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,7 0,9 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,4 2,5 GPa
Resistncia ao impacto: 120 - 200 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 40 - 60 MPa
Tenacidade a ruptura: 1,2 - 2 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 90 - 105 MPa
Tenso de ruptura por trao: 45 - 75 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.600 2.000 J/kg.K
Dilatao Trmica: 60 - 70 (10-6/K)
Condutividade Trmica: 0,16 0,22 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 208 - 238 K
Temperatura mxima de servio: 360 - 390 K
Temperatura mnima de servio: 230 - 235 K
135
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,05 0,25 %
Densidade: 1,06 1,08 gf/cm3
Flamabilidade: pssima
Constante dieltrica: 2,6 2,7 (106 F/m)
Resistividade: 1,0 - 10 (1015 ohm.m)
O policloreto de vinila (PVC) - (CH2-CH-Cl)n - e seus copolmeros um dos
mais importantes termoplsticos sintticos em uso. A resina deste plstico dura
e rgida, mas com introduo de modificadores permite amolecimento em
qualquer grau desejado. Tem como principal caracterstica a resistncia
combusto e dureza, mas tem baixa resistncia ao ataque de solventes orgnicos
clorados. Aplicaes: Telhas translcidas, divisrias, portas sanfonadas,
persianas, perfis, tubos e conexes para esgotos e ventilao, esquadrias,
molduras para tetos e paredes. Processos: injeo, extruso, termoformagem,
usinagem, outros. Fornecedor: Elf Atochen, Goldplast, Polymerpar, Trikem.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,1 3 %
Coeficiente de Poisson: 0,37 0,43
Dureza: R110
Mdulo de cisalhamento: 0,7 1,1 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,5 3,8 GPa
Resistncia ao impacto: 50 - 200 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 23 - 52 MPa
Tenacidade a ruptura: 1 - 4 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 32 - 80 MPa
Tenso de ruptura por trao: 27 - 70 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.000 1.100 J/kg.K
Dilatao trmica: 60 - 95 10-6/K
Condutividade trmica: 0,13 0,25 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 350 - 355 K
Temperatura mxima de servio: 348 - 365 K
Temperatura mnima de servio: 240 - 245 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,05 (%, espessura 1/8 polegada/24h)
Densidade: 1,34 1,52 gf/cm3
ndice de refrao: 1,52 - 1,55
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,7 3,3 (106 F/m)
Resistividade: 3.,16 10,0 (1013 ohm.m)
136
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O polistireno (PS) - (CH2-CH-C6H5)n - um plstico que tem como
caracterstica principal a elevada resistncia gua, dimensionalmente estvel e
boa moldabilidade. usado na fabricao de componentes de geladeiras,
conexes e assentos para vasos sanitrios, brinquedos e determinadas carcaas
de aparelhos. Pode ser moldado por injeo, termoformagem, moldagem qumica
e extruso. PS expandido: forros, isolamento acstico, trmico e caixas. O isopor
uma forma de espuma que bolhas pequenas de gs reduzem a densidade de 2
a 3% do valor original. Fornecedor: Pepasa, Ipubrs
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,015 0,02 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,43
Coeficiente de atrito: 0,25 0,3
Dureza: 90 - 120 MPa
Mdulo de cisalhamento: 1 1,2 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,9 3,3 GPa
Resistncia ao impacto: 20 - 25 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 30 - 32 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,8 0,9 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 40 - 45 MPa
Tenso de ruptura por trao: 30 - 40 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.200 1.440 J/kg.K
Dilatao trmica: 60 - 100 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,12 0,17 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 360 - 380 K
Temperatura mxima de servio: 355 - 368 K
Temperatura mnima de servio: 200 - 220 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,05 0,07 %
Densidade: 1,04 1,06 gf/cm3
ndice de refrao: 1,59 - 1,60
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,55 2,65 (106 F/m)
Resistividade: 6,31 15,8 (1013 ohm.m)
O polibuteno-1 ou polibutileno tereftalato (PBT) - (OOC-C6H4-COO-(CH2)4)n
- pode apresentar com diferentes arranjos estruturais, que afetam
substancialmente a resistncia mecnica (trao e dureza). A temperatura de
moldagem est na faixa de 165 a 180 oC. Aplicaes: Embalagens, circuitos.
Processos: injeo, extruso, usinagem, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 1,5 - 3 %
Coeficiente de Poisson: 0,35 - 0,4
Coeficiente de atrito: 0,25 - 0,3
Dureza: 105 - 165 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,7 - 0,85 GPa
Mdulo de elasticidade: 2 2,3 GPa
137
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Resistncia ao impacto: 40 - 55 (J/m, Izod)
Limite elstico: 35 - 55 MPa
Tenacidade a ruptura: 1,2 - 2 MPa.m1/2
Tenso de escoamento: 97 MPa
Tenso de compresso: 100 - 125 MPa
Tenso de ruptura por trao: 40 - 59 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1,60 2,00 ( 103 J/kg.K)
Temperatura de transio vtrea: 310 - 320 K
Temperatura mxima de servio: 390 - 395 K
Temperatura mnima de servio: 140 - 150 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,08 0,09 %
Densidade: 1,3 1,32 gf/cm3
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 3,3 - 4 (103 F/m)
Resistividade: 1,00 2,00 (1012 ohm.m)
Poliacetato de vinila (PVAC) bastante usado em pelculas de papis e
tecidos, adesivos e tintas de secagem rpida.
Poli-4-metilpentano-1 (PMP) tem grande aplicao na fabricao de
embalagens plsticas para aquecimento em microondas. Caracteriza-se por
apresentar alta transparncia, boas propriedades elsticas e temperatura de
amolecimento acima de 200 oC.
lcool polivinlico (PVAL) solvel em gua, mas insolvel em muitos
solventes orgnicos, por isto, usado na preparao de colas e agentes
separador em moldagem de peas de plsticos para evitar a adeso da resina ao
molde.
12.3.2 - POLICARBONATOS
So derivados do bisfenol A e do cido carbnico. PC - (O-C6H4-C-(CH3)2C6H4-O-CO)n.
138
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A frmula geral que representa a estrutura molecular desta famlia de
plsticos de origem dos polisteres representada pela figura ao lado.
Apresentam temperaturas de amolecimento acima de 200 oC. Tem boas
propriedades eltricas e mecnicas e estabilidade dimensional. Usado em
instrumentos cirrgicos, aparelhos eltricos,
Compact Disc, garrafas de gua, recipientes
para filtros, componentes de interiores de
avies, coberturas translcidas, divisrias ,
vitrines, etc. Processos: injeo, extruso,
termoformagem,
usinagem,
outros.
Fornecedor: Allcolor, Bayer Polmeros, GE
Plastic, Petropol, Mau, Quimpetrol, Re Plas, Uniflon.
Figura 12.16 Frmula policarbonato
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 1 1,3 %
Coeficiente de Poisson: 0,39 0,44
Coeficiente de atrito: 0,2 0,3
Dureza: 150 - 180 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,95 1,05 GPa
Mdulo de elasticidade:2 - 2.9 (GPa)
Resistncia ao impacto: 400 - 700 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 55 - 65 MPa
Tenacidade a ruptura: 3 3,3 MPa.m1/2
Tenso de escoamento:
Tenso de compresso: 100 - 120 MPa
Tenso de ruptura por trao: 56 - 68 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1,20 1,30 (103 J/kg.K)
Dilatao trmica: 40 - 75 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,14 0,22 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 420 - 425 K
Temperatura mxima de servio: 385 - 390 K
Temperatura mnima de servio: 140 - 150 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,65 0,7 %
Densidade: 1,2 1,22 gf/cm3
ndice de refrao: 1,584
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,9 3,1 (106 F/m)
Resistividade: 1 - 100 (1012 ohm.m)
139
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.3.3 - ALLICOS
So plsticos termoestveis, cuja resina mais importante o dialil-ftalato
(DAP). Com excelente estabilidade dimensional e alta resistncia eltrica,
entretanto, quando adicionado ps de metais nobres torna-se material condutor
eltrico ou magntico, dependendo do metal adicionado.
12.3.4 - ACRILICOS
So plsticos que constituem uma subclasse de poliolefnicas que tem
grande aplicao de uso domstico e industrial. As resinas mais importantes
desta famlia so: polimetacrilato de metila (PMMA); poliacrilonitrilo (PAN) e
copolmeros do acrilonitilo como acrilonitrilo-budadieno-estireno (ABS) e o
estireno-acrilonitrilo (SAN).
O polimetacrilato de metila - (CH3-CH2-C-COOCH3)n -, cuja frmula est abaixo, um produto no
cristalino com boas propriedades ticas. usado para
produo de dentaduras (resina de dentista), lentes,
rguas, embalagens e painis de propaganda. Processos:
injeo, usinagem, outros. Geralmente so moldadas a
partir de ps misturados com catalisador.
Figura 12.17 Polimetacrilato de metila.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,03 0,06 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,43
Coeficiente de atrito: 0,4 0,5
Dureza: 100 - 220 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,6 1,2 GPa
Mdulo de elasticidade: 1,8 3,2 GPa
Resistncia ao impacto: 20 - 22 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 35 - 70 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,8 1,3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 45 - 85 MPa
Tenso de ruptura por trao: 38 - 75 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.280 1.450 J/kg.K
Dilatao trmica: 62 - 105 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,13 0,21 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 370 - 375 K
Temperatura mxima de servio: 320 - 325 K
Temperatura mnima de servio: 150 - 200 K
140
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,2 0,4 %
Densidade: 1,15 1,2 gf/cm3
ndice de refrao: 1.5
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,6 3,2 (106 F/m)
Resistividade: 2 15,8 (1013 ohm.m)
O poliacrilonitrilo, cuja frmula segue abaixo, pode ser cristalizado
fornecendo
uma
fibra
sinttica
muito
resistente
mecanicamente e quimicamente. Uns dos principais usos
deste plstico so na confeco de cordas e tecidos nuticas
que podem ser combinados com o algodo. Usado tambm
com aditivo para o PVC e borrachas sintticas.
Figura 12.18 Poliacrilonitrilo.
O ABS um polmero que apresenta trs meros com seus respectivos
graus de polimerizao.
Apresenta
estabilidade
dimensional, resistncia
qumica e eltrica, com
faixa de temperatura de
40 oC e 115 oC.
Figura 12.19 ABS.
ABS - alto impacto - Aplicaes: Gabinetes e caixas domsticas, caixas de
televiso, telefones, batedeiras e liqidificadores, aspiradores de p, box para
chuveiros. Processos: injeo, usinagem, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,06 0,09 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,42
Coeficiente de atrito: 0,47 0,52
Dureza: 70 - 140 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,7 0,95 GPa
Mdulo de elasticidade: 1,8 2,7 GPa
Resistncia ao impacto: 200 - 400 (J/m, notao Izod)
Limite elstico: 27 - 55 MPa
Tenacidade a ruptura: 3 - 4 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 60 - 100 MPa
Tenso de ruptura por trao: 36 - 48 MPa
141
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.500 1.530 J/kg.K
Dilatao trmica: 70 - 95 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,14 0,22 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 370 - 375 K
Temperatura mxima de servio: 340 - 350 K
Temperatura mnima de servio: 150 - 200 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,3 0,32 %
Densidade: 1,02 1,1 gf/m3
Constante dieltrica: 2,4 2,9 (106 F/m)
Resistividade: 6,31 15,8 (1013 ohm.m)
ABS - mdio impacto - Aplicaes: gabinetes e caixas para objetos
domsticos, caixas de TV, telefones, aspiradores de p, banheiros. Processos:
injeo, usinagem, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,07 0,12 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,42
Coeficiente de atrito: 0,48 0,52
Dureza: 100 - 150 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,85 0,95 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,5 2,9 GPa
Resistncia ao impacto: 70 - 80 J/m
Limite elstico: 40 - 45 MPa
Tenacidade a ruptura: 2,9 3,4 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 55 - 60 MPa
Tenso de ruptura por trao: 45 - 48 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.500 1.510 J/kg.K
Dilatao trmica: 80 - 85 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,14 0,2 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 350 - 360 K
Temperatura mxima de servio: 358 - 370 K
Temperatura mnima de servio: 150 - 200 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,2 0,3 %
Densidade: 1,04 1,06 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 2,8 2,9 (106 F/m)
Resistividade: 1.00 (1014 ohm.m)
142
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O SAN apresenta alta resistncia mecnica, dureza e estabilidade
dimensional ao aquecimento. Aplicaes:
lentes para instrumentos, peas para
aspiradores e umidificadores, copos, corpos
para isqueiros, seringas mdicas, divises
para geladeiras, copos de liquidificadores e
bobinas para computadores. Processos:
injeo, usinagem, outros. Fornecedor:
Nitriflex .
Figura 12.20 SAN.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,022 0,05 %
Coeficiente de Poisson: 0,37 0,4
Coeficiente de atrito: 0,25 0,3
Dureza: 160 - 200 MPa
Mdulo de cisalhamento: 1,2 1,4 GPa
Mdulo de elasticidade: 3,2 3,6 GPa
Resistncia ao impacto: 20 - 22 (J/m, notao Izod)
Limite elstico: 65 - 70 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,8 - 1 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 80 - 85 MPa
Tenso de ruptura por trao: 65 - 85 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.300 1.500 J/kg.K
Dilatao trmica: 50 - 80 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,13 0,17 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 340 - 350 K
Temperatura mxima de servio: 360 - 365 K
Temperatura mnima de servio: 200 - 220 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,24 0,26 %
Densidade: 1,06 1,08 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3 3,1 (106 F/m)
Resistividade: 6,31 15,8 (1013 ohm.m)
12.3.5 - POLIIMIDAS
Apresentam temperatura de fuso cristalina elevada que s podem ser
moldados por processos especiais. Por isto so usados na forma de blocos para
usinagem e forjamento. Boas propriedades mecnicas em temperaturas elevadas
(450 oC) em curtos intervalo de tempo. Fabricao de engrenagens, mancais,
rolamentos, assentos de vlvula, anis de pisto, isolantes eltricos, peas de
motores, placas de circuitos impressos, adesivos.
143
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
(PI) - (N-(CO)2-C6H2-(CO)2-N-C6H4)n So termoplsticos obtidos pela reao
de um dianidrido aromtico com uma
diamina, cuja formula geral dado ao
lado. Processos: injeo, extruso,
usinagem, outros. Taxa de reciclagem:
0,05 0,1. Fornecedor: Du Pont,
Ensinger.
Figura 12.21 Poliimida.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,03 0,08 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,45
Coeficiente de atrito: 0,4 0,45
Dureza: 195 - 210 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,95 1,85 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,5 4,8 GPa
Resistncia ao impacto: 75 - 85 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 52 - 72 MPa
Tenacidade a ruptura: 1,5 2,5 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 80 - 140 MPa
Tenso de ruptura por trao: 70 - 100 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.120 1.130 J/kg.K
Dilatao trmica: 32 - 65 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,19 0,42 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 470 - 480 K
Temperatura mxima de servio: 520 - 590 K
Temperatura mnima de servio: 3 - 20 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,1 0,15 %
Densidade: 1,32 1,38 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3 3,6 (106 F/m, 23oC)
Resistividade: 1 10 (1013 ohm.m)
12.3.6 - AMINOPLSTICOS
Tem reao similar a das resinas fenlicas, onde inicialmente se formam
molculas lineares e posteriormente desenvolvida a reao de cura, quando
molculas se interencadeiam formando estrutura tridimensional. Os principais
plsticos desta famlia so: uria-formaldedo (UF) [artigos de iluminao, aditivos
na indstria de papel]; melamina-formaldedo (MF) [produo de louas] e anilinaformaldedo (AF) [blocos e faixas terminais de circuitos eltricos].
144
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.3.7 - CELULSICOS
So polmeros naturais encontrado na madeira, algodo, palha, etc., que
possui molculas grandes (n = 5.000). Devido as suas ligaes transversais, sua
moldabilidade dificultada. Da extrao da madeira, e aps sua purificao,
obtida a celulose qumica, com n = 1.000, que matria prima para muitas
resinas, entre as quais, cita-se o nitrato de celulose, acetato de celulose, acetobutirato de celulose e etil-celulose.
Nitrato de celulose (CN) Obtido do tratamento da celulose com cido
ntrico. O grau de nitratao pode ser variado, obtendo-se plsticos explosivos
que deve-se ter cuidado na moldagem. Utilizado para fabricao de bolas de tnis
de mesa.
Acetato de celulose (CA) obtido do tratamento da celulose com cido e
anidro acticos. Sem os problemas do anterior como sensibilidade temperatura
e facilidade a combusto, usado na fabricao de brinquedos, pelculas para
embalagens e filmes fotogrficos de segurana. empregado na forma de ps
para injeo. Um dos plsticos encontrados no comrcio o acetato.
Aceto-butirato de celulose (CAB) um ster misto da celulose,
resultando da reao da celulose qumica com misturas de anidridos actico e
butrico. Menos denso e mais resistente que o acetato de celulose intempries
do tempo.
Etil-celulose (EC) um termoplstico utilizado para situaes que deve
ocorrer impactos, devido a excelente tenacidade.
12.3.8 - POLIOXIMETILNICOS
(POM) Polmeros lineares do formaldedo, ( -CH2-O-)n, que podem ser
moldados por injeo ou extruso. Apresenta um elevado ndice de cristalinidade,
elevada resistncia trao (70 MPa) e rigidez flexo, excelente desempenho
fadiga e estabilidade dimensional.
12.3.9 - EPOXDICOS
So polmeros que se completam com agentes de cura (catalisadores). a
mistura da resina de epoxeto com agente de cura aminado. H vrios tipos de
radicais. Os adesivos epoxdicos do ligaes extremamente fortes de metal com
metal, alm de serem empregadas em vernizes de acabamento. Apresenta boa
resistncia a abraso.
145
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.3.10 - FLUOROPLSTICOS
So polmeros termoplsticos com o elemento mais ativo flor. Apresentam
boa estabilidade qumica, resistncia a temperatura elevada, baixo coeficiente de
atrito e excelentes propriedades dieltricas, mas apresentam baixa resistncia
mecnica. Dois tipos so de maior uso:
Politetrafluoretileno (PTFE) - (CF2)n - O PTFE foi descoberto em 1938 por
um qumico da Du Pont e patenteado em 1941 sob a marca registrada de
TEFLON. altamente cristalino com elevada resistncia ao calor. Temperado a
3300 oC, torna-se amorfo, transparente, tenaz e flexvel. Aplicaes: Vedaes
hidrulicas (hermticas para condensadores), gaxetas, embalagens, vlvulas,
transformadores isolados, revestimento de pra-quedas,
revestimento para panelas e ferros de passar, apoio para pontes
e tubulaes, isolante eltrico, anti-aderente. Processos: injeo,
extruso, spray, outros. Fornecedor: Enro, Incopol, Petropol,
Mau, Uniflon, Du Pont, Hoechst, ICI.
Figura 12.22 Frmula do teflon.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 2,5 - 3 %
Coeficiente de Poisson: 0,44 0,47
Coeficiente de atrito: 0,05 0,15
Dureza: 75 - 90 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,11 0,24 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,3 0,7 GPa
Resistncia ao impacto: 160 - 180 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 15 - 30 MPa
Tenacidade a ruptura: 2,5 - 3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 30 - 60 MPa
Tenso de ruptura por trao: 15 - 40 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.000 1.010 J/kg.K
Dilatao trmica: 100 - 150 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,19 0,25 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 293 - 295 K
Temperatura mxima de servio: 510 - 530 K
Temperatura mnima de servio: 10 - 20 (K)
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,01 0,015 %
Densidade: 2,1 2,18 gf/cm3
ndice de refrao: 1,35
Flamabilidade: excelente
Constante dieltrica: 2 2,1(106 F/m)
Resistividade: 1,00 10,0 (1016 ohm.m)
146
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
policlorotrifluoretileno (PCTFE) resistente umidade,
intempries, ataques de solventes e inflamao. A moldagem
se d a 260 oC, com temperatura de trabalho at 130 oC.
Figura 2.23 PCTFE.
12.3.11 - POLISULFONAS
So produzidos atravs de uma srie de reaes entre o bisfenol A e a 4-4diclorodifenilsulfona,
com
a
seguinte frmula geral:
Figura 12.24 - Polisulfona
Como termoplsticos rgidos, resistentes e dimensionalmente estveis,
suas propriedades podem ser melhoradas ainda com carga de fibra de vidro.
Exigem temperaturas da ordem de 350 a 400 oC para o processamento. Podem
ser soldados por pulsos de calor ou por ultra-som.
12.3.12 - FENLICOS
Tambm conhecido como baquelite,
sua resina pura resulta da reao do
formaldedo com o fenol e tem a frmula
estrutural como segue:
Figura 12.25 Fenlicos.
Essa resina pura moda a um p fino, na qual se adicionam cargas,
pigmentos e lubrificantes especficos de acordo com cada aplicao. A cura
desencadeada pela adio de hexametileno tetramina (C6H12N4), que nas
condies de 160 oC de temperatura e 72 kgf/cm2 se decompem em formaldedo
e amnia. Este ltimo funciona como catalisador, fazendo com que o formaldedo
gerado reaja com a resina, estabelecendo as reaes transversais entre as
molculas. A resina inicialmente se geleifica e posteriormente se torna dura e
infusvel, podendo ser ento removida do molde. Usa-se, como carga de reforo,
geralmente serragem, papel ou tecido picado, especialmente em cinzeiros e
caixas de instrumentos. Aplicaes: Condensadores eletrolticos, terminais para
lmpadas fluorescentes, soldas eletrnicas, equipamentos eltricos e mecnicos.
Processos: moldagem qumica, usinagem, outros.
147
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,01 0,02 %
Coeficiente de Poisson: 0,4 0,45
Coeficiente de atrito: 0,3 0,5
Dureza: 60 - 110 MPa
Mdulo de cisalhamento: 2,2 3,5 GPa
Mdulo de elasticidade: 6 9,5 GPa
Resistncia ao impacto: 24 - 25 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 40 - 50 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,8 1,3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 50 - 70 MPa
Tenso de ruptura por trao: 30 - 50 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.250 1.460 J/kg.K
Dilatao trmica: 30 - 44 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,16 0,36 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 400 - 420 K
Temperatura mxima de servio: 415 - 425 K
Temperatura mnima de servio: 180 - 200 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,8 0,9 %
Densidade: 1,24 1,38 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 7 9 F/m
Resistividade: 1,00 - 100 (1010 ohm.m)
12.3.13 POLIALMEROS
So variedades de poliolefinas que apresentam um comportamento
intermedirio ao polietileno de alta densidade e ao polipropileno, mas com melhor
desempenho a temperaturas baixas. Usados em conexes hidrulicas, caixas
para ferramentas com dobradias integrais, filmes e placas.
12.3.14 - POLIFENILNICOS
So termoplsticos de base fenlica. H duas resinas que tem grande
importncia comercial. O polixido de fenileno (PPO) que apresenta boa
estabilidade dimensional e propriedades mecnicas e eltricas e notvel
estabilidade hidroltica. Seu uso tem destaque nos utenslios domsticos e
instrumentos cirrgicos, onde se utiliza vapor de gua para esterilizao. O
polisulfeto de fenileno (PPS) que apresenta elevada resistncia qumica e
resistncia mecnica trao.
Tem tido aplicaes em recobrimento
termicamente estveis em conexes e tubulaes industriais.
148
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.3.15 - SILICONES
H vrios tipos de plsticos e elastmeros onde o mero no o principal
elemento de construo, ou seja, neste tipo de polmero o Si tem substitudo o C,
fazendo com que os compostos assim obtidos sejam similares aos carbonados,
mas com melhor resistncia ao calor e ao ar. Este efeito obtido atravs da
ligao ( Si O ), compostos deste tipo tem frmula geral RSiO e so
conhecidos como silicones. Pode ser usados como vernizes, pelculas, leos
lubrificantes, borrachas, etc.
SILICONE RGIDO (SIL) - ((CH3)2 SiO)n - Aplicaes: utilizado em
cpsulas de componentes eletrnicos, cobertas de proteo contra a abraso e
resistentes ao tempo. Processos: injeo, usinagem, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade:0,015 0,025 %
Coeficiente de Poisson: 0,37 0,4
Mdulo de cisalhamento: 1 1,3 GPa
Mdulo de elasticidade: 3 - 8 GPa
Limite elstico: 27 - 46 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,6 1,3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 40 - 150 MPa
Tenso de ruptura por trao: 27 - 46 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.050 - 1.280 J/kg.K
Dilatao trmica: 55 - 70 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,15 0,3 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 150 - 200 K
Temperatura mxima de servio: 510 - 540 K
Temperatura mnima de servio: 90 - 100 K
Propriedades fsicas
Densidade: 1,45 1,9 gf/cm3
Flamabilidade: boa
Constante dieltrica: 44 - 46 106 F/m
Resistividade: 1.00+21 - 1.00+22 (10-8 ohm.m)
12.3.16 - POLIAMIDAS
(PA) So termoplsticos desenvolvidos pela Du Pont e so mais
conhecidos como nilons (Nylon), contrao das palavras New York London.
Apresentam elevada resistncia trao, resistncia ao impacto e elevada
resistncia a abraso. Resistem a ao do leo, hidrocarbonetos e steres, mas
so amolecidos por lcoois, glicis e gua. Dentre os vrios nilons encontrados
no comrcio, quatro recebem grande importncia: o nilon 66, o nilon 610, nilon
6 e nilon 11.
NYLON 6 - (NH-(CH2)5CO)n - Aplicaes: Como reforo nas telhas
plsticas de fibra, em buchas para fixao, dobradias, engrenagens, vlvula de
149
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
regulagem de assento. Processos: injeo, extruso, termoformagem, usinagem,
outros. Fornecedor: Bayer Polmeros, Pepasa, Quimpetrol, Rhodia, Du Pont.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,6 0,65 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,42
Coeficiente de atrito: 0,2 0,3
Dureza: 100 - 120 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,58 0,79 GPa
Mdulo de elasticidade: 2,2 2,8 GPa
Resistncia ao impacto: 32 - 53 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 38 - 40 MPa
Tenacidade a ruptura: 2,3 2,5 MPa.m1/2
Tenso de Compresso: 40 - 45 MPa
Tenso de ruptura por trao: 40 42 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.400 - 1.600 J/kg.K
Dilatao trmica: 95 - 105 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,22 0,26 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 320 - 330 K
Temperatura Mxima de Servio: 370 - 420 K
Temperatura Mnima de Servio: 225 - 230 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 1,4 1,6 %
Densidade: 1,13 1,15 gf/cm3
ndice de refrao: 1,53
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3,6 3,8 (106 F/m)
Resistividade: 3,16 - 10 (1010 ohm.m)
NYLON 66 - (NH-(CH2)6-NH-CO(CH2)4CO)n - Aplicaes: tecidos, mancais,
engrenagens, carenagens. Processos: injeo, extruso, usinagem, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 0,6 2 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,42
Coeficiente de atrito: 0,2 0,3
Dureza: 140 - 160 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,39 0,46 GPa
Mdulo de elasticidade: 2 2,8 GPa)
Resistncia ao impacto: 43 - 53 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 56 - 58 MPa
Tenacidade a ruptura: 1,5 - 2 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 58 - 62 MPa
Tenso de ruptura por trao: 70 - 86 MPa
150
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.400 1.600 J/kg.K
Dilatao trmica: 80 - 95 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,2 0,25 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 360 - 365 K
Temperatura mxima de servio: 380 - 450 K
Temperatura mnima de servio: 235 - 240 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,8 1,6 %
Densidade: 1,13 1,15 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3,3 3,6 (10-6 F/m)
Resistividade: 6,31 - 20 (1010 ohm.m)
NYLON 11 - (NH-(CH2)10CO)n Propriedades mecnicas
Ductilidade: 3,1 3,2 %
Coeficiente de Poisson: 0,38 0,42
Coeficiente de atrito: 0,2 0,3
Dureza: 120 - 150 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,32 0,34 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,9 0,95 GPa
Resistncia ao impacto: 50 - 90 (J/m; notao Izod)
Limite elstico: 49 - 51 MPa
Tenacidade a ruptura: 1 1,5 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 51- 58 MPa
Tenso de ruptura por trao: 51- 53 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.650 1.700 J/kg.K
Dilatao trmica: 95 - 120 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,25 0,29 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 330 - 350 K
Temperatura mxima de servio: 350 - 400 K
Temperatura mnima de servio: 220 - 225 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,3 0,4 %
Densidade: 1,03 1,05 gf/cm3
Flamabilidade: regular
Constante dieltrica: 3 3,6 (106 F/m)
Resistividade: 6.,31 12,6 (1011 ohm.m)
151
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.3.17 POLISTERES E POLIURETANOS
Polieter-eter-cetona (PEEK) - (O-C6H4-O-C6H4-CO-C6H4)n Aplicaes: conectores eltricos, ventiladores, impelidores, componentes de
reatores nucleares, clulas de combustvel, dispositivos para quimioterapia,
ferramentas de cirurgia, revestimento de fios. Processos: injeo, usinagem,
outros. Taxa de reciclagem: 0,2 0,3. Fornecedor: Autotravi.
Poliester sulfona (PES) - (C6H4-SO2-C6H4-O-C6H4-C(CH3)2-C6H4-O)n Aplicaes: componentes eltricos, placas de circuitos impressos, componentes
mdicos e agrcolas, suportes para lmpadas fotogrficas, equipamentos de
laboratrio, tanques de esterilizao, instrumentos para medies, corpos de
vlvula, isoladores. Processos: injeo, extruso, outros. Taxa de reciclagem: 0,1
0,15. Fornecedor: Ensinger, BASF.
Poliester rgido - (OOC- C6H4-COO-C6H10)n Aplicaes: cubas, assentos. Processos: injeo, usinagem, outros.
Poliuretano flexvel PU - (CO-NH-R-NH-CO-O-R-O)n Aplicaes: esquadrias, molduras, chapas, revestimentos, filmes, estofamento de
automveis, em mveis, isolamento trmico de roupas impermeveis, isolamento
em refrigeradores industriais e domsticos, polias, correias. Processos: injeo,
extruso, moldagem qumica, outros. Fornecedor: Bayer, Resana, Brasppoly,
bolltrade, Poly-urethane, Petropol.
(PEEK)
(PES)
Poliester
rgido
(PU)
0,3 0,8
0,04 0,06
3,8 7,2
0,38 0,42
0,25 0,3
200 - 240
0,8 1,0
0,4 0,45
0,3 0,5
60 - 140
0,9 1,6
0,49 0,498
2,4 2,9
2,5 4,4
0,002 0,03
82 - 86
45 - 70
60 - 70
1,3 2,0
40 - 60
0,5 0,9
25 - 51
0,2 0,4
90 - 100
45 - 100
50 - 100
70 - 85
40 - 60
25 - 51
Propriedades mecnicas
Ductilidade (%)
0,045
0,048
Coeficiente de Poisson
0,38 0,43
Coeficiente de atrito
0,18 0,2
Dureza (MPa)
100 - 120
Mdulo de cisalhamento 1,2 1,4
(GPa)
Mdulo de elasticidade 3,7 3,9
(GPa)
Resistncia ao impacto
85 - 90
(J/m)
Limite elstico (MPa)
55 - 60
Tenacidade a ruptura 2,3 2,5
(MPa.m1/2)
Tenso de compresso
80 - 120
(MPa)
Tenso de ruptura por
70 - 100
trao (MPa)
152
0,007 0,08
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades trmicas
Calor especfico (J/kg.K)
1.500 1600
50 - 60
Dilatao trmica
(10-6/K)
Condutividade trmica 0,23 0,26
(W/m.K)
Temperatura
de 530 - 540
transio vtrea (GPa)
Temperatura mxima de 520 - 530
servio (K)
Temperatura mnima de 150 - 170
servio (K)
1.240 1.260 1.200 1.280 1.650 - 1.700
53 - 58
80 - 150
150 - 165
0,13 0,18
0,15 - 0.6
0,28 0,3
460 - 480
350 - 410
200 - 250
450 - 455
390 - 410
340 - 360
160 - 165
190 - 200
200 - 250
0,2 0,3
1,3 1,38
0,25 0,3
1,14 1,46
regular
3,5 3,6
regular
4,5 5,6
0,55 - 0,77
1,02 - 1,25
1,5 - 1,6
muito ruim
3,5 9,5
Propriedades fsicas
Absoro de gua (%)
0,15 0,30
3
Densidade (gf/cm )
1,29 1,32
ndice de refrao
Flamabilidade
regular
6
Constante dieltrica (10
3,2 - 3.3
F/m)
Resistividade
1,0 - 6,31
(1014
ohm.m)
3,16 12,6
(1014 ohm.m)
1,0 - 100
0,1 - 1000
10
(10 ohm.m) (1011 ohm.m)
Tenso de ruptura trao (MPa)
12.4 - ELASTMEROS
Elastmeros so polmeros que tem, como caracterstica principal, a
propriedade de exibir
elasticidade, ou seja, ao
100
ser submetido a uma
Comportamento frgil
determinada tenso ou
80
fora, o mesmo apresenta
um campo de deformao
60
elstico
bastante
Comportamento dctil
diferenciado dos outros
materiais,
que,
aps
40
cessado a fora ou tenso
que a deformou, o
20
Comportamento elstico
material volta as suas
dimenses
nominais
0
0
6
12
18
24
30
verificadas antes dos
Deformao (%)
esforos.
Figura 12.26 Comportamento ao ensaio de trao de polmeros.
153
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A figura acima mostra situaes de comportamento de trs polmeros
temperatura ambiente, onde um apresenta somente regime elstico de
deformao, mas de comportamento frgil, um segundo apresenta regime elstico
e plstico de deformao com comportamento dito dctil e um terceiro, que
objeto de estudo nesta seo, apresentando regime elstico de deformao, na
sua quase totalidade (elastmeros).
Desta forma, os materiais polimricos apresentam comportamento
mecnico bastante varivel, por exemplo, um material termoestvel como o
polimetacrilato de metila apresenta um comportamento to frgil que se
assemelha com materiais cermicos, entretanto, materiais termoplsticos
parcialmente cristalinos apresentam comportamento dcteis similares aos aos de
baixo carbono e os elastmeros apresentam comportamento atpico. Todos
relativos a ensaios de trao. Em virtude deste comportamento atpico trao,
os elastmeros so freqentemente usados em mquinas e equipamento com
objetivo de reduzir vibraes tanto acstica como mecnicas, alm de,
geralmente, serem timos isolantes eltricos.
Os elastmeros tm sua origem do ltex da seiva da seringueira (Hevea
brasiliensis), planta da Amaznia que Charles Goodyear descobriu, por acaso em
1.839, ao deixar cair uma mistura de ltex com enxofre sobre uma chapa quente
de fogo, propriedades elsticas deste material. Era a descoberta da
vulcanizao. Com a inveno do automvel, e por volta de 1.880, ingleses
passaram a explorar a seringueira cultivando mudas da planta na Indonsia e em
Filipinas. Os ndios amazonenses j usavam o ltex como elemento de vedao
em canoas e em determinados jogos esportivos.
A borracha produto da polimerizao do isopreno, cujo mero apresenta a
frmula abaixo. A borracha elstica,
resistente abraso, eletricidade e
gua, mas se altera na presena de luz,
calor e a muitos leos e solventes
(gasolina,
querosene,
etc.).
A
vulcanizao, que um processo
termoqumico por enxofre (2 a 4%) a
temperatura em torno de 110 oC,
realizado em autoclaves, torna-a mais
elstica e insolvel.
Figura 12.27 Polisopreno.
So muito poucos os produtos industrializados de borracha pura. Alm de
aditivos e cargas, as borrachas industriais podem conter 30, 60, 90% de
polisopreno alm de polmeros do tipo elastmeros sintticos.
O uso de aceleradores de vulcanizao e de antioxidantes ajudou a
melhorar as propriedades da borracha natural, mas as pesquisas em busca de
borrachas sintticas levaram a descoberta do neopreno (1.936) nos Estados
Unidos da Amrica e da Buna (1.931) na Alemanha. Dois tipos levaram
importncia: o buna-S (copolmero de estireno-butadieno) ou SBR e o buna-N
154
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
(copolmero de butadieno-acrilonitrila). Os SBRs contm cerca de 75% de
butadieno e 25% de estireno e so as borrachas sintticas mais comuns no
mercado.
As borrachas sintticas tm as mesmas propriedades das borrachas
naturais quanto a vulcanizao, solubilidade em solventes, resistncia gua,
eletricidade, mas apresentam melhor resistncia a leos, calor e luz.
Estireno-butadieno SBR (CH2-C(CH3)-C(CH3)-CH2)n
Aplicaes:
Pneus,
bandas
de
recapagem,
solados,
mangueiras,
correias, peas tcnicas calandradas
ou extrudadas, artigos mdicoshospitalares e peas para a indstria
automotiva. Processos: vulcanizao,
injeo, outros.
Figura 12.28 SBR.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 4,5 5 %
Coeficiente de Poisson: 0,48 0,496
Coeficiente de Atrito: 0,3 0,6
Dureza: 12 - 21 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,0007 0,0033 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,002 0,01 GPa
Resistncia ao impacto: No se aplica
Limite elstico: 12 - 21 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,1 0,3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 14,4 25,2 MPa
Tenso de ruptura por trao: 12 - 21 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 2.000 2.200 J/kg.K
Dilatao trmica: 660 - 675 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,143 1,48 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 210 - 215 K
Temperatura mxima de servio: 383 - 393 K
Temperatura mnima de servio: 210 - 215 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,07 0,09 %
Densidade: 0,94 0,95 gf/cm3
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 2,5 3 V/m
Resistividade: 5,01 7,94 (1013 ohm.m)
Copolmero de etileno propileno EPDM - (CH2-CH2-CH(CH3))n Aplicaes: mancais, isolantes vibratrios. Processos: vulcanizao, injeo,
outros.
Propriedades mecnicas
155
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Ductilidade: 1 - 7 %
Coeficiente de Poisson: 0,48 0,495
Coeficiente de atrito: 0,3 0,6
Dureza: 3.4 - 24 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,0002 0,007 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,0007 0,021 GPa
Resistncia ao impacto: No se aplica
Limite elstico: 3.,4 - 24 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,1 0,3 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 4,08 28,8 MPa
Tenso de ruptura por trao: 3,4 - 24 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 2.000 2.200 J/kg.K
Dilatao trmica: 550 - 590 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,14 0,17 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 198 - 223 K
Temperatura mxima de servio: 445 - 455 K
Temperatura mnima de servio: 206 - 226 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,01 0,012 %
Densidade: 0,86 0,87 gf/cm3
Flamabilidade: muito ruim
Constante Dieltrica: 2,2 - 3 V/m
Resistividade: 1,00 - 10 (1016 ohm.m)
Copolmero de etileno acetato de vinil - EVA - (CH2)n-(CH2-CHR)n Aplicaes: Brinquedos flexveis, viseiras, chinelos, filmes para revestimento,
chapus, mouse pads. Processos: injeo, extruso, outros. Taxa de reciclagem:
0,02 0,04
Propriedades mecnicas
Ductilidade:7,3 7,7 %
Coeficiente de Poisson: 0,47 0,49
Coeficiente de atrito: 0,34 0,83
Dureza: 40 - 55 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,008 0,01 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,02 0,03 GPa
Resistncia ao impacto: No se aplica
Limite elstico: 16 - 17 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,5 0,7 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 20 - 30 MPa
Tenso de ruptura por trao: 16 - 17 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 2.000 2.200 J/kg.K
Dilatao trmica: 160 - 190 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,3 0,4 W/m.K
Temperatura de transio vtrea:
Temperatura mxima de servio: 320 - 325 K
Temperatura mnima de servio: 150 - 200 K
156
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,05 0,15 %
Densidade: 0,945 0,955 gf/cm3
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 2,9 2,95
Resistividade: 31,6 - 100 (1012 ohm.m)
Isopreno - (CH2-C(CH3)-CH-CH2)n - Aplicaes: pneus de carros, tubos
internos, fechos, cintos, instalaes anti-vibrao, instalaes eltricas, sapatos.
Processos: vulcanizao, injeo, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 5 5,5 %
Coeficiente de Poisson: 0,499 0,4995
Coeficiente de atrito: 0,3 0,6
Dureza: 23 - 25 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,0004 0,0006 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,0017 0,002 GPa
Resistncia ao impacto: No se aplica
Limite elstico: 23 - 24 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,07 0,1 MPa.m1/2
Tenso de compresso: 23 - 25 MPa
Tenso de ruptura por trao: 23 - 24 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 1.800 2.500 J/kg.K
Dilatao trmica: 150 - 450 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,08 0,14 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 190 - 195 K
Temperatura mxima de servio: 370 - 390 K
Temperatura mnima de servio: 220 - 230 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,1 0,2 %
Densidade: 0,93 0,94 gf/m3
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 2,5 3 V/m
Resistividade: 1 - 10 (107 ohm.m)
Policloroprene NEOPRENE - (CH2-CCl-CH2-CH2)n - Aplicaes: Roupas
impermeveis de mergulho. Processos: injeo, outros.
Propriedades mecnicas
Ductilidade: 1 - 8 %
Coeficiente de Poisson: 0,48 0,495
Coeficiente de atrito: 0,3 0,6
Dureza: 3.4 - 24 MPa
Mdulo de cisalhamento: 0,0002 0,007 GPa
Mdulo de elasticidade: 0,0007 0,002 GPa
Resistncia ao impacto: No se aplica
Limite elstico: 3,4 - 24 MPa
Tenacidade a ruptura: 0,1 0,3 MPa.m1/2
157
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Tenso de compresso: 3,72 28,8 MPa
Tenso de ruptura por trao: 3.4 - 24 MPa
Propriedades trmicas
Calor especfico: 2.000 2.200 J/kg.K
Dilatao trmica: 605 - 625 (10-6/K)
Condutividade trmica: 0,1 0,12 W/m.K
Temperatura de transio vtrea: 225 - 230 K
Temperatura Mxima de Servio: 375 - 385 K
Temperatura Mnima de Servio: 220 - 225 K
Propriedades fsicas
Absoro de gua: 0,1 0,2 %
Densidade: 1,23 1,25 gf/cm3
Flamabilidade: muito ruim
Constante dieltrica: 6,7 8 V/m
Resistividade: 1,00 - 10000 (1011 ohm.m)
12.5 POLMERO NATURAL - MADEIRA
A madeira um dos mais antigos materiais utilizados pelo homem que
possui como vantagens, dentre
outras,
o
fato
de
ser
relativamente leve e resistente,
ser
de
fcil
desdobro,
apresentar
uma
esttica
agradvel e possuir boas
caractersticas isolantes. As
principais desvantagens da
madeira como material de
fabricao a instabilidade
dimensional (a madeira incha,
empena e racha conforme
variaes de umidade e
temperatura
ambiente),
fragilidade no sentido contrrio
s fibras e susceptvel ao
ataque de predadores.
Figura 12.29 Uso da floresta.
158
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Atualmente o uso das madeiras naturais est bastante limitado em funo
da crescente conscientizao ambiental. Com o surgimento do conceito de
desenvolvimento sustentvel (a partir de 1987), e chegada das normas da srie
ISO 14.000, a madeira proveniente das florestas nativas est sendo cada vez
mais substituda por produtos de reflorestamento ou pelas chamadas madeiras
transformadas.
O quadro abaixo mostra alguns tipos de rvores utilizado na indstria
moveleira.
Madeira
Balsa
(Ochromae
pyramidale)
Pinus (Pinus elliot)
-
Pinheiro
(Araucarie
angustifclia)
Pau-marfim
(Baltourodendro riede- lianum)
-
Cerejeira
(Amburana
cearensis)
Imbuia
(Ocotea
porosa)
Caractersticas
branco, creme, rosado
ou acinzentado;
textura e brilho
acetinados;
gr direita e fibra
esponjosa.
amarelo claro;
aroma suave;
veios de manchas
escuras;
textura lisa e fina;
gr direita.
branco-amarelado ou
tom rosado;
veios avermelhados;
gro direita;
textura fina e uniforme;
superfcie lisa;
cheiro pouco intenso.
palha amarelado;
gr irregular;
textura fina e uniforme;
cheiro imperceptvel e
gosto amargo;
compacta e de poros
fechados.
bege amarelado ou bege
rosado;
gr direita e irregular;
lustrosa e lisa ao tato;
cheiro acentuado;
gosto adocicado.
cor do pardo-claro
amarelado ao pardo
escuro;
veios paralelos;
rica em desenhos;
159
Propriedades
leve e porosa;
frgil e macia;
lasca facilmente;
fcil de trabalhar; isolante trmico e
sonoro.
porosa e macia;
baixa resistcia;
rpido
crescimento;
fcil desdobro;
fcil de trabalhar;
mdia
durabilidade.
madeira leve;
baixa resistncia
ao apodrecimento
e ao ataque de
cupins;
tenra e fcil de
trabalhar.
resistncia
mecnica mdia;
baixa resistncia
a organismos
xilfagos;
massa especfica
e dureza
elevadas.
massa especfica
elevada;
dureza mdia;
boa durabilidade;
fcil de trabalhar;
retratilidade
baixa.
pesada e dura;
resistente ao
ataque de
organismos
xilfagos;
Aplicaes
aeromodelismo;
maquetes, decorao
teatral;
construo de balsa e
jangada, bias e
salva-vidas;
forrao de
refrigeradores.
mveis;
construo civil;
aglomerado;
compensado;
pasta celulsica;
artigos esportivos.
forros, instrumentos
musicais;
pasta de celulose;
peas torneadas;
cabos de vassoura;
palitos de fsforo e de
sorvete.
mveis, laminado
decorativo, peas
torneadas;
construo civil;
ferramentas (cabo);
metro para medio.
mveis de luxo;
folhas decorativas;
cabos de machado;
bengalas, cachimbos;
instrumentos musicais.
esquadrias e portas;
marcenaria de luxo;
assoalhos, entalhes e
venezianas;
postes e dormentes;
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Mogno
(Swietenia
macro-phyfla)
-
pouco brilho;
textura fina;
gr ondulada.
castanho avermelhado;
cheiro e gosto
imperceptveis;
textura mdia e
uniforme;
veios em espiral, em
ondas ou em lgrimas;
alto brilho e gr direita.
boa durabilidade;
fcil de trabalhar;
mdia resistncia
mecnica;
alto polimento.
pesada, dura e
compacta;
consistncia
finssima;
resistncia
adequada ao
apodrecimento e
ao ataque de
cupins;
fcil de trabalhar.
coronhas de armas de
fogo, peas torneadas
e instrumentos
musicais.
mveis, lambris,
painis, persianas;
folhas decorativas e
contraplacados;
rodaps, divisrias,
guarnies e forros;
pisos e utenslios de
cozinha.
Alm destas, diversas outras espcies de madeiras naturais podem ser utilizadas
para produtos diversos:
Angelim: acabamentos internos, construes externas, esquadrias, folhas
faqueadas, tacos e tbuas para assoalhos, vages, carrocerias,
dormentes, etc. moderadamente permevel s solues preservantes. E
em ensaios de laboratrio, demonstrou ser de alta resistncia ao ataque de
organismos xilfagos. Cerne de cor castanho-amarelado quando recmpolido, escurecendo para castanho-escuro-amarelado com exposio ao
ar, diferenciado do albumo de cor branco-rosado, com aproximadamente
4,0 cm de largura.
Angico (Peptadenia paniculata Betham): fabricap de tabuados, moures,
vigas, cabos de ferramentas e outros. Tem baixa durabilidade, porm
bem permevel ao tratamento preservativo.
Aroeira do Serto ou Urundeva (Astronium urundeuva): construes
externas, como vigamentos de pontes, estacas, postes, esteios, moures,
dormentes; em construo civil, como vigas, caibros, ripas, tacos para
assoalhos, peas torneadas. Alta resistncia ao apodrecimento e ao
ataque de cupins de madeira seca, tendo seus vasos excessivamente
obstrudos por tilos e leo-resina e fibras de lume extremamente reduzido.
Em tratamentos severos sob presso, demonstrou ter permeabilidade
extremamente baixa s solues preservantes. Cerne de cor bege-rosado
ou castanho-claro, quando recm-cortado, escurecendo para castanho ou
castanho-avermelhado-escuro; alburno diferenciado, branco levemente
rosado.
Cabriva-parda (Myrocarpus frondosus): mveis, folhas faqueadas
decorativas para painis, lambris; em construo civil, como vigas, caibros,
ripas, portas, janelas e marcos, tbuas e tacos para assoalhos, peas
torneadas; em construes externas, como dormentes, cruzetas, postes,
moures, degraus de escada, etc.. Resistente ao ataque de organismos
xilfagos, de baixa permeabilidade s solues preservantes. Cerne de cor
varivel, do pardo-claro-rosado ao pardo-escuro-rosado ou acastanhado;
alburno nitidamente diferenciado, branco-amarelado.
Canela - Sassafrs (Ocotea pretiosa): fabricao de mveis, molduras,
embalagens, embarcaes, no acabamento interno, na construo civil, e
outros.
160
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Candeia ou Cambar (Moquinia polymorpha): construes externas,
entalhes, esquadrias e peas torneadas. Alta resistncia ao ataque de
organismos xilfagos, pouco permevel a solues preservantes. Cerne
recm-polido apresenta-se amarelo-claro, escurecendo para bege-claro
com manchas amareladas, tendendo para castanho-claro levemente
rosado, uniforme; alburno destacado, branco-cinza.
Cedro: indicada para partes internas de mveis finos, folhas faqueadas
decorativas, embalagens decorativas, molduras para quadros, modelos de
fundico, obras de entalhe, artigos de escritrio, instrumentos musicais,
venezianas, rodaps, guarnices, cordes, forros, lambris, em construco
naval como acabamentos internos decorativos, casco de embarcaces
leves, cabos de vassouras, etc.. Resistncia moderada ao ataque de
organismos xilfagos, baixa permeabilidade s solues preservantes.
Cerne variando do bege-rosado-escuro ou castanho-claro-rosado, mais ou
menos intenso, at o castanho avermelhado.
Ip-Roxo ou Ip-Una (Tabeuia impetiginosa): acabamentos internos;
artigos de esportes, bolas de bocha e boliche, cabos de ferramentas e
implementos agrcolas, construes externas (estruturas, dormentes),
cruzetas, esquadrias, lambris, peas torneadas, tacos e tbuas para
assoalhos, vages, carrocerias e instrumentos musicais, degraus de
escada, e outros. Resistente ao ataque de organismos xilfagos. Cerne
pardo acastanhado ou pardo-hava-claro, geralmente uniforme, s vezes
com reflexos esverdeados. Demostrou ser impermevel s solues
preservantes.
Jatob (Hymenea stilbocarpa Hayne): utilizado na construo civil,
carpintaria em geral, implementos agrcolas, construes externas,
carrocerias, vages, mveis, artigos de esporte, pisos e outros. Alburno
espesso branco ligeiramente amarelado; cerne varivel, desde o castanhoclaro rosado ao castanho avermelhado, com tonalidade mais ou menos
intensa.
Peroba Rosa (Aspidosperma polyneuron): utilizada em construco civil,
como vigas, caibros, ripas, marcos de portas e janelas, venezianas, portas,
portes, rodaps, molduras, tbuas e tacos para assoalhos, degraus de
escadas, mveis pesados, carteiras escolares, folhas faqueadas,
construco de vages, carrocerias, dormentes, frmas para calcados.
Sucupira-parda ou Sucupira-preta (Bowdichia virgilioides): pode ser usada
para folhas faqueadas decorativas, mveis de luxo, esquadrias,
acabamentos internos, como tacos e tbuas para assoalhos e labris, em
construes esxternas, como vigas, caibros, ripas, cruzetas, dormentes,
pontes, etc. Resistente ao ataque de organismo xilfagos, mpermevel ou
pouco permevel s solues preservantes. Cerne variando de pardoacastanhado ou castanho escuro, com numerosos e largos riscos mais
claros, correspondendo s linhas vasculares envolvidas pelo parnquima
axial, alburno nitidamente demarcado, branco levemente amarelado.
161
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.5.1 - MADEIRAS TRANSFORMADAS
As madeiras transformadas so
fabricadas atravs da alterao da
estrutura fibrosa orientada do material,
visando a correo das caractersticas
negativas. Os tipos mais comuns so
atravs da reaglomerao de madeira
reduzida a fibras (chapadura), da
reaglomerao de madeira reduzida a
fragmentos,
aparas,
lascas,
etc.
(aglomerados), da aglomerao por
colagem de finas lminas desdobradas
(laminados
compensados)
e
da
aglomerao de fibras de madeiras de
mdia densidade (MDF). Os nomes de
cortes podem variar de regio para
regio,
mas
as
medidas
so
consideradas padres, principalmente
em situaes de corte para exportao.
Figura 12.30 Cortes da madeira.
Entre as vantagens da utilizao das madeiras transformadas destacamse: a homogeneidade de composio no carter fsico e mecnico, melhoria de
propriedades como a retratilidade, peso especfico, resistncias ao cisalhamento
e ao fendilhamento, etc., aproveitamento integral do material lenhoso contido nas
rvores, possibilidade de obteno de chapas de grandes dimenses e maior
estabilidade dimensional.
A madeira aglomerada so placas de madeira desfibradas e secas, cujas
partculas so coladas entre si por meio de aglutinantes ( base de uria e
formol). bastante indicado para a fabricao de mveis em geral, copas,
cozinhas, armrios, embutidos, etc.
O MDF (Mdium Density Fiberboard) fabricado atravs de troncos
selecionados que, aps descascados, so fragmentados e desfibrados. As fibras
so misturadas com resina de uria-formaldedo, e so levadas por meio
pneumtico para uma mquina formadora, onde, na sequncia, so prensados. O
produto final apresenta peso especfico na ordem de 700 a 750 kg/m3, com
espessura que varia de 9 a 30 mm.
162
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
12.5.2 - TRATAMENTO SUPERFICIAL
Os tratamentos superficiais objetivam melhorar o aspecto do material
utilizado e tambm proteg-lo contra possveis agresses do meio que o cerca.
Alguns tratamentos so mais especficos para determinadas espcies de
madeiras naturais, outros so mais aconselhados para usos em madeiras
transformadas. Logo, aconselhvel um estudo completo das caractersticas da
madeira e do tipo de tratamento superficial que se pretende aplicar, antes da
execuo do trabalho propriamente dito.
Inicia-se o preparo da madeira pelo lixamento, executado
preferencialmente sempre no mesmo sentido, para evitar arranhes. As lixas
devem ser usadas gradualmente, da mais grossa mais fina.
Durante o preparo da superfcie deve-se observar a presena de defeitos, tais
como:
manchas de leo ou graxa: podem ser removidas com nafta ou benzina;
fendas e/ou furos: podem ser eliminados atravs de massa corrida acrlica
(ou a leo para madeiras), cimento de madeira, betume ou resina; e
depresses: utiliza-se uma estopa de algodo molhada em gua quente,
que estufar as clulas da madeira.
Completa-se a etapa de preparo da superfcie com um novo lixamento,
seguido pela remoo do p (com escova fina) e aplicao de uma demo de
selador.
12.5.3 - TIPOS DE ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS PARA MADEIRA.
polimento com cera: confere brilho e maciez, mas, susceptvel a
manchas por contato com a pele e pouco resistente ao calor. Seu
principal uso so superfcies decorativas ou que no sero manuseadas.
envernizamento: os vernizes formam uma pelcula protetora transparente.
Os mais comuns so goma-laca, nitrocelulose, poliuretano e polister.
O verniz goma-laca indicado para reparar mveis antigos ou harmonizar
uma pea com outras j existentes em um ambiente. Promove um acabamento
liso e brilhante que, pode danificar-se em contato com lquidos ou com o calor.
O verniz de nitrocelulose o mais utilizado na indstria moveleira e seu
acabamento pode ser incolor, tingido, brilhante ou fosco. Como qualidades
apresenta um tempo curto de secagem, boa aderncia, boa flexibilidade e
resistncia satisfatria para emprego em ambientes internos ( utilizado sobre
uma demo de selador nitro).
O verniz de poliuretano usado em pisos, tetos, madeiras e mveis. Em
contrapartida baixa resistncia luz e a um longo tempo de secagem,
apresenta grande durabilidade, boa flexibilidade, maior brilho, boa resistncia
fsica e qumica, resistncia ao calor, a gua, aos lcoois e a abraso. indicado
para cozinhas e banheiros e tanto pode ser usado como verniz de cobertura
quanto como selador.
163
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O verniz de polister forma uma pelcula dura e transparente e apresenta
uma elevada resistncia qumica e fsica (atrito). Seu principal uso a correo
de riscos superficiais.
laqueao: pintura aplicada com pistola, confere uma aparncia lisa e
espelhada na superfcie, onde os veios da madeira ficam totalmente
escondidos.
leos: a aplicao de leos (linhaa, teca, peroba e cerejeira), proporciona
bom acabamento, sendo mais apropriados para madeiras escuras. Os
leos formam um filme resistente e fosco (no encobrem a textura, mas
escurecem a madeira). So resistentes gua e, com o uso contnuo,
promovem um aumento na resistncia ao choque.
tingimento: aplicao do tingidor, base de gua ou solvente, sobre o
substrato. Com a evaporao da parte lquida, o corante deposita-se na
camada superior da madeira. O tingimento pode ser translcido (permite a
apreciao dos veios da madeira) ou opaco (os pigmentos bloqueiam a
visualizao dos veios). Os elementos pigmentados possuem as mesmas
caractersticas dos vernizes.
esmalte poliuretano: essas tintas formam pelculas estruturalmente duras
e resistentes qumica, fsica e mecanicamente. Por isso, so indicados
para o mobilirio de quartos de crianas e de cozinha. Permitem
acabamento de alto brilho ou fosco e possuem boa aderncia em madeiras
resinosas (que no so boas para vernizes, do tipo polister e
nitrocelulose).
clareamento ou alvejamento: tcnica para descolorir a madeira, sendo o
alvejante mais usado o perxido de hidrognio misturado com amnia.
ptina: a denominao das texturas que apresentam efeitos de
envelhecimento. Consiste basicamente em cobrir os veios naturais da
madeira com tinta esmalte, PVA ou emborrachado automativo e com uma
estopa embebida em solvente d-se o efeito de manchado.
A operao consta dos seguintes passos:
1. Passar a lixa n0 60 sobre a pea at
tirar todo o verniz e aps, limp-la
com o pano;
2. Distribuir a massa corrida, com a
esptula, sobre as imperfeies.
Esperar secar por quatro horas.
Para retirar os excessos e nivelar a
madeira, usa-se a lixa n0 180. Aps
o lixamento, limpa-se a pea
novamente;
3. Antes da pintura, visualiza-se as
vrias superfcies da pea e
trabalha uma por vez, de cima para
baixo. Com a ajuda do rolo, passase uma demo de tinta ltex branca
e espera-se secar por duas horas.
Figura 12.31 Efeito ptina.
164
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4. Antes da pintura, visualiza-se as vrias superfcies da pea e trabalha uma
por vez, de cima para baixo. Com a ajuda do rolo, passa-se uma demo de
tinta ltex branca e espera-se secar por duas horas. Se ainda houver
imperfeies, deve-se repetir o procedimento com a massa corrida;
5. Quando a superfcie estiver bem lisa, passa-se uma segunda demo de
tinta branca, e espera-se mais duas horas;
6. Logo aps, mergulha-se bem o rolo (lavado) na tinta da cor escolhida e,
sem retirar o excesso, aplica-o sobre o mvel;
7. Com a tinta ainda fresca, passa-se a palha de ao de uma s vez, no
mesmo sentido, tirando os excessos da tinta. Deve-se manter a mo firme,
porque a palha de ao que vai criar o efeito de riscado da ptina,
deixando o branco aparecer. Espera-se secar por mais duas horas e
trabalha-se cada uma das outras partes, riscando sempre no mesmo
sentido;
8. Finalmente, com o mvel completamente seco, procede-se o acabamento,
aplicando-se duas demos de verniz.
decap: consiste na aplicao de dixido
de titnio (p branco). Quando essa
superfcie recebe uma ptina, formam-se
relevos. A figura mostra o efeito de
decap em uma pea de madeira.
Figura 12.32 Efeito decap.
satin: ou ptina lavada, usada para clarear a
madeira, ressaltando seus veios. Porm, enquanto a
ptina usa duas cores de tinta, o satin feito com
apenas uma, bastante diluda. As madeiras cerejeira e
marfim so as ideais para esse processo, desde que
estejam em bom estado, sendo prefervel as
tonalidades mais claras. A figura mostra um mvel
submetido a esse tipo de tratamento superficial.
A operao consta dos seguintes passos:
1. Trabalha-se toda a superfcie com a lixa n0 60, at que
se retire completamente o verniz. Quanto mais lisa
estiver a madeira, melhores sero os resultados
obtidos. Com o pano, limpa-se bem a pea;
Figura 12.33 Efeito satin.
2. Trabalha-se toda a superfcie com a lixa n0 60, at que se retire
completamente o verniz. Quanto mais lisa estiver a madeira, melhores
sero os resultados obtidos. Com o pano, limpa-se bem a pea;
3. Desliza-se a escova de ao, suavemente, no sentido dos veios da madeira.
Repete-se esse procedimento at trs vezes;
165
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
4. Usa-se a lixa n 180 para alisar a superfcie, aps, procede-se limpeza com
pano. A tinta preparada na seguinte proporo: seis partes de ltex para
quatro partes de gua;
5. Para passar a tinta, deve-se usar uma boneca sobre uma mesa, fazendose movimentos circulares com um pouco de estopa at obter uma esfera
do tamanho de uma bola de tnis;
6. A boneca molhada na tinta e seguir, passada na pea a ser trabalhada.
Essa aplicao deve ser feita de uma s vez, num mesmo sentido e com
firmeza. Espera-se secar por duas horas;
7. Com suavidade, passa-se a lixa n0 320, que serve para disfarar
irregularidades da tinta ou da madeira. Se a cor no estiver do agrado,
pode-se clarear ainda mais, passando nova demo de tinta e seguindo os
mesmos passos descritos anteriormente;
8. Finalizando, aplica-se a cera com uma nova bolinha de estopa (boneca).
Esse procedimento deve ser repetido a cada seis meses, para efetuar a
manuteno do mvel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
estonado: tambm conhecido por ptina provenal, serve para madeiras
escuras. A principal caracterstica o contraste da tinta branca sobre um
fundo escuro.
A operao consta dos seguintes passos:
Usa-se a lixa n0 180 para nivelar a superfcie e tirar restos de verniz;
Para estonar madeiras claras, deve-se primeiro escurec-las. Se estiver
trabalhando com madeira escura, deve-se ir direto para a etapa de diluio
de tinta ltex. Para escurecer a madeira, deve-se diluir toda a anilina em 1
litro de lcool;
Aps fazer uma bolina com a estopa, passe toda a soluo preparada na
pea. Esse movimento deve ser feito de uma s vez e num nico sentido,
para evitar manchas. Deve-se passar quantas demos se achar
necessrio, para que a madeira fique bem escura. Deve-se deixar secar
durante trs horas, pois a madeira escurecida com anilina precisa estar
bem seca antes de receber tinta branca, ou aparecero manchas;
Dilui-se a tinta ltex e com o rolo, aplica-se trs demos. Quanto mais tinta
for aplicada, mas fcil ser o desgaste. O tempo de secagem de uma
hora para cada demo;
Utilizando-se da esptula, raspa-se a tinta em locais onde o desgaste
ocorreria naturalmente (cantos, pequenas depresses na madeira, partes
perto de puxadores, etc.). A esptula no permite um desgaste muito
detalhado, mas o manejo mais seguro do que a lmina;
O mvel deve ser nivelado com a lixa n0 220, concentrando-se esse
trabalho, nos pontos desgastados; e passa-se a cera incolor com outra
bolinha de estopa.
estncil: basicamente a pintura com moldes, conforme ilustra a figura.
A operao consta dos seguintes passos:
166
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
1. Lixa-se toda a pea, para remover o
verniz e nivelar a superfcie. Limpa-se
com o pano;
2. Com a esptula, aplica-se a massa a
leo em toda a pea. Isso disfara
eventuais imperfeies e relevos.
Espera-se secar;
3. Pinta-se a superfcie que servir de
fundo para o estncil e aplica-se uma
demo de tinta branca fosca, com o
rolo. Deixa-se secar por seis horas;
4. Usando o pincel chato, pinta-se o
mvel com a primeira cor escolhida.
O tempo de secagem de seis horas;
5. Para empregar outras tintas, deve-se
cobrir com fita crepe as reas
vizinhas j prontas. Deve-se esperar
em torno de seis horas, entre cada demo;
Figura 12.34 Efeito estncil.
6. Numa folha de papel, desenha-se o que se deseja reproduzir no estncil e
coloca-se o acetato sobre o papel fazendo-se assim o contorno da figura
com a caneta de reprojetor;
7. Sobre uma base de vidro, recorta-se o desenho do acetato com um
estilete;
8. Com o pano embebido de lcool, limpa-se o acetato at que toda a tinta da
caneta seja retirada. Usa-se uma rgua para fazer as medidas necessrias,
deixando o desenho nivelado;
9. Fixa-se o molde sobre o mvel com tinta crepe. Molha-se a esponja na tinta
e pressiona-a levemente sobre o desenho. importante que no se
permita que a esponja fique com excesso de tinta, pois esta pode escorrer
ou se acumular nas bordas do molde;
10. Com a esponja, fica-se batendo a tinta no desenho, at que se obtenha
as nuances desejadas;
11. Pequenas falhas podem surgir, quando a tinta no completa todo o
desenho. Essas devem ser corrigidas com um pincel fino;
12. Quando for realizado um desenho de vrias cores, deve-se esperar a
primeira cor secar completamente antes de prosseguir. A cada nova cor
utilizada, deve-se lavar a mscara e cobrir, com fita crepe, os espaos que
no sero pintados.
13. Enegrecimento: aplicado na madeira de carvalho, permite o
escurecimento atravs da exposio vapores de amonaco.
frmica: so placas rgidas compostas por camadas de papel e resina,
prensadas a alta temperatura. Apresenta boa resistncia qumica e
mecnica. Sua superfcie pode ser manchada por produtos qumicos, como
soda custica, gua oxigenada e produtos de limpeza que contenham
cloro.
167
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
13 CERMICOS
13.1 INTRODUO
O termo cermica vem da palavra grega keramikos, que significa
matria-prima queimada, dando a entender que as propriedades finais
desejveis desses materiais so normalmente atingidas atravs de um processo
de tratamento trmico a alta temperatura. Os primeiros vestgios da utilizao da
cermica datam do incio do Neoltico (entre 10.000 e 6.000 a.C.), na forma de
potes para o armazenamento de gros. Atualmente os materiais cermicos esto
cada vez mais presentes no cotidiano e suas aplicaes so as mais diversas.
Para uso na construo, os materiais cermicos tambm esto entre os mais
antigos, tanto na forma de blocos e telhas, quanto na de placas de revestimento.
Atualmente, as possibilidades de emprego de materiais cermicos ampliaram-se
muito, indo de utenslios domsticos como potes a utenslios industriais como a
fibra tica. A fabricao de revestimentos para a construo civil, tais como
azulejos, ladrilhos, pastilhas e placas, apenas uma das diversas atividades que
tm como finalidade a produo de materiais cermicos.
Os cermicos so compostos entre os elementos metlicos e nometlicos para os quais as ligaes interatmicas ou so totalmente inicas ou
so predominantemente inica com alguma natureza covalente. Eles so
freqentemente xidos, nitretos e carbonetos. A grande variedade de materiais
que se enquadra nesta classificao inclui cermicos que so compostos por
minerais argilosos, cimento e vidro. Os cermicos podem ser classificados nas
seguintes categorias:
1) Cermica convencional
Cermica vermelha Abrange as telhas e manilhas at objetos
artesanais;
Revestimentos cermicos - Compreendem a produo de materiais
usados na construo civil para revestimento de paredes, pisos e bancadas, tais
como azulejos, placas ou ladrilhos para piso e pastilhas;
Cermica branca - Louas sanitrias e domsticas.
2) Cermica avanada
Isoladores eltricos, para transmisso e distribuio, e cermicas tcnicas
como piezo eltrico, para fins diversos;
Materiais refratrios e isolantes trmicos, muito utilizados na siderurgia,
fabricao de vidros e dos prprios revestimentos cermicos;
Vidros, que so utilizados em recipientes, janelas, lentes, telas de tv e
fibra de vidro;
Semicondutores e ims;
Cermicas duras que podem ser matrias primas de motores a
combusto interna e de turbina, em chapas de blindagem, em embalagens de
componentes eletrnicos e como ferramentas de corte.
168
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Os materiais cermicos so materiais inorgnicos, cuja estrutura, aps
queima em altas temperaturas, apresenta-se totalmente ou parcialmente
cristalizados. A cristalizao confere aos materiais cermicos propriedades fsicas
como a refratariedade, a condutividade trmica, a resistncia ao choque trmico,
a resistncia ao ataque de produtos qumicos, resistncia trao e
compresso e a dureza. Isso permite que os produtos de cermica sejam usados
tanto para loua domstica quanto para construo (material refratrio de altosfornos, ferramentas de corte em mquinas-ferramentas). Desta forma, cada vez
mais a cermica vem substituindo peas de metais nos mais variados
equipamentos.
A Cincia dos Materiais tem desenvolvido materiais alternativos dos
materiais tradicionais, a exemplo das superligas a base de nquel, com notveis
resistncias mecnica e oxidao em altas temperaturas, usada em turbinas de
avies. Entretanto, muitos materiais cermicos ainda tm suas aplicaes
limitadas devido a sua fragilidade.
Figura 13.1 Peas de cermica.
Tanto nos materiais cermicos quanto outros materiais preciso
estabelecer o fim que o produto vai ter para que se possa escolher de forma
precisa a matria prima. Para a fabricao de cermica convencional como loua
domstica, material sanitrio, pisos e revestimentos ou material de laboratrio
para a indstria qumica, usa-se muito argila, caulim, quartzo e feldspato,
misturados em diferentes propores. Se for necessria a fabricao de um
material refratrio, as matrias primas utilizadas podem ser a argila refratria,
caulim, disporo, bauxita, cianita, silimanita, corindon, quartzito, etc nas
propores adequadas.
Para cermicas de uso especial e com processamento de alta tecnologia,
chamadas de cermicas avanadas, como telas de televiso, materiais
magnticos, materiais biocompatveis, cermicas supercondutoras, cermicas
piezo eltricas, lentes, fibra tica, pastilhas de corte, a matria prima
cuidadosamente selecionada e a composio destes no produto depender da
sua aplicao e das propriedades desejadas, por exemplo, as fibras ticas
contm basicamente SiO2 e B2O3. Atualmente existe alguns de tipos de fibras
ticas com composio mais intrnseca como o ZBLAN a base de zircnio, brio,
169
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
lantnio, alumnio e sdio, o HZBLAN com hfnio e o BIZYT a base de brio,
ndio, zinco, itrbio e trio. As propriedades ticas tm maior importncia neste
campo. Quando se trata de pastilha de corte, a matria prima poder ter
composio bem distinta do ltimo como o nitreto cbico de boro, a alumina, a
zircnia ou carbeto de silcio, todos com propriedades mecnicas de elevada
dureza e resistncia a abraso para produzir, por exemplo, materiais para
ferramentas de corte.
Tanto a cermica convencional quanto a cermica avanada tem atingido
grau de desenvolvimento na produo que poderia ser descrito cursos especiais
para cada caso, mas o objeto deste estudo apenas para dar uma viso geral de
ambos os casos.
13.2 CERMICA CONVENCIONAL
13.2.1 CERMICA VERMELHA
Podem-se apresentar trs composies bsicas que so: massa cermica,
esmalte e engobe. A massa cermica a que se apresenta geralmente em maior
quantidade, onde pode ser de baixa porosidade (piso) ou de elevada porosidade
(revestimento, tijolos isolantes trmicos). A massa cermica pode ser esmaltada
ou no, que o caso de alguns tipos de vasos de flores e tijolos vermelhos. O
esmalte a composio vtrea que geralmente recobre a massa cermica
conferindo um timo aspecto visual e impermeabilizante da massa. O esmalte
composto de vrios xidos na forma de ps que, aps a queima, vitrifica-se. O
engobe uma composio intermediria da massa cermica e do esmalte que
tem como finalidade facilitar a aderncia entre os dois. Os produtos cermicos
so obtidos pela composio destes ou no e sinterizados (queimados). A
qualidade e defeito de um produto cermico depende muito do conhecimento das
matrias primas de cada componente bem como das condies fsico-qumicas
do processamento.
13.2.1.1 Massa cermica
As massas cermicas so misturas equilibradas de matrias primas
plsticas e no plsticas, que cumprem uma srie de exigncias que as fazem
til e rentveis para fabricao de produtos cermicos convencionais. As matrias
primas utilizadas na preparao de massas cermicas geralmente no so
substncias puras.
Matrias primas plsticas
As matrias primas plsticas so: argila, caolim, bentonita.
Argilas - O termo argila se usa em linguagem comum num sentido muito amplo
com o fim de simplificar definies muito complexas, ou seja, em geral, entendese como argila um produto natural, no tratado previamente, formado por uma
mistura de minerais argilosos (caolinita, cloritas, filitas, etc) com outros que no
170
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
so argilosos como (quartzo, carbonatos, feldspatos xidos e etc.). Desta forma,
em uma argila onde h predominncia de cal, denominar argila calcrea e, da
mesma forma, para a argila caolintica. As propriedades de cada argila esto de
acordo com suas composies. Os minerais argilosos se dividem em 3 grupos
conforme a tabela abaixo:
A
Grupo caolinita
Hidratados
haloisita
caolinita
No hidratados
diquita
nacritra
B
Grupo da mica
Hidratados
montmorilonita
No hidratados
talco
pirofilita
Parcialmente hidrat. filitas
C
Grupo de clorita
clorita
haloisita
caolinita
diquita
nacritra
montmorilonita
talco
pirofilita
filitas
clorita
Al2O3.2SiO2.2H2O + 2H2O
Al2O3.2SiO2.2H2O
montmorilonita (bentonita)
3MgO.4SiO2.H2O
Al2O3.4SiO2.H2O
K2O.3Al2O3. 6SiO2 H2O
clorita
Caolim O caolim uma argila contendo elevado ndice de caolinita, de baixa
plasticidade e elevada refratariedade. Pode apresentar elevado contedo de slica
com granulometria grosseira alm de apresentar outros minerais como illita e
montmorillonita. Os principais xidos do caolim so: SiO2 (54%), Al2O3 (33%),
restante, Fe2O3, CaO, MgO, Na2O, K2O, TiO2.
Bentonita O principal mineral argiloso da bentonita a montmorilonita, que
absorve gua com facilidade, dilatando sua estrutura at 4 ou 5 vezes seu
volume a seco. extremamente plstica, melhorando de forma significativa a
plasticidade com a adio deste na massa cermica.
Matrias primas no plsticas
As matrias primas no plsticas so: quartzo, feldspato, carbonato, talco.
Quartzo O quartzo a forma predominante da slica (SiO2) Slica contm 98%
de SiO2 ou seja, a forma cristalina. Utiliza-se como carga na massa cermica,
quando se tem o objetivo de diminuir a plasticidade da mesma. As argilas
utilizadas para fabricao de pisos e revestimentos geralmente tem em torno de
20% de slica.
171
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Feldspato So minerais gneos encontrados em rochas primrias em que
aparecem junto com o quartzo e a mica. Trata-se de aluminosilicatos de metais
alcalinos e alcalinos trreos, por exemplo, aluminosilicato de sdio,
aluminosilicato de clcio. O quadro abaixo mostra frmulas moleculares tericas
de alguns tipos de feldspato mais comuns (minerais puros).
Mineral
Frmula molecular
Ortosa
Albita
Anortita
Celsiana
Petalita
Nefelina
K2O.Al2O3.6SiO2
Na2O.Al2O3.6SiO2
CaO.Al2O3.2SiO2
BaO.Al2O3.2SiO2
Li2O.Al2O3.8SiO2
K2O.3Na2O.4Al2O3 9SiO2
Densidade
aparente (g/cm3)
2,56
2,61/2,64
2,70/2,76
3,37
2,41
Dureza (Mohs0
6
6/6,5
6/6,5
>6
6,5
O ponto de fuso dos feldspato oscila entre 1.110 a 1.530 oC. Estas
temperaturas relativamente baixas so devido a presena dos metais alcalinos e
alcalinos trreos.
Carbonato clcico e dolomita Se utilizam em massas cermicas de produtos
porosos em que difcil introduzir argilas calcares como, por exemplo, massa
branca para revestimentos, quando h dificuldade de se encontrar argilas de
queima branca e alto contedo de carbonatos. A dolomita pode ser considerada
como um carbonato duplo de clcio e magnsio, que se apresentam em
quantidades iguais.
Mineral
Frmula molecular
Carbonato
CaCO3
clcico
Dolomita
CaO MgO.2CO2
Talco O talco um silicato de magnsio, podendo apresentar-se associado com
impurezas como o ferro e clcio e outros metais alcalinos. Adicionando-se talco
na massa cermica aumenta-se a resistncia a cidos e reduz a expanso por
umidade. Os principais xidos que podem estar contidos no talco so: SiO2 (60%),
MgO (32%) e restante de Al2O3, Fe2O3, CaO, Na2O, e etc.
13.2.1.2 Esmaltes
Em muitos produtos cermicos a massa recoberta por uma pelcula vtrea
que tambm denominado como vidrado que tem como funo recobrir recobrir o
material com uma camada uniforme e impermevel, realizando tambm funes
de esttica e decorativas. Se trata de vidros que tem diferentes composies de
xidos inclusive metais como ouro e prata (revestimentos de encomenda
especial). Pode ter formas cristalinas ou no em sua composio. Os vidros so
substncias amorfas formadas por fuso e posteriormente esfriamento de
silicatos desorientados. Os cristais so estruturas com orientao, na qual os
elementos qumicos constituintes
esto arranjados de forma ordenada e
172
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
repetitiva nas trs dimenses, formando um conjunto de clulas unitrias.
Portanto, a camada vtrea que cobre a massa cermica tem na realidade a
estrutura de um lquido subresfriado que pode conter partculas cristalinas em
suspenso, ou seja, esmalte = vidro + cristais.
H uma srie de fatores determinantes da composio do esmalte que tem
de se levar em conta na hora da escolha da matria prima que so:
- Capacidade de formar uma mistura que pode se dar por fuso um vidro
homogneo a uma dada temperatura;
- Interao adequada com a massa cermica;
- Os coeficientes de dilatao trmica da massa cermica e esmalte devem ser
compatveis a fim de evitar defeitos devido a foras de trao e de
compresso entre ambos;
- A composio do esmalte deve estar de acordo com as propriedades
desejadas.
De acordo com o descrito, a composio de um esmalte estar composta
por fundentes (fritas) modificadores de propriedades (propriedades ticas, textura,
etc.) e aditivos (modificadores de propriedades reolgicas).
13.2.1.3 Engobe
A funo do engobe diferente do esmalte e tambm as suas
propriedades. Em geral, um engobe dever:
Cobrir e homogeneizar a superfcie da massa;
Isolar da superfcie da massa cermica a ao de partculas contaminantes
e proporcionar uma superfcie branca sobre a qual se aplicara o esmalte;
Ter opacidade adequada;
Regular a adaptao entre o esmalte e a massa cermica, atuando sobre
seus coeficientes de dilatao trmica ou sobre sua refratariedade.
Em geral, os engobes tm composies sensveis formadas por um
fundente (PbO, Zr2O3), elementos de carga (argila, feldspato, caolim, quartzo e
silicato de zircnio).
Os materiais argilosos so processados nas seguintes etapas:
Mistura: matrias primas previamente tratadas e dosadas; misturadas de forma
homognea
Moagem: o material modo para reduzir o tamanho dos gros
Umidificao: o acrscimo de gua para formar a massa cermica
Conformao: onde as peas so produzidas por vrios mtodos: colagem,
extruso, prensagem ou injeo.
Secagem: pode ser natural ou artificial, na qual grande parte da gua livre
evaporada
Queima: a temperatura definida em funo da composio qumica da mistura e
na qual o aumento de temperatura causa as seguintes reaes: desidratao,
calcinao, oxidao e formao de silicatos.
173
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 13.2 Produo de cermica.
O calor muito importante para que o produto cermico tenha garantidas
as propriedades que o caracterizam.
13.2.2 CERMICA BRANCA
Este grupo bastante diversificado, compreendendo materiais constitudos
por um corpo branco e em geral recobertos por uma camada vtrea transparente e
incolor e que eram assim agrupados pela cor branca da massa, necessria por
razes estticas e tcnicas. Com o advento dos vidrados opacificados, muitos dos
produtos enquadrados neste grupo
passaram a ser fabricados, sem
prejuzo das caractersticas para
uma dada aplicao, com matriasprimas com certo grau de
impurezas,
responsveis
pela
colorao.
mais adequado subdividir
este grupo em:
loua sanitria;
loua de mesa;
cermica
artstica
(decorativa e utilitria).
utenslios domsticos e
adornos.
Figura 13.3 - Loua sanitria.
A cermica branca um segmento da cermica tradicional (ou de silicatos)
bastante abrangente, caracterizada pela cor branca ou clara de queima de sua
massa bsica, em temperaturas superiores a 1.000 C. A preparao de um
174
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
produto cermico desta classe abrange, de maneira geral, as seguintes etapas:
seleo das matrias primas, preparao, composio e homogeneizao da
massa cermica; formao dos corpos cermicos; secagem; queima; e
acabamento. As matrias primas devem apresentar, isolada ou conjuntamente,
materiais com a funo fsica durante o processo de conformao das peas
(agentes de ligao, suspenso e plasticidade); e funo qumica no processo de
queima (elementos estabilizadores, fundentes e inertes). Esses componentes
podem ser agrupados em materiais plsticos e no-plsticos, ou idealmente,
traduzidos por trs matrias primas: argila, quartzo e feldspato.
A massa da cermica branca composta, geralmente, por uma mistura de
argila plstica, caolim, quartzo e feldspato, na proporo de 25% para cada
componente, podendo, porm variar dentro de faixas de acordo com a
composio qumica desses materiais, para satisfazer a uma dada composio
qumica prefixada para massa e finalmente para o corpo cermico. Essa massa
geralmente total ou parcialmente vitrificada e apresenta uma certa colorao
escura indesejvel, requerendo que seja coberta por um vidrado contendo um
pigmento e com opacificantes (ZrSiO4), considerando os coeficientes de dilatao
trmica da massa e do vidrado. No h uma nica massa-padro com
caractersticas que satisfaam aos requisitos de todos os diferentes produtos da
cermica branca. Os caolins, para cermica branca, queimam com cores claras a
1250 C. Quando ricos em ferro, mangans ou titnio, com cor escura a
temperatura usual de queima a 1450 C. Em geral, a faixa usual de queima para
material sanitrio compreende 1230 C a 1280 C.
Os materiais argilosos so processados nas seguintes etapas:
Mistura: matrias primas previamente tratadas e dosadas; misturadas de forma
homognea
Moagem: para que se reduza o tamanho das partculas da matria-prima da
argila necessrio que se faa um procedimento de moagem ou triturao. Esse
processo seguido por um peneiramento ou uma classificao por granulometria
que produz um produto pulverizado que possui uma faixa desejada de tamanho
de partculas.
Umidificao: os materiais pulverizados devem ser completamente misturados
com gua e, talvez, outros ingredientes para dar as caractersticas de
escoamento que so compatveis com a tcnica particular de moldagem.o
material modo para reduzir o tamanho dos gros.
Conformao: os minerais base de argila, quando misturados com gua, se
tornam altamente plsticos e flexveis, e podem ser moldados sem que ocorram
trincas; entretanto, eles possuem limites de escoamento extremamente baixos. A
consistncia (razo gua-argila) da massa hidroplstica deve dar um limite de
resistncia suficiente para permitir que uma pea conformada mantenha a sua
forma durante o manuseio e a secagem. Os processos podem ser: colagem,
extruso, prensagem ou injeo.
Secagem: uma pea cermica que tenha sido moldada retm uma porosidade
significativa e tambm possui uma resistncia que insuficiente para a maioria
das aplicaes prticas. Alm do mais, ela pode conter ainda algum lquido (por
exemplo, gua), que foi adicionado para auxiliar na operao de conformao.
Esse lquido removido em um processo de secagem; a densidade e a
resistncia so melhoradas com a secagem e a queima.
175
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Queima: uma pea que tenha sido conformado e que esteja seco, mas que no
tenha sido queimada conhecido por cru. As tcnicas de secagem e queima so
crticas no sentido de que defeitos como contrao de volume de forma irregular
torna a pea intil. A temperatura de queima depende da composio e das
propriedades desejadas para a pea acabada. Durante a operao de queima, a
densidade e a resistncia mecnica devido diminuio da porosidade. A
temperatura definida em funo da composio qumica da mistura, variando,
geralmente, entre 900 C e 1400 C. As seguintes reaes ocorrem atravs da
queima: desidratao, calcinao, oxidao e formao de silicatos.
Quando materiais base de argila so aquecidos a temperaturas mais elevadas,
ocorrem algumas reaes consideravelmente complexas. Uma dessas reaes a
vitrificao, a formao gradual de um vidro lquido que flui para dentro e preenche parte
do volume dos poros. O grau de vitrificao depende da temperatura e do tempo de
queima, bem como da composio qumica da pea. A temperatura na qual a fase lquida
se forma reduzida pela adio de agentes fundentes, como o feldspato. Essa fase
fluda escoa ao redor das partculas no fundidas que permanecem no meio e preenche
os poros, como resultado de foras de tenso superficial; uma contrao de volume
tambm acompanha esse processo. Com
o resfriamento, essa fase fundida forma
uma matriz vtrea que resulta em um
corpo denso e resistente. Dessa forma
uma matriz vtrea que resulta em um
corpo denso e resistente. Os tijolos de
construo so queimados normalmente
a uma temperatura de aproximadamente
900 C, e so relativamente porosos. Por
outro lado, a queima de uma porcelana
altamente vitrificada, que est no limiar de
ser oticamente translcida, ocorre em
temperaturas muito mais altas.
Figura 13.4 Forno tnel para queima de peas cermicos.
13.2.2.1 - Processamento
A tcnica de conformao hidroplstica mais comum a extruso, onde
uma massa cermica plstica rgida forada atravs de um orifcio de uma
matriz que possui a geometria de seo reta desejada; ela semelhante
extruso de metais. Tijolos, tubos, blocos cermicos e azulejos so todos
geralmente fabricados utilizando uma tcnica de conformao hidroplstica.
Normalmente, a cermica plstica forada atravs de uma matriz por meio de
uma rosca sem fim acionada por um motor, e o ar freqentemente removido em
uma cmara a vcuo, para melhorar a densidade da pea. As colunas ocas no
interior da pea extrudada (por exemplo, o tijolo de construo) so formadas pela
introduo de inseres colocadas dentro do molde.
Um outro processo de modelao usado para composies base de
argila a moldagem por suspenso. Neste processo, a barbotina (mistura lquida
de argilas) derramada dentro de um molde poroso (em geral de gesso), a gua
da suspenso absorvida no interior do molde, deixando para trs uma camada
sobre a parede do molde, cuja espessura ir depender do tempo. Esse processo
176
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
pode ser continuado at que a totalidade da cavidade do molde se torne
resistente mecanicamente.
A natureza da suspenso extremamente importante; ela precisa possuir
uma gravidade especfica alta, e ainda assim precisa ser muito fluida. Essas
caractersticas dependem da razo slido-gua, bem como de outros agentes que
so adicionados. As propriedades do molde tambm influenciam a qualidade da
modelao. Normalmente o gesso-de-paris, que econmico, relativamente fcil
de ser fabricado em formas intrincadas e reutilizveis, usado como material de
molde. A maioria dos moldes composta por peas mltiplas, que devem ser
montadas antes da queima. As formas cermicas consideravelmente complexas
que podem ser produzidas por este mtodo incluem louas sanitrias, objetos de
arte e peas de laboratrios cientficos, tais como tubos cermicos.
A prensagem a seco um outro importante mtodo de conformao de
produtos cermicos e realizado atravs da prensagem de ps da matria prima.
Os ps so produzidos atravs da atomizao ou pulverizao de barbotina em
contra corrente a um fluxo de ar aquecido e que circula em uma torre. No final do
percurso encontra-se o p de cermica (matria prima plstica), que
posteriormente e transportado para matrizes de prensagem. Aps a conformao
a pea entra num sistema contnuo de secagem e queima.
13.3 CERMICA AVANADA
Pode-se dizer que esta expresso define produtos cermicos
manufaturados a partir de matrias primas puras, normalmente sintticas e
conformadas por processos especiais, sinterizadas em condies rigidamente
controladas a fim de apresentarem propriedades superiores. Abaixo est alguns
exemplos de cermicas avanadas para perceber a abrangncia desses
materiais:
1) xido de ferro; carbonato de brio e de estrncio; titanato de brio. Aplicao:
cermicas eltricas e magnticas. Propriedades: magnetismo, dieletricidade,
piezoeletricidade, semi-condutividade. Produtos: capacitores, geradores de fasca,
semicondutores, ms, varistores, termistores.
2) Alumina; zircnia. Aplicao: cermicas qumicas e eletroqumicas.
Propriedades: capacidade de adsorso; resistncia a corroso; catlise. Produtos:
suportes de catalisadores; sensores de gases; eletrlitos slidos.
3) Alumina; vidro de slica. Aplicao: cermicas ticas. Propriedades:
condensao tica; translucidez; fluorescncia; conduo de luz. Produtos:
lmpada de descarga eltrica de vapor de sdio; memrias ticas; cabos ticos;
polarizadores.
4) Alumina; zircnia. Aplicao: cermicas trmicas. Propriedades: condutividade
trmica; isolao trmica; refratariedade; absoro de calor. Produtos: radiadores
de infravermelho; isolantes trmicos; refratrios.
5) Alumina. Aplicao: cermicas biolgicas. Propriedades: biocompatibilidade
Produtos: implantes para substituir dentes, ossos, juntas.
177
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
6) Zircnia; alumina; carbeto de boro.
Aplicao: cermicas nucleares.
Propriedades: resistncia a corroso; s altas temperaturas e radiao;
refratariedade. Produtos: Materiais para blindagem; revestimento de reatores.
7) Carbeto de boro; carbeto de silcio; nitreto de silcio; alumina; zircnia
Aplicao: cermicas abrasivas e termomecnicas. Propriedades: alta resistncia
mecnica e abraso; baixa expanso trmica; alta resistncia ao choque
trmico; capacidade de lubrificao; elevado ponto de fuso; elevada
condutividade trmica. Produto: ferramentas de corte; esferas e cilindros para
moagem; bicos de maaricos; acendedores para caldeiras; ps de turbinas para
altas velocidades; anis de vedao de bombas dgua; rotores.
Cermicas abrasivas - As ferramentas de corte feitas de materiais abrasivos so
usadas para trabalhar todos os materiais e metais, desde os mais macios at os
mais duros. Os abrasivos da qual so fabricadas podem ser usados sob a forma
de ps, gros soltos, rebolos, barras e placas de diferentes formas e dimenses.
Nas operaes executadas com o auxlio desses materiais, o atrito do abrasivo
com a pea retira quantidades variadas de material, dependendo do resultado que
se quer obter. Gros mais grossos retiram mais material, por outro lado, quanto
mais fino for o gro do abrasivo, mais fino e polido ser o acabamento obtido.
O corindon, um xido de alumnio (Al2O3) com 90% de pureza, o
abrasivo natural mais utilizado. A presena de impurezas piora suas
propriedades. O diamante, por sua vez, o mais duro dos abrasivos naturais,
sendo usado para afiar ferramentas desgastadas. O uso dos diamantes artificiais
tambm cada vez mais comum para o mesmo tipo de aplicao. Os abrasivos
sintticos tambm so de origem cermica. So eles: o eletrocorindon (normal e
branco), com at 95% de xido de alumnio, obtido por fuso eltrica a partir da
alumina pura; o carboneto de silcio (SiC), geralmente chamado de carborundum
e formado por uma combinao qumica de silcio com carbono obtida a
temperaturas entre 2.200 oC e 2.300 oC. O carbeto de boro com at 95% de
carbeto de boro cristalino. Esses abrasivos so usados principalmente para afiar
ferramentas de corte ou polir e dar acabamento final a estampos, matrizes e
gabaritos. Todos os abrasivos sintticos so processados a quente e saem do
forno em forma de pedaos macios, que so depois modos em gros com
arestas ou cantos agudos. So esses cantos que do ao material abrasivo sua
capacidade de cortar outros materiais.
O tamanho de cada gro determina a classificao da capacidade de corte
do abrasivo, seja ele natural ou sinttico Para formar ferramentas do tipo rebolo
abrasivo, os gros abrasivos podem ser unidos por meio de um material
aglomerante na forma de uma liga cermica, uma resina ou um metal. O rebolo
usada na retificao cilndrica em superfcie plana e paralela; na eliminao de
rebarbas e na afiao de ferramentas. Outras ferramentas de corte possuem
pontas feitas com xido de alumnio que podem ser unidas por meio de um
processo de prensagem a frio seguido de sinterizao ou por uma nica operao
de prensagem a quente. Essas ferramentas tem alta resistncia ao desgaste e a
deformao em temperaturas altas. Por isso, essas ferramentas podem cortar
durante mais tempo, com velocidades de corte maiores.
178
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Compsitos - Um dos meios mais eficaz pelos quais materiais frgeis podem ser
tenacificados atravs da disperso de metais na matriz cermica, resultando os
denominados compsitos. A resistncia propagao de trincas em materiais
frgeis pode ser fortemente influenciada pela microestrutura e pelo uso de vrios
reforos de incluses na matriz. Um compsito um material multifsico
produzido artificialmente. As fases constituintes podem ser quimicamente
dissimilares e so separados por uma interface distinta. Os cermetos so
exemplos de compsitos cermica-metal. Eles so manufaturados principalmente
pela mistura de componentes, compactao e sinterizao. A fase dominante em
% de volume atua como matriz, a outra, como fase dispersante. Muitas das
propriedades mecnicas so fortemente dependentes da microestrutura,
especialmente quando eles so diferenciados da fase nica.
Nestas ltimas dcadas houve um grande avano no desenvolvimento de
materiais cermicos ou compsitos para produo de tambores e disco de freio,
alm de pastilhas de metal duro e cermicos para ferramentas de corte. Esses
materiais apresentam elevada dureza, resistncia ao desgaste, deformao
plstica e elevada estabilidade qumica. So usadas na indstria metal-mecnica,
principalmente para a usinagem em alta velocidade de aos carbono, ferro
fundido cinzento, superligas de ferro fundido especial e aos de alta resistncia.
Assim, ser descrito abaixo a evoluo destes materiais:
-
Metais duros - O tungstnio o metal de mais alto ponto de fuso: 3.387 oC,
de mais alta resistncia a trao: 4.200 MPa, de mais baixo coeficiente de
dilatao trmica linear: 4,4.10-6 oC-1, peso especfico de 19,3 kgf/dm3. Como o
aumento do rendimento luminoso das lmpadas incandescentes depende da
elevao de temperatura do filamento, desde cedo os fabricantes de lmpadas
pesquisaram a possibilidade de aplicao do tungstnio na fabricao dos
filamentos. A dificuldade de fuso do tungstnio, pela inexistncia de cadinhos
que possam suportar a temperatura de 3.400 oC, levou a tcnica da
sinterizao e ao desenvolvimento da chamada metalurgia do p. Os
estudos desenvolvidos inicialmente pela Osram, na Alemanha, para a
fabricao de filamentos de tungstnio para lmpadas incandescentes, foram
cedidos a Krupp para o estudo da aplicao do carboneto de tungstnio na
usinagem de metais. Em 1.927 a Krupp fez sucesso com o seu produto
"Widia", nome comercial tomado em linguagem popular como sinnimo de
metal duro e que provm da contrao das palavras alems " wie diamant",
isto , " como diamante".
Em sua composio original participa somente o carboneto de tungstnio,
tendo como ligante o cobalto. Uma composio tpica a seguinte: 81% de
tungstnio, 6% de carbono e 13% de cobalto. A tcnica de fabricao dos metais
duros pode ser descrita, de modo bastante sinttico, como segue:
1. O minrio do qual se parte para obteno do carboneto de tungstnio
geralmente a Scheelita, assim chamada em homenagem ao qumico sueco K.
W. Scheele. Trata-se quimicamente do tungstato de clcio (CaWO4), do qual
existem quantidades apreciveis no nordeste brasileiro. Atravs de uma srie
de operaes qumicas o mesmo reduzido a trixido de tungstnio (WO3).
2. O tungstnio obtido em estado extremamente puro e dividido em partculas,
pela reduo do trixido de tungstnio pelo hidrognio.
179
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
3. O tungstnio misturado com carbono puro (grafite) e a mistura levada a
um forno, onde, em condies apropriadas de temperatura, se obtm o
carboneto de tungstnio.
4. O carboneto , em seguida, modo e misturado com p muito puro e fino de
cobalto. O conjunto perfeitamente misturado num moinho de bolas.
5. A mistura , em seguida, comprimida a frio, em matrizes, obtendo-se peas j
com a forma desejada (pastilhas), com resistncia suficiente para serem
manipulados. As presses usadas so da ordem de 400 MPa.
Figura 13.5 - Microscopia eletrnica de varredura de cermetos e metal duro.
6. As pastilhas so levadas a um forno de pr-sinterizao com atmosfera de
hidrognio. A uma temperatura em torno de 900oC se d uma sinterizao
parcial do cobalto, adquirindo o produto uma consistncia e dureza suficientes
para a sua manipulao nas operaes subsequentes, sem quebra.
7. Resfriado o produto, este cortado e levado forma final por meio de rebolos
apropriados, sem maior dificuldade, pois as peas no possuem ainda
nenhuma dureza. Esta operao deve levar as pecas formas precisas, pois
qualquer operao posterior sinterizao resulta difcil e onerosa. Deve-se
contar, ainda, com a retrao na operao final de sinterizao. Este processo
utilizado na fabricao de peas de forma especial ou pastilhas de pequeno
consumo.
8. As peas pr-sinterizadas e usinadas, assim como as pastilhas prensadas,
so levadas para o forno de sinterizao que trabalha sobre vcuo ou em
atmosfera de hidrognio. A temperatura varia de 1.350 a 1.600 oC,
dependendo da composio do material e do tipo de forno. Na sinterizao,
uma liga euttica de cobalto se funde e introduz-se, pela ao de
capilaridade, entre as partculas de carboneto, envolvendo e dissolvendo
algumas destas partculas. No decorrer da sinterizao, h uma contrao
linear de 15 a 22%, dependendo teor de cobalto e da presso com que o
material foi prensado nas matrizes.
180
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
O metal duro apresenta uma altssima resistncia compresso, dureza 76
a 78 Rockwell C, mantendo elevada dureza at cerca de 1.000 C, coeficiente de
dilatao trmica cerca de metade da do ao, densidade da ordem de 14
kgf/dm3, notvel resistncia compresso de cerca de 3.500 N/mm2, mdulo de
elasticidade E = 620.000 N/mm2, elevada condutibilidade trmica (8 a 20 vezes a
do ao).
As ferramentas de carboneto de tungstnio foram empregadas a princpio
com extraordinrio sucesso na usinagem de ferro fundido e materiais no
ferrosos, mas com resultados medocres na maioria das operaes com ao.
Verificou-se que a causa principal do insucesso residia no forte atrito que se
estabelece entre a ferramenta de metal duro e o cavaco de ao. Isto faz com que
o cavaco escorregue com grande presso e sob elevada resistncia, com forte
formao de calor. Na ferramenta forma-se rapidamente uma cratera, levando o
gume de corte ao esfacelamento. Tambm ocorrem problemas de difuso e de
dissoluo, que solucionar este problema foram feitos vrios desenvolvimentos no
metal duro, dando origem a uma srie de tipos de ferramentas, cada uma
indicada para uma dada aplicao.
-
1.
2.
3.
4.
Metais duros com carbonetos combinados - Muitos anos aps a introduo
dos metais duros, verificou-se que o atrito entre o carboneto e o cavaco era
fortemente reduzido pela adio de carboneto de titnio e de tntalo na
composio original. Estes carbonetos apresentam maior dureza do que o de
tungstnio. Atualmente so usados como componentes dos metais duros:
WC - O carboneto de tungstnio solvel no cobalto, o que resulta a alta
resistncia das ligaes internas e dos cantos dos metais duros de puro WCCo. O WC tem alta resistncia abraso, mas a utilizao na usinagem de
ao limitada pela tendncia de difuso do carbono e de dissoluo no
cobalto e no ferro.
TiC - Os carbonetos de titnio tm pouca tendncia difuso. Disto resulta a
alta resistncia dos metais duros que tem TiC na sua composio. Reduz-se,
porm em paralelo, a resistncia das ligaes internas e dos cantos. TiC forma
um carboneto misto com WC. Metais duros com alto teor de TiC so frgeis.
So utilizados na usinagem de aos com altas velocidades de corte.
TaC - Em pequenas percentagens, o carboneto de tntalo atua no sentido de
diminuir o tamanho dos gros, melhorando assim a tenacidade e a resistncia
dos cantos.
NbC - O carboneto de nibio tem efeito semelhante ao TaC. Ambos os
carbonetos ocorrem no metal duro como cristais mistos Ta-Nb-C.
Devido adio dos carbonetos combinados, os metais duros foram
aperfeioados para cada aplicao especfica, e foi necessrio classific-los
conforme o tipo de trabalho a ser feito. Os metais duros so divididos em trs
grupos de aplicao P, M e K. Cada classe possui uma composio qumica
diferente e tipos especficos de material a usinar. A seleo de pastilhas ser visto
em captulo posterior.
181
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Grupo principal de usinagem P (Classe azul)
Indicado para a usinagem de ao, ao fundido e ferro fundido malevel,
nodular ou ligado, de cavaco comprido. Alm de WC, tem percentagens mais ou
menos elevadas de TiC ( at 35%) e TaC ( at 7%), apresentando um atrito baixo
com cavacos de materiais dcteis.
Grupo principal de usinagem M (Classe amarela)
Para usinagem de ao, ao fundido, ao ao Mn, ferros fundidos ligados,
aos inoxidveis austenticos, ferros fundido malevel e nodular e aos de corte
livre, ou seja, par uso universal em condies satisfatrias. Constituem tipos
intermedirios entre o grupo P e K.
Grupo principal de usinagem K (Classe vermelha)
Para usinagem de ferros fundido comum e coquilhado, ferro fundidos
maleveis de cavaco curto, aos temperados, no ferrosos, no metlicos e
madeira. Os metais duros deste grupo se compem quase que exclusivamente de
WC e de Co, como elemento ligante. Pequenas percentagens de VC, TiC, TaC e
NbC so acrescentadas as vezes para melhorar certas caractersticas.
Em cada grupo, os metais duros so fabricados em diversos graus,
correspondendo a uma dureza decrescente e uma tenacidade crescente e
vice-versa. Os tipos mais duros so usados em usinagens de acabamento (altas
velocidades e cortes leves), enquanto que os tipos mais tenazes e menos duros,
em virtude de teores mais altos de cobalto, so usados em cortes pesados de
desbaste, em velocidades mais baixas ou em condies desfavorveis de
usinagem (vibraes, cortes interrompidos, mquinas velhas etc.). Os tipos mais
duros, em geral exigem ngulos de sada negativos.
-
Metais duros de mltiplas faixas de aplicao - Partindo de matrias primas
com mais alto grau de pureza e com controle mais rigoroso do processo de
sinterizao, foi possvel obter pastilhas de metal duro de elevada resistncia
flexo com mnima perda de dureza. Os cuidados se referem especialmente
granulometria mais fina e uniforme, distribuio mais perfeita dos
carbonetos e a melhoria da solubilidade dos carbonetos no metal de ligao.
Pode-se assim produzir pastilhas que cobrem mais faixas de aplicao,
reduzindo assim o nmero de tipos necessrios nas diversas operaes de
usinagem. Existem inclusive propostas para eliminar da norma o grupo de
aplicao K.
Metais duros com uma camada de revestimento - Com objetivo de melhor
explorar as vantagens de cada um dos carbonetos componentes,
desenvolveu-se os metais duros revestidos. Eles se compem de uma base
de metal duro relativamente tenaz, sobre a qual se aplica uma ou mais
camadas finas, duras, resistentes abraso e de fina granulometria, de um
material composto de carbonetos (por exemplo: TiC, HfC, ZrC), de nitretos
(TiN, HfN, Zr2O3), de carbonitretos (TiCN) ou de xidos (Al2O3). Estes
182
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
revestimentos permitem um aumento substancial da vida das ferramentas. Em
condies adequadas este aumento corresponde a um mltiplo de tempo de
vida das ferramentas de metal duro convencional. O revestimento hoje mais
freqentemente aplicado pelo processo de deposio qumica de vapor (CVD).
A figura abaixo mostra como so estas camadas em uma pastilha de metal
duro (GC4025 - Sandvic). Neste tipo de pastilha a camada total de
revestimento no ultrapassa a 10 m de espessura.
Figura 13.6 - Revestimento de TiN em uma pastilha de metal duro.
Cermica - As ferramentas de cermica de xido de alumnio extremamente
puro como de misturas de xido de alumnio com carbonetos metlicos tm
adquirido importncia crescente em mquinas automticas de alta velocidade,
para usinagem de peas de ao e ferro fundido. Em condies adequadas,
possvel usar velocidades de corte 4 a 5 vezes maiores do que aquelas
empregadas com metal duro, o que representa uma vantagem na reduo do
tempo efetivo de corte.
Cermicas brancas - Durante muitos anos as pastilhas cermicas no
tiveram o sucesso industrial esperado. Isto se deve, em parte, ao fato de que
as cermicas exigem mquinas-ferramentas de elevada velocidade, grande
potncia e extrema rigidez. Alm disto, a alta velocidade de corte implica em
um fluxo intenso de cavacos muito quentes, tornando imprescindvel uma
proteo adequada ao operador. O componente principal da cermica de corte
o Al2O3. O material de partida apresenta sob a forma de um p finssimo,
cujas partculas esto compreendidas entre 1 e 10 m. As peas se obtm
prensando fortemente a matria prima que pode ser Al2O3 com 99,98% de
pureza, ou ento, em composio de 89 a 99% de Al2O3 e o restante de xido
de silcio, de magnsio, de cromo ou de nquel ou, ainda, outros componentes.
A qualidade de uma ferramenta de cermica depende de sua baixa porosidade
associada a tamanhos de gros pequenos
1.
2.
3.
4.
5.
A cermica, como ferramenta de corte, tem as seguintes caractersticas:
Alta dureza a quente, que se mantm at cerca de 1.600 C, permitindo altas
velocidades de corte (5 a 10 vezes superiores a do metal duro convencional);
Elevada estabilidade qumica do xido de alumnio, que se mantm at uma
temperatura prxima do seu ponto de fuso (2.050 C);
Altssima resistncia a compresso;
Baixo coeficiente de atrito;
Nenhuma afinidade qumica com o ao, no formando gume postio.
Estas duas ltimas qualidades asseguram um excelente acabamento
superficial. O menor desgaste da ferramenta, assegura tambm melhor preciso
dimensional das peas. Como problemas da usinagem com cermica, pode-se
citar:
183
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
1. Grande fragilidade;
2. Condutibilidade trmica muito baixa.
A fixao das pastilhas cermicas tem sido feita por colagem (Araldite,
Epoxy) ou por grampos. Este ltimo modo o mais freqente. As pastilhas podem
ser reafiadas por rebolos de diamante, porm, a tendncia a utilizao das
assim chamadas pastilhas "descartveis". Estas, de forma quadrada ou triangular,
apresentam 8 ou 6 gumes afiados de fbrica, que so usados sucessivamente por
giro da pastilha em seu suporte. Depois de usados todos os gumes, a pastilha
jogada fora. As ferramentas de cermica tm sido utilizadas com sucesso no
acabamento e desbaste de ferro fundido com dureza Brinell superior a 180
kgf/mm2 e o ferro fundido coquilhado com dureza Brinell at 500 kgf/mm2,
inclusive para ao temperado com uma dureza at 60 HRC. Tambm so prprias
para a usinagem de materiais que apresentam forte efeito abrasivo, como
plstico, grafite, ebonite. Na realidade quase todos os materiais podem ser
usinados com cermica. As poucas excees so:
1. Alumnio, que reage quimicamente com Al2O3.
2. Ligas de titnio, com alta percentagem de nquel e materiais resistentes ao
calor, devido a tendncia a reaes qumicas.
3. Magnsio, berlio e zircnio, que so inflamveis na temperatura de trabalho
da cermica.
A pastilha de cermica de corte tem as seguintes propriedades:
Cor (cermica pura)
branca
3
Peso especfico (gf/cm )
3,7 a 4,1
Dureza (HRA)
90 a 95
3.500
Resistncia compresso (N/mm2)
Resistncia flexo (N/mm2)
150 a 400
Temperatura de amolecimento (C)
1.800
Coeficiente de dilatao trmica linear (C-1)
0,8.10-6
-
Cermicas mistas - Ao lado das pastilhas cermicas acima descritas, esto
sendo utilizadas ferramentas de corte com menos de 90% de Al2O3, porm
com adies de xidos e carbonetos metlicos, especialmente de carboneto
de titnio e tambm carboneto de tungstnio. Estes materiais so
denominados CERMETOS (cermica + metal) na literatura anglo-americana,
que so compsitos. So obtidos por prensagem a quente, o que produz uma
estrutura de partida mais compacta do que no caso da cermica pura. So em
geral de cor preta. Na sinterizao, a presena de carbonetos de titnio e
outros xidos, inibe o crescimento dos gros. Isto confere aos cermetos
elevada dureza, maior tenacidade, resistncia ao desgaste do gume e
formao de crateras. Ao contrrio dos materiais cermicos, os cermets so
condutores eltricos, tm razovel condutividade trmica e so menos frgeis.
Tm um peso especfico de 5 a 6 gf/cm3. So menos sujeitos trincas
trmicas do que as cermicas puras. So usados na usinagem de ferro
fundido com dureza Brinell maior que 235 HB e aos com dureza de 34 a 66
HRC.
Cermicas base de nitreto de silcio - Em 1.981, foi introduzido um novo
tipo de cermica de corte, denominada SIALON que contm nitreto de silcio
(Si3N4), alm do Al2O3 e de uma fase TiC. Sua dureza a quente ainda melhor
184
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
que a das cermicas mistas. A resistncia a choques trmicos aproxima-se da
dos carbonetos. O SIALON, sob a forma de pastilhas pretas, est superando
as outras cermicas na usinagem em alta velocidade de ferro fundido e ligas
de nquel.
-
Diamantes naturais (monocristalinos) - Os diamantes naturais so obtidos
com a extrao mineral e classificam-se em Carbonos, Ballos e Borts. Os
Carbonos ou diamantes negros so diamantes aparentemente "amorfos", que
por aquecimento, perdem a sua dureza e, por isto so empregados apenas
para aplicaes especiais, como ferramentas para retificar rebolos, pontas de
brocas para minas, assim como para trabalhar fibras, borracha e plsticos. Os
Ballos so diamantes claros, de crescimento irregular, especialmente duros
em virtude de sua estrutura. Pelo fato de serem redondos, no encontram
aplicao na fabricao de ferramentas de corte e de rebolos. Os Borts,
especialmente o africano, claro. Seu valor depende da qualidade e do
nmero de bordos naturais de trabalho que oferece, se bem que hoje d-se
mais importncia dureza. Isto porque, em lugar de bordos naturais, preferese gumes lapidados no diamante com ngulos apropriados. Os Borts so
diamantes mono-cristalinos. Sua caracterstica principal a sua anisotropia,
isto , suas propriedades mecnicas (dureza, resistncia, mdulo de
elasticidade) variam com a direo. Eles tm tambm quatro direes
preferenciais de clivagem. Conclui-se da, que para tanto a preparao do
diamante por lapidao como para a sua montagem num porta-ferramenta,
deve-se conhecer a disposio da estrutura cristalina. Enquanto que a
lapidao deve ocorrer sempre na direo de mnima dureza, a montagem do
monocristal no porta ferramenta deve ser feita de modo que a fora de
usinagem seja orientada na direo de mxima dureza. Ferramentas de
diamante monocristalino so especialmente indicadas na usinagem de metais
leves como bronze, lato, cobre, ligas de estanho, borracha dura e mole, bem
como vidro, plstico e pedras. O campo de aplicao so principalmente as
operaes de usinagem fina, onde so feitas grandes exigncias de preciso
dimensional e qualidade superficial.
A usinagem de ao e ferro fundido no possvel, em virtude da
afinidade do ferro com o carbono. O diamante, na zona de contato com a pea de
ao, em virtude da alta temperatura, transforma-se em grafite e reage com o ferro.
Isto leva a um rpido desgaste do gume. O diamante permite obter uma elevada
preciso dimensional e acabamento brilhante que iguala-se a um apurado
polimento. A velocidade de corte praticamente no tem limite superior.
Velocidades de 2.000 m/min j foram experimentadas com sucesso. No se
recomendam velocidades inferiores a 100 rpm. Os avanos usualmente de 0,02
mm/rot a 0,06 mm/rot e as profundidades de corte de 0,01 ate 0,2 mm.
-
Diamante policristalino - Em 1.973 foi apresentado pela primeira vez uma
ferramenta com uma camada de diamante sinttico policristalino. A matria
prima so partculas muito finas de diamantes sintticos, de granulao muito
definida para obter-se o mximo de homogeneidade e densidade. A camada
de diamante policristalino produzida pela sinterizao das partculas de
diamante com cobalto num processo de alta presso (6.000 a 7.000 MPa) e
alta temperatura (1.400 a 2.000 oC). A camada de aproximadamente 0,5 mm
de espessura, ou aplicada diretamente sobre uma pastilha de metal duro
185
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
pr-sinterizado ou ento ligada ao metal duro atravs de uma fina camada
intermediria de um metal de baixo mdulo de elasticidade.
A camada de diamante tem carter isotrpico em virtude da distribuio
irregular dos gros de diamante. No atinge nunca a dureza do diamante
monocristalino na direo de mxima dureza. As pastilhas com uma camada de
diamante policristalino podem ser soldadas em cabos ou fixadas mecanicamente
em porta-ferramentas padronizados, pois tem a forma e as dimenses iguais as
das pastilhas comerciais de metal duro. As ferramentas de diamante policristalino
podem ser usadas na usinagem de metais leves, cobre, lato, bronze, estanho,
diversos plsticos, asbesto, fibras reforadas de vidro, carbono ou outros
materiais, exceto materiais ferrosos e duralumnio.
-
Nitreto de boro cbico cristalino (CBN) Depois do diamante, os cristais
cbicos de nitreto de boro so o material mais duro que se conhece. Trata-se
de um material sinttico, obtido pela reao de halognietos de boro com
amonaco. Como no carbono, existe uma forma macia, de estrutura cristalina
hexagonal, igual ao do grafite e uma forma dura, tetragonal, de estrutura
idntica ao do diamante. Nitreto de boro foi obtido pela primeira vez em 1.957,
pela transformao de nitreto de boro de estrutura hexagonal em estrutura
tetragonal, sob presses de 5.000 a 9.000 MPa e temperaturas de 1.500 a
1.900 C, na presena de um catalisador (ltio). O CBN quimicamente bem
mais estvel do que o diamante, especialmente contra oxidao. Sob presso
atmosfrica, o CBN estvel at 2.000 C, enquanto no diamante j ocorre
grafitizao a 900 C.
As pastilhas de CBN so executadas de forma anloga as de diamante
policristalino. Umas camada de 0,5 mm de espessura de partculas de nitreto de
boro so sinterizadas num processo de alta presso e alta temperatura, com a
presena de uma fase ligante, efetivando-se simultaneamente a fixao sobre
uma base de metal duro. Distinguem-se pastilhas que devem ser soldadas num
cabo e retificadas com rebolo de diamante e pastilhas de fixao mecnica, que
podem ser usadas com porta-ferramentas convencionais. As ferramentas de CBN
so empregadas preferencialmente na usinagem dos aos duros (45 a 65 HRC),
mesmo em condies difceis, ao rpido, ligas resistentes a altas temperaturas
na base de nquel e cobalto. Alm disso, servem para a usinagem de
revestimentos duros, com altas percentagens de carbonetos de tungstnio ou CrNi, aplicados por soldagem de deposio ou jato de material liquefeito por chama.
So usadas velocidades de corte de 50 a 200 m/min, avanos de 0,1 a 0,3 mm,
profundidade menor ou igual a 2,5 mm.
Devido sua elevada resistncia ao impacto, podem ser usadas em cortes
severos, interrompidos e na remoo de cascas tenazes, abrasivas e irregulares
de peas fundidas e forjadas e peas de ferro fundido coquilhado. As ferramentas
de CBN servem para cortes interrompidos bem como par usinagem de desbaste,
de acabamento e usinagem fina. Rugosidades inferiores a 1 m so obtidos,
dispensando a retificao.
186
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14 ENSAIOS DE MATERIAIS
14.1 INTRODUO
A nova tendncia de matrias-primas e o desenvolvimento dos processos
de fabricao determinaram criao de mtodos padronizados de produo, e
ao mesmo tempo, desenvolveram-se processos e mtodos de controle de
qualidade dos produtos. Entende-se que o controle de qualidade precisa comear
pela matria prima e deve ocorrer durante todo o processo de produo, incluindo
a inspeo e os ensaios finais nos produtos acabados.
Todos os materiais tm propriedades distintas. A comear pela Tabela
Peridica, onde cada elemento qumico tem um nmero e massa atmica prpria.
O uso correto do material depende do profundo conhecimento dele e das
implicaes tecnolgicas de sua obteno, por exemplo, metais, semicondutores,
cermicos, plsticos, compsitos. Todos esses materiais podem ser encontrados
tanto em uma cama quanto em uma aeronave.
Os materiais acima descritos podem ser agrupados em dois grupos e
quatro subgrupos: materiais metlicos; materiais no-metlicos.
MATERIAIS
METLICOS
Ferrosos
Aos
Ferros fundidos
NO-METLICOS
Naturais
Madeira
Asbesto
Couro
Semicondutor
(C, Ge, Si,...)
No-ferrosos
Alumnio
Cobre
Zinco
Magnsio
Chumbo
Tungstnio
Borracha
Sintticos
Vidro
Cermica
Plstico
Semicondutor
(GaAs,
GaAsP,
CdS,...)
Borracha
Compsito
Alguns dos materiais do quadro acima so duros e frgeis, outros so
moles e dcteis. Uns tem elevado ponto de fuso, outros tem baixo e alguns nem
apresentam ponto de fuso definido, ou seja, os materiais apresentam
propriedades fsicas e qumicas distintas.
Propriedades fsicas: podem ser agrupadas, a esta propriedade, as
propriedades mecnicas, trmicas, eltricas, magnticas e ticas; s vezes
comum encontrar a propriedade mecnica de um material distinta da propriedade
fsica.
Propriedades qumicas: podem ser agrupadas, a esta propriedade, as
propriedades de atividade, difusividade, resistncia a oxidao, resistncia
corroso.
187
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
As propriedades mecnicas aparecem quando o material est sujeito a
esforos de natureza mecnica, isto , propriedades que determinam a maior ou
menor capacidade de resistir ou transmitir esforos que lhe so aplicados. Essa
capacidade necessria durante o processo de fabricao, como tambm
durante a sua utilizao. Em termos de indstria mecnica, a propriedade
mecnica considerada uma das mais importantes para a escolha da matriaprima. As propriedades mecnicas que se tem maior interesse so: resistncia
trao e compresso, dureza, ductilidade, fragilidade, elasticidade, plasticidade,
tenacidade, maleabilidade.
Resistncia trao e compresso: a resistncia que o material oferece
esforos de trao ou de compresso at a sua ruptura. Esta resistncia medida
atravs de ensaios de trao ou de compresso na mquina universal de ensaio;
Dureza: a resistncia que o material oferece penetrao, deformao
plstica permanente e, ou ao desgaste. Esta propriedade tem definies
metalrgicas, mineralgicas e mecnicas. Esta resistncia medida atravs de
ensaios de dureza;
a)
b)
Figura 14.1 - Equipamentos de ensaios mecnicos. a) Mquina de ensaio universal;
b) Durmetro.
Ductilidade: a capacidade que um material tem de se deformar sem
rompimento, quando for submetido a presso esttica;
Fragilidade: a capacidade que um material apresenta de romper-se quando for
submetido a impacto. Em geral, os materiais duros so tambm frgeis;
Elasticidade: a capacidade que um material tem de se deformar, quando
submetido a um esforo, e recuperar sua forma original, quando for cessado o
esforo que o deformou;
188
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Plasticidade: a capacidade que um material tem de se deformar, quando
submetido a um esforo, e manter-se deformado aps cessado o esforo que o
deformou;
Tenacidade: a capacidade que um material tem de absorver energia at a sua
ruptura, quando o mesmo for submetido esforos estticos ou dinmicos. Os
materiais dcteis apresentam maior tenacidade que os materiais frgeis. O ferro
fundido e o vidro so dois materiais frgeis, entretanto, os ferros fundidos
apresentam maior tenacidade que os vidros;
Maleabilidade: a capacidade que um material tem de se transformar em
lminas quando submetidos a esforos estticos.
Os ensaios mecnicos dos materiais so procedimentos padronizados
mediante normas tcnicas que compreendem testes, clculos, grficos para a
determinao de propriedades mecnicas. As normas tcnicas mais utilizadas
pelos laboratrios de ensaios vem das seguintes instituies: ABNT (Associao
Brasileira de Normas Tcnicas); ASTM (American Society for Testing and
Materials); DIN (Deuches Institut fr Normung); AFNOR (Association Franaise de
Normalisation); BSI (British Standards Institution); ASME (American Society of
Mechanical Engineer); ISO (International Organization for Standardization); JIS
(Japanese Industrial Standards); SAE (Society of Automotive Engineers). Realizar
um ensaio consiste em submeter um objeto j fabricado ou um material que vai
ser processado industrialmente a situaes que simulam esforos nas condies
reais de uso, chegando a limites extremos de solicitao. Os ensaios mecnicos
padronizados so realizados em laboratrios equipados adequadamente para
levantamento de dados, entretanto, alguns ensaios no padronizados para uma
anlise prvia, pode ser feita em oficina como o ensaio por lima (verificao de
dureza por meio do corte de cavaco), ensaio em esmeril (verificao do teor de
carbono em um ao atravs da anlise da centelha); ensaio de tombamento
(verificao da resistncia ao impacto).
Existem vrios critrios para classificar os ensaios mecnicos. A
classificao mais utilizada a que separa em dois grupos:
Ensaios destrutivos: so aqueles que ocorrem mediante a destruio do corpo
de prova ou pea ou que deixam algum sinal, mesmo que estes no fiquem
inutilizados. Estes ensaios so: Trao, Compresso, Cisalhamento, Dobramento,
Flexo, Embutimento, Toro, Dureza, Fluncia, Fadiga, Impacto.
Ensaios no destrutivos: so aqueles que aps sua realizao no deixam
nenhuma marca ou sinal e, por conseqncia, nunca inutilizam a pea ou corpo
de prova. Por esta razo, podem ser usados para detectar falhas em produtos
acabados ou semi-acabados. Estes ensaios so: Lquido Penetrante, Partculas
Magnticas, Ultra-som e Radiografia Industrial.
14.2 - ENSAIO DE TRAO
O ensaio de trao consiste em submeter uma pea ou corpo de prova a
um esforo que tende along-lo at a ruptura, desta forma, possvel conhecer
como os materiais reagem aos esforos ou cargas de trao, que so lidos na
prpria mquina de ensaio ou atravs de um computador acoplado que registra
189
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
as cargas e as deformaes ocorridas, e quais os limites de trao que suportam.
Atravs deste ensaio, pode-se determinar a tenacidade de um material.
Pode-se afirmar que uma pea est submetida a esforos de trao,
quando uma carga normal F (tem a
A
direo do eixo da pea), atuar
sobre a rea de seco transversal
da pea. Quando a carga atuar no
F
sentido dirigido para o exterior da
pea, a pea est tracionada.
Figura 14.2 - Pea tracionada.
Esta tenso tambm denominada de tenso normal de trao. A carga
normal F, que atua na pea, origina nesta, uma tenso normal (sigma), que
determinada atravs da relao entre a intensidade da carga aplicada F, e a
rea de seo transversal da pea A.
onde:
- tenso normal [ N/mm2; MPa; ...]
F - fora normal ou axial [N; kN; ...]
A - rea da seco transversal da pea [m2; mm2; ...]
No Sistema Internacional, a fora expressa em newtons (N), a rea em
metros quadrados (m2). A tenso () ser expressa, ento, em N/m2, unidade que
denominada pascal (Pa). Na prtica, o pascal torna-se uma medida muito
pequena para tenso, ento usa-se mltiplos desta unidade, que so o
quilopascal (kPa), megapascal (MPa) e o gigapascal (GPa).
1 Pa
1 MPa
1 GPa
1 MPa
1 N/m2
1 N/mm2
103 MPa
0,102 kgf/mm2
A aplicao de uma fora axial de trao em um corpo de prova produz
uma deformao neste
corpo, embora muitas
vezes no perceptvel
a
olho.
Esta
deformao seguida
de um aumento no seu
comprimento
com
diminuio da rea da
seco
transversal,
conforme ilustra a
figura ao lado.
Figura 14.3 - Corpo de prova de ensaio de trao. a) antes do ensaio; b) aps o ensaio.
190
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Antes do ensaio so medidas a rea de seo transversal A0 do CP e a
distncia L0 entre dois pontos marcados neste.
No ensaio de trao, o CP submetido a uma carga normal F. medida
que este carregamento aumenta, pode-se medir o aumento na distncia entre os
pontos marcados, o alongamento, e a reduo da rea na seco transversal, a
estrico, at a ruptura do material. O alongamento, cuja expresso matemtica
= L f L0 , geralmente confundido com a deformao. A deformao
L L0
.
longitudinal de um material definida como: = f
L0
onde:
- deformao [mm/mm; mm/m; % ]
Lo - comprimento inicial do CP [mm, cm, ...]
Lf - comprimento final do CP [mm, cm, ...]
Embora a deformao uma razo do alongamento com o comprimento
inicial, sendo portanto adimensional, muito comum entre tcnicos a unidade
mm/m pois d uma idia rpida do alongamento de um corpo com 1 metro de
comprimento.
H dois tipos de deformao que ocorrem quando um material submetido
a um esforo: a elstica e a plstica. A deformao elstica no permanente.
Uma vez cessados os esforos, o material volta a sua forma original. Esta
afirmao tem carter macroscpico, visto que ocorrem discordncias
irreversveis aps a aplicao de uma carga; A deformao plstica
permanente. Cessado os esforos, o material no volta a sua forma original.
14.2.1 - DIAGRAMA TENSO - DEFORMAO
Durante o ensaio de trao, as mquinas de ensaio realizam a relao F x
(fora x alongamento) na qual ocorre variao da carga aplicada e
conseqentemente o alongamento (Lf - L0) do corpo de prova e se considerar que
a rea da seo transversal invarivel, pode-se fazer a razo da fora pela rea
F
da seco transversal inicial (
) e do alongamento pelo comprimento inicial
A0
L L0
( f
), resultando o diagrama tenso - deformao ( x ). A0 rea de
L0
seco transversal inicial [mm2, cm2, ...]
O diagrama tenso - deformao varia muito de material para material, e
ainda, para um mesmo material podem ocorrer resultados diferentes devido a
variao de temperatura do corpo de prova e da velocidade da carga aplicada, e
principalmente pela anisotropia. Entre os diagramas x de vrios grupos de
materiais possvel, no entanto, distinguir algumas caractersticas comuns; elas
nos levam a dividir os materiais em duas importantes categorias, que so os
materiais dteis e os materiais frgeis.
Os materiais dcteis, como o ao, alumnio, cobre, bronze, lato, nquel e
outros, so caracterizados por apresentarem escoamento temperaturas
191
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
normais. O corpo de prova submetido a carregamento crescente, e com isso
seu comprimento aumenta, de incio lenta e
proporcionalmente ao carregamento. Desse modo, a parte
inicial do diagrama uma linha reta com grande
coeficiente angular. Entretanto, quando atingido um
valor crtico de tenso (tenso de escoamento - E), o
corpo de prova sofre uma grande deformao com pouco
aumento da carga aplicada. Quando o carregamento
atinge um certo valor mximo, o dimetro do CP comea
a diminuir, devido a perda de resistncia local. A esse
fenmeno dado o nome de estrico:
Figura 14.4 - Comportamento dos materiais atravs do diagrama x .
Af A0
100
A0
onde: - estrico [%]
A0 - rea de seco transversal inicial [mm2, cm2, ...]
Af - rea da seco transversal final [mm2, cm2, ...]
=
Aps ter comeado a estrico, um carregamento mais baixo o suficiente
para a deformao do corpo de prova, at a sua ruptura. A tenso E
correspondente ao incio do escoamento chamada de tenso de escoamento do
material; a tenso R
correspondente
a
carga
mxima
aplicada ao material
conhecida como
tenso
de
resistncia,
e
a
tenso
r
correspondente
ao
ponto de ruptura
chamada tenso de
ruptura.
Figura 14.5 - Material dctil. a) diagrama x ; b) aspecto da fratura.
Materiais frgeis, como ferro
fundido, vidro e pedra, so
caracterizados por uma ruptura
que
ocorre
sem
nenhuma
mudana sensvel no modo de
deformao do material. Ento
para os materiais frgeis no
existe diferena entre tenso de
resistncia e tenso de ruptura.
Figura 14.6 - Material frgil. a)
diagrama x ; b) aspecto da fratura.
192
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Alm disso, a deformao at a ruptura muito menor nos materiais frgeis do
que nos materiais dcteis. No h estrico nos materiais frgeis e a ruptura se
d em uma superfcie perpendicular ao carregamento.
14.2.2 - PROPRIEDADES MECNICAS AVALIADAS
A figura ao lado que
representa um diagrama tenso
- deformao de um material
com incluses no-metlicas
(Fe3C, AlSi, ...) em aos e
algumas ligas de alumnio,
mostra algumas propriedades
significantes que so:
Figura 14.7 - diagrama x para ligas do tipo ao baixo carbono.
p - Tenso Limite de Proporcionalidade: Representa o valor mximo da
tenso, abaixo do qual o material obedece a lei de Hooke.
E Tenso Limite de Escoamento: A partir deste ponto aumentam as
deformaes sem que se altere, praticamente, o valor da tenso. Quando se
atinge o limite de escoamento, diz-se que o material passa a escoar-se.
R - Tenso Limite de Resistncia: A tenso correspondente a este ponto
recebe o nome de limite de resistncia ou resistncia a trao, pois corresponde a
mxima tenso atingida no ensaio de trao.
r - Tenso de Ruptura: A tenso correspondente a este ponto recebe o nome
de limite de ruptura; a que corresponde a ruptura do corpo de prova.
Regio Elstica: O trecho da curva tenso - deformao, compreendido entre a
origem e o limite de proporcionalidade, recebe o nome de regio elstica.
Regio Plstica: Chama-se regio plstica o trecho compreendido entre o limite
de proporcionalidade e o ponto correspondente a ruptura do material.
A tenacidade e o mdulo de elasticidade longitudinal, geralmente
representada pela letra E, so duas outras propriedades mecnicas que podem
ser tiradas deste diagrama atravs de clculos. A tenacidade pode ser
determinada atravs da rea da curva de tenso - deformao com a abcissa
(deformao), enquanto que o mdulo de elasticidade longitudinal determinado
atravs de: E = tg . O mdulo de elasticidade longitudinal s vlido para a
regio que obedece a Lei de Hooke, ou seja, no regime elstico.
193
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Lei de Hooke
No trecho inicial do diagrama da figura acima, a tenso diretamente
proporcional deformao e pode-se escrever: E = . Essa relao
conhecida como Lei de Hooke, e se deve ao matemtico ingls Robert Hooke
(1.635-1.703). O coeficiente E chamado mdulo de elasticidade longitudinal,
ou mdulo de Young (cientista ingls, 1.773-1.829), que determinado pela fora
de atrao entre tomos dos materiais, isto , quando maior a atrao entre
tomos, maior o seu mdulo de elasticidade. Exemplos: Eao = 2,1 x 104 kgf/mm2,
Ealumnio = 0,7 x 104 kgf/mm2, etc. Esta propriedade tambm anisotrpica, pois
depende do material ser monocristalino, direo de crescimento do cristal,
material, e no caso de policristalino, a orientao e tamanho dos cristais (gros).
A tabela abaixo mostra o mdulo de elasticidade longitudinal de alguns materiais
de engenharia.
Metal
Mdulo de
Elasticidade
Longitudinal
(kgf/mm2)
Ferro, nquel, cobalto
Molibdnio, tungstnio
Cobre
Alumnio
Magnsio
21.000
35.000
11.900
7.000
4.550
Zinco
Zircnio
Estanho
9.800
10.150
4.200
Berlio
25.700
smio
Titnio
Chumbo
Rdio
56.000
10.000
1.750
29.750
Nibio
Ouro, prata
Platina
10.500
7.850
18.800
Liga
Mdulo de
Elasticidade
Longitudinal
(kgf/mm2)
Aos-carbono e aos-liga
21.000
Aos inoxidveis austenticos
19.600
Ferro Fundido Nodular
14.000
Bronzes e lates
7.700 - 11.900
Bronzes de mangans e ao
10.500
silcio
Bronzes de alumnio
8.400 - 13.300
Ligas de alumnio
7.000 - 7.450
Monel
13.000 18.200
Hastelloy
18.900 21.500
Invar (nquel-ferro)
14.000
Inconel
16.000
Illium
18.700
Ligas de titnio
11.200 12.100
Ligas de magnsio
4.550
Ligas de estanho
5.100 - 5.400
Ligas de chumbo
1.400 - 2.950
F
L L0
e = E e tambm que =
e = f
, pode-se tirar
A
L0
a seguinte expresso para clculos de alongamento no regime elstico:
F L0
=
. O alongamento ser positivo, quando a carga aplicada tracionar a
A0 E
pea, e ser negativo quando a carga aplicada comprimir a pea.
Sendo E =
194
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 14.8 - Alongamentos na trao e na compresso.
A lei de Hooke, em toda a sua amplitude, abrange tambm a deformao
D D0
transversal que, em caso de CP cilndrico, dado por: t = f
, onde D a
D0
medida nominal do dimetro do corpo de prova submetida a ao de carga
normal. O coeficiente de Poisson () determinado pela relao = .
t
Observe que o coeficiente de poisson ter um valor negativo tanto para a trao
quanto para a compresso em virtude dos sinais contrrios da deformao
longitudinal e deformao transversal.
A curva de tenso - deformao descrita acima chamada de curva de
engenharia, onde pode-se tirar valores apropriados at o momento em que se
atinge a carga mxima. Tendo em vista que a rea da seco transversal diminui
medida que amplia-se a carga no corpo de prova, e que a partir do momento
que se atinge a carga mxima, comea ocorrer fratura no sentido de dentro para
fora, a rea da seco transversal comea a reduzir-se de forma brusca. Como a
tenso a razo entre fora e rea da seco transversal, ocorre na realidade um
aumento de tenso que obedece uma funo logartima. A figura abaixo
representa esta considerao da determinao da curva real de tenso.
Curva real
Curva de engenharia
A tenso real, real , definida por:
F
real = , onde F e A so as foras e
A
reas da seco transversal em cada
instante. Da mesma forma, pode-se definir
a deformao longitudinal real a cada
L dL
L
= ln .
instante dado por: real =
L0 L
L0
0
Supondo que a deformao ao longo do
corpo de prova seja uniforme e admitindose volume constante pode-se demonstrar
que: real = ln(1+ ) ; real = (1 + ) .
Figura 14.9 - Curvas de tenses reais e de engenharia.
195
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.2.3 - CORPOS DE PROVA
O ensaio de trao feito em corpos de prova com caractersticas
especificadas de acordo
com normas tcnicas.
Geralmente utilizam-se
corpos de prova de
seo circular ou de
seo retangular. Estas
condies
dependem
dos
acessrios
da
mquina de ensaio de
trao
e
tambm
dependem da forma e
tamanho do produto
acabado do qual foram
retirados,
como
mostram as figuras a
seguir.
Figura 14.9 - Mquina de ensaio e registrador.
A parte til do corpo de prova, identificada no desenho anterior por L0, a
regio onde so feitas as medidas das propriedades mecnicas do material. As
cabeas so as regies extremas, que servem para fixar o corpo de prova
mquina de modo que a
fora de trao atuante
seja axial. Devem ter
seo maior do que a
parte til para que a
ruptura do corpo de prova
no ocorra nelas. Suas
dimenses
e
formas
dependem do tipo de
fixao mquina. Os
tipos de fixao mais
comuns
so:
cunha,
rosca, flange.
Figura 14.10 - Corpos de prova.
Entre as cabeas e a parte til h um raio de concordncia para evitar que
a ruptura ocorra fora da parte til do corpo de prova. O comprimento da parte til
dos corpos de prova utilizados nos ensaios de trao deve corresponder a 5
vezes o dimetro da seo da parte til. Sempre que possvel um corpo de prova
deve ter 10 mm de dimetro e 50 mm de comprimento inicial. No sendo possvel
a retirada de um corpo de prova deste tipo, deve-se adotar um corpo com
dimenses proporcionais a essas medidas. Corpos de prova com seo
retangular so geralmente retirados de placas, chapas ou lminas. Suas
196
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
dimenses e tolerncias de usinagem so normalizadas pela ISO/ R377 enquanto
no existir norma brasileira correspondente. A norma brasileira (NBR - 6152,
dez./1980) somente indica que os corpos de prova devem apresentar bom
acabamento de superfcie e ausncia de trincas.
Figura 14.11 - Tipos de fixao.
Em materiais soldados, podem ser retirados corpos de prova com a solda
no meio ou no sentido longitudinal da solda, figura abaixo. Os ensaios dos corpos
de prova soldados normalmente determinam apenas o limite de resistncia
trao. Ao efetuar o ensaio de trao de um corpo de prova com solda, tensionase simultaneamente dois materiais de propriedades diferentes (metal de base e
metal de solda). Os valores obtidos no ensaio no representam as propriedades
nem de um nem de outro material, pois umas so afetadas pelas outras. O limite
de resistncia trao tambm afetado por esta interao, mas determinado
mesmo assim para finalidades prticas.
Para preparar o
corpo de prova para o
ensaio de trao deve-se
medir o dimetro do corpo
de prova em vrios pontos
na parte til, utilizando um
micrmetro, e calcular a
mdia. Por fim, deve-se
traar as divises no
comprimento til. Em um
corpo de prova de 50 mm
de
comprimento,
as
marcaes devem ser
feitas de 5 em 5 mm.
Figura 14.12 - Preparao de corpo de prova.
Aps o ensaio, junta-se da melhor forma possvel, as duas partes do corpo
de prova. Procura-se o risco mais prximo da ruptura e conta-se a metade das
divises (n/2) para cada lado. Mede-se ento o comprimento final, que
corresponde distncia entre os dois externos dessa contagem. Este o mtodo
para determinar o comprimento final quando a ruptura ocorre no centro da parte
til do corpo de prova.
197
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Quando a ruptura ocorre fora do centro, de modo a no permitir a
contagem
de
n/2
divises de cada lado,
deve-se
adotar
o
seguinte procedimento
normalizado:
Toma-se o risco
mais
prximo
da
ruptura.
Conta-se n/2 divises de um dos lados.
Figura 14.13 - Ruptura do corpo de prova no centro.
Acrescentam-se ao comprimento do lado oposto quantas divises forem
necessrias
completar
para
as
n/2
divises.
A medida de Lf
ser a somatria de
L+
L,
conforme
mostra a figura a
seguir.
Figura 14.14 - Ruptura do corpo de prova fora de centro.
14.2.3.1 - Limite de escoamento: valores convencionais
O limite de escoamento , em
algumas situaes, alternativo ao limite
elstico, pois tambm delimita o incio da
deformao permanente (um pouco
acima). Ele obtido verificando-se a parada do ponteiro na escala da fora durante o
ensaio e o patamar formado no grfico
exibido pela mquina. Com esse dado
possvel calcular o limite de escoamento do
material. Entretanto, vrios metais no
apresentam escoamento, e mesmo nas
ligas em que ocorre ele no pode ser
observado, na maioria dos casos, porque
acontece muito rpido e no possvel
detect-lo.
Figura 14.15 - Determinao do limite de escoamento.
198
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Por essas razes, foram convencionados alguns valores para determinar
este limite. O valor convencionado (n) corresponde a um alongamento percentual.
Os valores de uso mais freqente so:
n = 0,2%, para metais e ligas metlicas em geral;
n = 0,1%, para aos ou ligas no ferrosas mais duras;
n = 0,01%. para aos-mola e ferros fundidos.
Graficamente, o limite de escoamento dos materiais citados pode ser
determinado pelo traado de uma linha paralela ao trecho reto do diagrama
tenso-deformao, a partir do ponto n. Quando essa linha interceptar a curva, o
limite de escoamento estar determinado, como mostra a figura abaixo.
14.3 - ENSAIO DE COMPRESSO
O ensaio de compresso consiste em submeter uma pea ou corpo de
prova a um esforo que tende a encurt-lo at a ruptura, desta forma, possvel
conhecer como os materiais reagem aos esforos ou cargas de compresso. O
ensaio de compresso o mais indicado para avaliar essas caractersticas,
principalmente quando se trata de materiais frgeis, como ferro fundido, madeira,
pedra e concreto. tambm recomendado para produtos acabados, como molas
e tubos.
No se costuma utilizar ensaios de compresso para os metais, em virtude
que a resistncia compresso aproximadamente igual a da trao. Nos
ensaios de compresso, os corpos de prova so submetidos a uma fora axial
para dentro, distribuda de modo uniforme em toda a seo transversal do corpo
de prova. Do mesmo modo que o ensaio de trao, o ensaio de compresso pode
ser executado na mquina universal de ensaios, com a adaptao de duas placas
lisas uma fixa e outra mvel. E entre elas que o corpo de prova apoiado e
mantido
firme
durante
a
A
compresso.
As
relaes
matemticas para a trao valem
F
F
tambm para a compresso, isso
significa que um corpo submetido
a compresso tambm sofre uma
deformao elstica seguido de
uma deformao plstica. Nos
ensaios de compresso, a lei de
F
F
Hooke tambm vale para a fase
=
elstica da deformao, e
A
possvel determinar o mdulo de
elasticidade
para
diferentes
materiais.
Figura 14.16 - Esquema da compresso.
199
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.3.1 - LIMITAES DO ENSAIO DE COMPRESSO
O ensaio de compresso no muito utilizado para os metais em razo
das dificuldades para medir as propriedades avaliadas neste tipo de ensaio. Os
valores numricos so de difcil verificao, podendo levar a erros. Um problema
que sempre ocorre no ensaio de compresso o atrito entre o corpo de prova e
as placas da mquina de ensaio.
A deformao lateral do corpo de prova barrada pelo atrito entre as
superfcies do corpo de prova e da mquina. Para diminuir esse problema,
necessrio revestir as faces superior e inferior do corpo de prova com materiais
de baixo atrito (parafina, teflon etc). Outro problema a possvel ocorrncia de
flambagem,
isto
,
encurvamento do corpo
de prova. Isso decorre
da
instabilidade
na
compresso do metal
dctil. Dependendo das
formas de fixao do
corpo de prova, h
diversas possibilidades
de
encurvamento,
conforme
mostra
a
figura ao lado.
Figura 14.17 - Ensaio de compresso. a) normal; b) flambagem.
A flambagem ocorre principalmente em corpos de prova com comprimento
maior em relao ao dimetro. Por esse motivo, dependendo do grau de
ductilidade do material, necessrio limitar o comprimento dos corpos de prova,
que devem ter de 3 a 8 vezes o valor de seu dimetro. Em alguns materiais muito
dcteis esta relao pode chegar a 1:1 (um por um). Outro cuidado a ser tomado
para evitar a flambagem o de garantir o perfeito paralelismo entre as placas do
equipamento utilizado no ensaio de compresso. Deve-se centrar o corpo de
prova no equipamento de teste, para garantir que o esforo de compresso se
distribua uniformemente.
14.3.2 - ENSAIO DE COMPRESSO EM MATERIAIS DCTEIS
Nos materiais dcteis a compresso vai provocando uma deformao
lateral aprecivel. Essa
deformao
lateral
prossegue com o ensaio at
o corpo de prova se
transformar num disco, sem
que ocorra a ruptura.
Figura 14.18 - Ensaio de compresso em materiais dcteis.
200
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Em virtude disto que o ensaio de compresso de materiais dcteis
fornece apenas as propriedades mecnicas referentes zona elstica. As
propriedades mecnicas mais avaliadas por meio do ensaio so: limite de
proporcionalidade, limite de escoamento e mdulo de elasticidade.
14.3.3 - ENSAIO DE COMPRESSO DIAMETRAL
Para materiais com elevado mdulo de elasticidade, que o caso de
muitos materiais metlicos e cermicos, a teoria mais conhecida a teoria das
tenses de Hertz ou tenses de contato, amplamente utilizada no
dimensionamento de elementos de mquinas, onde temos situaes
estabelecendo superfcies planas e curvas em contato, pressionadas umas contra
outras, resultando um estado triaxial de tenses. Quando isto ocorre, o ponto ou
linha de contato passa a ser efetivamente a rea de contato, desenvolvendo-se
nestas regies tenses tridimensionais, como, por exemplo, tenses de contato
entre uma roda e um trilho, ou
entre duas rodas dentadas. A
P
P
figura abaixo mostra o esquema
do mtodo do Ensaio de
D
Compresso Diametral que
L
baseado nas normas brasileiras
ABNT MB-212/58 e NBR-7222/83.
P
Figura 14.19 - Esquema de esforos aplicados em um corpo de prova cilndrico de
dimenses D e L.
A medida da fora de ruptura nos permite determinar a tenso limite de
resistncia trao simples, ou seja, a tenso de trao de ruptura, de acordo
2 P
, onde: a tenso limite de resistncia trao
com a equao: =
D L
simples [MPa], P a carga de ruptura [N], D o dimetro [mm] do corpo de prova
e L [mm] a espessura do corpo de prova.
As distribuies de tenses esto representadas na figura abaixo.
Ensaios de achatamento de tubos Consiste em colocar uma amostra de um
segmento de tubo deitada entre as placas da mquina
de compresso e aplicar carga at achatar a amostra.
P
O ensaio aplicado o de compresso diametral. A
distncia final entre as placas, que varia conforme a
dimenso do tubo, deve ser registrada. O resultado
avaliado pelo aparecimento ou no de fissuras, ou
seja, rachaduras, sem levar em conta a carga aplicada.
Este ensaio permite avaliar qualitativamente a
ductilidade do material, do tubo e do cordo de solda
do mesmo, pois quanto mais o tubo se deformar sem
P
trincas, mais dctil ser o material.
Figura 14.20 - Representao esquemtica da distribuio das tenses de compresso e de
trao.
201
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Ensaios em molas Para determinar a constante elstica de uma mola, ou para
verificar sua resistncia, faz-se o ensaio de compresso. Para determinar a
constante da mola, constri-se um grfico tenso-deformao, obtendo-se um
coeficiente angular que a constante da mola, ou seja, o mdulo de elasticidade.
Por outro lado, para verificar a resistncia da mola, aplicam-se cargas
predeterminadas e mede-se a altura da mola aps cada carga.
Figura 14.21 - Ensaios em molas.
Exerccios resolvidos
1) Um ao de baixo carbono (SAE 1010) tem como tenso de ruptura 40 Kgf/mm2.
Considerando que o corpo de prova tem dimetro nominal de 10 mm, qual
ser a fora de ruptura?
a) Dados:
r = 40 Kgf/mm2
D = 10 mm
Fr = ?
b) Frmulas:
F
=
A
D 2
A=
4
c) Soluo:
D 2 [10 mm]
A=
=
= 78,5 mm 2
4
4
F
= F = A
A
Kgf
F = A = 40
78,5 mm 2
mm 2
F = 3.140 Kgf
2
202
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
2) Considerando que um corpo de prova de ao SAE 1070 tem um dimetro
nominal de 15 mm e a fora com que o material se rompeu foi de 16.570 Kgf.
Qual a tenso de trao de ruptura (em MPa) que este ao apresenta?
a) Dados:
r = ?
D = 15 mm
Fr = 16.570 Kgf
b) Frmulas:
F
=
A
D 2
A=
4
c) Soluo:
2
D 2 [15 mm]
A=
=
= 176,625 mm 2
4
4
F
16570 Kgf
Kgf
=
=
2 = 93,8
A 176,625 mm
mm2
Kgf
= 93,8
= 920,3 MPa
mm2
3) Calcule a deformao sofrida por um corpo de prova de 15 cm de comprimento
e que aps o ensaio de trao apresentou 16 cm de comprimento.
a) Dados:
lo = 15 cm
lf = 16 cm
=?
b) Frmulas:
l f lo
=
lo
c) Soluo:
=
=
l f lo
lo
l f lo
lo
16 15
= 6,67 102
15
4) Uma liga de alumnio possui um Mdulo de Elasticidade Longitudinal de 7.040
Kgf/mm2 e um limite de escoamento de 28 Kgf/mm2. Pede-se:
Qual a carga que pode ser suportado por um fio de 1,74 mm de dimetro sem
que ocorra deformao permanente?
a) Dados:
e = 28 Kgf/mm2
D = 1,74 mm
203
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Fe = 7.800 Kgf
b) Frmulas:
F
=
A
D 2
A=
4
c) Soluo:
D 2 (1,74 mm)
A=
=
= 2,377 mm2
4
4
F
Kgf
2
= F = A = 28
2 2,377 mm
A
mm
F = A = 66,54 Kgf
2
Se uma carga de 44 kgf suportada por um fio de 3,05 mm de dimetro, qual
ser a deformao?
a) Dados:
E = 7.040 Kgf/mm2
=?
=?
F = 44 Kgf
D = 3,05 mm
b) Frmulas:
E=
D2
A=
4
F
=
A
= E
c) Soluo:
D 2 (3,05 mm)
A=
=
= 7,30 mm2
4
4
F
44 Kgf
Kgf
=
=
2 = 6,02
A 7,30 mm
mm2
E= =
E
Kgf
6,02
mm2 = 8,55 104
=
=
Kgf
E
7.040
mm2
2
204
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.4 - ENSAIO DE FLEXO
O ensaio de flexo geralmente feito de modo a reproduzir, no laboratrio,
as condies da prtica. Desse modo, possvel criar vrias maneiras de se
efetuar esse ensaio, desde que a pea possa ser adaptada diretamente em uma
mquina comum. Muitas vezes, so feitos ensaios de flexo em produtos
contendo partes soldadas ou unidas por qualquer tipo de juno, e a carga
aplicada prximo extremidade de uma das partes at que haja inicio de ruptura
na juno, ficando a outra extremidade presa por meio de dispositivos; assim,
pode-se verificar at que esforo de flexo a pea pode sofrer sem se romper.
14.4.1 - SIGNIFICADO DE FLEXO
Flexo a solicitao que tende a modificar a direo do eixo geomtrico
de uma pea. A flexo de uma barra pode ser obtida nas seguintes condies:
a barra pode ter suas duas extremidades engastadas;
as duas apoiadas;
uma engastada e outra apoiada;
em balano.
Por outro lado, a carga defletora pode ser:
concentrada ou distribuda;
estar aplicada numa das extremidades;
no meio ou em um ponto qualquer.
Alm disso, a barra pode ser vertical ou horizontal. Os casos mais simples
so:
flexo plana circular;
flexo plana normal.
Quando se tem uma barra de seco
retangular de comprimento L, altura a, e
largura b da seco normal, e no centro est
aplicado uma fora cortante F, conforme
indica a figura. Os elementos internos da barra
estaro sujeitos a um sistema de tenses de
compresso e trao, mas h um plano em
que no h tenso, ou seja, tenso resultante
zero. Este plano geralmente denominado
de linha neutra.
Figura 14.22 - Flexo em uma barra de seco retangular.
205
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A tenso fletora dada pela
Mf c
expresso matemtica =
,
I
onde: a tenso fletora (tenso
normal de compresso ou de trao);
Mf o momento fletor; I o momento
de inrcia da seco transversal; c a
distncia da linha neutra a fibra mais
afastada. O sinal positivo e negativo
corresponde as tenses de trao e de
compresso respectivamente.
Figura 14.23 - Elemento da barra submetido flexo.
Na linha neutra, vista sob um plano, a
tenso resultante zero.
A figura abaixo mostra o caso da flexo
plana normal produzida por uma fora F
aplicada na extremidade livre de uma barra de
balano, com uma extremidade engastada.
Figura 101 - Viga em balano com engaste
rgido sendo fletida por uma fora F aplicada
em sua extremidade.
Figura 14.24 - Viga em balano com engaste rgido sendo fletida por uma fora F aplicada
em sua extremidade.
Em primeira deformao e dentro de um campo limitado de deformaes,
os corpos slidos reais obedecem lei de Hooke. As deformaes perfeitamente
elsticas em geral s ocorrem no incio do processo. Com o tempo, o esforo e a
deformao atingem valores assintticos, podendo haver a ruptura do material, a
fadiga do mesmo, ou a variao da sua tenso elstica, em que, aps a aplicao
sucessiva de esforos de trao ou compresso, permanece uma deformao
residual; o efeito de esfoliao ou clivagem em placas em determinadas direes
e em certos materiais cristalinos, como, por exemplo, a calcita e a mica. No
dimensionamento das peas flexo admitem-se apenas deformaes elsticas.
A tenso de trabalho fixada pelo fator de segurana ou pela tenso admissvel.
A frmula da tenso aplicada nas seces onde pode haver ruptura do material,
ou seja , nas regies que se tem momento fletor mximo que produzir tenses
de compresso e de trao mximas, a qual poder ser superior a tenso de
resistncia do material. O momento de inrcia de uma seco retangular segundo
a b3
um sistema de eixo carteziano YZ : I y =
(em relao ao eixo Y) e
12
b a3
Iz =
(em relao ao eixo Z). Para uma seco circular, o momento de inrcia
12
D4
em relao ao eixoY ou Z : I =
, onde D o dimetro da seco circular.
64
206
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.4.2 - MTODO DO ENSAIO DE FLEXO
A resistncia flexo
definida como a tenso
mxima de trao na
ruptura e denominado
freqentemente
como
mdulo de ruptura, MOR ,
do ingls modulus of
rupture. A resistncia a
flexo
determinada
atravs de frmulas acima
descritas e envolve clculos
de resistncia dos materiais
para a determinao do
momento fletor mximo.de
quatro pontos.
Figura 14.25 - Mtodo de flexo a quatro pontos.
O ensaio flexo feito, geralmente, com corpo de prova constitudo por
uma barra de seco
circular ou retangular para
facilitar os clculos, com um
comprimento especificado.
O ensaio consiste em
apoiar o corpo de prova sob
dois apoios distanciados
entre si de uma distancia
L, sendo a carga de
dobramento ou de flexo
aplicada no centro do corpo
de prova a uma distncia
L/2 de cada apoio (mtodo
de ensaio a trs pontos).
Figura 14.26 - Mtodo de flexo a trs pontos.
207
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A carga deve ser elevada lentamente at romper o corpo de prova. Desse
ensaio, pode-se tambm retirar outras propriedades do material, como o mdulo
de ruptura MOR ou resistncia ao dobramento, que o valor mximo da tenso
de trao ou compresso nas fibras extremas do corpo de prova durante o ensaio
de flexo (ou toro). Se a ruptura ocorrer dentro da zona elstica do material,
MOR representar, pois, a tenso mxima na fibra externa; caso ocorra na zona
plstica, o valor obtido para MOR maior que a tenso mxima realmente
atingida, porque a expresso determinada para uma distribuio linear (elstica)
de tenso entre o eixo da barra e as fibras externas. O valor do mdulo de ruptura
tambm pode ser relacionado com o limite de resistncia do material.
14.5 - ENSAIO DE DUREZA
A propriedade mecnica denominada dureza amplamente utilizada na
especificao de materiais, nos estudos e pesquisas mecnicas e metalrgicas e
na comparao de diversos materiais. Entretanto, o conceito de dureza no tem
um mesmo significado para todas as pessoas que tratam com essa propriedade.
O conceito divergente da dureza depende da experincia de cada um ao estudar
o assunto. Para um metalurgista, dureza significa a resistncia deformao
plstica permanente; um engenheiro define a dureza como a resistncia
penetrao de um material duro no outro; para um projetista, a dureza
considerada uma base de medida para o conhecimento da resistncia e do
tratamento trmico ou mecnico de um metal e da sua resistncia ao corte do
metal; e para um mineralogista, a dureza a resistncia ao riscamento que um
material pode fazer no outro. Assim, no possvel encontrar uma definio nica
de dureza que englobe todos os conceitos acima mencionados, mesmo porque
para cada um desses significados de dureza, existem um ou mais tipos de
medidas adequados. Sob esse ponto de vista, pode-se dividir o ensaio de dureza
em trs tipos principais, que dependem da maneira com que o ensaio conduzido
que so: por penetrao; por choque e por riscamento. O riscamento raramente
usado para os metais, mas bastante utilizado em cermicos. Com esse tipo de
medida de dureza, vrios minerais e outros materiais so relacionados quanto
possibilidade de um riscar o outro. A escala de dureza mais antiga para esse tipo
a escala de Mohs (1.822), que consiste em uma tabela de 10 minerais padres
arranjados na ordem crescente da possibilidade de ser riscado pelo mineral
seguinte. Assim, verifica-se que o talco (1) - tem dureza Mohs (isto , pode ser
riscado por todos os outros seguintes), seguindo-se a gipsita (2), calcita (3),
fluorita (4), apatita (5), ortoclsio (6), quartzo (7), topzio (8), safira (9) e diamante
(10). Desse modo, por exemplo, o quartzo risca o ortoclsio e riscado pelo
topzio. O cobre recozido tem dureza Mohs 3, pois ele risca a gipsita e riscado
pela fluorita; a martensita tem dureza Mohs aproximadamente igual a 7, e assim
por diante.
208
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Escala de dureza Mohs.
1 talco
Mg3H2Si4O12
2 gipsita
CaSO4 .
2H2O
3 calcita
CaCO3
4 fluorita
CaF2
5 apatita
CaF (PO4)3
6 ortoclsio
KAISio4
7 quartzo
Sio2
8 topzio
A12F2SiO2
9 corinto
A12 O3
10
C
diamante
Para os metais, essa escala no conveniente, porque os seus intervalos
no so propriamente espaados para ele, principalmente na regio de altas
durezas e a maioria dos metais fica entre as durezas Mohs 4 e 8, sendo que
pequenas diferenas de dureza no so precisamente acusadas por esse
mtodo.
Esses mtodos seriam teis para a medio da dureza relativa de
microconstituintes de uma liga metlica, mas no so mtodos de medida precisa
ou de boa reproduo, sendo mais usados no ramo da Mineralogia. A dureza por
penetrao a mais utilizada e citada nas especificaes tcnicas. Sero vistos
com mais detalhes as durezas por penetrao Brinell, Rockwell, Vickers, Knoop e
Meyer e a dureza por choque Shore (escleroscpica).
14.5.1 - DUREZA BRINELL
A dureza por penetrao, proposta por J. A. Brinell em 1.900, denominada
dureza Brinell e simbolizada por HB, o tipo de dureza mais usado at os dias de
hoje na Engenharia. O ensaio de dureza Brinell consiste em comprimir lentamente
uma esfera de ao, de dimetro D, sobre a superfcie plana, polida e limpa de um
metal atravs de uma carga Q durante um tempo t. Essa compresso provocar
uma impresso permanente no metal com o formato de uma calota esfrica, com
um dimetro d, o qual medido por intermdio de um micrmetro ptico
(microscpio ou lupa graduados), depois de removida a carga. O valor de d deve
ser tomado como mdia de duas leituras feitas a 90 uma da outra. A dureza
Brinell definida, em N/mm (ou kgf/mm), como o quociente entre a carga
aplicada pela rea de contato (rea superficial), S, a qual relacionada com os
valores D e d, conforme a expresso:
HB =
2Q
Q
Q
=
=
S C D. p D( D D 2 d 2 )
209
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Sendo p a profundidade da impresso.
A unidade N/mm ou kgf/mm, que deveria ser sempre colocada aps o
valor de HB, pode ser omitida, uma vez que a dureza Brinell no um conceito
fsico satisfatrio, porque a equao que fornece a dureza Brinell no leva em
considerao o valor mdio da presso sobre
toda a superfcie da impresso, que o que
realmente deveria ser observado.
A dureza Brinell no serve para peas
que
sofreram
tratamento
superficial
(cementao, nitretao, etc.). Superfcies no
planas no so propcias para o ensaio Brinell,
pois acarreta erro na leitura do dimetro, d.
Em geral, admite-se o ensaio em uma
superfcie com o dimetro 10 vezes o dimetro
da esfera utilizada.
Figura 14.27 - ngulo nas impresses Brinell.
14.5.2 - DUREZA ROCKWELL
Outro tipo de dureza por penetrao foi introduzido
em 1.922 por Rockwell, que leva o seu nome e oferece
algumas vantagens significantes que faz esse tipo de
dureza ser de grade uso internacional.
Figura 14.28 - Penetradores de Dureza Rockwell.
A dureza Rockwell, simbolizada por HR, elimina o tempo necessrio para a
medio de qualquer dimenso da impresso causada, pois o resultado lido
direta e automaticamente na mquina de ensaio, sendo, portanto, um ensaio mais
rpido e livre de erros pessoais. Alm disso, utilizando penetradores pequenos, a
impresso pede muitas vezes no prejudicar a pea ensaiada e pode ser usada
tambm para indicar diferenas pequenas de dureza numa mesma regio de uma
pea. A rapidez do ensaio torna-o prprio para usos em linhas de produo, para
verificao de tratamentos trmicos ou superficiais e para laboratrio.
O ensaio baseado na profundidade de penetrao de uma ponta,
subtrada da recuperao elstica devida retirada de uma carga maior e da
profundidade causada pela aplicao de uma carga menor. Os penetradores
utilizados na dureza Rockwell so do tipo esfrico (esfera de ao temperado) ou
210
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
cnico (cone de diamante, tambm chamado de penetrador-Brale, tendo as
arestas do cone 120).
Algumas mquinas analgicas j vm providas das escalas justapostas
que servem para todos os tipos de dureza Rockwell existentes e outras podem
ser lidas em visor digital. Essas escalas de dureza Rockwell so arbitrrias,
porm baseadas na profundidade da penetrao e so designadas por letras (A,
B, C, etc.), as quais devem sempre aparecer aps a sigla HR para diferenciar e
definir a dureza. O nmero de dureza obtido correspondente a um valor
adimensional, ao contrrio da dureza Brinell.
Na tabela abaixo so dadas as escalas usadas com o tipo de penetrador,
as cargas maiores e algumas aplicaes de cada escala.
Escala de dureza Rockwell comum.
CARGA
PENETRADOR
ESCALA
(kgf)
ROCKWELL A
60
Cone diamante
ROCKWELL C
150
120
ROCKWELL D
100
ROCKWELL B
100
Esfera 1/16
ROCKWELL F
60
ROCKWELL G
150
ROCKWELL E
100
Esfera 1/8
ROCKWELL H
60
ROCKWELL K
150
ROCKWELL L
60
Esfera 1/4
ROCKWELL M
100
ROCKWELL N
150
ROCKWELL R
60
Esfera 1/2
ROCKWELL S
100
ROCKWELL V
150
Escala de dureza Rockwell superficial.
15 N
15
Cone de
30 N
30
diamante
45 N
45
15 T
15
Esfera 1/16
30 T
30
45 T
45
LEITURA
Preta
Preta
Preta
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
Vermelha
CAMPO DE
AMPLIO
Ao cementado ou
temperado
Ao, ferro, bronze,
lato, etc. at 240
Brinell
Metal plstico
Ao cementado ou temperado
Ao, ferro e outros metais at 240
Brinell, chapas, etc.
A dureza Rockwell superficial emprega igualmente vrias escalas
independentes e utilizada para ensaios de dureza em corpos de prova de
pequena espessura, como lminas, e para metais que sofreram algum tratamento
superficial, como cemetao, nitretao, etc. As mquinas vm com as vrias
211
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
escalas acompanhadas. No caso da dureza Rockwell superficial, a pr-carga
sempre de 3 kgf.
Ao se fazer uma dureza num material desconhecido, deve-se primeiro
tentar uma escala mais alta para evitar danificao do penetrador. Assim, por
exemplo, usa-se antes a escala Rockwell C, HRC, para depois tentar as outras,
caso o resultado caia fora do intervalo de dureza HRC. As escalas mais utilizadas
so B, C, F, A, N e T. As demais s so empregadas em casos especiais. A
escala C tem seu uso prtico entre os nmeros 20 e 70. Abaixo de 20, deve-se
empregar a escala B para evitar erros; a dureza Rockwell B varia de
aproximadamente 50 a 100, a escala F entre 73 e 116,5 e a escala A a de maior
amplitude de variaes.
14.5.3 - DUREZA VICKERS
Essa dureza foi introduzida em 1.925 por Smith e Standland, levando o
nome Vickers, porque a Companhia Vickers-Armstrong Ltda fabricou as mquinas
mais conhecidas para operar com esse tipo de dureza. O penetrador uma
pirmide de diamante de base quadrada, com um ngulo de 136 entre as faces
opostas.
Como o penetrador um diamante, ele praticamente indeformvel e
como todas as impresses so semelhantes entre si, no importando o seu
tamanho, a dureza Vickers (HV) independente da carga, isto , o nmero de
dureza obtido o mesmo qualquer que seja a carga usada para materiais
homogneos. Para esse tipo de dureza, a carga varia de 1 at 100 ou 120 kgf. A
mudana da carga necessria para se obter uma impresso regular, sem
deformao no visor da mquina; isso depende, naturalmente, da dureza do
material que se est ensaiando, como no caso da dureza Brinell. A forma da
impresso um losango regular, ou seja, quadrada, e pela mdia L das suas
diagonais,
tem-se,
conforme
a
expresso
seguinte,
a
dureza
carga
Vickers: HV =
, ou seja,
area da superficie piramidal
HV =
136
2 , que simplificado fica: HV = 1,8544Q
2
L
L2
2Qsen
Como Q dado em kgf ou N e L em mm, a dimenso da dureza Vickers
N/mm ou kgf/mm. Esse tipo de dureza fornece, assim, uma escala contnua de
dureza (de HV = 5 at HV = 1 000 kgf/mm) para cada carga usada.
14.5.4 - DUREZA SHORE
Em 1.907, Shore props uma medida de dureza por choque que mede a
altura do ressalto (rebote) de um peso que cai livremente at bater na superfcie
lisa e plana de um corpo de prova. Essa altura de ressalto mede a perda da
energia cintica do peso, absorvida pelo corpo de prova. Esse mtodo
conhecido por dureza escleroscpica ou dureza de Shore.
212
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.6 - ENSAIO DE IMPACTO
Os ensaios de impacto so utilizados a fim de descobrirmos o quanto um
material resiste s cargas dinmicas para que, em situaes reais de uso, no
ocorram fraturas nesse material, inviabilizando assim a utilizao de determinados
equipamentos. Para equipamentos que so submetidos a esforos de impacto,
devem ser utilizados materiais capazes de absorver energia e dissip-la, evitando
assim sua ruptura. Atravs dos ensaios obtemos os valores de energia absorvida
para cada material ensaiado, e assim determinamos a utilizao ou no dos
mesmos. Estes testes so usados para caracterizar a propenso e o grau de
fragilidade de um polmero quando submetido ao de esforos bruscos. Essa
condio de trabalho empregada no corpo para que atinge o seu limite mximo de
elasticidade denominada resilincia.
O ensaio de impacto caracteriza-se por submeter o corpo ensaiado a uma
fora brusca e repentina, que deve romp-lo. bem melhor saber quanto o
material resiste a uma carga dinmica numa situao de ensaio do que numa
situao real de uso. A maioria dos ensaios mecnicos no avalia o
comportamento dos materiais submetidos a esforos dinmicos. No caso da
fadiga, embora os esforos sejam dinmicos, o ensaio correspondente leva mais
em conta o fato de serem cclicos. Porm a maioria das mquinas e
equipamentos, quando em funcionamento, est submetida a esforos dinmicos.
As fraturas produzidas por impacto
podem ser frgeis ou dcteis. As fraturas
frgeis caracterizam-se pelo aspecto
cristalino e as fraturas dcteis apresentam
aparncia fibrosa. Os materiais frgeis
rompem-se sem nenhuma deformao
plstica, de forma brusca. Por isso, esses
materiais no podem ser utilizados em
aplicaes nas quais sejam comuns
esforos bruscos, como em eixos de
mquinas, bielas etc.
Figura 14.29 - Aspectos da fratura .
Para estas aplicaes so desejveis materiais que tenham capacidade de
absorver energia e dissip-la, para que a ruptura no acontea, ou seja, materiais
que apresentem tenacidade. Esta propriedade est relacionada com a fase
plstica dos materiais e por isso se utilizam as ligas metlicas dcteis neste tipo
de aplicao. Porm, mesmo utilizando ligas dcteis, com resistncia suficiente
para suportar uma determinada aplicao, verificou-se na prtica que um material
dctil pode romper-se de forma frgil. Esta caracterstica dos materiais ficou mais
evidente durante a Segunda Guerra Mundial, quando os equipamentos blicos
foram levados a solicitaes crticas de uso, despertando o interesse de pesquisa
por este assunto. Os materiais dcteis podem romper-se sem deformao plstica
213
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
aprecivel, ou seja, de maneira frgil, quando as condies abaixo estiverem
presentes:
velocidade de aplicao da carga suficientemente alta;
trinca ou entalhe no material;
temperatura de uso do material suficientemente baixa.
Alguns materiais so mais afetados pela velocidade alta do impacto,
apresentando uma sensibilidade que chamada sensibilidade velocidade. Uma
trinca promove concentrao de tenses muito elevadas, o que faz com que a
maior parte da energia produzida pela ao do golpe seja concentrada numa
regio localizada da pea, com a conseqente formao da fratura frgil. A
existncia de uma trinca, por menor que seja, muda substancialmente o
comportamento do material dctil. Esta caracterstica do material dctil, de
comportar-se como frgil devido trinca, freqentemente chamada de
sensibilidade ao entalhe.
Com relao temperatura, a mesma exerce um efeito muito acentuado na
resistncia dos metais ao choque, ao contrrio do que ocorre na resistncia
esttica. A energia absorvida por um corpo de prova varia sensivelmente com a
temperatura do ensaio. Um corpo de prova a uma temperatura T1 pode absorver
muito mais energia do que se estivesse a uma temperatura T2, bem menor que
T1, ou pode absorver a mesma energia a uma temperatura T3, pouco menor que
T2, ou seja, a existncia de trincas no material, a baixa temperatura e a alta
velocidade de carregamento constituem os fatores bsicos para que ocorra uma
fratura do tipo frgil nos materiais metlicos dcteis.
14.6.1 - TEMPERATURA DE TRANSIO
Ao ensaiar os metais ao impacto, verificou-se que h uma faixa de
temperatura relativamente pequena na qual a energia absorvida pelo corpo de
prova cai apreciavelmente. Esta faixa denominada temperatura de transio. A
temperatura de transio aquela em que ocorre uma mudana no carcter da
ruptura do material, passando de
dctil a frgil ou vice-versa. Por
exemplo, um dado ao absorve 17
joules de energia de impacto
temperatura ambiente ( 25 0C).
Quando a temperatura desce a -23
0
C, o valor de energia absorvida
pouco alterado, atingindo 16
joules. Este valor cai para 3 joules
temperatura de -26 0C. Como
esta passagem, na maioria dos
casos, no repentina usual
define-se
uma
faixa
de
temperatura de transio.
Figura 14.30 - Temperatura de transio.
214
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A faixa de temperatura de transio compreende o intervalo de temperatura
em que a fratura se apresenta com 70% de aspecto frgil (cristalina) e 30% de
aspecto dctil (fibrosa) e 70% de aspecto dctil e 30% de aspecto frgil. O
tamanho dessa faixa varia conforme o metal. A definio dessa faixa importante
porque s podemos utilizar um material numa faixa de temperatura em que no
se manifeste a mudana brusca do carcter da ruptura.
Pode-se representar a temperatura de transio graficamente. Indicandose os valores de temperatura no eixo das abscissas e os valores de energia
absorvida no eixo das ordenadas, possvel traar a curva que mostra o
comportamento do material quanto ao tipo de fratura (frgil ou dctil).
A temperatura T1 corresponde fratura 70% dctil e 30% frgil. A temperatura T3 corresponde fratura 30% dctil e 70% frgil. E a temperatura T2 o
ponto no qual a fratura se apresenta 50% dctil e 50% frgil. O intervalo de
temperatura de transio corresponde ao intervalo entre T1 e T3.
Os metais que tm estrutura cristalina CFC, como o cobre, alumnio,
nquel, ao inoxidvel austentico etc., no apresentam temperatura de transio,
ou seja, os valores de impacto no so influenciados pela temperatura. Por isso
esses materiais so indicados para trabalhos em baixssimas temperaturas, como
tanques criognicos.
14.6.1.1 - Fatores que influenciam a temperatura de transio
O intervalo de transio influenciado por certas caractersticas como:
Tratamento trmico Aos-carbono e de baixa liga so menos sujeitos
influncia da temperatura quando submetidos a tratamento trmico que aumenta
sua resistncia;
Tamanho de gros Tamanhos de gros grosseiros tendem a elevar a
temperatura de transio, de modo a produzir fratura frgil em temperaturas mais
prximas temperatura ambiente. Tamanhos de gros finos abaixam a
temperatura de transio;
Encruamento Materiais encruados, que sofreram quebra dos gros que
compem sua estrutura, tendem a apresentar maior temperatura de transio;
Impurezas A presena de impurezas, que fragilizam a estrutura do material,
tende a elevar a temperatura de transio;
Elementos de liga A adio de certos elementos de liga, como o nquel, por
exemplo, tende a melhorar a resistncia ao impacto, mesmo a temperaturas mais
baixas;
Processos de fabricao Um mesmo ao, produzido por processos
diferentes, possuir temperaturas de transio diferentes;
Retirada do corpo de prova A forma de retirada dos corpos de prova interfere
na posio das fibras do material. As normas internacionais geralmente
especificam a posio da retirada dos corpos de prova, nos produtos siderrgicos,
pois a regio de onde eles so retirados, bem como a posio do entalhe, tm
fundamental importncia sobre os valores obtidos no ensaio.
215
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Submetidos ao ensaio de impacto, esses corpos apresentaram trs curvas
diferentes. No corpo de prova A., o entalhe est transversal s fibras do material.
No corpo de prova C, o entalhe est no sentido da fibra, o que favorece o
cisalhamento. A absoro de energia a pior possvel. O corpo de prova B
tambm tem entalhe transversal. Neste caso, o entalhe atravessa o ncleo da
chapa, cortando todas as fibras transversalmente. Como mostra a ilustrao
seguinte.
Figura 14.31 - Curvas de energia absorvida de um mesmo material.
14.6.1.2 - Resfriamento do corpo de prova
Os corpos de prova retirados para ensaio de impacto devem ser resfriados,
at que se atinja a temperatura desejada para o ensaio. As tcnicas de
resfriamento so determinadas em normas tcnicas especficas. Um modo de
obter o resfriamento consiste em mergulhar o corpo de prova num tanque
contendo nitrognio lquido, por aproximadamente 15 minutos. Tempo necessrio
para homogeneizar a temperatura em todo o corpo de prova. Outra forma de
obter o resfriamento por meio de uma mistura de lcool e gelo seco, que
permite atingir temperaturas de at 70 C negativos.
O tempo mximo para romper o corpo de prova aps o resfriamento de 5
segundos. Devido grande disperso dos resultados dos ensaios, principalmente
prximo temperatura de transio, gerada pela dificuldade de obter corpos de
prova rigorosamente iguais e pela falta de homogeneidade dos materiais, o
ensaio de impacto comum no oferece resultados aplicveis a projetos de
engenharia estrutural. Para responder a essas necessidades prticas, foram
desenvolvidos outros tipos de ensaio de impacto e outros equipamentos.
O ensaio de impacto um teste dinmico em que um corpo de prova
padronizado golpeado e rompido por um pndulo ou martelo em uma mquina
de ensaios especialmente projetada e medida a energia absorvida para romper
o corpo de prova. Os valores da energia servem como guia til para comparaes
qualitativas entre diferentes lotes do mesmo tipo de material. Apesar de simples e
rpidos de serem executados, os testes exigem preciso tanto na aferio do
equipamento (medidor de resistncia ao impacto), quanto na capacitao da mo
de obra tcnica, na confeco do corpo de prova, principalmente no entalhe, um
dos maiores causadores de problemas e distores nos resultados. O choque ou
216
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
impacto representa um esforo de natureza dinmica, porque a carga aplicada
repentina e bruscamente. No impacto, no s a fora aplicada que conta. Outro
fator a velocidade de aplicao da fora. Fora associada com velocidade
traduz-se em energia. O ensaio de impacto consiste em medir a quantidade de
energia absorvida por uma amostra do material, quando submetido ao de um
esforo de choque de valor conhecido.
Trs mquinas so geralmente usadas para ensaiar materiais de
engenharia: a mquina Charpy, a mquina Izod e a mquina Hatt-Tuner. A
ltima usada principalmente para ensaiar madeira. O mtodo mais comum para
ensaiar metais o do golpe, desferido por um peso em oscilao. A mquina
correspondente o martelo pendular. O pndulo levado a uma certa posio,
onde adquire uma energia inicial. Ao cair, ele encontra no seu percurso o corpo
de prova, que se rompe. A sua trajetria continua at certa altura, que
corresponde posio final, onde o pndulo apresenta uma energia final. A
diferena entre as energias inicial e final corresponde energia absorvida pelo
material. De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade de
energia adotada o joule. Em mquinas mais antigas, a unidade de energia pode
ser dada em kgfm, kgfcm ou kgfmm. A mquina dotada de uma escala, que
indica a posio do pndulo, e calibrada de modo a indicar a energia potencial.
No ensaio
de impacto, a
massa do martelo
e a acelerao da
gravidade
so
conhecidas.
A
altura
inicial
tambm
conhecida.
A
nica
varivel
desconhecida a
altura final, que
obtida
pelo
ensaio.
Figura 14.32 - Mquina de ensaio de impacto.
O mostrador da mquina simplesmente registra a diferena entre a altura
inicial e a altura final, aps o rompimento do corpo de prova, numa escala
relacionada com a unidade de medida de energia adotada. Para os ensaios em
materiais polimricos comum o uso de equipamentos que funcionam por queda
de dardo ou pndulo de impacto, os quais so descritos abaixo:
Queda de Dardo - determina a resistncia das pelculas plsticas e avalia essa
caracterstica quando o material atingido por um peso em queda livre. Durante o
teste, o dardo liberado por meio de um dispositivo eletromecnico quando a
presso negativa de fixao da amostra se apresenta a um determinado valor.
Pndulo de Impacto - representada por uma slida estrutura metlica fundida
em corpo nico, caracterstica que possibilita sua ancoragem em uma base,
tambm slida, que evitar a perda de energia durante o ensaio. Nesta estrutura
217
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
apoia-se o pndulo propriamente dito, composto de uma haste tubular, onde,
numa das extremidades, fixado o martelo, detalhe dinamicamente calculado de
modo a permitir que o centro de percusso coincida com o ponto de impacto no
corpo de prova. Isso impede esforos no eixo de suspenso, que, por sua vez,
fica apoiado em rolamentos especiais para eliminar atritos. O movimento de
levantamento do pndulo at sua posio de queda feito manualmente por um
conjunto de cremalheiras, articulando-se com um sistema de engate e desengate
para sua liberao. A energia absorvida pela amostra durante o ensaio indicada
num mostrador em escala calibrada em joules e graus, que quantifica o
deslocamento de um ponteiro indicador e outro de arraste, ligados
simultaneamente ao movimento do pndulo. O pndulo de impacto segue dois
tipos de configuraes diferentes:
Pndulo de Impacto na Configurao Charpy - usado em ensaios de
impacto, no qual uma amostra normalizada com um entalhe central em U ou V,
feito para alocar sua ruptura produzida por uma condio triaxial de tenso.
submetido a uma flexo desencadeada pelo impacto de um martelo fixado na
extremidade de um pndulo. A energia que um corpo absorve para se deformar e
quebrar quantificada pela diferena entre a altura atingida pelo martelo antes e
aps o impacto. Desta forma, quanto menor for a energia absorvida pelo corpo de
prova, tanto mais frgil ser o comportamento do material ao impacto. Na
configurao de Charpy o corpo de prova fica na posio horizontal.
A mquina Charpy disponvel em pelo menos dois tamanhos. O tipo com
uma capacidade de energia de 30 a 33 kgfm usado para metais, e uma mquina
de 50 kgfcm geralmente usada para plsticos.
Na mquina Charpy, o pndulo consiste de um perfil I com um disco
pesado
na
extremidade.
O
pndulo
suspenso em um
eixo que gira sobre
rolamentos e oscila
entre dois suportes
laterais rgidos, nos
quais se fixa o
suporte do corpo de
prova.
Figura 14.33 - Ensaio Charpy e Izod.
Esta amostra que carregada como uma barra simples, colocada
horizontalmente entre duas bigornas de modo que a lmina golpeie do lado
oposto ao entalhe. O pndulo elevado at sua posio mais alta e seguro por
um prendedor ajustado para dar altura de queda constante para todos os ensaios.
Ele ento solto para permitir a queda e a ruptura do corpo de prova. No seu
movimento de ascendncia aps a ruptura, o pndulo empurra um indicador
sobre uma escala que usualmente graduada diretamente em kgfm.
218
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Pndulo de Impacto na Configurao Izod - A tcnica deste teste no
diferencia do teste de resistncia ao impacto na configurao Charpy. A diferena
bsica entre as duas configuraes est na posio do corpo de prova, que neste
caso vertical, no tipo de pndulo empregado, e no local onde se d o impacto,
no entalhe ou no seu lado oposto. A amostra normalizada com um entalhe
central em V. A mquina para ensaio de impacto Izod usualmente tem a
capacidade de 16,5 kgfm. N mquina Izod, o corpo de prova fixado para agir
como uma viga vertical em balano. Ele tem as dimenses de 10 mm por 10 mm
na seco reta e 75 mm de comprimento e tem um entalhe padronizado de 45 e
2 mm de profundidade no meio do corpo de prova. O entalhe faz face ao pndulo
e o corpo de prova ento posicionado para que o entalhe seja visvel acima do
suporte fixador. Freqentemente, a mesma mquina de impacto projetada para
permitir os testes Charpy e Izod, com possibilidade de trocar os suportes
fixadores dos corpos de prova. A resistncia ao impacto avaliada pelos mtodos
ASTM D256, D746 e D2463, e geralmente medida em joule.
Para ensaios em
madeira, utilizada a
mquina
Hatt-Turner.
Aqui, a altura de queda
aumentada por estgios
at
que
ocorra
o
rompimento. Um peso de
queda com 22,7 kg
seguro
por
um
eletromagneto
que
alimentado por um motor.
Figura 14.34 - Corpos de prova Charpy e Izod.
O peso cai entre colunas-guias verticais quando o circuito do magneto
aberto por um rel, o qual acionado por um contato eltrico entre o magneto e
uma polia mvel que pode ser ajustada para qualquer posio desejada ao longo
da escala vertical sobre uma coluna-guia. O corpo de prova deve ter 5 x 5 x 75
cm. O mesmo simplesmente apoiado sobre um vo de 70 cm tal que o peso
caia exatamente no meio do vo. A primeira queda da altura de 2,5 cm e as
quedas subseqentes so acrescidas de 2,5 cm, at que se alcance a altura de
25 cm, aps o que so usados incrementos de 5,0 cm at que se consiga a
ruptura completa, ou seja, alcanada uma deflexo de 15 cm.
219
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.7 - ENSAIOS METALOGRFICOS
A metalografia surgiu praticamente com o trabalho de Henri Clifton Sorby
(1.826 1.908), tido como o precursor da moderna metalografia, quando em
1.863 observou pela primeira vez uma estrutura metlica ao microscpio. Desde
ento pode-se defini-la como o ramo da tecnologia que estuda e interpreta a
estrutura interna dos metais e suas ligas, como tambm a relao entre as suas
composies qumicas, propriedades fsicas e mecnicas. Para determinao de
um microestrutura foram desenvolvidos ao longo dos anos muitos mtodos de
preparao de amostras, entretanto, a observao atravs de um microscpio
continua sendo o mais importante. A metalografia envolve basicamente trs
estgios de preparao de um corpo de prova: a obteno de uma seo plana e
polida, o realce da microestrutura atravs de um ataque adequado e a posterior
observao ao microscpio.
Desta forma, a metalografia a cincia que estuda os metais e ligas
metlicas, quando nos mesmos obtivermos um superfcie plana, lixada, polida, e
por via de regra atacada por um reativo adequado, cuja imagem obtida ser
visualizada e interpretada. Atravs do ensaio metalogrfico, pode-se determinar:
tipo, o tamanho, o local e a intensidade das descontinuidades;
Identificar o possvel processo de fabricao da pea;
Identificar o tipo de tratamento trmico ou termoqumico;
Valor da camada carbonetada ou descarbonetada;
Zonas de alteraes trmicas sofridas por soldagem;
Penetrao do cordo de solda;
Tipos de incluses, microconstituio;
Formas de grafita, tamanho do gro;
Outros;
A metalografia pode ser dividida em: ensaio metalogrfico destrutivo e
ensaio metalogrfico no destrutivo. A maioria dos ensaios metalogrficos
realizados so destrutivos, pois se retira amostras para anlise do material ou
pea solicitada. Mas, nem sempre isso possvel, devido as condies que no
permitem retirar amostras da pea, ou que probam sua destruio,
especialmente em peas de grande porte. Por este motivo, foram desenvolvidas
tcnicas para a realizao do ensaio in loco, conservando-se as caractersticas
de preciso do ensaio, ensaio metalogrfico no destrutivo. Quanto ao grau de
aplicao com que a imagem metalogrfica visualizada, a metalografia est
classificada em: macrogrfico; microgrfico.
220
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.7.1 - ENSAIO METALOGRFICO MACROGRFICO
A macrografia consiste no estudo dos metais e suas ligas quando
obtivermos uma superfcie, plana, lixada e atacada por um reativo adequado, cuja
imagem obtida ser visualizada
e
interpretada.
Esta
visualizao se far a olho nu
ou com uma ampliao de no
mximo dez vezes atravs de
lupa. Alguns dos objetivos da
macrografia so determinar do
material ensaiado, o tipo, a
forma, o tamanho, o local e a
intensidade das continuidades;
identificar o processo de
fabricao da pea; zonas de
alterao trmica provocadas
por soldagem ou tratamento
trmico, etc.
Figura 14.35 - Macrografia de uma pea de alumnio fundido com contornos de gros
revelado por ataque com HCl.
14.7.2 - ENSAIO METALOGRFICO MICROGRFICO
A micrografia consiste no estudo dos metais e suas ligas, quando
obtivermos nos mesmos uma superfcie plana, lixada, polida, e atacada por um
reativo adequando, onde a imagem obtida nessa superfcie, ser visualizada com
um grau de ampliao superior a dez vezes, o que para tal, usa-se microscpio
tico ou microscpio eletrnico de varredura ou microscpio de tunelamento A
micrografia tm por objetivos determinar do material ensaiado, o tipo de micro
incluso, a forma da grafita, o tipo de tratamento trmico ou termoqumico sofrido,
bem como da granulao, a microconstituio do material, etc.
14.7.2.1 - Etapas metalogrficas
Escolha da seo a ser cortada: Existem duas sees de corte: seo
transversal e seo longitudinal. A escolha da seo a ser cortada depende dos
objetivos do ensaio, por exemplo: o aspecto da seo longitudinal de barras com
segregao depende da maneira pela qual o corte seciona esse defeito. Assim
sendo, no prudente
a
b
concluir que uma barra
apresenta
uma
segregao maior do
que
outra,
conhecendo-se
apenas sua seo
a-a
b-b
longitudinal.
a
b
Figura 14.36 - Influencia da localizao de um corte longitudinal axial sobre o aspecto de
segregao.
221
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Nota-se a diferena de aspecto em porcas cortadas transversal ou
longitudinalmente provenientes de barras com segregao central. Nas peas
fundidas diretamente na sua forma definitiva, o corte guiado apenas pela forma
da pea, preferindo-se, contudo, com interesse de alguma parte em especial, ou
que secione transversalmente as suas arestas ou cantos vivos para se apreciar a
forma da estrutura dendrtica nesses pontos ou eventual existncia de pequenas
fissuras.
Corte da amostra na seo escolhida: Vrios meios de corte podem ser
utilizados para a realizao do corte da amostra na seo escolhida, o que mais
se adapta para o ensaio metalogrfico o corte por abraso a mido. O corte por
abraso a mido feito com uma cortadeira de disco abrasivo, sob condies nas
quais a amostra no sofrer deteriorao de sua estrutura. Os discos de corte
consistem de um abrasivo, geralmente xido de alumnio, carbeto de silcio ou
diamante com diferentes granulometrias, dispersos em meio de material sinttico.
O gro abrasivo e o meio de disperso devem estar perfeitamente adaptados
para que permitam um corte preciso, isento de qualquer tipo de defeito da
superfcie da amostra. Durante a operao de corte, deve-se tomar o mximo de
cuidado para no danificar a estrutura da amostra por: encruamento, deformao,
locais de excessivos aquecimento (a mais de 100 0C) em peas temperadas, pois
estes fenmenos seriam mais tarde postos em evidncia pelo ataque,
adulterando-se as concluses do ensaio. A mquina de corte por disco abrasivo,
cut-off garante boa preciso do corte, possuindo um sistema de refrigerao e
lubrificao garantindo que a temperatura da superfcie no ultrapasse a 100 0C e
a rugosidade superficial de corte seja reduzida.
Montagem da amostra: A montagem do corpo de prova tem por objetivos:
facilitar o manuseio de peas pequenas, evitar que as amostras danifiquem as
lixas e o pano metalogrfico, evitar a formao de vrios planos durante que
influenciam na observao ao microscpio, permitir que seja feito um estudo da
periferia da amostra. A montagem do corpo de prova se divide em: fixao e
embutimento. A fixao feita atravs de placas metlicas fixadas com parafusos
e porcas, e embutimento consiste em circundar a amostra com baquelite, ou
resinas plsticas auto-polimerizveis, as quais consistem geralmente de duas
substncias formando um lquido viscoso quando misturadas. Esta mistura
vertida dentro de um molde plstico onde se encontra a amostra, polimezando-se
aps um certo tempo. A reao de polimerizao, geralmente exotrmica
atingindo temperaturas entre 50 a 120 0C, com um tempo de endurecimento que
varia de 0,2 a 24h, dependendo do tipo de resina e do catalisador. (polimetacrilato
de metila).
Marcao para identificao: A marcao de amostra serve para identificao e
pode ser feita com canetas especiais.
Lixamento da amostra na seo cortada: O lixamento da amostra necessrio
para diminuir o grau de rugosidade da superfcie, melhorando com isso a
qualidade da imagem obtida. A lixa uma ferramenta de corte por abraso, onde
o abrasivo uma substncia de origem mineral, dura e resistente ao desgaste. Os
abrasivos mais utilizados nas lixas so: xido de alumnio, carbeto de silcio,
carbeto de boro e diamante. As lixas so classificadas de acordo com o tamanho
222
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
dos gros, segundo a norma ABNT MB-481. Na metalografia utilizamos o
lixamento via mido pois evita o entupimento da lixa e a gua serve como
refrigerante e lubrificante para o corte. Para a realizao do lixamento
metalogrfico, geralmente so utilizadas dois tipos de lixadeiras: Lixadeira
Metalogrfica Manual Estacionria por Via mido, onde neste tipo de lixadeira o
movimento de corte realizado pelo operador; Lixadeira Metalogrfica Manual
Rotativa por Via mido, neste tipo de lixadeira o movimento de corte realizado
pelo operador e pelo movimento da lixa. Este tipo de lixadeira divide-se em dois
tipos:
Se a amostra foi cortada com a serra de disco, inicia-se o lixamento com
lixa de grana 220. A verificao da rugosidade da superfcie na prtica feita
atravs do tato. A seqncia de lixas para o lixamento 120 - 180 - 240 - 280 320 - 400 - 500 - 600 - 1.000.
Na lixadeira manual, ao mudar de lixa, deve-se virar a amostra 90 em
relao aos riscos deixados pela lixa anterior, para aumentarmos o rendimento de
corte. Na lixadeira rotativa de prato, o movimento de corte durante o lixamento,
deve ser do centro para periferia e deve-se fazer um giro de 180 na amostra
periodicamente, para evitar a formao de planos inclinados, causados pela no
uniformidade da velocidade de corte.
Polimento da amostra na seo lixada: O polimento se faz necessrio para
aumentar a nitidez da imagem, pois os riscos e a deformao superficial deixados
pelo lixamento impedem a visualizao correta da amostra no microscpio
metalrgico. O polimento pode ser feito atravs de politriz mecnica ou
eletroltica. A politriz mecnica possui um prato giratrio sobre o qual, coloca-se o
pano metalogrfico (feltro) que serve de apoio para o abrasivo. Os abrasivos mais
utilizados so: xido de cromo (Cr2O3), geralmente em basto; xido de magnsio
(MgO), encontra-se em basto ou suspenso; xido de alumnio (Al2O3
alumina), encontra-se em pasta ou suspenso e diamante sinttico ou natural,
encontra-se em basto, suspenso, pasta. O abrasivo varia de 5 0,25 m e
encontra-se na forma de pasta, suspenso em gua destilada, aerossol, e basto.
Destes agentes polidores a alumina e o diamante so os mais utilizados para o
polimento mecnico. O diamante se destaca como mais eficiente devido suas
caractersticas de granulometria, dureza, forma dos gros e poder de desbaste.
O processo de polimento eletroltico, permite obter por dissoluo andica de um
metal em um eletrlito e uma superfcie plana.
Ataque com reativo adequado: A superfcie da amostra, quando atacada por
reagentes especficos, sofre uma srie de
transformaes
eletroqumicas
baseadas
no
processo de xido reduo, cujo aumento do
contraste se deve s diferenas do potencial
eletroqumico. So formados clulas locais onde os
constituintes quimicamente menos nobres atuam
como nodo, reagindo com o meio de ataque de
maneira mais intensa que os mais nobres.
Figura 14.37 - Esquema de um metal policristalino atacado quimicamente e com feixes
incidentes e de reflexo de luz.
223
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Para o ataque qumico so usadas solues alcolicas de cidos, bases e
sais, bem como sais fundidos ou vapores. As condies de ataque tais como
composio qumica, temperatura e tempo, podem ser variadas para atingir as
mais diversas finalidades de contraste. O ataque qumico ocorre principalmente
em contornos de gros por serem zonas de maior energia, tm uma reatividade
qumica maior que o interior do gro o que permite por em evidncia,. A figura
abaixo mostra o esquema de um metal policristalino com os contornos de gro
postos em evidncia atravs de ataque qumico. As linhas com seta mostram a
incidncia de feixe de luz com a respectiva reflexo.
Geralmente a preparao da
amostra para o macroataque limita-se
ao lixamento. Em alguns casos, porm,
deve-se efetuar um pr-polimento. O
microataque evidencia a estrutura
ntima do material em estudo, devendo
ser observada atravs de microscpio.
A figura ao lado mostra uma micrografia
de um ao onde aparece gros
perlticos (ferrita + cementita).
Figura 14.38 - Micrografia da perlita.
Aps o ataque qumico a amostra deve ser rigorosamente limpa, para
remover os resduos do processo, atravs de lavagem em gua destilada, lcool
ou acetona, e posteriormente seca atravs de jato de ar quente. As tcnicas mais
comuns de ataque so descritas na tabela abaixo:
Tcnica
Descrio
Ataque por imerso
A superfcie da amostra imersa na soluo de
ataque, o mtodo mais usado.
Ataque por gotejamento
A soluo de ataque gotejada sobre a superfcie
da amostra. Mtodo usado com solues reativas
dispendiosas.
Ataque por lavagem
A superfcie da amostra enxaguada com a
soluo de ataque. Usado em casos de amostras muito
grandes ou quando existe grande desprendimento de gs
durante o ataque.
Ataque por esfregao
A soluo de ataque, embebida em um chumao
de algodo ou pano, esfregado sobre a superfcie da
amostra o que serve para remover as camadas oriundas
da reao.
Ataque polimento
O polimento efetuado, estando a amostra
imersa na soluo de ataque, a fim de evitar a formao
de camadas oriundas da reao qumica. Este processo
usado com o polimento mecano-eletroltico
224
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Solues mais usadas na macrografia de metais ferrosos
Reativo
Composio
Reativo de iodo
Iodo sublimado 10g
Iodeto de potssio 20g
gua 100 ml
Reativo de heyn
Cloreto cuproamoniacal 10g
gua 120 ml
Reativo de cido clordrico
cido clordrico 50 ml
gua - 50 ml
Reativo de cido sulfrico
cido sulfrico 20 ml
gua - 100 ml
Reativos de frey
cido clordrico 120 ml
Cloreto cprico - 90 ml
gua - 100 ml
Reativo nital
cido ntrico 1 - 5%
lcool etlico 99 - 95%
Solues mais usadas na micrografia de metais ferrosos
Reativo
Composio
Reativo nital
cido ntrico 1 - 5%
lcool etlico 99 - 95%
Reativo de cido pcrico
cido pcrico 4%
lcool etlico - 96%
Reativo picrato de sdio
cido pcrico 2 ml
Soda a 36o - 25 g
gua 100 ml
O reativo de nital e de cido pcrico no ataca a ferrita e nem a cementita,
mas delineia os contornos de gros e colore escuro a perlita. A perlita escurece
porque o reativo ataca a linha de contato entre a ferrita e as lamelas de cementita.
O reativo de picrato de sdio colore a cementita, os carbonetos complexos dos
aos-ligas e a esteadita dos ferros fundidos.
Interpretao depois do ataque: o quadro abaixo mostra algumas interpretaes
costumeiras.
Aspectos
Significao provvel
Pontinhos pretos mais ou menos
agrupados numa seco.
Porosidade, em ao moldado.
Linhas com ramificaes e pequenas
reas escuras prximas ao centro de peas
laminadas vistas em seo transversal.
Restos de vazio, (quando sua forma
tem certa simetria podem provir da ruptura
durante o forjamento ou laminao).
Linhas pretas aparentemente
contnuas internas oriundas da periferia.
Trincas ou incluses grandes
alinhadas.
Pontos ou bastonetes pretos dispostos
a)
No ferro pudlado so as
irregularmente na seco transversal de peas escrias maiores.
laminadas ou forjadas, moles.
b)
No ferro de pacote so
225
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
defeitos de caldeamento ou partculas de
escria dos pedaes de ferro pudlado que
contiver.
Pontinhos escuros distribudos com
certa regularidade por toda a seco exceto
junto periferia, material mole.
Ferro fundido maleabilizado.
Pequeninas reas cinzentas
arredondadas distribudas uniformemente pela
seco, geralmente menos numerosas junto a
periferia, material duro.
Ferro fundido mesclado.
Linhas escuras orientadas
longitudinalmente
a)
b)
grandes.
c)
caldeamento
No ao, restos de vazio.
No ferro pudlado, escrias
No ferro de pacote, defeitos de
Com reativo de iodo
Dificuldade
superfcie.
grande
em
atacar
a)
Ao de teor de carbono muito
baixo e bastante puro (pouco enxofre e
a fsforo).
b)
Ao rico em carbono e
temperado em gua.
c)
Ao liga (inoxidvel).
Escurecimento rpido da superfcie
com o depsito preto pulverilento.
Material temperado e revenido ou
Aparecimento
de
regies
de temperado grandemente.
tonalidades diferentes com a separao ntida
a)
Materiais vrios caldeados.
(excluda a segregao, as alteraes de
b)
Solda:
emendas restauraes.
origem
tcnica,
cementao
e
descarbonetao).
226
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Recomendaes prticas para o manuseio de produtos qumicos
O manuseio de produtos qumicos sempre requer cuidados especiais.
Praticamente todos os produtos qumicos, e tambm alguns metais, so
perigosos para o organismo humano, mesmo quando impuros. Os efeitos podem
ser internos, causado por inalao ou ingesto, ou externos, como distrbios nos
olhos ou na pele. Por este motivo, basicamente para a preparao dos reagentes
usados no ataque metalogrfico, devem ser observadas as medidas de
segurana que se aplicam a qualquer laboratrio qumico. Algumas medidas de
segurana de maior importncia:
Todos os recipientes devem ser rotulados correta e visivelmente;
Nunca despejar um produto qumico, quando concentrado, diretamente no
esgoto;
Todas as substncias crticas devem ser guardadas em ambientes
refrigerados, prova de fogo e no exposto luz;
No manuseio de substncias custicas (cidos, bases, perxidos, sais
fundidos e solues salinas), os olhos, a pele e roupa devem ser protegidos
por culos, luvas e uniformes adequados. Tambm vapores dessas
substncias sempre venenosos, devendo-se por isso trabalhar em ambiente
muito arejado. Em caso de emanao de gases venenosos, imprescindvel o
uso de mscaras adequadas;
As solues de substncias ativas devem ser preparadas da seguinte
maneira: sempre colocar em primeiro lugar a gua e em seguida,
cuidadosamente, o produto qumico;
Substncias combustveis e explosivas (benzol, acetona, ter, nitratos, etc)
no podem ser aquecidas nem ser manipuladas na proximidade do fogo
aberto;
No trabalho com materiais txicos como berlio suas respectivas ligas, devemse usar luvas especiais.
cido perclrico. Em concentrao acima de 60% facilmente combustvel e
explosivo. Isto ocorre nas presena de materiais orgnicos ou metais
facilmente oxidveis como por exemplo o Bi. Em conseqncia devem ser
evitadas concentraes elevadas e o aquecimento.
cido fosfrico. As misturas desta substncia com lcool podem provocar a
formao de dimetilsulfato, inodoro e inspido porem extremamente txico.
Quando absorvido pela pele ou inalado, mesmo com a mscara, pode causar
conseqncias letais.
cido fluordrico. No somente um veneno para a pele e o aparelho
respiratrio, mas tambm um corrosivo energtico para o vidro. A amostra
atacada por este reativo pode danificar as lentes focais da objetiva do
microscpio. Aps o ataque com reativos base de cido fluordico, limpar
perfeitamente a amostra pelo menos 15 minutos antes de lev-la para
observao microscpica.
xido de cromo. As misturas de xido de cromo VI com materiais orgnicos
so explosivas. Misturar com cuidado e no armazenar.
227
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.8 - PROPRIEDADES TRMICAS
As propriedades trmicas determinam o comportamento dos materiais
quando so submetidos a variaes de temperatura. Isto acontece tanto no
processo de obteno do material quanto na utilizao. Ex. As velocidades de
corte elevadas da ferramenta de corte geram aumento da temperatura, e por isso,
elas precisam ser resistentes a temperaturas elevadas.
Ponto de fuso: a temperatura na qual um material muda de estado
slido para o estado lquido. O processo inverso a temperatura de
solidificao;
Ponto de ebulio ou de vaporizao: a temperatura na qual um
material muda de estado lquido para o estado gasoso. O processo
inverso a temperatura de liquidificao ou condensao;
Dilatao trmica: a propriedade que os materiais tem de aumentarem
ou diminurem de dimenses com a temperatura.
Na ausncia de transformaes de fase, a maioria dos slidos aumentam
de dimenses com o aumento da temperatura durante o aquecimento e contraem
com a diminuio de temperatura. O coeficiente de dilatao trmica linear (L)
definido pela seguinte expresso:
L =
l f li
li Tf Ti
Onde li o comprimento inicial, lf o comprimento final, Tf a temperatura
final e Ti a temperatura inicial. Para materiais em que a dilatao trmica
isotrpica, pode-se demonstrar que: S 2 L , onde S a dilatao trmica
superficial, e V 3 L , onde V a dilatao trmica volumtrica. Muitos
materiais cristalinos, tais como a alumina, titnia, quartzo, calcita e grafite,
apresentam anisotropia quanto a dilatao trmica. O grafite apresenta um caso
de anisotropia extremo, cujo coeficiente de dilatao trmica 27 vezes mais
baixo no plano basal do que na direo perpendicular a ele.
Condutividade trmica: a propriedade que os materiais tem de
conduzirem calor. Esta propriedade anloga ao da difusividade nos
slidos
14.9 - PROPRIEDADES ELTRICAS
As propriedades eltricas esto, geralmente, associadas com a
condutibilidade eltrica, que a capacidade de conduzir eletricidade, e a
resistividade eltrica, que a capacidade de oferecer resistncia conduo de
eletricidade. A cermica, em geral, so maus condutores de eletricidade,
entretanto, h cermicas supercondutoras.
Por volta de 1.820, os fsicos j podiam produzir e detectar correntes
eltrica. Eles podiam tambm medir as diferenas de potenciais que causavam e
228
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
quantificar a resistncia eltrica dos materiais condutores. Em 1.827, o fsico
alemo Georg Simon Ohm (1.787-1.854) formulou a lei que relaciona a diferena
de potencial (V), a resistncia eltrica (R) e a corrente eltrica (i).
V = Ri
A diferena de potencial medida em volts (V) ou em J/C, a corrente
medida em ampres (A) ou em C/s e a resistncia eltrica medida em ohms ()
ou em V/A. O valor de R depende do material, da geometria e do polimorfismo
(monocristal, policristal, amorfo) e para muitos materiais independente da
corrente eltrica. A resistividade eltrica () uma propriedade do material e est
relacionada com a resistncia eltrica da seguinte maneira:
= R
A
l
Onde A a rea da seco reta perpendicular direo da corrente
eltrica; l a distncia entre dois pontos em que a diferena de potencial
medida e R a resistncia eltrica. A unidade de resistividade eltrica m. A
condutividade eltrica () indica a facilidade com que um material conduz corrente
eltrica e o inverso da resistividade.
=
A unidade de condutividade eltrica (m)-1. A condutividade eltrica ,
dentre as propriedades dos materiais, a que apresenta valores mais
caractersticos e distantes, por exemplo, a condutividade eltrica de um condutor
como a prata ou ouro, mais de 20 ordens de grandeza maior que a
condutividade de um isolante, como o polietileno. A tabela abaixo mostra a
resistividade eltrica de alguns materiais.
Resistividade eltrica (cm) a 20 oC
Material
Condutores
1,6 x 10-6
1,7 x10-6
1,8 x 10-6
2 x 10-6
3 x 10-6
3 x 10-6
5,6 x 10-6
6,8 x 10-6
13 x 10-6
Semicondutores
Silcio
2 x 10-5
Fe3O4
10-2
B4C
0,5
SiC
10
Germnio
40
Isolantes
Borracha vulcanizada (Buna-S) Butadieno + 1014
estireno
Nylon
1014
PTFE (teflon)
1016
PS (polistireno)
1018
Ouro
Prata
Cobre
ReO3
CrO2
Alumnio
Tungstnio
Nquel
Ferro
229
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14
Al2O3
SiO2
Si3N4
MgO
> 10
> 1014
> 1014
> 1014
A condutividade eltrica de um material depende do nmero de condutores
ou de portadores de cargas como ctions, nions, eltrons ou vazios eletron
holes por unidade de volume (n), da carga (q) de cada condutor e sua mobilidade
(m). Tanto o nmero de condutores (n) como a sua mobilidade (m) dependem da
temperatura. A conduo inica de importncia secundria nos slidos em
temperaturas moderadas, entretanto tem importncia a temperaturas elevadas. A
conduo inica tem um papel importante nos lquidos.
= n q m
Nos metais, a condutividade eltrica explicada, quase exclusivamente,
pela nuvem de eltrons livres, visto que, quando se aplica um campo eltrico em
um metal, esses eltrons, ou pelo menos os de energia mxima, dirigem-se ao
polo positivo, produzindo uma corrente de certa intensidade. Na slica, por
exemplo, os eltrons de valncia que fazem a ligao entre os tomos de silcio e
os de oxignio no tm mobilidade dos eltrons de uma ligao metlica e, por
isso, a sua condutividade muito fraca, em torno de 10-24 (cm)-1, enquanto que
no cobre de 64,5.104 (cm)-1 a 0 oC.
A condutividade eltrica ser tanto maior quanto maior for a mobilidade dos
eltrons, ou seja, maior o seu livre percurso mdio o qual aumenta rapidamente
quando a temperatura diminui (maior que 106 vezes a distncia interatmica a
baixas temperaturas). Para o cobre e a prata pura o livre percurso mdio dos
eltrons temperatura ambiente de cerca de 100 distncias interatmicas.
Assim, esta propriedade varivel com os elementos , em geral, mais elevada nos
metais com menor nmero de eltrons de valncia como o sdio, potssio, ouro,
prata e cobre e depende, para um dado elemento, da temperatura. Ou seja, das
vibraes trmicas dos ons e dos defeitos nos cristais ou gros (lacunas, tomos
intersticiais, tomos substitucionais, discordncias, maclas e contornos de gros)
que provocam a difuso da corrente eltrica, diminuindo o livre percurso mdio.
Como conseqncia disto, o metal oferece uma certa resistncia a passagem da
corrente eltrica denominado de resistividade eltrica ( ). Desta forma, a
resistividade eltrica depende da temperatura - T - visto que a amplitude das
vibraes trmicas influenciada pela temperatura e, por outro lado, dos defeitos
existentes na estrutura que so independentes da temperatura, mas sim no modo
em que foi produzido o metal - D . Segundo Matthiessen, a resistividade de um
metal dada pela equao abaixo:
= T + D
Esta lei no aplicvel aos materiais semicondutores em que a
resistividade devido a defeitos - D - diminui quando a temperatura se eleva, mas
freqentemente utilizada para o estudo de defeitos pontuais e para
determinao de pequenas quantidades de impurezas nos semicondutores que
so matrias primas para fabricao de dispositivos opto-eletrnicos.
230
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Resistividade ( mm )
Direitos autorais reservados
O aumento da resistividade com a
temperatura considerado uma das
propriedades mais caractersticas
dos
metais. Para temperaturas superiores a
100K (-173,15 oC), a resistividade
proporcional a temperatura absoluta T,
mas para baixas temperaturas a variao
torna-se proporcional a T5 e tende-se
anular para 0K, restando unicamente a
resistividade devido a defeitos nos metais,
que na teoria possvel exting-los.
Assim, para um metal puro e uma
distribuio atmica perfeita ( D = 0) a
resistncia tende a zero com a diminuio
da temperatura, conforme mostra a figura
abaixo.
0
100
Tf
Temperatura (K)
Figura 14.39 - Curva de resistividade eltrica em funo da temperatura.
O fenmeno da supercondutividade que se observa em certos metais
como o chumbo, o estanho, o mercrio, o nibio e suas ligas, como por exemplo,
NbTi, Nb3Sn que se d em temperaturas baixas deve-se a diminuio de defeitos.
Entretanto, sabido que estes metais e ligas so ms condutoras de eletricidade
a temperatura ambiente, mas, a temperaturas inferiores a 20K (-253,15 oC) a
resistividade anula-se bruscamente, tornando-se timos condutores. H,
atualmente, vrias ligas sendo estudados a supercondutividade como: UPd2Al3,
NdBa2Cu3O7, YBa2Cu3O7, etc.
14.10 - PROPRIEDADES MAGNTICAS
Foras magnticas aparecem quando partculas eletricamente carregadas
se movimentam. conveniente raciocinar em termos de campo magntico e
linhas de fora (imaginrias) podem ser tracejadas indicando a distribuio do
campo magntico. Outro conceito importante o conceito de dipolo magntico.
Os dipolos magnticos so anlogos aos dipolos eltricos e podem ser
imaginados como pequenas barras compostas de polo norte e polo sul. A figura
abaixo mostra um esquema dos momentos magnticos de um corpo slido. O
momento magntico do corpo a soma dos momentos magnticos das unidades
elementares que o constituem.
231
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Figura 14.40 - Esquema de momentos magnticos em um cristal e em uma clula unitria.
A propriedade mais caracterstica de qualquer material magntico o seu
momento magntico, quantidade mensurvel, designado pelo smbolo .
Quando consideramos os efeitos magnticos provenientes de tomos e eltrons
reunidos, como em um cristal, torna-se conveniente pensar em termos de
momento magntico por unidade de volume, cujo smbolo M. Na maioria dos
materiais, M zero na ausncia de campo magntico, entretanto, se esses
materiais so colocadas em um campo magntico, ento vale a expresso:
M = H
Onde a susceptibilidade magntica por unidade de volume e H a
intensidade do campo magntico. Pode-se usar a mesma unidade para M e H.
O campo magntico H medido em termos do fluxo magntico no vcuo
Bo (Wb/m2):
Bo = o H
Onde o a permeabilidade magntica no vcuo (410-7H/m). Wb significa
weber, H significa henry e a unidade de fluxo magntico - B - no S.I. o Tesla.
Vrios parmetros podem ser utilizados para descrever as propriedades
magnticas de um material. Um deles a susceptibilidade magntica acima
descrito; o outro parmetro importante permeabilidade magntica relativa:
r =
As permeabilidades e r medem a facilidade com que um campo
magntico B pode ser introduzido em um material sob ao de um campo
232
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
magntico externo H. A tabela abaixo mostra valores de permeabilidade
magntica relativa (r) para alguns materiais.
Material
Permeabilidade magntica relativa
Ferro (0,1% de impurezas)
Ao ao silcio (4,25% Si)
Ao ao silcio (3,25% Si) com gros orientados
Ferrita cermica (Mn, Zn) Fe2O4)
Ferrita cermica (Mn, Zn) Fe2O4)
0,5 x 103
1,5 x 103
2,0 x 103
1,5 x 103
0,3 x 103
A permeabilidade magntica e a susceptibilidade magntica podem ser
correlacionadas atravs da expresso:
= r 1
Do mesmo modo que os materiais diferem na sua resposta a um campo
eltrico, eles tambm diferem substancialmente quando expostos a um campo
magntico. Os efeitos magnticos nos materiais originam-se nas pequenas
correntes eltricas associadas ou a eltrons em rbitas atmicas ou a spins de
eltrons. Os materiais, quanto ao seu comportamento magntico, podem ser
classificados
em:
diamagnticos,
paramagnticos,
ferromagnticos,
antiferromagnticos e ferrimagnticos.
Diamagnticos: uma forma muito fraca de magnetismo, que s
persiste enquanto houver um campo magntico externo aplicado. Na
ausncia de campo magntico, os tomos de um material diamagntico
tm momento nulo. A magnitude do momento magntico induzido pelo
campo externo extremamente pequena e sua direo oposta direo
do campo aplicado. A susceptibilidade magntica , a qual no varia com a
temperatura, negativa e est na ordem de -10-6 a -10-5;
A figura ao lado mostra um
esquema da configurao de dipolos de
um material diamagntico e a tabela
que segue mostra a susceptibilidade
magntica de alguns materiais.
a)
b)
Figura 14.41 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material diamagntico.
a) Na ausncia de um campo magntico; b) Na presena de um campo
magntico.
233
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Material
Al2O3
Cobre
Ouro
Mercrio
Chumbo
ndio
Susceptibilidade
magntica
-1,81 x 10-5
-0,096 x 10-6
-0,14 x 10-6
-0,17 x 10-6
-0,13 x 10-6
-0,56 x 10-6
Material
Silcio
Prata
NaCl
Zinco
Cdmio
Antimnio
Susceptibilidade
magntica
-0,11 x 10-6
-0,18 x 10-6
-1,41 x 10-5
-0,18 x 10-6
-0,31 x 10-6
-1,1 x 10-6
Paramagnticos: tambm uma forma muito fraca de magnetismo,
mas neste caso os tomos de um material paramagntico tm momento
magntico, cuja orientao ao acaso, resulta em magnetizao nula. Os
dipolos podem ser alinhados na direo do campo magntico aplicado. A
susceptibilidade magntica , a qual diminui com o aumento da
temperatura, pequena e positiva e est na ordem de +10-5 a +10-3;
A figura ao lado mostra um
esquema da configurao de dipolos de
um material paramagntico e a tabela
que segue mostra a susceptibilidade
magntica de alguns materiais.
a)
b)
Figura 14.42 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material
paramagntico. a) Na ausncia de um campo magntico; b) Na presena de um
campo magntico.
Material
Csio
Potssio
Alumnio
Sdio
Zircnio
Nibio
Susceptibilidade
magntica
0,22 x 10-6
0,53 x 10-6
0,61 x 10-6
0,70 x 10-6
1,3 x 10-6
2,2 x 10-6
Material
Tungstnio
Magnsio
Trio
Platina
Molibdnio
Titnio
Susceptibilidade
magntica
0,32 x 10-6
0,54 x 10-6
0,66 x 10-6
1,04 x 10-6
1,8 x 10-6
3,0 x 10-6
Ferromagnticos: quando a susceptibilidade magntica for positiva
e elevada, o material classificado como ferromagntico. Alm disto, os
materiais ferromagnticos se magnetizam espontaneamente e podem reter
um momento magntico permanente. Quando o campo magntico H
removido desses materiais, M no cai a zero. Quanto melhor for a
orientao dos momentos magnticos, melhor ser os efeitos magnticos.
o caso do ferro , cobalto, nquel e gadolneo. Algumas ligas e
compostos de mangans, tais como MnBi, e Cu2MnAl, tambm apresentam
ferromagnetismo. Eles apresentam temperatura crtica, denominada
234
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
temperatura de Curie (c), acima da qual perdem o ferromagnetismo e
tornam-se paramagnticos.
A figura abaixo mostra um esquema da configurao
de dipolos de um material ferroamagntico e a tabela que
segue mostra a temperatura de Curie para alguns materiais
ferromagnticos
Figura 14.43 - Esquema da configurao de dipolo magntico de um material
ferromagntico na ausncia de um campo magntico.
Material
Ferro
Nquel
Cobalto
Temperatura de Curie
770 oC
Material
Gadolneo
Temperatura de Curie
20 oC
358 oC
1130 oC
SmCo5
Nd2Fe14B
720 oC
312 oC
A susceptibilidade magntica dos materiais ferromagnticos diminui com o
aumento da temperatura segundo a lei de Curie-Weiss:
C
T
Onde C uma constante, T a temperatura em graus Kelvin e c
aproximadamente c.
Antiferromagnticos: alguns materiais apresentam o comportamento
antiferromagntico. O MnO um material cermico com ligao inica e a
sua estrutura cristalina CFC. O momento
magntico associado aos ons O2- zero. Os
ons Mn2+ apresentam momento magntico
permanente, mas esto arranjados na
estrutura de modo que os ons adjacentes
tm momentos opostos ou antiparalelos. O
material como um todo no apresenta
momento magntico. A figura abaixo ilustra
os momentos magnticos do MnO. Vrios
compostos
de
metais
de
transio
apresentam
comportamento
antiferromagntico: MnO, CoO, NiO, Cr2O3,
MnS, MnSe e CuCl2.
Figura 14.44 - Esquema de momentos magnticos do MnO.
235
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Estes materiais apresentam temperatura crtica, denominada de
temperatura de Nel (n). A susceptibilidade dos materiais
antiferromagnticos da mesma ordem de grandeza da dos materiais
paramagnticos e diminui com o aumento da temperatura.
de n.
C
T
Onde C uma constante, T a temperatura em graus Kelvin e diferente
ferrimagnticos: alguns outros materiais cermicos tambm apresentam
forte magnetizao permanente, denominada de ferrimagnetismo. Estes
materiais so denominados de
ferritas (no confundir com a
fase ferro do ferro, de estrutura
CCC).
As
caractersticas
macroscpicas
do
ferromagnetismo
e
do
ferrimagnetismos so parecidas.
As
ferritas
podem
ser
representadas por Mfe2O4, onde
M deve ser um elemento
metlico. O Fe3O4, que foi a
primeira ferrita conhecida, pode
ser
escrita
como
Fe2+O2(Fe3+)2(O2-)3 . Na estrutura
cbica da magnetita o ction
ocupa
interstcios
Fe2+
octadricos e o ction Fe3+
ocupa interstcios tetradricos.
Figura 14.45 - Esquema dos momentos magnticos da ferrita.
O nion O2- magneticamente neutro. A resultante dos momentos
magnticos dos dois tipos de ons de ferro no se anula e o material apresenta
magnetismo permanente. O on M2+ pode ser, alm do ferro, o Ni, o Mn, o Cu, e o
Mg. A figura abaixo ilustra os momentos magnticos de ferrita. Estes materiais
tambm apresentam temperatura crtica de Curie (c). A susceptibilidade dos
materiais ferrimagnticos da mesma ordem de grandeza da dos materiais
ferromagnticos e diminui com o aumento da temperatura.
de c.
C
T
Onde C uma constante, T a temperatura em graus Kelvin e diferente
236
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.10.1 - MATERIAIS MAGNTICOS MOLES E DUROS
As propriedades magnticas de um material so determinadas pela sua
estrutura eletrnica, pela sua estrutura cristalina e por seus domnios magnticos.
O conceito de domnio magntico foi introduzido por Weiss (1.907) para explicar o
comportamento dos materiais ferromagnticos. Ele postulou que um material
ferromagntico dividido em domnios, dentro das quais a magnetizao igual
ao valor da saturao. A magnetizao de diferentes domnios varia com a
direo, de modo que a magnetizao de um material ferromagntico pode ser
pequena ou at mesmo nula. Atinge-se o valor de saturao quando os domnios
so alinhados pela aplicao de um campo magntico externo. Em termos de
aplicaes, os materiais magnticos podem ser divididos em dois grupos,
denominados de materiais moles,
tendo baixa coercividade (Hc), baixa
remanescncia (Br), combinado com
elevada permeabilidade magntica
() e saturao magntica. Em outras
palavras, materiais magnticos moles
significa ser facilmente magnetizado
e desmagnetizado; materiais duros
ou permanentes deve ser resistente a
desmagnetizao, exibindo elevada
coercividade
e
elevada
remanescncia e o produto H x B
deve ser mximo. A figura abaixo
mostra as curvas de magnetizao e
ciclos de histerese tpicos de
materiais magnticos moles e duros.
Figura 14.46 - Curva de histerese de materiais magnticos moles (interno) e duros (externo).
Um material magntico mole opera na presena de um campo magntico.
Este comportamento til em aplicaes que envolvem mudanas contnuas na
direo de magnetizao, por exemplo, geradores de c.a., motores eltricos de
c.a. e transformadores de c.a. Para estas aplicaes so necessrios materiais
magnticos moles como Fe, Fe-Si (ao ao silcio), Fe-P, Fe-P-Si), Fe-Ni, Fe-Co, e
Fe-Co-V (supermalloy).
Um material magntico duro tem sua magnetizao durante a fabricao e
deve ret-la depois que o campo magntico externo, usado para magnetiz-la,
for removido. Os materiais magnticos duros apresentam um ciclo de histerese
elevado. Geradores de c.c, alternadores, fones de ouvido e alto-falantes
necessitam de materiais magnticos duros como SmCo5, Sm2Co17 e NdFeB. O
desenvolvimento de materiais magnticos mais eficientes tem sido contnuo,
sendo estes ltimos produzidos a partir de 1970 pela metalurgia do p.
237
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.11 - PROPRIEDADES TICAS
Quando um feixe de luz encontra uma interface entre dois meios, por
exemplo, do ar para dentro de uma
substncia slida, ele sofre reflexo e
refrao. Alm disto, parte da radiao
da luz pode ser absorvida pelo meio em
que se propaga. Em outras palavras, ao
se iluminar uma amostra, com
intensidade Io, pode-se notar que parte
desta intensidade refletida nas
interfaces, parte absorvida pela
amostra e outra parte emerge do outro
lado (transmitido), conforme mostra a
figura abaixo.
Figura 14.47 - Esquema da incidncia de um feixe luz que encontra interfaces entre dois
meios.
Pela conservao de energia, a intensidade do feixe incidente Io para a
superfcie do meio slido deve ser igual a soma das intensidades transmitidas,
absorvidas e refletidas, respectivamente, It, Ia, e Ir, dada pela equao abaixo:
Io = It + Ia + Ir
(W/m2)
Equao 24
14.11.1 - REFLETIVIDADE, TRANSMITNCIA E ABSORO.
A perda linear por absoro de um meio pode ser expressa pela lei de
Beer-Lambert [:
I = I
Onde Io, a intensidade do feixe incidente, l a espessura da amostra e o
coeficiente de absoro por unidade de comprimento.
O coeficiente de absoro no pode ser obtido diretamente de um nico
experimento de transmitncia. Assim, a reflexo na frente e na sada da superfcie
devem ser levadas em conta. Para um feixe incidente normal, a intensidade de
I
um feixe refletido pela frente da superfcie dado pela refletividade R = r e a
Io
It
transmitncia dado por T = , onde Io a intensidade do feixe incidente, It a
Io
intensidade do feixe transmitido e Ir a intensidade do feixe refletido. A absoro
I
pode ser expressa por A = a onde, Ia a intensidade do feixe absorvido.
Io
238
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
A intensidade do feixe transmitido pode ser expressa pela equao:
It = Io Ir Ia
2
I t = I o ( 1 R ) e l
Logo, se a intensidade do feixe refletido for igual a intensidade do feixe
incidente (Ir = Io ), a transmitncia ser nula (It = 0). Se intensidade do feixe
refletido for aproximadamente igual a zero, ou zero (Ir 0), pode-se expressar a
intensidade do feixe transmitido pela equao:
I t = I o e l
Onde o coeficiente de absoro (mm-1) que varia com o comprimento
de onda da radiao incidente, e l a espessura do material na qual atravessa o
feixe.
s vezes, mais conveniente evitar medies de refletncia, quando as
espessuras do meio so muito finas ou transparentes (em vidros).
Transmitncia de uma amostra
A figura abaixo mostra o esquema de uma anlise de transmitncia por um
feixe incidente em uma amostra de vidro.
IoA
I t A = I o A e l
TA =
ItA
I oA
= e l
Figura 14.48 - Esquema de uma anlise de transmitncia por um feixe incidente normal a
superfcie de uma amostra de vidro.
A figura ao lado mostra um
tpico
espectrmetro
com
compartimento aberto onde se
posicionam
amostras
para
a
incidncia de feixes de luz para a
obteno de dados de absoro e
transmitncia.
Figura 14.49 - Detalhe do compartimento aberto [ 1 ] de um espectrmetro.
239
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Transmitncia (%)
A figura que segue mostra o resultado de transmitncia em funo do
comprimento de onda de uma lmina de vidro denominado BLC1. O rudo que
aparece entre 180 nm e
280 nm devido a
absoro do ultravioleta
BLC1
108
pela lmina de vidro que
106
suporta a amostra. Podese
observar
que
a
104
transmitncia
para
a
102
amostra BLC1 de
100
aproximadamente 100%,
98
com algumas flutuaes,
para o intervalo de
96
comprimento de onda de
94
280 nm a 850 nm.
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Comprimento de onda (nm)
Figura 14.50 - Curvas de transmitncia da amostra BLC1. Espectro com irradiao do
ultravioleta.
100
STW4
Transmitncia (%)
80
60
40
20
200
300
400
500
600
700
800
Comprimento de onda (nm)
900
1000
A
figura
que
segue mostra a curva
de transmitncia em
funo do comprimento
de
onda
de
uma
amostra de vidro dopado
com cristais de PbS de
tamanho nanomtrico,
denominado de STW4.
Pode-se observar que a
transmitncia reduz com
a
diminuio
do
comprimento de onda
que devido a absoro
dos cristais de PbS.
Figura 14.51 - Espectro de transmitncia de uma amostra de vidro dopado.
Os materiais metlicos so inteiramente opacos no espectro da luz visvel,
isto , toda radiao de luz absorvida ou refletida ou ambas, mas so
transparentes para ondas eletromagnticas de pequeno comprimento de onda
como raio-X e raio-. Estas propriedades dos metais atribuem-se a capacidade
dos eltrons livres de absorverem energia dos ftons e de poderem reemitir,
quando o eltron, excitado pelo impacto de uma radiao, cai em um nvel mais
baixo de energia. Deste modo, um feixe luminoso que incide sobre a superfcie de
um metal, quase inteiramente refletido, dando lugar ao brilho metlico.
240
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Materiais isolantes podem ser transparentes e alguns materiais
semicondutores so transparentes e outros so opacos. Um material homogneo
e transparente, como o vidro, caracterizado por uma constante, o ndice de
refrao (n 1), que indica que a velocidade de propagao da luz naquele meio
(c) menor que a velocidade de propagao da luz no vcuo (co = 3 x 10 8 m/s).
Assim,
c =
co
n
Cristais com estrutura cbica so isotrpicos, onde o ndice de refrao
independe da direo de propagao e da polarizao da luz. Cristais com outras
estrutura so anisotrpicos e seus ndices de refrao so funo da orientao e
da polarizao. O quadro abaixo mostra os ndices de refrao de vrios
materiais.
Material
ndice mdio de refrao
Slica
1,46
Soda-lime
1,51
Pyrex
1,47
Dense optical flint glass
1,65
Corundum (Al2O3)
1,76
Periclase (MgO)
1,74
Quartzo (SiO2)
1,55
Spinel (MgAl2O4)
1,72
Politetrafluoretileno
1,35
Polietileno
1,51
Polistireno
1,60
Polimetilmetacrilato
1,49
Polipropileno
1,49
Heptano
1,38
Etanol
1,36
Do exposto acima, pode-se concluir que a radiao eletromagntica pode
ser tratada de dois modos: clssico (ondulatrio) e quntico (ftons). Para analisar
determinados fenmenos, a abordagem clssica mais conveniente e em outras
situaes prefervel a abordagem quntica. Einstein, em 1905, utilizou os
conceitos da teoria quntica, proposta por Planck em 1900, e props que um feixe
de luz consiste de pequenos pacotes de energia, conhecidos como quanta de luz
ou ftons. A energia de um fton pode assumir determinados valores definidos
pela relao:
h co
E = h =
241
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Onde h a constante de Planck (h = 6,63.10 -34 J.s), a freqncia da
onda, co a velocidade da luz e o comprimento de onda.
Alguns materiais so capazes de absorver energia e reemitir luz visvel em
um fenmeno chamado luminescncia. Ao absorver energia, um eltron pode ir
para um estado excitado. Esta energia pode ser fornecida por meio de ftons com
energia maior do que a energia de banda proibida do material. Processos no
radioativos fazem com que o eltron v para o nvel mais baixo da banda de
conduo se 1,8 eV < hv < 3,1 eV, de onde podem retornar banda de valncia
com emisso de um fton. A energia absorvida pode ser suprida como energia
mais elevada de radiao eletromagntica tal como luz ultravioleta, ou outras
fontes como calor, energia mecnica ou energia qumica.
A luminescncia classificada de acordo com a grandeza do tempo entre o
evento de absoro e reemisso. Se a reemisso ocorre para tempos menores
que um segundo, o fenmeno chamado de fluorescncia; e para tempos
maiores, fosforescente. Os semicondutores lasers so um bom exemplo para
mostrar como as propriedades ticas e eltricas so, de fato, intimamente
relacionadas. Quando se olha para um semicondutor, nota-se que eles
usualmente apresentam uma colorao, amarelo claro para CdS, laranja para
ZnSe, vermelho para Cu2O ou preto metlico para GaAs de acordo com o valor de
energia da banda proibida. Um exemplo simplificado de um experimento de
absoro, para determinar as propriedades ticas e indiretamente a energia de
banda proibida, representado esquematicamente na abaixo. Luz monocromtica
de intensidade Io
incidida sobre a amostra.
Um detector mede a
intensidade transmitida It ,
fig.
a).
Variando
o
comprimento de onda de
Io, obtm-se o espectro de
absoro mostrado na fig.
b). A absoro, fig. b)
tpica de um semicondutor
do tipo GaAs.
Figura 14.52 - a) Esquema de um experimento de transmisso. A) transmisso de um feixe
de laser atravs de um semicondutor.; b) Um espectro tpico de absoro do
semicondutor GaAs.
A linha caracterstica do espectro de absoro na figura acima (b) uma
manifestao direta da interao coulombiana originadas da atrao entre eltron
e buraco, o qual conduz formao de um estado de fronteira do par eltronburaco, o xciton. Estes xcitons, podem ser descritos similarmente como os
tomos de hidrognio, onde o prton substitudo por uma partcula com carga
+e e com massa efetiva do buraco. O coeficiente de absoro e o ndice de
refrao tm um comportamento no linear com a intensidade da luz excitante.
242
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Do ponto de vista clssico, a radiao eletromagntica
pode ser
considerada como sendo ondas com dois componentes perpendiculares entre si e
ambos perpendiculares direo de propagao. Portanto, uma onda
eletromagntica pode ser representada em um sistema cartesiano com trs eixos
ortogonais entre si: um eixo representa o campo eltrico (E); outro representa o
campo magntico (P) e o terceiro eixo representa a direo de propagao. Luz,
calor, ondas de radar, ondas de rdio e raio-X so formas de radiaes
eletromagnticas. Todos os corpos emitem radiaes eletromagnticas devido ao
movimento de seus tomos e molculas. Este tipo de radiao denominada
radiao trmica e uma mistura de comprimentos de onda. A figura abaixo
representa o espectro de radiaes eletromagnticas.
Figura 14.53 - Espectros de radiao eletromagntica.
A luz ocupa uma regio muito estreita do espectro de radiaes
eletromagnticas, com comprimento de onda que vo de 0,4 m a 0,7 m. O
branco uma mistura de todas as cores.
Em adio s propriedades ticas, interessante investigar a resposta de
semicondutores sob excitaes de pulsos curtos. Nas ltimas dcadas tem sido
feito progressos significantes na produo de pulsos ticos da ordem de
femtosegundo (1 fs = 10-15 s) atravs de laser (light amplification by stimulated
emission of radiation).
243
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
14.12 - PROPRIEDADES QUMICAS
14.12.1 - RESISTNCIA A CORROSO
Muitos metais encontram-se na natureza de forma combinada e
principalmente com o oxignio, por exemplo, o alumnio encontrado na bauxita
que contm alumina (Al2O3). Os metais e suas ligas tendem a reagir com o meio
durante a sua utilizao. A corroso metlica um processo eletroqumico, por
exemplo, um metal M de valncia n pode-se oxidar segundo a reao:
M M n + + ne
Onde e- representa um eltron.
O local onde ocorre a reao de oxidao denominado de nodo. Os
eltrons produzidos pela reao andica, geralmente, participam de reaes de
reduo. O local onde a reao de reduo ocorre denominado de ctodo. As
reaes que ocorrem no nodo e no ctodo so denominadas de meia reao ou
semi-reao. A corroso de um metal, como o zinco, pode ser representada pela
soma de duas meias reaes:
Zn Zn 2 + + 2e
2H1+ + 2e H 2 (g)
Zn + 2H1+ Zn 2 + + H 2 (g)
Os metais apresentam diferentes propenses a corroso. Como o processo
de ionizao de um metal cria um potencial eltrico, denominado de potencial de
eletrodo, a propenso corroso pode ser avaliada por este potencial. Os
potenciais de eletrodo so medidos em relao ao hidrognio. O potencial de
eletrodo depende da natureza e da concentrao de soluo em que o metal est
imerso. O quadro abaixo mostra potenciais de eletrodo de vrios metais.
Semi-reao, Soluo cida
Mn 2+ + 2e Mn
Potencial de eletrodo
(em V para 1 mol/l) a 25 oC
-1,190
Cr 3+ + e Cr 2 +
-0,420
Eu 3+ + e Eu 2 +
-0,350
Ni 2+ + 2e Ni
-0,236
Pb 2+ + 2e Pb
-0,126
2H1+ + 2e H 2 ( g )
0,000
Cu 2+ + 2e Cu
+0,337
Fe 3+ + e Fe 2 +
+0,777
Ag1+ + e Ag
+0,799
Au 3+ + 3e Au
+1,498
244
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Um fenmeno muito
importante no estudo da
corroso a passivao,
causada por uma pelcula
muito fina de xido na
superfcie do metal ou liga,
a qual dificulta o processo
de oxidao. Os casos mais
conhecidos de passivao
so
provavelmente
do
alumnio
e
do
ao
inoxidvel.
Figura 14.54 - Esquema dos tipos de corroso.
A corroso pode ser classificadas em vrios tipos, de acordo com a
maneira com que ela ocorre. A figura abaixo mostra os esquemas dos tipos de
corroso.
Um mesmo tipo de material pode sofrer diferentes tipos de corroso,
conforme o meio e as condies em que ele est exposto. Os materiais cermicos
so muito estveis quimicamente. So praticamente inertes na maioria dos meios
orgnicos e inorgnicos, em gua, assim como em cidos e bases fracos. Os
vidros so muitos resistentes aos cidos. Apesar disto eles so susceptveis aos
cidos fluordricos e por algumas bases. Os refratrios utilizados em fornos
tambm sofrem o ataque qumico causado por gases oriundos da fuso de metal.
14.12.2 - RESISTNCIA DEGRADAO
Alguns materiais so bastante estveis em meios lquidos como gua,
cidos, bases ou atmosferas agressivas em relao aos metais, por exemplo,
plsticos do tipo polietileno absorvem gua, polistireno so solveis em benzeno,
tolueno. Em geral, os termofixos so mais resistentes ao ataque de solventes
orgnicos que os termoplsticos. Nem sempre a degradao se da por completo,
podendo, no entanto ser parcial com difuso de lquido ou soluto entre suas
molculas, diminuindo inclusive sua resistncia mecnica.
Outra forma de degradao causada pela difuso de oxignio entre as
cadeias das macromolculas, promovendo ligaes cruzadas. Esta reao,
denominada envelhecimento, acelerada pela radiao ultravioleta ou pela luz
solar intensa (muito comum no polietileno e borrachas). A oxidao dos pneus
pode ser suprimida pela adio de pequenas quantidades de carvo ou de
substncias antioxidantes, como aminas aromticas e derivados de fenis.
245
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
15 NOES DE RECICLAGEM DE MATERIAIS
Figura 15.1 Smbolo da reciclagem.
15.1 - INTRODUO
Quando abordado o assunto de reciclagem, importante diferenciar duas
normas mundiais que tratam do assunto de reciclagem de uma forma direta ou
indiretamente. Estas duas normas so:
- ISO 9000 - GARANTIA E GESTO DA QUALIDADE que estabelece
requisitos para sistemas de qualidade que favorece interao com o mercado
internacional, na qual tem preocupao com o meio ambiente e procura redigir
vnculos de legislao ambiental para satisfao da comunidade e melhoria da
imagem da empresa.
-
ISO 14000 - GESTO AMBIENTAL que estabelece aes de correo ou
minimizao de efeitos ambientais dos processos produtivos, reduo de
custos via melhoria contnua [consumo de gua, energia, reciclagem de
resduos] onde se preocupa com a demanda, produo e preo de um produto
com o consumo de energia.
Outro aspecto que importante ressaltar o entendimento entre
reciclagem e reaproveitamento. Dois termos que geralmente vem sendo
confundido. A reciclagem um reaproveitamento de uma matria prima ou
produto industrializado ou final, entretanto, o reaproveitamento no significa
246
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
reciclagem, isto , na reciclagem, a matria prima ou produto final novamente
reprocessado, enquanto que o reaproveitamento no significa o reprocessamento.
Exemplo. Um retalho de tecido de algodo, ao ser usado na fabricao de uma
colcha por meio de costura, reaproveitado. Caso fosse feito a reciclagem, o
tecido deveria ser transformado novamente em fios para posteriormente fazer a
fabricao da colcha. Isto significa que a reciclagem pode consumir muita energia.
Em determinados casos, como as latas de alumnio, a reciclagem traz economia
de energia, porque para fabricar a lata de alumnio novamente, basta fundir a lata
usada que envolve menos energia do que a transformao do minrio (alumina)
em alumnio. O quadro abaixo mostra a energia necessria para produo de
alguns materiais.
Energia necessria para a produo de alguns materiais (PADILHA, 1997.).
Material
Ao bruto
Ferro fundido
Alumnio
Bronze
Cobre
Chumbo
Cimento
Concreto reforado
Cermica tradicional (tijolos)
Vidro plano
Fibra de vidro
Polipropileno
Poliestireno
Polietileno
PVC
Papel
Energia (GJ/tonelada)
10-47
58-360
83-330
97
72-118
28-54
4-8
8-14
3-6
14-20
43-64
108-113
96-140
80-120
67-92
59
Preo de alguns materiais de engenharia. (PADILHA, 1997.).
Material
Diamante industrial de alta qualidade
Platina
Ouro
Tungstnio
Titnio
Lato (60%Cu - 40%Zn)
Alumnio
Ao inoxidvel
Ao doce
Carboneto de silcio (cermica avanada)
Carboneto de silicio (abrasivos)
Carboneto de silcio (refratrios)
Vidro
Borracha sinttica
Borracha natural
Preo (US$/tonelada)
500.000.000
16.500.000
14.500.000
9.500
8.300
3.750
2.400
2.700
350
27.500
1.400
750
750
1.400
870
247
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Polietileno
PVC
Fibra de vidro
Fibra de carbono
Resina epoxdica
Madeira compensada dura
Madeira dura estrutural
Madeira mole estrutural
Vigas de concreto reforado
Cimento
Sillcio monocristalino (Wafers)
Silcio metalrgico
1.100
1.000
1.500
45.000
6.000
1.650
530
350
330
70
10.000.000
1.300
Os materiais polimricos tm tido muita preocupao quanto a reciclagem
e reaproveitamento em virtude da grande utilizao aps 1.950 e devido ao custo
e poluio que os mesmos envolvem. Os termoplsticos podem ser
repetidamente conformados mecanicamente desde que reaquecidos, portanto,
so reciclveis. o caso do polietileno (PE), policloreto de vinila (PVC),
polipropileno (PP), poliestireno (PS). Os termoestveis. So conformveis
plasticamente apenas em um estgio intermedirio de sua fabricao. No so
reciclveis, mas podem ser reaproveitados. o caso do baquelite, resinas epoxdicas,
polisteres, poliuretanos. Desta forma, os materiais plsticos e
elastmeros pode ser reaproveitado de trs maneiras:
1. Reaproveitamento energtico - queimado liberando muita energia trmica;
2. Reciclagem "reprocessados" por aquecimento e a matria prima pode ento
ser utilizada novamente na indstria petroqumica;
3. Reaproveitamento mecnico - no Brasil, a mais utilizada; o material
picado e utilizado novamente como material aditivo em determinados
produtos.
Para facilitar a separao dos materiais plsticos para a reciclagem e
reaproveitamento, os mesmos so identificados pelas siglas para diferenciar
cada tipo. Alguns exemplos dos tipos mais utilizados:
PEAD - (polietileno de alta densidade) - frascos de shampoo e maquiagem,
baldes, utenslios domsticos.
PEBD - (polietileno de baixa densidade) - plstico "filme" - sacos plsticos de lixo,
brinquedos. So finos e bastante flexveis.
PS (poliestireno) - copos plsticos; sacos de batata.
PET - (polietileno tereftalado) - garrafas de refrigerante, sucos e leo de cozinha,
Essas embalagens so transparentes e fabricadas em diversas cores.
PVC - (policloreto de vinila) - tubos e conexes de encanamento; alguns frascos
de detergente, pastas para material escolar, calados. mais rgido, porm
resistente.
PP - (poliproprileno) - plsticos "filme" de proteo de alimentos, peas de
automveis.
OUTROS Utilizados em eletrodomsticos, aparelhos telefnicos, revestimentos
diversos, pisos, etc...
Alm de diminuir os impactos de poluio e diminuio de custos em
muitos casos, a reciclagem cria novos empregos em centros de reciclagem.
248
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
16 - EXERCCIOS PROPOSTOS
1. Explique o comportamento de materiais dteis e frgeis utilizando
diagrama x .
2. Mostre esquematicamente os estgios na formao taa-cone e explique
resumidamente.
3. Por que se deve garantir o paralelismo entre as placas da mquina de
ensaio e limitar o comprimento dos corpos de prova nos ensaios de
compresso?
4. O que tenacidade?
5. Por qu se faz ensaios de materiais?
6. Cite 4 tipos de ensaios destrutivos!
7. O que Mdulo de Elasticidade Longitudinal?
8. O Que limite de escoamento?
9. O que deformao plstica?
10. Como se mede a tenacidade em um diagrama x ?
11. O que flambagem?
12. Um ao de mdio carbono que apresenta o Mdulo de Elasticidade
Longitudinal de 21.000 Kgf/mm2 e Tenso de escoamento de 31,5
Kgf/mm2, qual a mxima deformao que o material pode apresentar
obedecendo o regime elstico?
Resposta: = 0,15%
13. Qual a tenso limite de resistncia compresso de um material que tem
400 mm2 de rea da seo transversal e se rompeu com uma carga de 760
KN?
Resposta: = 1.900 MPa
14. Uma barra de alumnio de possui uma seco transversal quadrada com
60 mm de lado, o seu comprimento de 0,8m. A carga axial aplicada na
barra de 30 kN. Determine o seu alongamento. Eal = 0,7x105 Mpa.
Resposta: = 0,095mm
15. Para que se faz ensaio de flexo?
16. Que propriedades pode ser avaliadas no ensaio de flexo?
17. Um corpo de prova de 30 mm de dimetro e 600 mm de comprimento foi
submetido a um ensaio de flexo a trs pontos, apresentando uma flexa de
2 mm sob uma carga de 360 N. Determine:
a) A tenso de flexo;
b) O mdulo de elasticidade longitudinal.
Resposta: F = 20,38Mpa e E = 20.382,16MPa
18. Na realizao de um ensaio de dureza, utilizou-se o ensaio Brinell. A esfera
utilizada foi de 2,5 mm de dimetro e a carga de 62,5 Kgf. O dimetro da
impresso medida no microscpio foi de 1,3 mm. Qual a dureza da
amostra?
Resposta: HB = 43,7 kgf/mm2 ou 43,7HB
249
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
19. Cite uma das definies de dureza (preferncia do ponto de vista da
metalurgia).
20. Quais as vantagens do ensaio de dureza Rockwell sobre o ensaio de
dureza Brinell?
21. Na realizao de um ensaio de dureza, utilizou-se o ensaio Brinell. A esfera
utilizada foi de 2,5 mm de dimetro e a carga de 187,5 Kgf. O dimetro da
impresso medida no microscpio foi de 0,997 mm. Qual a dureza da
amostra?
Resposta: 230HB
22. Uma empresa comprou um lote de chapas de alumnio de 6 mm, cuja
especificao de dureza foi de 85 HB. Qual a carga necessria para o
ensaio se utilizar um penetrador de 10 mm de dimetro? possvel fazer
ensaio de dureza Brinell com dimetro do penetrador de 10 mm?
Dados:
a) Espessura mnima deve ser igual a 17 vezes a profundidade da calota.
Resposta: F = 1.000kgf. Espessura mnima de 6,37 mm, portanto, no
possvel fazer o ensaio de dureza Brinell com penetrador de 10 mm de
dimetro.
23. Interprete a seguinte representao de dureza Brinell: 120HB 5/250/15
24. Uma empresa comprou um lote de chapas de ao carbono com a seguinte
especificao:
a) Espessura da chapa: 4 mm;
b) Dureza Brinell: 180 HB
c) Verificar se estas chapas podem ser submetidas ao ensaio de dureza Brinell
utilizando dimetro do penetrador de 5 mm, ou seja, qual a espessura
mnima das chapas de ao para um penetrador de 5 mm.
Resposta: F = 750kgf. Espessura mnima de 4,51 mm, portanto, no
possvel fazer o ensaio de dureza Brinell com penetrador de 5 mm de
dimetro.
25. Uma empresa comprou um lote de chapas de ao carbono com as
seguintes especificaes:
a) Espessura: 4,5 mm
b) Dureza Brinell: 100 HB
c) Essas chapas devem ser submetidas a ensaio de dureza brinell e a
empresa dispe de um penetrador de 2,5 mm de dimetro. Qual a espessura
mnima da chapa para a utilizao de um penetrador com 2,5 mm de
dimetro?
Resposta: F = 187,5kgf. Espessura mnima de 4,0 mm, portanto, possvel
fazer o ensaio de dureza Brinell com penetrador de 2,5 mm de dimetro.
250
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
17 - REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
1. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Gros abrasivos
aplicados em lixas, MB-481, 1971.
2. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Determinao da
resistncia trao por compresso diametral de corpos de prova
cilndricos. NBR-7222, 1983.
3. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Resistncia
trao simples de argamassas e concreto por compresso
diametral de corpos de prova cilndricos. MB-212. 1958.
4. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Metalografia,
tratamentos trmicos e termoqumicos das ligas ferrocarbono terminologia. NBR - 8653. 1998.
5. ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Determinao das
propriedades mecnicas trao de materiais metlicos. NBR-6152,
1960.
6. BATISTA, V. J. Caracterizao da tenacidade de materiais cermicos
de pequenas dimenses. Porto Alegre, UFRGS: PPGEMM, 1993.
Dissertao (Mestrado em Engenharia).
7. BLASS, A. Processamento de polmeros. Florianpolis: Editora da UFSC,
1988, 313p.
8. BRUNATO, S. F. Nitretao por plasma de ferro sinterizado. Dissertao
de mestrado. Eng. Mecnica/UFSC, 1993.
9. CALLISTER Jr., W. D. Materials science and engeneering: an
introduction. N.Y: John Wiley & Sons, Inc, 3a. ed., 1994.
10. CHIAVERINI, V. Aos e ferros fundidos. So Paulo: ABM, 1988, 6a ed,
576p.
11. CHIAVERINI, V. Tecnologia mecnica: estrutura e propriedades das
ligas metlicas. So Paulo: Makron Books do Brasil Editora Ltda. 2a.
ed., v. 1, 2, 3, 1994.
12. COLPAERT, H. Metalografia dos produtos siderrgicos comuns. So
Paulo: Ed. Edgard Blcher Ltda, 1974.
13. da Fonseca, M, R. Qumica integral. So Paulo: Ed. FTD S.A., 1993.
14. DE SEABRA, A. V. Metalurgia geral. Lisboa: Grfica Laboratrio Nacional
de Engenharia Civil, v1. 503p, 1981.
15. DIETER, G. E. Metalurgia mecnica. R. J: Ed. Guanabara dois. 2a edio,
1981.
16. FAZANO, C. A. T. Z. A prtica metalogrfica. So Paulo: Editora Hemus
Ltda. 1a edio, 1980.
17. FREIRE, J. M. Introduo s mquinas-ferramentas. Rio de Janeiro: Ed.
Intercincia Ltda. 2a. ed. v2. 1989.
251
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
18. GOMES, R.M. Comportamento ao desgaste dos aos ABNT 4340 e
ABNT 52100 nitretados por plasma. Dissertao de mestrado. Eng.
Mecnica/UFSC, 1993.
19. GULIAV, A. P. Metalografia. Moscou: Editora Mir, v.1, 1978,368p.
20. LOSEKANN, C. R. Crescimento de monocristais de cobre pela tcnica
Czochralski e projeto de cmara Czochralski para crescimento de
compostos semicondutor III-V. Porto Alegre, UFRGS: PPGEMM, 1992.
139p. Dissertao (Mestrado em Engenharia).
21. LOSEKANN, C. R. Preparao de nanopartculas semicondutoras PbS
e estudo das propriedades ticas no-lineares. Florianpolis, UFSC:
CPGEM, 1999. 177p. Tese (Doutorado em Engenharia Mecnica).
22. MCLELLAN, G.; SHAND, E. Glass engineering handbook. NY: McGrawHill Book Company, 3a ed., 1984.
23. NOVIKOV, I. Teoria dos tratamentos trmicos dos metais. Rio de
Janeiro. Ed. UFRJ, 1994.
24. OHNO, A. Solidificao dos metais. So Paulo: Livraria Cincia e
Tecnologia Ltda, 1988, 185p.
25. PADILHA, A. F. Materiais de engenharia: microestrutura
propriedades. So Paulo: Hemus Editora Limitada. 1997.
26. PEREIRA, Rubens Lima. Tratamentos trmicos dos metais. So Carlos,
Escola de engenharia, 1960.
27. REED-HILl, R. E. Princpios de metalurgia-fsica. Rio de Janeiro: Editora
Guanabara Dois S.A., 1982, 776p.
28. RENAU, R. G. Pastas y vidriados: en la fabricacin de pavimentos y
revestimientos cermicos. Castelln: Faenza Editrice Ibrica S.L.,
1994.
29. ROTHERY, W. H. Estrutura das ligas de ferro. So Paulo: Editora Edgard
Blcher Ltda, 1968.
30. RHLE, M.; Evans, A. G. High toughness ceramics and ceramic
composites. Progress in Materials Science. Oxford.
31. SANTOS, Prsio de Souza. Cincia e tecnologia de argilas. So Paulo.
Ed. Edgard Blcher Ltda. 2a ed. 1992.
32. SOUZA, S. A. Ensaios mecnicos de materiais metlicos. So Paulo:
Ed. Edgard Blcher Ltda. 5a edio, 1982.
33. STEMMER, C. E. Ferramentas de corte I. Florianpolis: Ed. da UFSC,
2001.
34. THMMLER, F.; OBERACKER, R. Introduction to powder metallurgy.
The Institute of Materials, London, 1993.
35. TELECURSO 2000 profissionalizante. Mecnica: materiais. Ed. Globo S.A.
So Paulo, 1995.
36. VLACK, Lawrence H. Van. Propriedades dos materiais cermicos. Ed.
Edgard Blcher Ltda. So Paulo, 1973.
252
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
37. http://www.rc.unesp.br/museudpm/banco/silicatos/filossilicatos/muscovita.ht
ml
38. www.abceram.org.br/asp/abc_53c.htm
39. http://www.centraldaceramica.com.br/Central/web/informa/dicas/considerac
oes_gerais.htm
40. http://www.deq.eng.ufba.br/polimeros/ensaios.html
41. http://bibvirt.futuro.usp.br/acervo/matdidat/tc2000/tecnico/ensaios/ensaios.h
tml
42. http://www.ndsm.ufrgs.br
253
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
ANEXOS
254
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Reagentes qumicos para metalografia
MATERIAL
Aos
carbono
ao
Aos ligados
Aos
grafitizados
Ferros
fundidos
Alumnio
suas ligas
REVELAO
REAGENTES
COMPOSIO
OBSERVAO
Aos ao carbono
Nital
1-5 ml HNO3
concentrado
100 ml de lcool
etlico ou lcool
metlico
ou
amlico
A
porcentagem
de cido ntrico
varia em funo
da seletividade do
ataque.
Ataque
por imerso a frio
Para todos os
tipos de aos:
-normalizados;
-recozidos;
-temperado;
-temperado
e
revenido;
-esferodizado;
-austemperado
Estruturas
austenticas sem
a presena das
linhas
de
deformao
Camadas
nitretadas
de
cidos
inoxidveis
Picral
4 g de cido
pcrico
100 ml de lcool
etlico ou lcool
metlico
cido ntrico e
fluordrico
5 ml de HNO3
1 ml de HF 48%
44 ml de gua
destilada
O
taque
no
revela o contorno
dos gros de
ferrita.
Pode-se
utilizar
tambm
concentraes
mais diludas.
Ataque
por
imerso a frio.
Ataque
por
imerso com a
soluo fria
Marble
4 g de CuSO4
20 ml de HCI
20 ml de gua
destilada
Ataque
por
imerso a frio
10 segundos
Estrutura
do
alumnio e suas
ligas
cido
fluordrico
0,5 ml de HF
concentrado
99,5 ml de H2O
destilada
15 segundos
Indicado
revelao
FeAl3
cido sulfrico
10 ml de H2SO4
concentrado
90 ml de H2O
destilada
25 ml de HNO3
concentrado
75 ml de gua
destilada
10 ml de HF
concentrado
15 ml de HCI
concentrado
25 ml de HNO3
concentrado
50 ml de gua
destilada
1 parte de HNO3
concentrado
2 partes de HF
concentrado
3
partes
de
glicerina
Atacar
por
umedecimento
com auxlio de
algodo
embebido
no
reagente
Atacar
por
imerso
em
soluo aquecida
entre 60 e 70C
Atacar
por
imerso
em
soluo aquecida
a 70C
Atacar
por
imerso a frio.
Remover
o
ataque
por
lavagem
com
gua
morna
corrente
Fase do FeAl3
Estrutura
duralumnio
alclad
Magnsio
na
de
cido ntrico
do
e
Keller
Estrutura
do
alumnio e suas
ligas
Vilella
Contorno
cido ctrico
dos
255
de
cido
TEMPO DE
ATAQUE
De
alguns
segundos
at 1 minuto
dependendo
do teor de
carbono do
ao
De
alguns
segundos
at 1 minuto
dependendo
do
tratamento
trmico
recebido
pelo ao.
De 5 a 10
segundos
De 5 at 10
segundos
40 segundos
De 10 a 20
segundos
Atacar a frio por
imerso
10 segundos
Atacar
De 5 a 10
por
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
suas ligas
Chumbo
suas ligas
gros
magnsio
Cobre
Estanho
suas ligas
Prata e suas
ligas
do
ctrico
95 ml de gua
destilada
umedecimento e
enxaguar
em
gua morna
segundos
2% de soluo
aquosa
100 g de cido
molibdnico
140 g de NH4OH
(d=0,9)
240 ml de gua
destilada
Filtrar
e
adicionar: 60 ml
de HNO3
Atacar
por
umedecimento
Atacar
por
umedecimento
seguido
de
lavagem em gua
corrente
De 2 a 5
segundos
Ataques
sucessivos
de
3
segundos
2 g de K2CR2O7
8 ml de H2SO4
4 ml de NaCl
saturado
100 ml de gua
destilada
O NaCl pode ser
substitudo
por
uma gota de HCl
para cada 25 ml
de soluo
Ataques de
5 segundos
com
polimentos
alternados
Cloreto frrico
5 partes de FeCl3
50 partes de HCl
100 partes de
gua destilada
Atacar
por
imerso
ou
umedecimento
De 10 a 40
segundos
Hidrxido
amnio
de
Soluo
em gua
diluda
Ataque
por
imerso a frio
De
alguns
at
20
segundos
Persulfato
amnio
de
10 g de (NH4)
S2O8
90 ml de gua
destilada
Ataque a frio por
umedecimento ou
a
quente
por
imerso
em
soluo fervente
Atacar
por
imerso a frio ou
umedecimento
A frio: de 10
a
20
segundos
A quente: 40
segundos
1 minuto
De
15
segundos a
alguns
minutos
De 20 a 30
segundos
Estrutura
das
ligas anti-frico
Remove
a
camada
deformada
da
estrutura
do
chumbo polido
cido oxlico
Molibdato
amnio
de
Estrutura
do
cobre, ligas de
cobre,
particularmente
as ligas com
mangans,
nquel e bronze
Estrutura
de
bronze, bronzealumnio, cobre
e
lato.
Escurece a fase
beta do lato
Indicado
na
revelao
da
estrutura
do
cobre e suas
ligas
Estrutura
do
cobre, bronzes e
lates
Cromato
potssio
de
Estrutura
do
cobre, lates e
bronzes
cido crmico
CrO3
saturado
em
soluo
aquosa
Estrutura
das
ligas de estanho
com cdmio
Nital
Atacar
por
imerso a frio
Estrutura
de
ligas de estanho
Cromato
potssio
de
Indicado
para
deposies de
estanho no ao
Persulfato
amnio
de
2 a 5 ml de HNO3
concentrado
95 a 98 ml de
lcool etlico
Soluo diluda
em dicromato de
potssio
levemente
acidificada
5 ml de (NH4)
S2O8
95 ml de H2O
destilada
Atacar
por
imerso a frio
30 segundos
Indicado para as
ligas de prata
cidos crmico
e sulfrico
0,2% de H2CrO4
e
0,2% de H2SO4
Atacar
por
imerso a frio
1 minuto
256
Atacar
por
imerso a frio
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
MATERIAIS DE CONSTRUO MECNICA II
Prof. Dr. Cludio R. Losekann
Direitos autorais reservados
Indicado
estruturas
prata
Nquel e suas
ligas
Ouro
para
de
Hidrxido
amnio
de
Estrutura
de
ligas de nquel e
zinco
Cianeto
potssio
de
Indicado
estruturas
inconel
para
de
cidos
sulfrico
clordrico
Para
as
estruturas
de
nquel
com
elevado teor de
zinco
Hidrxido
amnio
Estrutura
de
ouro e platina
gua rgia
de
em sol.aquosa
5
partes
de
NH4OH
1 a 3 partes de
H2O2
Atacar
por
imerso a frio
De 2 a 3
minutos
5 g de KCN
95 ml de H2O
destilada
3 gotas de H2O2
5 ml de H2SO4
25 ml de HCI
30 ml de gua
destilada
85 ml de NH4OH
15 ml de H2O2
Atacar
por
imerso a frio
De 20 at 30
segundos
Atacar
por
imerso a frio
De 2 a 5
minutos
Atacar
por
imerso a frio
De
30
segundos
at
2
minutos
5 ml de HNO3
15 ml de HCI
Atacar
por
imerso a quente
De 1 at 3
minutos
257
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2 He
s
1 1H
Hlio
4,003
Hidrognio
1,008
2 3 Li
p
4 Be
2 5B
6C
Ltio
Berlio
Boro
6,941
9,012
10,811
3 11 Na
12 Mg
d
3 21 Sc
22 Ti
23 V
24 Cr
Sdio
Magnsio
Escndio
Titnio
Vandio
22,99
24,305
44,956
47,88
50,996
4 19 K
20 Ca
4 39 Y
40 Zr
41 Nb
Potssio
Clcio
trio
Zircnio
39,098
40,078
88,906
91,224
5 37 Rb
38 Sr
5 71 Lu
72 Hf
Estrncio
Lutcio
Hfnio
85,468
87,62
174,967
178,49
6 55 Cs
56 Ba
6 103 Lr
104 Db
51,996
42 Mo
92,906
54,938
95,94
74 W
180,958
106 Rf
30 Zn
3 13 Al
14 Si
Cloro
Argnio
55,847
58,933
58,693
63,546
65,39
26,982
28,086
30,974
32,066
35,453
39,943
45 Rh
46 Pd
47 Ag
48 Cd
4 31 Ga
102,906
106,42
107,869
112,411
76 Os
77 Ir
78 Pt
79 Au
80 Hg
69,72
5 49 In
Irdio
Platina
Ouro
Mercrio
ndio
186,207
190,23
192,22
195,08
196,967
200,59
114,82
137,33
(262,11)
(262,11)
(262,11)
(262,12)
109 Mt
6 81Tl
Hnio Meitnrnio
(265,13)
(266,14)
72,61
50 Sn
smio
108 Hn
32 Ge
Glio Germnio
Rnio
132,905
Rdio
(223,02)
(226,03)
118,71
82 Pb
Lantnio
138,906
5 89 Ac
58 Ce
59 Pr
Crio Praseodmio
140,115
90 Th
140,908
91 Pa
60 Nd
61 Pm
62 Sm
63 Eu
64 Gd
65 Tb
66 Dy
67 Ho
68 Er
83 Bi
53 I
54 Xe
Telrio
Iodo
Xennio
127,76
125,9
131,29
84 Po
85 At
86 Rn
(208,98)
(209,99)
(222,02)
69 Tm
rbio
Tlio
144,24
(144,91)
150,36
151,965
157,25
158,925
162,5
164,93
167,26
168,934
100 Fm 101 Md
70 Yb
Itrbio
173,04
102 No
Actnio
Trio
Practnio
Urnio
Neptnio
Plutnio
Amercio
Crio
Berqulio
Califrnio
Einstnio
Frmio
Mendelvio
Noblio
227,028
232,038
231,036
238,029
(237,05)
(244,06)
(243,06)
(247,07)
(247,07)
(251,08)
(252,08)
(257,10)
(258,10)
(259,10)
Tabela Peridica dos Elementos
121,76
52 Te
208,98
Hlmio
99 Es
51 Sb
237,2
Disprsio
98 Cf
83,8
204,38
Trbio
97 Bk
79,9
Radnio
Gadolnio
96 Cm
78,96
Astato
Eurpio
95 Am
Criptnio
74,92
Polnio
Samrio
94 Pu
36 Kr
Bromo
Bismuto
Promcio
93 Np
35 Br
Selnio
Chumbo
Neodmio
92 U
34 Se
Arsnio
Tlio
f
4 57 La
33 As
Estanho Antimnio
88 Ra
Frncio
18 Ar
Enxofre
101,07
Bhrio
17 Cl
Fsforo
(97,91)
107 Bh
16 S
Silcio
Cdmio
Jolitio Ruterfrdio
201,8
Alumnio
Prata
Dbnio
18,998
Zinco
Paldio
Laurncio
15 P
Nenio
15,999
Cobre
Rdio
Brio
7 87 Fr
29 Cu
14,007
10 Ne
Flor
Niquel
Rutnio
Csio
(263,12)
28 Ni
12,011
9F
Oxignio
Cobalto
44 Ru
75 Re
183,84
27 Co
8O
Ferro
Tecnsio
Tntalo Tungstnio
105 Jl
26 Fe
43 Tc
Nibio Molibdnio
73 Ta
Rubdio
25 Mn
Cromo Mangans
7N
Carbono Nitrognio
Você também pode gostar
- Estruturas Metalicas - Aula - 2 - TracaoDocumento85 páginasEstruturas Metalicas - Aula - 2 - TracaoDanilo Augusto KellyAinda não há avaliações
- Teoria Das FalhasDocumento40 páginasTeoria Das FalhasPermutante BMAinda não há avaliações
- Formação de MecanicosDocumento222 páginasFormação de MecanicosBarra Nova FerreiraAinda não há avaliações
- Manual de Física 10 e 11 ClasseDocumento216 páginasManual de Física 10 e 11 ClasseRui Miguel100% (39)
- Catalogo Ac+ptfe AflonDocumento21 páginasCatalogo Ac+ptfe Aflonjose modelerAinda não há avaliações
- Soldagem de Manutenção - 2014Documento84 páginasSoldagem de Manutenção - 2014filliphespAinda não há avaliações
- Transportador Com CorreiaDocumento15 páginasTransportador Com CorreiadarinfsuAinda não há avaliações
- Metrologia PDFDocumento180 páginasMetrologia PDFRaphael BatistaAinda não há avaliações
- Introduçao Estudo AçosDocumento109 páginasIntroduçao Estudo Açoskaka**100% (1)
- Materiais de Construção MecânicaDocumento18 páginasMateriais de Construção MecânicaCosta Vagner100% (1)
- Aula 07 - Ensaios de Dobramento e FlexãoDocumento38 páginasAula 07 - Ensaios de Dobramento e Flexãopaulo1americoAinda não há avaliações
- Transportador de Correia ActDocumento13 páginasTransportador de Correia ActPlaquisidio LambaneAinda não há avaliações
- Transdutores PiezoelétricosDocumento18 páginasTransdutores PiezoelétricosDanilo JúniorAinda não há avaliações
- Radiologia IndustrialDocumento112 páginasRadiologia IndustrialbelgcanovaAinda não há avaliações
- Apostila 1 - Elementos de Maquinas PDFDocumento460 páginasApostila 1 - Elementos de Maquinas PDFRenataKaiserAinda não há avaliações
- Transportadores e ElevadoresDocumento9 páginasTransportadores e ElevadoresGabrielAinda não há avaliações
- Apresentacao Ibracon2010 r05Documento34 páginasApresentacao Ibracon2010 r05Alessandro Lugli NascimentoAinda não há avaliações
- Concreto Armado - Ancoragem Por Aderência-2006Documento47 páginasConcreto Armado - Ancoragem Por Aderência-2006Mariana ScolariAinda não há avaliações
- Análise do custo logístico de alternativas para aumento da competitividade de uma cadeia logística portuáriaNo EverandAnálise do custo logístico de alternativas para aumento da competitividade de uma cadeia logística portuáriaAinda não há avaliações
- Projeto Pedagógico Mecanica Fem PDFDocumento91 páginasProjeto Pedagógico Mecanica Fem PDFÉlio Dos SantosAinda não há avaliações
- Desgaste AbrasivoDocumento53 páginasDesgaste AbrasivoJaime AdamsAinda não há avaliações
- Hidráulica - Tubulações - ALUNOSDocumento172 páginasHidráulica - Tubulações - ALUNOSNeide Santos SouzaAinda não há avaliações
- Poliase CorreiasDocumento15 páginasPoliase CorreiasGuilherme 1234Ainda não há avaliações
- Fundamentos Basicos Sobre Valvula de ControleDocumento8 páginasFundamentos Basicos Sobre Valvula de ControleCleiton ResendeAinda não há avaliações
- E Book A Engenharia de Produção Na Contemporaneidade 5 1Documento325 páginasE Book A Engenharia de Produção Na Contemporaneidade 5 1Rogerio100% (1)
- 2-Patio de FinosDocumento48 páginas2-Patio de FinosDiego Bertelli CuzzuolAinda não há avaliações
- Aula 03 - Ensaio de Tração II - Curva Tensão DeformaçãoDocumento24 páginasAula 03 - Ensaio de Tração II - Curva Tensão Deformaçãopaulo1americo100% (1)
- C. Válvulas de RegulagemDocumento14 páginasC. Válvulas de RegulagemAmanda GondimAinda não há avaliações
- NR 6 - Equipamento de Proteção IndividualDocumento13 páginasNR 6 - Equipamento de Proteção IndividualPedro Cordeiro NevesAinda não há avaliações
- Seleção de Materiais Método AshbyDocumento48 páginasSeleção de Materiais Método AshbyCARLOS CÉSAR PESTANAAinda não há avaliações
- Seleção de Materiais para Projeto Mecânico PDFDocumento62 páginasSeleção de Materiais para Projeto Mecânico PDFmarcokreffta1Ainda não há avaliações
- 025.0998 0 Manual Motor A Combustao Schulz MGS6.5 Rev.02 09.17 TrilingueDocumento84 páginas025.0998 0 Manual Motor A Combustao Schulz MGS6.5 Rev.02 09.17 TrilingueLeandro RodriguesAinda não há avaliações
- Os Materiais Cerâmicos Na Construção CivilDocumento49 páginasOs Materiais Cerâmicos Na Construção CivilJohnatan RodriguezAinda não há avaliações
- Cerello - Catalogo - 2006 PDFDocumento86 páginasCerello - Catalogo - 2006 PDFluiziriasAinda não há avaliações
- Ensaio de Tração-1Documento11 páginasEnsaio de Tração-1Anonymous QHHc0YWiUAinda não há avaliações
- Calculos - Cadeira de RodasDocumento27 páginasCalculos - Cadeira de RodassuellenbhAinda não há avaliações
- Normas PT Desenho TecnicoDocumento10 páginasNormas PT Desenho Tecnicode0lindaAinda não há avaliações
- Cap 3 - Processos de LaminaçãoDocumento54 páginasCap 3 - Processos de LaminaçãoRobAinda não há avaliações
- AcervoDocumento863 páginasAcervofreelicorAinda não há avaliações
- Aula 19-20 01-22 - TIJOLOS PDFDocumento59 páginasAula 19-20 01-22 - TIJOLOS PDFJoana BarretoAinda não há avaliações
- Est Sol Estrutura CristalinaDocumento59 páginasEst Sol Estrutura CristalinaPriscila Cabral100% (1)
- Tipos de ValvulasDocumento5 páginasTipos de ValvulasAlexander Perandin MoreiraAinda não há avaliações
- Aula 11 - Ensaio de FluênciaDocumento31 páginasAula 11 - Ensaio de Fluênciapaulo1americoAinda não há avaliações
- Processos de Produção de Um VolanteDocumento4 páginasProcessos de Produção de Um VolanteRafaelAinda não há avaliações
- Okpop - Fluxo LubrificaçãoDocumento10 páginasOkpop - Fluxo LubrificaçãoHellenAinda não há avaliações
- 03 - TM1 - Propriedades Mecânicas Dos MetaisDocumento136 páginas03 - TM1 - Propriedades Mecânicas Dos MetaisEdgar100% (1)
- Apostila Do Laboratorio de Propriedades Mec 160315 5Documento147 páginasApostila Do Laboratorio de Propriedades Mec 160315 5leandropessiAinda não há avaliações
- Relatório de Ensaio de Comissionamento Do Motor Caterpillar C32 - UDG 96 - FinalDocumento43 páginasRelatório de Ensaio de Comissionamento Do Motor Caterpillar C32 - UDG 96 - Finallawternay stevaneli de britoAinda não há avaliações
- Discursiva Controle de VibraçõesDocumento1 páginaDiscursiva Controle de VibraçõesIan FerreiraAinda não há avaliações
- TCC - Projeto de Uma Suspensão de Um Fórmula SAE - Do Conceito Ao Cálculo de Fadiga - Mauricio Slovinscki MotterDocumento83 páginasTCC - Projeto de Uma Suspensão de Um Fórmula SAE - Do Conceito Ao Cálculo de Fadiga - Mauricio Slovinscki MotterAnonymous ZC1ld1CLmAinda não há avaliações
- Ensaio de Materiais Gabarito Aulas 1 A 25Documento6 páginasEnsaio de Materiais Gabarito Aulas 1 A 25Priscila PereiraAinda não há avaliações
- MANUAL DE OPERACÃO DURÔMETRO TH (Em Construcao)Documento4 páginasMANUAL DE OPERACÃO DURÔMETRO TH (Em Construcao)patriciacarsoniAinda não há avaliações
- Apostila Anexo Calculo de Placa OrificioDocumento21 páginasApostila Anexo Calculo de Placa Orificioadr123deoliveira4Ainda não há avaliações
- 6 Temperatura CorteDocumento21 páginas6 Temperatura CorteEva PerónAinda não há avaliações
- Ajustes e ToleranciasDocumento29 páginasAjustes e ToleranciasElenildo BastosAinda não há avaliações
- Transportador HelicoidalDocumento33 páginasTransportador Helicoidalrafafranca2Ainda não há avaliações
- Universidade Federal de Santa Maria MateDocumento268 páginasUniversidade Federal de Santa Maria MatePablo DuarteAinda não há avaliações
- Aula 00Documento108 páginasAula 00Ederson RosentalAinda não há avaliações
- Apostila CaldeirasDocumento122 páginasApostila CaldeirasOtavio NetoAinda não há avaliações