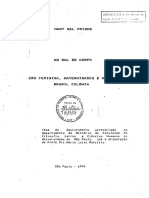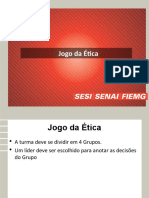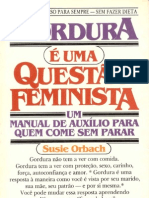Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
A Familia Como Espelho
A Familia Como Espelho
Enviado por
Weslei LopesDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A Familia Como Espelho
A Familia Como Espelho
Enviado por
Weslei LopesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Sarti, Cynthia A. A FAMILIA COMO ESPELHO: Um estudo sobre a moral dos
pobres. 3 edio. So Paulo: Editora Cortez; 2005 [1 ed. 1996]
Sumrio
Prefcio 2 edio
Agradecimentos
Introduo: A trajetria de uma pesquisa
Em campo...
Captulo 1: O Universo da Pesquisa
O projeto de melhorar de vida
Captulo 2: Os Pobres nas Cincias Sociais Brasileiras
O paradigma da produo
O paradigma da cultura
Uns e outros
Valores tradicionais
Captulo 3: A Famlia como Universo Moral
Sonhos que no se realizam
Lugar de homem e lugar de mulher
Deslocamentos das figuras masculinas e femininas
O lugar das crianas
Me solteira
Relaes atravs das crianas
Me e pai: nas horas boas e ruins...
Projetos familiares
Delimitao moral da idia de famlia
Captulo 4: A Moral no Mundo do Trabalho
Pobres e trabalhadores
O trabalhador como homem forte
O trabalhador como provedor
Trabalho feminino: domstico e remunerado
Trabalho dos filhos
Trabalho como obrigao entre ricos e pobres
Trabalho, desemprego e esmola
Captulo 5: Relaes entre Iguais
O vizinho como espelho
A sociabilidade local
Proprietrio x Favelado
Trabalhador x Bandido
Pobre x Mendigo etc.
Demarcao das fronteiras
Funo ideolgica da ambivalncia entre os iguais
Comentrios finais: O Brasil como ele
Bibliografia
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
2
Captulo 3
A FAMLIA COMO UNIVERSO MORAL
Nunca um costume indefensvel,
inferior e bastardo, para quem o segue.
Lus da Cmara Cascudo
Nos anos 60, um casal recm-casado migrou de Alagoas para So Paulo. Nos
primeiros meses, como tantos, instalou-se na casa do irmo do marido. Logo os dois
conseguiram emprego: ele, como marmorista, profisso que exerceu ao longo desses anos
como empregado ou fazendo bicos por conta; e ela como tecel, profisso que abandonou
quando nasceu a primeira filha, voltando a trabalhar, como cozinheira, quando a filha mais
velha pde cuidar do irmo mais novo, reproduzindo a trajetria intermitente tpica do
trabalho feminino remunerado. Hoje, com 51 anos, o pai j no trabalha mais regularmente
porque est doente. Tem cirrose heptica. O casal tem sete filhos. Os dois homens so os
menores e no trabalham. Todos os filhos estudam. A filha mais nova, com 18 anos,
cuidava dos irmos e do sobrinho, filho de uma irm solteira que saiu de casa, e fazia a
maior parte do trabalho domstico, enquanto as outras irms revezam com a me os
momentos de emprego e desemprego, at que, estrategicamente, engravidou do namorado e
teve que se casar, indo morar com o marido na casa do sogro:
Se no fosse assim, eu nunca ia conseguir casar.
A filha mais velha casou-se como manda o figurino, formou um ncleo
independente e teve duas filhas. A que j tinha um filho saiu de casa e mora atualmente
com o namorado, deixando o filho na casa da me.
Segundo o relato da me, confirmado pelas filhas, uma das brigas familiares foi
deflagrada pelo fato de a filha mais velha, ainda solteira, estar conversando com um rapaz
no porto. O pai comeou a espanc-la, acusando-a de sem-vergonha. A me e as outras
filhas, todas crescidas, acudiram, segurando o pai e espancando-o at ele se render.
De maneira semelhante, em outra ocasio, o pai pegou um faco o mesmo faco
com que as filhas viram tantas vezes sua me ameaada e veio na direo de uma das
filhas. A me interferiu e, junto com as filhas, conseguiu domin-lo e tirar-lhe o faco, que
passou para a mo das mulheres da casa, simbolizando o momento de inverso na vida
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
3
desta famlia. Quem manda aqui agora somos ns, diz a me. Com as filhas j crescidas e
trabalhando, no precisamos mais dele.
Atravs de uma aliana com as filhas, a me reverteu sua posio na famlia,
destituindo o pai de seu lugar. No aceitam mais seu dinheiro. Ele paga, no entanto, o que
come. A aceitao de sua presena na famlia, entre as muitas razes afinal ele est
doente e elas cuidam dele -, envolve a exibio cotidiana a seus prprios olhos de sua
derrocada, ou melhor, de sua desonra.1 Com o dinheiro que ganha com os bicos que ainda
consegue fazer, ele continua bebendo at cair. A me, com as filhas, apossou-se da casa,
cujo terreno o casal adquiriu quando o bairro era ainda quase mato; arrumam e planejam
reformas, com seus prprios recursos, dispensando o pai. Diz a me:
Eu lutei tanto, constru aquilo, dei tanto... tijolinho por tijolinho, e
agora deixar assim? No, covardia. Eu vou lutar, eu quero ver de ns dois
quem pode mais.
Sonhos que no se realizam
O significado da luta que se travou dentro desta famlia no se esgota em dizer que
se tratou de uma evidente revolta contra a autoridade patriarcal. Se a exploso da revolta
contra a autoridade desmedida do pai, na atitude de enfrentamento das mulheres nesta
famlia, reverteu de fato sua posio, o que se depreende da nova situao estabelecida? As
mulheres so ou tornaram-se centrais nas famlias pobres? As mulheres so ou tornaram-
se chefes de famlia? Vamos devagar.
O episdio revela que o pai, ao longo da vida familiar, abusou das prerrogativas de
sua posio de autoridade em relao famlia, sem cumprir com os deveres que
correspondem a essa posio. O dinheiro que ganhava no era suficiente para manter sua
famlia e ele sempre bebeu. Diante das frustraes e da violncia de que foram objeto, as
mulheres, como esposa e filhas (assim como os filhos homens que estavam fora desse
episdio especfico), reverteram a situao familiar, respondendo com uma violncia quase
1
Como argumentou Pitt-Rivers (1988), nos cdigos de honra, a resposta ofensiva no est apenas no ato em
si, mas no fato de obrigar o ofendido a presenci-lo. Sentir-se ofendido, a pedra de toque da honra (p. 17).
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
4
sempre muda, que passou a fazer parte da linguagem atravs da qual a famlia se comunica,
uma linguagem circular e reiterativa da prpria violncia.
As mulheres revoltaram-se contra uma autoridade desmedida que tornou ilegtima a
obedincia. A boa obedincia, afinal, implica a boa autoridade, que, como define
Montes (1983), se caracteriza por concentrar todos os seus valores positivos no termo
mdio. A revolta deu-se dentro de um universo de valores em que a queixa se dirige
m autoridade que abusa de seus direitos e descuida de seus deveres. No se obedece a
uma autoridade que no se reconhece como legtima. A autoridade que abusa de suas
prerrogativas torna-se incapaz de se impor pelo respeito s virtudes necessrias que devem
acompanh-la (Montes, 1983:334). Por esse caminho, efetivamente redefiniu-se a posio
das mulheres naquela famlia, desautorizando o pai. A autoridade paterna perdeu sua fora
simblica, incapaz de mobilizar os elementos morais necessrios obedincia, abalando a
base de sustentao dos padres patriarcais em que se baseia a famlia pobre. Mas h, ao
mesmo tempo, um ressentimento, que denota expectativas frustradas. No precisam mais
dele, mas toleram sua presena desnecessria. Ou precisam dessa presena, mesmo que
no seja como elas pensam que deveria ser?
Na resposta das mulheres desta famlia, vtimas de uma violncia quase sempre
fsica, est a desvalorizao do homem que no respondeu s expectativas depositadas
nele, afirmando sua capacidade de sobreviver sem ele, custa de reiterar uma impotncia
da qual ele no consegue escapar. Quais so, ento, as expectativas da mulher, e do homem
em relao a si mesmo, que o homem pobre no consegue cumprir?
Cndido (1987), em sua anlise da famlia caipira com seus valores tradicionais e
padres patriarcais, assim como em seu estudo sobre a famlia brasileira (Cndido, 1951),
argumenta que esses padres perdem sentido com a urbanizao e modernizao do pas.
Nem todas as anlises indicam esse caminho. Estudos recentes sobre os pobres urbanos
mostram, ao contrrio, a fora simblica desses padres ainda hoje, reafirmando a
autoridade masculina pelo papel central do homem como mediao com o mundo externo,
e fragilizando socialmente a famlia onde no h um homem provedor, de teto, alimento e
respeito.2
2
A importncia do homem como provedor da famlia, no sentido econmico e moral (de teto, alimento e
respeito), aparece nos trabalhos de Neves (1984), Duarte (1986), Zaluar (1985), Costa (1993) e em meu
trabalho anterior (Sarti, 1985a).
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
5
Quando sugeri uma entrevista com um homem nascido no Piau, criado pelos
compadres do pai, desde que sua me arrumou outro amante e me largou com esse casal
que me criou, ele no s aceitou prontamente a sugesto, como me convidou para um
almoo:
Venha conversar, conversar comigo mesmo, um prazer, mas vem
cedo e de estmago vazio. Voc vai encher o estmago aqui na minha casa.
Ele teve 24 filhos, mas criou apenas 11, os que viveram. atualmente casado pela
segunda vez com uma mulher trinta anos mais nova. Comeamos a entrevista (gravada).
Ele, na vagareza de quem relata um grande feito, nos contava sua vida, e estava
entusiasmadssimo por poder cont-la. Naquele momento, seus gestos, a inflexo da sua
voz, sua postura corporal tinham uma altivez singular. Falava dos dois prazeres de sua
vida, dana e mulher:
Danar, eu danava muito... e mulher, sabe como que , n?
Dizia que mulher a maior graa que Deus ps na terra, orgulhoso de sua
virilidade, reafirmada por sua disposio para trabalhar. Contava que danava a noite
inteira,
[...] e de manh estava l, , pronto para trabalhar!
Perder meu compromisso por causa de farra? Nunca! Por causa de
cansao? Eu no sabia o que era cansao!
Relatava, com a preciso das datas que se atribuem aos grandes fatos histricos,
cada um dos trabalhos que fez antes de chegar a So Paulo:
No dia 21 de maio de 1955, comecei a trabalhar no plantio de fumo [...]
No dia 21 de junho do mesmo ano terminamos aquele servio pesado.
Falava de quando ainda levava vida de peo sozinho no mundo, ressaltando em tom
grandiloqente os valores morais que o sustentaram nas adversidades de sua vida a
coragem, a honra e a f em Deus:
Nunca tive medo de nada na vida.
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
6
Eu fui embora de casa e eu disse aos meus pais: Eu vou embora, se eu
estiver na pior, esquea o seu filho, eu no volto. Tem gente que sai de casa
em busca de aventura e encontra a desaventura e volta correndo para casa,
no enfrenta! Eu fui o contrrio: eu parti para a aventura, encontrei a
desaventura, mas no voltei para casa, enfrentei, no duro.
Dentro de mim eu dizia: confio em Deus que isso passa.
O estilo grandiloqente do discurso desse homem, na afirmao da moral de
homem, fala das expectativas que tm os homens em relao a seu prprio desempenho,
numa tentativa de manter a auto-imagem diante das frustraes. A forma narrativa de seu
relato ressaltando sempre suas qualidades morais enquanto falava de sua vida de peo,
dos pagamentos que lhe foram prometidos e no feitos, dos filhos perdidos por falta de
assistncia mdica relaciona-se s caractersticas do discurso popular, destacadas por
Montes (1983) em sua anlise dos dramas representados nos circos-teatros na periferia de
So Paulo. No discurso dos atores e do pblico, segundo a autora, a fico se separava da
realidade por um fio tnue que se esgarava e acabava por no mais distingui-los.
Quase como se narrar a experincia vivida conferisse ao real um efeito
suplementar de realidade, ao ser traduzido numa forma que enfim lhe
conferia a desejada e merecida dignidade, para alm da banalidade prosaica do
quotidiano sem relevo (Montes, 1983:184).
Ele funcionrio pblico desde quando chegou em So Paulo em 1963, trabalhando
como garagista. Era o seu dia de folga. Sentou-se devagar e altivo em sua poltrona, feita de
uma imitao de couro, rasgada e quebrada, apoiada num tijolo. Lembrei-me das
observaes de Cmara Cascudo (1987) sobre autoridade e pressa, em que diz que
socialmente a lentido dignificante e a velocidade inversamente proporcional hierarquia,
fazendo com que os subalternos transitem na ligeireza dos movimentos a prontido da
obedincia, disciplina, submisso. A vagareza do pai, que naqueles gestos reafirmava sua
autoridade sobre a famlia, foi complementada pelo gesto do filho mais novo que,
prontamente, sem que qualquer palavra lhe fosse dirigida, veio trazer os chinelos e colocou-
os nos ps do pai, num gesto desta etiqueta tpica do cotidiano das famlias pobres, que
chamo de patriarcal, porque reitera a hierarquia entre o homem e a mulher, entre os adultos
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
7
e as crianas e reafirma essas fronteiras a cada gesto, mostrando ao mesmo tempo
convenes tradicionais, pouco ligadas ao utilitarismo urbano.
Sua mulher e as filhas no se sentaram mesa para comer: como de hbito, vo
comendo, beliscando a comida enquanto cozinham ou fazem seu prato e comem sem se
sentar mesa; o marido e os filhos so servidos, eles sim sentados mesa. Os agregados,
aqueles que de alguma maneira esto numa situao de favor ou de hierarquia, como os
recm-chegados cidade, tampouco comem mesa, ajeitam-se sentando no brao de
alguma poltrona, em algum banco ou cadeira, o prato fundo de comida no colo, a colher na
mo.
Sentar mesa, dentro da etiqueta dos pobres, um hbito que responde s
hierarquias que dividem seu mundo simblico, sendo reservado ao homem, s crianas
pequenas e s visitas de honra. O fato de as crianas estarem includas liga-se sua
importncia como depositrias das expectativas familiares. Nessas regras implcitas na
convivncia cotidiana percebe-se a demarcao da hierarquia familiar, reafirmando as
fronteiras entre o masculino e o feminino e conferindo ao homem um lugar de autoridade
na famlia que ele, trabalhador e pobre, no encontra no mundo da rua.
As dificuldades encontradas para manter o padro de desempenho que se espera do
homem na famlia pobre, por sua condio de trabalhador e pobre, fazem com que a
dimenso da pobreza no contexto familiar aparea mais explicitamente no discurso
masculino, j que os homens se sentem responsveis pelos rendimentos familiares. sobre
ele que recai mais forte o peso do fracasso. o homem quem falta com sua obrigao
quando o dinheiro no d. Assim que na tentativa de conferir dignidade ao cotidiano
sem relevo destacam-se as qualidades morais que sustentam o homem que homem nas
situaes de dificuldade, estruturais em suas vidas.
Em contrapartida, a mulher, em seu desempenho como boa dona-de-casa, faz com
que apesar de pouco, o dinheiro d. Isso implica controlar o pouco dinheiro recebido pelos
que trabalham na famlia, priorizando os gastos (com a alimentao em primeiro lugar) e
driblando as despesas. Na prioridade da alimentao entre os gastos, os que trabalham
devem comer mais do que os outros adultos, e os homens, trabalhadores/provedores,
comem mais que as mulheres:
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
8
Eu quero que ele (o marido) coma, porque ele vai trabalhar.3
Os papis familiares complementam-se para realizar aquilo que importa para os
pobres, repartir o pouco que tm. Isso, entretanto, no se limita famlia. Na mesma
medida em que a alimentao a prioridade dos gastos familiares, oferecer comida
tambm um valor fundamental, fazendo os pobres prdigos em oferec-la.
Quando fui visitar uma famlia em que a me idosa separada, os filhos que
moravam com ela estavam desempregados, todos vivendo com a aposentadoria da me, que
no chegava nem a um salrio mnimo. Excepcionalmente, fizemos uma entrevista com um
dos filhos no fim da manh (foi o horrio sugerido para que eu pudesse ver a filha casada,
que morava longe e estaria l naquele momento). A me ofereceu-nos caf e suco de laranja
e desculpou-se insistentemente porque o suco estava ruim. Era o almoo que faltava. Falou
de como o dinheiro no dava nem para comprar comida: A gente traz as compras na mo,
no precisa nem sacola. E me dizia: Voc deve estar morrendo de fome! Era sua no
apenas a fome, mas a privao da satisfao de nos oferecer comida. No ter o que comer, a
fome, significa no apenas a brutal privao material, mas a privao da satisfao de dar
de comer, que vem da realizao de um valor moral, deste repartir o pouco que se tem e
tambm da necessidade de exibio de um bem to fundamental, cuja ameaa de falta paira
sempre no ar.
Lugar de homem e lugar de mulher
Quem casa, quer casa. Comecemos por a. Com o casamento, o ideal a formao
de um ncleo independente, porque uma famlia precisa de uma casa, alis, condio para
viabilizar uma famlia:
Eu acho que, quando a gente no tem uma casa, a gente no tem
cabea, s vezes, nem para a famlia, sabe?
Tendo uma casa, a gente d mais ateno para a famlia, para o
marido, para filho, enfim, em tudo, n?
3
Sobre as prticas alimentares, ver, alm de Cndido (1987), Woortmann (1986).
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
9
A casa onde realizam o projeto de ter uma famlia, permitindo, como observa
Woortmann (1982), a realizao dos papis centrais na organizao familiar, o de pai de
famlia e o de me/dona-de-casa. Esse padro ideal pressupe o papel masculino de prover
teto e alimento, do qual se orgulham os homens:
O dever do homem trabalhar, trazer o dinheiro em casa e ser um pai
de famlia para dar respeito na casa dele... tendo moral.
Assim, para constituir a boa autoridade, digna da obedincia que lhe corresponde,
no basta ao homem pegar e botar comida dentro de casa e falar que manda. Para mandar,
tem que ter carter, moral. Assim, o homem, quando bebe, perde a moral dentro de casa.
No consegue mais dar ordens. Como sintetizou Costa (1993), em consonncia com a
argumentao deste trabalho, o ganho e a honra mesclam-se para compor a autoridade
paterna. Numa relao complementar, para as mulheres o papel de dona-de-casa fonte de
igual sentimento de dignidade pessoal, como comentarei no prximo captulo, na anlise do
trabalho domstico.
A casa , ainda, um espao de liberdade, no sentido de que nela, em contraposio
ao mundo da rua, so donos de si: aqui eu mando.4
O fato de o homem ser identificado com a figura da autoridade, no entanto, no
significa que a mulher seja privada de autoridade. Existe uma diviso complementar de
autoridades entre o homem e a mulher na famlia que corresponde diferenciao entre
casa e famlia. A casa identificada com a mulher e a famlia com o homem. Casa e
famlia, como mulher e homem, constituem um par complementar, mas hierrquico. A
famlia compreende a casa; a casa est, portanto, contida na famlia:
No adianta ter uma casa superbonitona e no ter unio na famlia.
Minha casa pobre, mas no a trocaria por nenhuma outra se no pudesse
viver com minha famlia.
Que adianta uma casa onde no falta nada, mas tem solido?
Em consonncia com a precedncia do homem sobre a mulher e da famlia sobre a
casa, o homem considerado o chefe da famlia e a mulher a chefe da casa. Essa diviso
4
Sobre a casa neste bairro, ver Caldeira (1986); sobre o significado da casa em relao famlia, ver
Woortmann (1982) e meu trabalho anterior (Sarti, 1985a).
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
10
complementar permite, ento, a realizao das diferentes funes da autoridade na famlia.
O homem corporifica a idia de autoridade, como mediao da famlia com o mundo
externo. Ele a autoridade moral, responsvel pela respeitabilidade familiar. Sua presena
faz da famlia uma entidade moral positiva, na medida em que ele garante o respeito. Ele,
portanto, responde pela famlia. Cabe mulher outra importante dimenso da autoridade,
manter a unidade do grupo. Ela quem cuida de todos e zela para que tudo esteja em seu
lugar. a patroa, designao que revela o mesmo padro de relaes hierrquicas na
famlia e no trabalho.
A distribuio da autoridade na famlia fundamenta-se, assim, nos papis
diferenciados do homem e da mulher. A autoridade feminina vincula-se valorizao da
me, num universo simblico em que a maternidade faz da mulher mulher, tornando-a
reconhecida como tal, seno ela ser uma potencialidade, algo que no se completou.5
Outro importante fundamento da autoridade da mulher est no controle do dinheiro, que
no tem relao com sua capacidade individual de ganhar dinheiro, mas uma atribuio
de seu papel de dona-de-casa (Zaluar, 1985).
A diferenciao entre um papel interno feminino e outro masculino, relacionado
com o mundo de fora, foi assim expressa por uma mulher casada:
Eu acho que o homem tem que entrar com tudo em casa e a mulher
saber controlar.
Comentando as desavenas de sua vizinha depois que ficou viva, outra moradora
concluiu: no tinha mais homem para controlar. Analisando as diferentes percepes da
casa pelo homem e pela mulher, Scott (1990) observou o mesmo padro, mostrando que no
discurso masculino a casa deve estar sob controle, enquanto as mulheres ativamente
controlam a casa.
Quando no possvel ter uma casa, comprada, cedida ou alugada, formando um
ncleo independente para a realizao das diferentes atribuies do homem e da mulher, a
rede familiar se mantm na cena cotidiana. O novo casal fica na casa dos pais de um dos
cnjuges, criando uma situao sempre concebida como provisria, porque horrvel
5
O trabalho de Dauster (1983) mostra a estigmatizao da mulher sem filhos, comparada figueira do
inferno, rvore sem frutos.
10
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
11
morar na casa dos outros, como expressou a mulher que ficou alguns meses na casa do
cunhado quando chegou a So Paulo.
Nesses casos, a tendncia, pelo menos no primeiro casamento, onde as expectativas
de realizao do padro ideal so maiores, que fiquem na casa dos pais do marido,
respondendo atribuio masculina de prover teto.6 Nos casos em que isso no possvel,
a solidariedade familiar leva o novo casal a ficar na casa da mulher. Essa tendncia
observa-se sobretudo nas unies subseqentes primeira, quando a mulher separada se
vincula a seu grupo de origem e poder manter esse vnculo mesmo com a nova unio, para
estar perto da rede de apoio a seus filhos.
Embora quem case queira casa, os vnculos com a rede familiar mais ampla no se
desfazem com o casamento, pelas obrigaes que continuam existindo em relao aos
familiares e que no se rompem necessariamente, mas so refeitas em outros termos,
sobretudo diante da instabilidade dos casamentos entre os pobres, dificultando a realizao
do padro conjugal.7
A famlia ultrapassa os limites da casa, envolvendo a rede de parentesco mais
ampla, sobretudo quando se frustram as expectativas de se ter uma casa onde realizar os
papis masculinos e femininos. Nesses casos, comuns entre os pobres, pelas dificuldades de
atualizar o padro conjugal de famlia, ressalta a importncia da diferenciao entre a casa e
a famlia para se entender a dinmica das relaes familiares (Durham, 1983; Fonseca,
1987; Woortmann, 1982 e 1987).8
As famlias pobres dificilmente passam pelos ciclos de desenvolvimento do grupo
domstico, sobretudo pela fase de criao dos filhos, sem rupturas (Neves, 1984; Fonseca,
1987; Scott, 1990), o que implica alteraes muito freqentes nas unidades domsticas. As
dificuldades enfrentadas para a realizao dos papis familiares no ncleo conjugal, diante
de unies instveis e empregos incertos, levam a desencadearem-se arranjos que envolvem
a rede de parentesco como um todo, para viabilizar a existncia da famlia, tal como a
concebem.
6
Contrariando, portanto, a tendncia uxorilocalidade (ou seja, a residncia do novo casal junto ao grupo
familiar da esposa), observada em trabalhos que enfatizam a centralidade da mulher na famlia
(Woortmann, 1987).
7
Acredito que, na sociedade brasileira, mesmo nas camadas mdias e altas, em funo de uma dinmica
distinta que no cabe aqui tratar, tampouco a famlia existe como famlia conjugal.
8
A importncia desta distino foi enfatizada por Meyer Fortes (195871), ao analisar os ciclos de
desenvolvimento do grupo domstico.
11
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
12
A literatura sobre famlias pobres no Brasil confirma a possibilidade de se
estabelecer uma relao entre as condies socioeconmicas e a estabilidade familiar, no
sentido de os ciclos de vida familiar se desenvolverem sem rupturas (Agier, 1988 e 1990).
Os trabalhos de Macedo (1979) e Bilac (1978) indicam que, em grupos de operrios
economicamente mais estveis, h maior possibilidade de realizao do padro de
complementaridade de papis sexuais no ncleo domstico. A literatura mostra, em
contrapartida, a relao entre pobreza e chefia feminina (Barroso, 1978; Castro, 1989). Isso
significa dizer que as famlias desfeitas so mais pobres e, num crculo vicioso, as famlias
mais pobres desfazem-se mais facilmente.
Pesquisas demonstram como a pobreza afeta primordialmente o papel de provedor
do homem na famlia (Montali, 1991; Telles, 1992). Lopes e Gottschalk (1990) mostram
que as famlias chefiadas por homens, em particular as muito jovens com filhos, parecem
ser especialmente sensveis recesso e recuperao econmicas.
A vulnerabilidade da famlia pobre, quando centrada no pai/provedor, ajuda a
explicar a freqncia de rupturas conjugais, diante de tantas expectativas no cumpridas,
para o homem, que se sente fracassado, e para a mulher, que v rolar por gua abaixo suas
chances de ter alguma coisa atravs do projeto do casamento (Rodrigues, 1978; Salem,
1981; Sarti, 1985a).
Como o outro lado da moeda, Lopes e Gottschalk (1990) mostram que as famlias
chefiadas por mulheres esto numa situao estruturalmente mais precria, mais
independente de variaes conjunturais, quando comparadas com as famlias pobres,
equivalentes no ciclo familiar, que tm chefe masculino presente, dadas as diferenas nas
formas de insero da mulher no mercado de trabalho.9
Se a vulnerabilidade da mulher est em ter sua relao com o mundo externo
mediada pelo homem, o que a fragiliza em face deste mundo que, por sua vez, reproduz e
reitera as diferenciaes sexuais, o status central do homem na famlia, como
trabalhador/provedor, torna-o tambm vulnervel, porque o faz dependente de condies
externas cujas determinaes escapam a seu controle. Este fato torna-se particularmente
9
A estruturao do mercado de trabalho a partir da diviso sexual do trabalho, afetando toda sua composio,
salrios, qualificao, formas de insero, alocao em momentos de crise etc., tem sido objeto de uma
importante linha de pesquisas. Ver para referncias: Bruschini (1985), Hirata e Humphrey (1983 e 1984),
Telles (1992) e Sarti (1985b), entre outros.
12
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
13
grave no caso da populao pobre, exposta instabilidade estrutural do mercado de
trabalho que a absorve.
Deslocamentos das figuras masculinas e femininas
Nos casos em que a mulher assume a responsabilidade econmica da famlia,
ocorrem modificaes importantes no jogo de relaes de autoridade, e efetivamente a
mulher pode assumir o papel masculino de chefe (de autoridade) e definir-se como tal. A
autoridade masculina seguramente abalada se o homem no garante o teto e o alimento da
famlia, funes masculinas, porque o papel de provedor a refora de maneira decisiva.
Entretanto, a desmoralizao ocorrida pela perda da autoridade que o papel de provedor
atribui ao homem, abalando a base do respeito que lhe devem seus familiares, significa
uma perda para a famlia como totalidade, que tender a buscar uma compensao pela
substituio da figura masculina de autoridade por outros homens da rede familiar.
Cumprir o papel masculino de provedor no configura, de fato, um problema para a
mulher, acostumada a trabalhar, sobretudo quando tem preciso; para ela, o problema est
em manter a dimenso do respeito, conferida pela presena masculina. Quando as mulheres
sustentam economicamente suas unidades domsticas, podem continuar designando, em
algum nvel, um chefe masculino. Isso significa que, mesmo nos casos em que a mulher
assume o papel de provedora, a identificao do homem com a autoridade moral, a que
confere respeitabilidade famlia, no necessariamente se altera.
Os diversos aspectos em que o homem exerce sua autoridade, garantindo os
recursos materiais, o respeito e a proteo da famlia, enquanto provedor e mediador com o
mundo externo, podem estar alocados em diferentes figuras masculinas. Isso acontece
particularmente nos casos de separao conjugal e de novos casamentos, em que o novo
marido no necessariamente ocupa o lugar masculino em relao aos filhos de sua mulher.
Os freqentes casos de separao e a freqente ocorrncia de gravidez entre as adolescentes
cujo filho tende a ficar na casa dos avs, que o criam com ou sem a me levam a uma
diviso dos papis masculinos e femininos entre diversos homens e mulheres na rede
familiar, deixando de se concentrar no ncleo conjugal.
13
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
14
A sobrevivncia dos grupos domsticos das mulheres chefes de famlia
possibilitada pela mobilizao cotidiana de uma rede familiar que ultrapassa os limites das
casas. Nesses deslocamentos, o filho mais velho se destaca como aquele que cumpre o
papel de chefe da famlia. So os casos que Salem (1981) apropriadamente chamou de
filhos eleitos. O trabalho de Agier (1988, 1990), feito em Salvador, e o de Fonseca
(1987), feito em Porto Alegre, demonstram o mesmo padro, que faz lembrar as
observaes de Hritier (1975) sobre a estreita dependncia entre laos consangneos e
laos conjugais em qualquer sociedade. Segundo essa autora, h uma relao pendular e
inversa entre esses dois termos, sendo que ao enfraquecimento de um tipo de vnculo
corresponde o fortalecimento do outro.
Tal como acontece o deslocamento dos papis masculinos, os papis femininos, na
impossibilidade de serem exercidos pela me-esposa-dona-de-casa, so igualmente
transferidos para outras mulheres da famlia, de fora ou dentro da unidade domstica. O
exerccio dos papis sexuais, nos casos em que se desfaz a relao conjugal, passa para a
rede familiar mais ampla, mantendo o princpio da complementaridade de papis,
transferidos para fora do ncleo conjugal. Nesses casos, alm dos familiares consangneos,
tem papel importante a instituio do compadrio.
A rivalidade entre consangneos e afins, ressaltada por Fonseca (1987), embora
exista, no impede a solidariedade nesta rede onde se deslocam os papis. As relaes
entrecruzam-se, fazendo com que as regras de obrigao prevaleam sobre a rivalidade
referida e levando cooperao. Assim, a av paterna pode cuidar dos netos, enquanto a
ex-nora trabalha. Nesse caso, o cruzamento d-se tambm pelo princpio da diferenciao
de gnero e a rede feminina alterna-se no cuidado das crianas.
Nos casos de viuvez ou separao sem nova unio, a me torna-se a figura
aglutinadora do que resta da famlia, e sua casa acaba sendo o lugar para onde acorrem os
filhos nas situaes de desamparo (desemprego, separaes conjugais etc.). Sendo o ponto
de referncia para toda a famlia, me devido um respeito particular sobretudo se ela
tiver uma idade mais avanada , que tem o sentido de uma retribuio do filho me que
o criou, como no relato de Hoggart (1973) sobre o respeito me nas classes trabalhadoras
inglesas.
14
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
15
Se a comunicao dentro da rede de parentesco revela o papel crucial da me,
conforme observa Woortmann (1987), isso no significa centralidade da mulher na
famlia, mas o cumprimento de seu papel sexual, de mantenedora da unidade familiar,
numa estrutura que no exclui o papel complementar masculino, deslocado para outros
homens que no o pai.
Dentro desse universo simblico, ressurge entre os pobres urbanos a clssica figura
do irmo da me. Sobretudo nos momentos do ciclo de vida em que o pai da mulher j
tem uma idade avanada e no tem mais condies de dar apoio, o irmo surge como a
figura masculina mais provvel de ocupar o lugar da autoridade masculina, mediando a
relao da mulher com o mundo externo e garantindo a respeitabilidade de seus
consangneos. Woortmann (1987) e Fonseca (1987) reconhecem tambm obrigaes do
irmo de uma mulher para com ela, como uma espcie de substituto do marido, assumindo
parte das responsabilidades masculinas quando a mulher abandonada.
Nas famlias que cumpriram sem rupturas os ciclos de desenvolvimento da vida
familiar, o pai/marido tem papel central numa relao complementar e hierrquica com a
mulher, concentrada no ncleo conjugal, ainda que essa situao no exclua a transferncia
de atribuies rede mais ampla, em particular, quando a me trabalha fora; nas famlias
desfeitas e refeitas, os arranjos deslocam-se mais intensamente do ncleo
conjugal/domstico para a rede mais ampla, sobretudo para a famlia consangnea da
mulher.
Esse deslocamento de papis familiares no significa uma nova estrutura, mas
responde aos princpios estruturais que definem a famlia entre os pobres, a hierarquia
homem/mulher e a diferenciao de papis sexuais com a diviso de autoridades que a
acompanha.
No , portanto, necessariamente o controle dos recursos internos do grupo
domstico que fundamenta a autoridade do homem, mas sim seu papel de intermedirio
entre a famlia e o mundo externo, em seu papel de guardio da respeitabilidade familiar. O
fundamento desse lugar masculino est numa representao social de gnero, que identifica
o homem como a autoridade moral da famlia perante o mundo externo. Diz respeito
ordem moral que organiza a famlia, portanto, a uma razo simblica, usando a formulao
15
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
16
de Sahlins (1979), que se reatualiza nos diversos arranjos feitos pelas famlias com seus
parcos recursos.
O papel fundamental da mulher na casa d-se, portanto, dentro de uma estrutura
familiar em que o homem essencial para a prpria concepo do que a famlia, porque a
famlia pensada como uma ordem moral, onde o homem representa a autoridade. Mesmo
quando ele no prov a famlia, sua presena desnecessria continua necessria. A
autoridade na famlia, fundada na complementaridade hierrquica entre o homem e a
mulher, entretanto, no se realiza obrigatoriamente nas figuras do pai e da me. Diante das
freqentes rupturas dos vnculos conjugais e da instabilidade do trabalho que assegura o
lugar do provedor, a famlia busca atualizar os papis que a estruturam, atravs da rede
familiar mais ampla.
A famlia pobre no se constitui como um ncleo, mas como uma rede, com
ramificaes que envolvem a rede de parentesco como um todo, configurando uma trama
de obrigaes morais que enreda seus membros, num duplo sentido, ao dificultar sua
individualizao e, ao mesmo tempo, viabilizar sua existncia como apoio e sustentao
bsicos.
Essa rede que constitui a famlia pobre, atravs da qual as relaes familiares se
atualizam, permite relativizar o sentido do papel central das mulheres na famlia,
reiteradamente destacado na literatura sociolgica e antropolgica sobre as famlias pobres
no Brasil (Barroso, 1978; Figueiredo, 1980; Neves, 1984; Woortmann, 1987; Castro, 1989;
Scott, 1990). No se trata de contrapor normas patriarcais e prticas matrifocais, como
prope Woortmann (1987), na medida em que as prticas se definem articuladas a normas e
valores sociais. A prtica contm em si a norma, em sua forma positiva ou como
transgresso. Pela forte demarcao de gnero e pelas dificuldades de realizao do modelo
nuclear, no necessariamente as figuras masculinas e femininas so depositadas no par
pai/marido e me/esposa, mas so transferidas para outros membros da rede familiar,
reproduzindo esta estrutura hierrquica bsica.10
Antigamente era o homem que mandava na casa, disse uma mulher, casada pela
terceira vez, com um filho de cada unio,
10
Sobre o carter hierrquico e patriarcal da famlia na sociedade brasileira, ver a discusso de Almeida
(1987) e de Da Matta (1987).
16
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
17
[...] s que, de uns tempos para c, quem est mandando mais a
mulher... no sei se falta de trabalho, ou so os homens mesmo que esto
muito acomodados... agora tem... como diz? Os direitos so iguais... mesmo a
mulher que no trabalha, ela tem mais poder do que antes, no sei o que est
acontecendo com as geraes de agora, os homens no esto querendo muita
responsabilidade, eles esto deixando tudo nas costas das mulheres. E eles
sabem que as mulheres vo luta e tem homem que num t nem a.
Antigamente aparece aqui como um tempo idealizado, em que as mulheres no
tinham sobre suas costas o peso da responsabilidade da famlia que, em sua representao,
envolve a complementaridade entre o homem e a mulher. Essa situao de uns tempos para
c envolve uma permanente ambivalncia, em face das expectativas frustradas, dos arranjos
compensatrios e dos benefcios imprevistos que podem advir das novas situaes criadas.
Assim que, se os direitos so iguais e a mulher hoje tem mais poder, isto vivido de
forma ambivalente, no necessariamente como uma reverso dos papis familiares, mas
como uma reafirmao do fracasso masculino, diante das dificuldades do homem de
exercer um papel no qual esto depositadas as expectativas familiares, seja por razes que
lhe escapam, falta de trabalho, ou por razes que lhe dizem respeito, porque esto
acomodados mesmo, sobre as quais ele tem uma responsabilidade moral.
As expectativas frustradas instauram um mecanismo, do qual os homens e as
mulheres so cmplices sem o saber necessariamente, que reitera as atribuies masculinas
e femininas, ainda que dificilmente sejam cumpridas nos arranjos cotidianos. Ambos,
homens e mulheres, acabam enredados nesse emaranhado de expectativas a que no
conseguem responder. Ele, fracassado, tem no alcoolismo o desafogo a seu alcance e ela se
frustra por no poder ter o homem e a situao familiar esperados. Nessa concepo moral
da famlia, diante do homem que representa a autoridade e que no cumpre o papel
esperado infiel, que bebe, que no traz dinheiro para casa , a mulher acaba tendo um
acentuado papel ativo nas decises familiares, sem que, no sentido inverso, o homem tenha
modificado seus papis familiares. Diante dele, que socialmente tem sobre ela uma
autoridade que no se justifica a seus olhos, ela exibe sua disposio de se virar, de no
precisar mais dele, como uma vingana, reiterando o fracasso dele e a frustrao de ambos.
17
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
18
O lugar das crianas
Quem casa, quer casa, mas no apenas isso. O projeto do casamento, em que est
implcita a constituio de uma famlia, associado idia de ter filhos (Sarti, 1985a).
inconcebvel formar uma famlia sem o desejo de ter filhos. A idia de famlia compe-se,
ento, de trs peas: o casamento (o homem e a mulher), a casa e os filhos.
A pessoa que no tem filho, no tem vida. Famlia sem filho, eu acho
que um fruto sem valor. uma rvore que morreu e que no tem fruto
nenhum. S eles dois ali numa casa que nem duas estacas. S come e bebe,
trabalha e dorme, pr qu? E eles fizeram esse lar para qu?
Depois que voc tem um filho, voc luta por algum objetivo.
A minha tia sofre por no ter um filho para cuidar dela.
Entre as relaes familiares, sem dvida a relao entre pais e filhos que
estabelece o vnculo mais forte, onde as obrigaes morais atuam de forma mais
significativa. Se, na perspectiva dos pais, os filhos so essenciais para dar sentido a seu
projeto de casamento, fertilizando-o, para no serem uma rvore seca e outras tantas
metforas que exemplificam a analogia da famlia com a natureza, dos filhos esperada
uma retribuio, que existe como compromisso moral:
Eu aprendi isso do meu av e eu acho que d resultados: criar elas sem
esperar recompensa, porque se elas [as filhas] fizerem algo para mim, que
seja por elas, de agradecimento por elas mesmo, delas ver meu esforo para
com elas...
Retribui-se moralmente, se a me ou o pai vier a precisar, ou sendo um bom filho,
isto , honesto, trabalhador: eu j acho um grande benefcio...
Isso o que se espera dos filhos adultos; das crianas espera-se que obedeam
simplesmente. H uma forte hierarquia entre pais e filhos, e a educao concebida como o
exerccio unilateral da autoridade.11 As crianas gozam, no entanto, de certas regalias.
11
Na forma como so tratadas as crianas aparece a reproduo do padro unilateral de exerccio da
autoridade que as instituies pblicas reservam aos pobres, seus pais, evidenciando a relao entre a
educao e o exerccio de uma cidadania democrtica. Moraes (1994) desenvolve esse problema, ressaltando
18
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
19
Comem mesa e, junto com os trabalhadores, tm prioridade na distribuio da comida. O
valor dado ao filho na famlia aparece na prodigalidade com que se comemora seu primeiro
aniversrio.12 As crianas vo perdendo suas regalias, medida que adquirem condies de
repartir as obrigaes familiares, assemelhando-se ao estatuto dos outros familiares. Pode-
se dizer que o que define a criana, entre os pobres, que ainda no participam das
obrigaes familiares, no trabalham, nem se ocupam das atividades domsticas, etapa cujo
incio depende das condies de vida familiares, tornando difcil delimitar a infncia
entre os pobres. A regra que as crianas desde muito cedo, com 6 ou 7 anos, tenham
atribuies dentro da famlia (Dauster, 1992). Seus inmeros jogos e brincadeiras alternam-
se com as freqentes atribuies que lhes so designadas, como ir at a venda, dar recados,
buscar auxlio.
Uma das delimitaes do que ser criana diz respeito a uma mudana no exerccio
unilateral da autoridade. Crianas so aqueles que podem levar surra, em comparao com
os jovens, que j tem condies de reao, tal como aconteceu na famlia em que as filhas
crescidas fizeram uma aliana com a me contra a autoridade desmedida do pai. Uma
dessas filhas, uma jovem de 19 anos, assim expressou essa diferena de condies:
Nas crianas, sim, vamos dar umas palmadas de vez em quando, agora
com jovens no assim, jovens se trata com conversa, com conscientizao...
Filhos, como o casamento, significam responsabilidade, uma categoria moral que se
ope, para os pobres, de vaidade. Uma mulher cuja filha engravidou, solteira e com 16
anos, argumentou que sua filha deveria ter o filho, e no abortar, para aprender o que a
vida.
Os filhos do mulher e ao homem um estatuto de maioridade, devendo torn-los
responsveis pelo prprio destino, o que implica idealmente se desvincular da famlia de
origem e constituir novo ncleo familiar. O filho pode, ento, tornar-se um instrumento
para essa desvinculao.
a importncia da boa infncia para o futuro cidado e mostrando que as razes da privao, que dificulta o
exerccio da cidadania, esto longe de serem materiais e que, quando as carncias bsicas comeam no plano
afetivo, dificilmente os projetos de democratizao, por melhor intencionados que sejam, conseguem romper
as resistncias.
12
Esta comemorao parece-me tambm associada ao sucesso da sobrevivncia da criana, numa populao
ainda marcada pela ocorrncia de mortes prematuras.
19
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
20
Uma mulher hoje casada, com uma filhinha de cinco anos, contava que, quando
morreu sua me, o pai reuniu todos os filhos para comunicar quem iria, a partir daquele
momento, ficar como dona-de-casa. O lugar coube a ela, filha mais velha. Alm desse
papel, ela e o pai tornaram-se os principais arrimos financeiros da famlia. Segundo seu
relato:
Eu precisava fazer alguma coisa da minha vida... eu queria casar... A
falei com meu pai, ele me achava muito nova para casar e eu praticamente
era o brao direito dele...
Como j estava cansada de trabalhar para a famlia, resolveu sair com o namorado
e ir para um motel:
Vou ver se eu arrumo uma barriga e ver se eu caso rpido.
Apesar da relutncia do namorado, que temia a reao do pai, ela conseguiu seu
intento. Engravidou e o pai teve que aceitar que ela deveria se casar, criando seu ncleo
independente. Subsumida por sua posio essencial na hierarquia familiar e em sua diviso
de trabalho, ela no estava designada para casar. Assim, o sentido de responsabilidade
implcito em ter filhos leva as mulheres a utilizarem deliberadamente a gravidez como um
instrumento para a independncia de sua famlia de origem e/ou, diante de um noivo
hesitante em casar, para for-lo a assumir a responsabilidade.
Me solteira
Na perspectiva de que o filho uma responsabilidade dos pais, quando o homem
no assume sua parte, cabe mulher assumi-la sozinha. A aceitao da me solteira
envolve nuances importantes. Ela , em primeiro lugar, vtima de um safado, que no
assume as conseqncias dos seus atos, um homem que no digno de respeito, acusao
que comporta uma ambigidade, na medida em que, ao mesmo tempo, ningum pode
obrigar ningum a casar. Assim, diz o pai de filhos homens ao pai de filhas mulheres:
Cuida do teu capim, que eu vou soltar meus cabritos.
20
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
21
No observei nenhum caso em que a me solteira fosse deliberadamente expulsa de
casa. A criana normalmente incorporada ao ncleo familiar da me. Ela errou, mas seu
erro maior foi confiar no safado, opinou outro pai de famlia. Se ela errou, pode lhe ser
dada a chance de reparao. Ter o filho e conseguir cri-lo transforma-se, ento, na prova
de um valor associado coragem de quem enfrenta as conseqncias dos seus atos: sou
muito mulher para criar meu filho, um cdigo de honra feminino.
Nesse prisma, condena-se o aborto, considerado vaidade, em oposio
responsabilidade:
A pessoa ter aborto, tudo bem, mas se a pessoa sadia e tem
capacidade de trabalhar, eu acho que no precisa fazer aborto [...] por que
no evita tambm? Eu acho que uma me que desfaz de um filho no uma
me.
Para voc sustentar seu filho, no precisa se ter um homem a seu lado.
s voc ter capacidade de trabalhar. Eu acho que a pessoa que tem
capacidade de trabalhar, tem capacidade de ter um filho.
A vaidade, implicando uma individualidade tida como irresponsvel, porque nega
os preceitos de obrigao moral em relao a seus iguais, ope-se tambm necessidade,
cujo carter involuntrio desculpa e justifica um ato moralmente condenado. Assim, o
aborto por necessidade torna-se compreensvel e moralmente aceito:
De um filho s, acho que no precisa [fazer aborto]. Agora, quando a
pessoa tem cinco, seis filhos...
A capacidade de trabalho torna-se o meio atravs do qual a mulher pode reparar seu
erro, mostrando que digna do respeito conferido ao homem neste cdigo moral. O
trabalho para sustentar o filho redime a mulher, que se torna a me/provedora.
Subordinado maternidade, o trabalho confere mulher a mesma autonomia moral que
reconhecida no homem/trabalhador/provedor. Ela trabalha e sustenta sua prole como forma
de reparao do erro de ter uma vida sexual sem um parceiro fixo que legitime seu lugar
de mulher, passando a perna por cima de todo mundo que falou dela e mostrando que no
precisa de ningum para criar os filhos dela, como disse, no toa, o irmo de uma mulher
solteira que teve dois filhos com dois homens diferentes, este irmo da me, guardio da
21
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
22
respeitabilidade de seus consangneos. Assim, a autonomia moral da mulher/me solteira
tem como condio necessria que ela trabalhe e prove que muito mulher para criar seu
filho, condio necessria mas no suficiente, uma vez que sua independncia econmica
depende, para se consolidar como respeitabilidade moral, do apoio e da garantia de seus
familiares.
Nesta perspectiva moral, o direito ao prazer sexual implica o dever de assumir
as conseqncias, a possibilidade do filho, que colocado como uma inevitabilidade da
vida sexual, fazendo com que a reproduo legitime moralmente a sexualidade. Uma
mulher que estava naquele momento na terceira unio conjugal argumentou que
uma me que no tem capacidade de assumir um filho, ento no tem
capacidade de estar namorando e estar arrumando homem. Eu acho que para
ter capacidade de arrumar um homem, tem capacidade de sustentar o filho
que vem pela frente, porque tudo o que voc faz, sempre tem que aparecer
uma coisa para voc sacrificar sua vida.
Relaes atravs das crianas
Para entender o lugar das crianas nas famlias pobres , mais uma vez, necessrio
diferenciar as famlias que cumpriram as etapas do seu desenvolvimento sem rupturas, em
que os filhos tendem a se manter no mesmo ncleo familiar, e as que se desfizeram nesse
caminho, alterando a ordenao da relao conjugal e a relao entre pais e filhos.
Nos casos de instabilidade familiar, por separaes e mortes, aliada instabilidade
econmica estrutural e ao fato de que no existem instituies pblicas que substituam de
forma eficaz as funes familiares, as crianas passam a no ser uma responsabilidade
exclusiva da me ou do pai, mas de toda a rede de sociabilidade em que a famlia est
envolvida. Fonseca (1995) argumenta que h uma coletivizao das responsabilidades pelas
crianas dentro do grupo de parentesco, caracterizando uma circulao de crianas. Essa
prtica popular inscreve-se dentro da lgica de obrigaes morais que caracteriza a rede de
parentesco entre os pobres. Constitui, segundo Fonseca (1995), um divisor de guas entre
22
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
23
aqueles indivduos em ascenso que adotam valores de classe mdia e aqueles que, apesar
de uma existncia mais confortvel, permanecem ligados cultura popular.
Em novas unies conjugais, quando h filhos de unies anteriores, os direitos e
deveres entre pais e filhos no grupo domstico ficam abalados, na medida em que os filhos
no so do mesmo pai e da mesma me, levando a ampliar essa rede para fora desse ncleo.
Nessa situao, os conflitos entre os filhos e o novo cnjuge podem levar a mulher a optar
por dar para criar seus filhos, ou algum deles, ainda que temporariamente.
A criana ser confiada a outra mulher, normalmente da rede consangnea da me.
Nas famlias desfeitas, por morte ou separao, no momento de expanso e criao dos
filhos, ocorrem rearranjos no sentido de garantir o amparo financeiro e o cuidado das
crianas. Embora se conte fundamentalmente com a rede consangnea, as crianas podem
ser recebidas por no-parentes, dentro do grupo de referncia dos pais. Foi um dos casos
que acompanhei, em que um casal com trs filhos, moradores da favela local, criam um
menino, cuja me morreu e o pai desapareceu. A rota alternativa para esse menino fica
clara na advertncia:
Ou voc se comporta, ou do contrrio, o seguinte: eu te coloco na
Febem at teu pai aparecer.
O importante a ressaltar que esse no um caminho sem volta, mas uma das
possibilidades, a menos desejvel, dentro dessa circulao das crianas.13
Nos casos de separao, pode haver preferncia da me pelo novo companheiro,
prevalecendo o lao conjugal, circunstancialmente mais forte que o vnculo me-filhos.
Uma nova unio tem implicaes na relao da me com os filhos da unio anterior que
expressam o conflito entre conjugalidade e maternidade (to claramente revelado no
dilogo abaixo entre uma mulher j separada e sua me, que argumenta em termos da
retribuio possvel). Dadas as dificuldades que enfrenta uma mulher pobre para criar seus
filhos, a tendncia ser lanar mo de solues temporrias para contornar a situao, entre
as quais est a possibilidade de que os filhos fiquem com o pai. Entre os casos que
acompanhei, dois homens, casados novamente, ficaram com os filhos da unio anterior.
13
Ver o trabalho de Fonseca (1986 e 1995) sobre a internao dos pobres como parte do contexto de
circulao de crianas, no qual o sentido da internao, associada aos estigmas da pobreza, reelaborado
quando se torna uma alternativa concreta em suas vidas.
23
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
24
Ele (o marido) no queria se separar de mim, porque ele falou que se
um dia a gente se separasse, ele no largava da menina, que ele ia carregar a
menina com ele.
Eu falei: Ento voc vai passar por cima do meu tmulo, porque a
menina de mim voc no tira.
E a minha me: O qu? Hoje em dia, brigar por causa de filho no
vale a pena, porque depois que eles cresce, eles d um pontap no traseiro da
gente.
Eu falei: , me! A senhora pode pensar o que a senhora quiser, mas
eu penso do meu jeito. Eu acho que desde o momento que a gente ps filho no
mundo, a gente tem que cuidar dele. Se tiver que passar fome, vai passar
fome, mas eu dar meus filho para algum, isso jamais vou fazer.
A instabilidade familiar, embora seja um fator importante, no esgota o significado
da circulao de crianas, que pode acontecer mesmo em famlias que no se romperam.
Fonseca mostra como a me que d para criar seu filho ou filha pode exigir retribuio,
considerando que, ao darem seus filhos, sacrificaram suas prerrogativas maternas em
benefcio destes: deram aos pais adotivos uma criana. A criana aparece como ddiva, o
que estabelece a possibilidade de reivindicar retribuio. No constituindo uma adoo, ou
seja, a transferncia total e permanente dos direitos sobre a criana, a circulao de crianas
uma forma de transferncia parcial e temporria, fosterage, que abre espao para relaes
de obrigao entre os pais biolgicos e adotivos. Instaura-se um jogo que envolve
manipulao por parte da me biolgica que deu seu filho, como sacrifcio materno. Ao
mesmo tempo, a me adotiva tem a expectativa de alguma retribuio (que pode ser um
pagamento) pelos cuidados prestados (Fonseca, 1986 e 1995).
A adoo representa a quebra deste jogo, pela transferncia total dos direitos e
deveres sobre a criana adotada. D-se sob o signo da lei, enquanto a circulao de crianas
acontece no registro das obrigaes morais que caracterizam as prticas populares,
reiterando o primado dos costumes sobre a lei para os pobres.
A circulao de crianas, como padro legtimo de relao com os filhos, pode ser
interpretada como um padro cultural que permite uma soluo conciliatria entre o valor
24
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
25
da maternidade e as dificuldades concretas de criar os filhos, levando as mes a no se
desligarem deles, mas manterem o vnculo atravs de uma circulao temporria. Assim,
mantm-se os vnculos de sangue junto aos de criao, ambos definindo os laos de
parentesco, atualizando o padro de incorporao de agregados que tradicionalmente
caracteriza a famlia brasileira (Freyre, 1980). Atravs das crianas, reafirmam-se, ao
mesmo tempo, os vnculos com seu grupo de referncia.
Me e Pai: nas horas boas e ruins...
A prtica de adoes informais e temporrias acaba relativizando as noes de pai e
me, o que implica uma elasticidade no uso dessas categorias. As crianas chamam de pai e
me aqueles que cuidam deles. A pessoa que cuida sente-se no direito legtimo de ser assim
chamada e reivindica esta nomeao. O av, quando mora com os filhos de suas filhas
solteiras, invariavelmente o pai, assim como o marido da me pode tambm assim ser
chamado, sobretudo quando o genitor (pai biolgico) no tem mais contato sistemtico com
os filhos.
Uma das famlias que moram no local constituda pelo homem, casado pela
segunda vez, vivendo com os trs filhos do seu primeiro casamento, os trs do primeiro
casamento da sua mulher e um filho desta segunda unio. A me biolgica das crianas
trabalha fora e mora na casa contgua dele, com entrada pela rua de trs. Segundo seu
relato, ele e a segunda mulher so os que cuidam, e os filhos do primeiro casamento
chamam a sua segunda mulher de me, e a me biolgica pelo nome prprio. Dessa
situao, ele disse ter uma teoria:
Me a que cuida deles [...] no aquela que vive pelo mundo, talvez na
sua vaidade, ou talvez na sua necessidade, no assiste o seu crescimento, o
seu desenvolvimento. Ento eu acho que me aquela que realmente zela
pela criana.
As categorias pai e me, desvinculando-se da origem biolgica, reforam os
vnculos de criao. Assim comentou um homem de 24 anos, que tem um irmo adotivo e
cuja mulher tem filhos de outro casamento:
25
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
26
Quando ele [o irmo de criao] tinha mais ou menos uns dez anos,
minha me contou toda a histria para ele, apresentou a me dele, a av dele,
a famlia... toda a famlia e ele no se importou com nada. Ele falou: este
meu lar, estes so meus pais. E est at hoje com minha me, reconhece
como me, gosta dela... tudo... at hoje.
E sobre a filha de sua mulher:
Eu acho que todo mundo tem que saber a verdade. Se um dia... se eu
conheo o pai dela, se ele aparecer dizendo que o pai, espero que ela j
tenha idade suficiente para julgar quem realmente o pai. No pelo fato de
fecundar, mas pelo carinho, pelo amor, por estar junto... nas horas boas e
ruins...
Diante do fato cultural de que o cuidado da criana preferencialmente confiado
me e sua rede de sociabilidade, torna-se evidentemente mais fcil desvincular a categoria
pai de sua origem biolgica de sangue. Mesmo assim, embora o genitor (pai biolgico) no
crie a criana e, por isso, no merea o afeto e a designao de pai, por no estar junto, nas
horas boas e ruins, no se desfaz a imagem idealizada de um pai de sangue. Confirmando o
habitual desconforto diante de situaes formalizadas, que caracteriza os pobres, uma
mulher casada comentou as solues para os casos de separao conjugal, argumentando
que, ao contrrio do que diz a lei, quando os filhos so pequenos, melhor no verem o
pai, em lugar de verem em dias marcados. Em sua opinio, ruim para a criana ver que o
pai no volta para casa, no est, portanto, nas horas boas e ruins. Os filhos devem, ento,
ver o pai quando crescerem, se, por iniciativa prpria, quiserem saber do pai, porque o que
conta quem est junto.
No caso da me, o vnculo biolgico no perde sua fora simblica. Chamar vrias
mulheres de me no exclui a idealizao do lao biolgico me-filho. O trabalho de
Fonseca (1995) mostra como, mesmo nos casos em que a criana cuidada por outras que
no sua me biolgica, esta reconhecida e reivindica o status de verdadeira me. Me
tambm quem criou, mas a verdadeira me uma s.
A coexistncia das categorias de sangue e de criao, como parte do sistema de
parentesco dos pobres, permite a manipulao, sobretudo entre as mulheres, de demandas
26
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
27
sobre a criana, ou o seu uso como instrumento de outras demandas. Cada parte reivindica
de acordo com os direitos que sua posio de me que criou ou de verdadeira me lhe
confere, dando expresso a inmeros conflitos e rivalidades.
So particularmente marcantes os casos de avs que criam os filhos de suas filhas
solteiras, em que o sangue se sobrepe criao, conferindo av um poder de
manipulao singular, porque se inscreve na relao hierrquica entre me e filha. A
pertinncia ao mesmo grupo de sangue, pela linhagem, e seu estatuto de poder sobre a filha
levam a av a se apropriar da criana, que a chama de me, enquanto a me biolgica
chamada pelo nome prprio, sendo privada de seu lugar de me. Nos casos observados, a
filha acaba saindo de casa e deixando o filho, porque no tenho condies de cri-lo, o que
configura uma maneira indireta de expulsar de casa a me solteira, opo sempre negada
no discurso.
Embora a rede de parentesco possa ser caracterizada pela indiferenciao entre
parentes de sangue e de criao e o tratamento dado aos filhos de criao crianas dadas
para criar tenda tambm a ser indiferenciado, isso no quer dizer que essa distino no
seja manipulada nos conflitos, fazendo com que nem sempre as crianas que no fazem
parte do ncleo original sejam tratadas da mesma maneira. Isso pode acontecer em relao
aos filhos de criao, mas aparece particularmente em relao aos filhos de unies
anteriores do cnjuge:
Ningum quer criar filho de outro homem, dar comida a filho de
ningum, depois ficar jogando na cara da mulher. Arruma uma briguinha
assim e joga na cara da mulher...
Quanto s obrigaes morais dos filhos com relaes aos pais, os pais que criam e
cuidam so merecedores de profunda retribuio, sendo um sinal de ingratido o no
reconhecimento dessa contrapartida.
Dentro das possibilidades com as quais conta uma mulher que engravida e que, na
sua concepo, no tem condies de criar o filho, est o aborto, nem sempre moralmente
aceito, ainda que se justifique por necessidade, como foi comentado. Em funo dessa
interdio moral, dar os filhos para criar uma alternativa aceitvel dentro de seus cdigos
morais, no sendo necessariamente expresso de um desafeto:
27
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
28
De repente, voc pode at achar uma pessoa, uma famlia que queira,
que voc saiba que vai cuidar bem...
As adoes temporrias ou circulao de crianas criam uma forma de apego,
uma afetividade distinta das relaes estveis e duradouras. O sentimento de uma me ao
dar seu filho para criar, como uma questo de ordem sociolgica, diz respeito a um padro
cultural no qual as crianas fazem parte da rede de relaes que marca o mundo dos pobres,
constituindo ddivas, como observou Fonseca (1995). Assim, criar ou dar uma criana
no apenas uma questo de possibilidades materiais, mas se inscreve dentro do padro de
relaes que os pobres desenvolvem entre si, caracterizadas por um dar, receber e retribuir
contnuos.
Projetos familiares
O casamento o projeto inicial atravs do qual comea a se constituir a famlia.
por intermdio do casamento que so formulados os projetos de melhorar de vida, nunca
concebidos individualmente, mas em termos da complementaridade entre o homem e a
mulher. Se a mulher deposita no homem/marido suas expectativas de ter alguma coisa na
vida e interpe entre ela e o mundo a figura masculina, a contrapartida aparece claramente
no discurso dos homens, para quem:
A gente sozinho nunca consegue nada. Tem que haver unio, porque se
eu lutar sozinho, eu no vou conseguir nada. Mesmo que ela no trabalhe,
mas ela... economizando a gente chega l, aonde a gente quer chegar, porque
estando os dois mais fcil, n? Um bem mais difcil, porque no tem
aquela responsabilidade que tem depois de casado. A maioria dos casal a s
tem as coisa depois que casa. No sei se praga, o que , se descarao
mesmo do homem. Mas o cara s consegue as coisa mesmo quando casa. A
consegue progredir.
Esse projeto tem poca certa:
28
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
29
J tinha mocidade, j dava para casar e me aquietar. Eu j tinha
namorado demais, j tinha aproveitado minha vida o que dava para
aproveitar... j estava para casar... ter algum para cuidar da minha vida.
O casamento para o homem significa parar de zoar. Esse tempo de zoeira poca
boa, etapa necessria para aquisio do cdigo masculino de sociabilidade. Transitar no
mundo da rua parte do processo de tornar-se homem. Isso se d nos bares, no bairro ou
nas redondezas. Essa etapa, no entanto, tem limites. Ficar nessa no leva a nada. Depois de
se divertir, preciso aquietar. quando o homem comea a pensar em namorar para
casar, em ter uma responsabilidade na vida. O casamento passa a ter contornos de um
projeto, com vu e grinalda ou simplesmente juntando os trapinhos. No d mais para sair
na sexta-feira e s voltar na segunda. Comea a se delinear, com matizes e nuances, a
imagem do homem de respeito, o pai de famlia.
Sem a famlia, os rendimentos do trabalho masculino desperdiam-se naquilo que
no leva a nada. Sem os papis familiares que conferem sentido ao desempenho masculino
no mundo do trabalho, a prpria atividade de trabalhar no faz sentido; ao mesmo tempo
em que a expectativa depositada no homem de ser o provedor familiar, como foi
mencionado, o coloca continuamente diante da possibilidade do fracasso.
O casamento legal e o religioso so considerados moralmente superiores unio
consensual, conferindo maior respeitabilidade ao casal e legitimidade ao lugar de marido e
de esposa. A primeira unio conjugal sempre pensada e idealizada como uma unio
referendada pela lei de Deus e dos homens, enquanto as unies subseqentes se constituem
como unies consensuais, fazendo do divrcio um recurso raramente utilizado entre os
pobres.
Do ponto de vista da famlia de origem, h o momento de casar,
[...] porque no pega bem a gente passar toda uma vida solteira dentro
de casa, dando trabalho para o pai e para a me. Porque, por mais que a
gente seja o que a gente [todo o rendimento do seu trabalho vai para dentro
de casa], eles sempre acham que a gente est dando trabalho, no mesmo?
Principalmente, quando esto caindo para a idade... eles querem mais ficar
sozinhos, porque eles j criaram a gente, n? J fez de tudo pela gente e
agora... de repente a gente fica velho e em vez de casar e procurar o rumo da
29
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
30
gente... a gente fica dentro arrumando mais trabalho para eles. Est errado,
n?
Nesta casa, duas das filhas so mes solteiras, cujos filhos so criados por sua
famlia, situao que se contrape formulao do projeto de melhorar de vida. Em que
consiste, afinal, esse projeto?
A populao pobre que vive em So Paulo tem todas as aspiraes que a cidade lhe
apresenta e que a televiso estimula e uniformiza; est exposta individualizao que a
cidade impe, atravs do trabalho e do consumo. O jovem pobre urbano tem planos de
melhorar de vida, como seus pais que migraram; mas esses planos se formulam dentro de
um universo de valores no qual as obrigaes morais so fundamentais, porque sua
existncia est ancorada nessa moralidade.
A elaborao de projetos individuais para melhorar de vida atravs do trabalho
esbarra nos obstculos do prprio sistema onde se inserem como pobres e torna-se
particularmente problemtica diante das obrigaes morais em relao a seus familiares ou
a seus iguais, com os quais obtm os recursos para viver. Assim, os projetos, em que a idia
de melhorar de vida est sempre presente, so formulados como projetos familiares.
Melhorar de vida ver a famlia progredir. O trabalho concebido dentro desta lgica
familiar, constituindo o instrumento que viabiliza o projeto familiar e no individual,
embora essa atividade seja realizada individualmente.
Delimitao moral da idia de famlia
A famlia, para os pobres, associa-se queles em quem se pode confiar. Sua
delimitao no se vincula pertinncia a um grupo genealgico, e a extenso vertical do
parentesco restringe-se queles com quem convivem ou conviveram, raramente passando
dos avs. O uso do sobrenome para delimitar o grupo familiar a que se pertence, recurso
utilizado pelas famlias dos grupos dominantes brasileiros para perpetuar o status (e poder)
conferido pelo nome de famlia, pouco significativo entre os pobres. Como no h status
ou poder a ser transmitido, o que define a extenso da famlia entre os pobres a rede de
obrigaes que se estabelece: so da famlia aqueles com quem se pode contar, isto quer
30
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
31
dizer, aqueles que retribuem ao que se d, aqueles, portanto, para com quem se tem
obrigaes. So essas redes de obrigaes que delimitam os vnculos, fazendo com que as
relaes de afeto se desenrolem dentro da dinmica das relaes descritas neste captulo.
A noo de famlia define-se, assim, em torno de um eixo moral. Suas fronteiras
sociolgicas so traadas a partir de um princpio da obrigao moral, que fundamenta a
famlia, estruturando suas relaes. Dispor-se s obrigaes morais o que define a
pertinncia ao grupo familiar. A argumentao deste trabalho vai ao encontro da de
Woortmann (1987), para quem, sendo necessrio um vnculo mais preciso que o de sangue
para demarcar quem parente ou no entre os pobres, a noo de obrigao torna-se
central idia de parentesco, sobrepondo-se aos laos de sangue. Essa dimenso moral do
parentesco, a mesma que indiferencia os filhos de sangue e de criao, delimita tambm
sua extenso horizontal. Como afirma Woortmann (1987), a relao entre pais e filhos
constitui o nico grupo em que as obrigaes so dadas, que no se escolhem. As outras
relaes podem ser seletivas, dependendo de como se estabeleam as obrigaes mtuas
dentro da rede de sociabilidade. No h relaes com parentes de sangue, se com eles no
for possvel dar, receber e retribuir.
As retribuies que se esperam nas relaes entre os pobres no so imediatas. Por
isso, necessrio confiar. Como salientou Woortmann (1987), o fato importante a
ausncia de clculo de dvida explcito (p. 197). precisamente a falta de interesse que
marca as relaes familiares, na medida em que o interesse constitui uma categoria
fundamentalmente individualista, em oposio noo de necessidade, utilizada pelos
pobres como critrio para definir a obrigao de ajuda. A pessoa ajuda quem tem preciso,
na certeza de que ser ajudada quando chegar a sua hora. No se trata, portanto, de um dar
e receber imediatos, mas de uma cadeia difusa de obrigaes morais, em que se d, na
certeza de que de algum lugar vir a retribuio, tendo na crena em Deus a garantia de
continuidade da cadeia: Deus prov. Em ltima instncia, essa moralidade est ancorada,
ento, numa ordem sobrenatural.
Concluindo o captulo, a famlia interessa argumentao deste trabalho como um
tipo de relao, na qual as obrigaes morais so a base fundamental. A famlia como
ordem moral, fundada num dar, receber e retribuir contnuos, torna-se uma referncia
31
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
32
simblica fundamental, uma linguagem atravs da qual os pobres traduzem o mundo
social, orientando e atribuindo significado a suas relaes dentro e fora de casa.
32
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
33
BIBLIOGRAFIA (*)
ABRAMO, Las Wendel (1988). Greve metalrgica em So Bernardo: sobre a dignidade do
trabalho. In: KOWARICK, L. (org.) As lutas sociais e a cidade So Paulo: passado
e presente. Rio de Janeiro: Paz e Terra/UNRISD/CEDEC. p. 207-45.
________ (1999). O resgate da dignidade: greve metalrgica e subjetividade operria.
Campinas/So Paulo: Editora da Unicamp/Imprensa Oficial (Coleo Teses.)
AGIER, Michel (1988). Espao urbano, famlia e status social: um percurso nos espaos de
referncia das famlias do novo operariado bahiano. Trabalho apresentado no
Seminrio Nordeste, o que h de novo?. Natal. Mimeo.
________ (1990) O sexo da pobreza: homens, mulheres e famlias numa avenida em
Salvador da Bahia. Tempo Social Revista de Sociologia da USP, So Paulo, v. 2, n.
2, p. 35-60, 2 sem. 1990.
ALMEIDA, Angela Mendes de (1987). Notas sobre a famlia no Brasil. In: ALMEIDA, A.
M. et al. (org.). Pensando a famlia no Brasil. Rio de Janeiro: Espao e
Tempo/UFRRJ. p.53-66.
ALTHUSSER, Louis (1974). Ideologia e aparelhos ideolgicos do Estado. Lisboa:
Presena.
AMORIN, Carlos (1993). Comando vermelho: a histria secreta do crime organizado. 3.
ed. Rio de Janeiro: Record.
ARAJO, Emanuel (1993). O teatro dos vcios: transgresso e transigncia na sociedade
urbana colonial. Rio de Janeiro: Jos Olympio.
ARDAILLON, Danielle e CALDEIRA, Teresa (1984). Mulher: indivduo ou famlia.
Novos Estudos, So Paulo: CEBRAP, v. 2, n. 4, p. 2-10, abril.
BARROSO, Carmen (1978). Sozinhas ou mal-acompanhadas: a situao das mulheres
chefes-de-famlia. In: ENCONTRO NACIONAL DA ABEP, Campos de Jordo.
Anais...
BILAC, Elisabete Dria (1978). Famlias de trabalhadores: estratgias de sobrevivncia.
So Paulo: Smbolo.
(*)
As datas entre parnteses correspondem edio utilizada para o trabalho e aquelas entre colchetes
referem-se publicao original.
33
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
34
BONDUKI, Nabil (1983) Habitao popular: contribuio para o estudo da evoluo
urbana de So Paulo. In: VALLADARES, L. (org.). Repensando a habitao no
Brasil. Rio de Janeiro: Zahar. p.135-168. (Debates Urbanos, 3.)
________ (1988). A crise na habitao e a luta pela moradia no ps-guerra. In:
KOWARICK, L. (org.). As lutas sociais e a cidade So Paulo: passado e presente.
Rio de Janeiro: Paz e Terra/UNRISD/CEDEC. p. 95-132.
BOSCHI, Renato (org.) (1991). Corporativismo e desigualdade: a construo do espao
pblico no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo/IUPERJ.
BOSI, Alfredo (1983). Sobre Vidas Secas. In: SCHWARZ, Roberto (org.). Os pobres na
literatura brasileira. So Paulo: Brasiliense. p. 149-53.
BRUSCHINI, Cristina (1985). Mulher e trabalho: uma avaliao da dcada 1975/1985.
So Paulo: Nobel/Conselho da Condio Feminina.
CALDEIRA, Teresa (1984). A poltica dos outros: o cotidiano dos moradores da periferia e
o que pensam do poder e dos poderosos. So Paulo: Brasiliense.
________ (1986). Houses of respect. Panel Culture and Politics in Working Class Brazil.
In: XIII CONGRESS OF THE LATIN AMERICAN STUDIES ASSOCIATION
LASA, Boston. Mimeo.
CANDIDO, Antonio (1951). The Brazilian family. In: SMITH, L. e MARCHANT, Al.
(ed.). Brazil: portrait of half a continent. New York: Dryden. p. 291-312.
________ (1987) [1964] Os parceiros do Rio Bonito. 7. ed. So Paulo: Duas Cidades.
CARDOSO, Ruth (1977). Favela: conformismo e inveno. Ensaios de Opinio, Rio de
Janeiro, Inbia, n. 4, p. 35-43.
________ (1978). Sociedade e poder: representaes dos favelados de So Paulo. Ensaios
de Opinio, Rio de Janeiro, Inbia, n. 6, p. 38-44.
CARVALHO, Jos Murilo de (1987). Os bestializados: o Rio de Janeiro e a Repblica que
no foi. So Paulo: Companhia das Letras.
CASCUDO, Lus da Cmara (1955) Consideraes sobre as relaes de vizinhana.
Sociologia, So Paulo, v. 17, n. 4, p. 348-54, outubro.
_________ (1971). O complexo sociolgico do vizinho. In: ________. Ensaios de
etnografia brasileira. Rio de Janeiro: Ministrio da Educao e Cultura/Instituto
Nacional do Livro.
34
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
35
________ (1987) [1974]. Histria dos nossos gestos. Belo Horizonte/So Paulo:
Itatiaia/Edusp. (Coleo Reconquista do Brasil, 2 srie, v.104.)
CASTRO, Mary Garcia (1989). Family, gender and work: the case of female heads of
households in Brazil (states of So Paulo and Bahia). Tese (PHD) Sociology Dept.,
University of Florida.
CHALHOUB, Sidney (1986). Trabalho, lar e botequim: o cotidiano dos trabalhadores no
Rio de Janeiro da Belle poque. So Paulo: Brasiliense.
COSTA, Maria Cristina Silva (1993). Vidas em trnsito: trabalhadores rurais temporrios
na periferia de Ribeiro Preto. Dissertao (Mestrado) Departamento de
Antropologia, FFLCH/USP, So Paulo.
CUNHA, Manuela Carneiro da (1985). Negros estrangeiros: os escravos libertos e sua
volta frica. So Paulo: Brasiliense.
________ (1986). Antropologia do Brasil: mito, histria e etnicidade. So Paulo:
Brasiliense/Edusp.
DA MATTA, Roberto (1979). Carnavais, malandros e heris: para uma sociologia do
dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Zahar.
________ (1985). A casa e a rua: espao, cidadania, mulher e morte no Brasil. So Paulo:
Brasiliense.
________ (1987). A famlia como valor: consideraes no-familiares sobre a famlia
brasileira. In: ALMEIDA, A. M. et al. (org.). Pensando a famlia no Brasil. Rio de
Janeiro: Espao e Tempo/UFRRJ. p. 115-36.
________ (1993a). Conta de mentiroso: sete ensaios de antropologia brasileira. Rio de
Janeiro: Rocco.
________ (1993b). Em torno dos pobres urbanos no Brasil: consideraes antropolgicas.
Relatrio de pesquisa Mellon/Kellogg. Niteri/Notre Dame. Mimeo.
DAUSTER, Tnia (1983). O lugar da me. Comunicaes do ISER, Rio de Janeiro, n. 7.
________ (1992). Uma infncia de curta durao: trabalho e escola. Cadernos de Pesquisa,
So Paulo, n. 82, p. 31-36, agosto.
DUARTE, Luis Fernando Dias (1986). Da vida nervosa nas classes trabalhadoras
urbanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar/CNPq.
35
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
36
DURHAM, Eunice (1978) [1973]. A caminho da cidade: a vida rural e a migrao para So
Paulo. 2. ed. So Paulo: Perspectiva.
________ (1980). Famlia operria: conscincia e ideologia. Dados, Rio de Janeiro, v. 23,
n. 2, p. 201-14.
________ (1983). Famlia e reproduo humana. Perspectivas antropolgicas da mulher,
Rio de Janeiro: Zahar, n. 3, p. 13-44.
________ (1984). Movimentos sociais: a construo da cidadania. Novos Estudos, So
Paulo: CEBRAP, n. 10, p. 24-30.
________ (1988). A sociedade vista da periferia. In: KOWARICK, L. (org.) As lutas
sociais e a cidade So Paulo: passado e presente. Rio de Janeiro: Paz e
Terra/UNRISD/CEDEC. p. 169-204.
DURKHEIM, mile (1960) [1893]. De la division du travail social. 7. ed. Paris: PUF.
________ (1989) [1912]. As formas elementares da vida religiosa. So Paulo:
Edies Paulinas.
________ (1924). Sociologie e Philosophie. Paris: Flix Alcan.
FAUSTO NETO, Ana Maria Q. (1982). Famlia operria e reproduo da fora de
trabalho. Petrpolis: Vozes.
FARIA, Vilmar (1992). A conjuntura social brasileira: dilemas e perspectivas. Novos
estudos, So Paulo: CEBRAP, n. 33, p. 103-14, julho.
FIGUEIREDO, Mariza (1980). Estudo comparativo do papel scio-econmico das
mulheres chefes-de-famlia em duas comunidades negras de pesca artesanal. In: 7
Reunio Anual da ANPOCS, guas de So Pedro. Mimeo.
FONSECA, Claudia (1986). Orphanages, foundlings and foster mothers: the system of
child circulation in a Brazilian squatter settlement. Anthropological Quarterly, v. 59,
n. 1, p. 15-27.
________ (1987). Aliados e rivais na famlia: o conflito entre consangneos e afins em
uma vila portoalegrense. Revista Brasileira de Cincias Sociais, ANPOCS, v. 2, n. 4,
p. 88-104, junho.
________ (1995). Caminhos da adoo. So Paulo: Cortez.
FORTES, Meyer (1971). The developmental cycle in domestic groups. In: GOODY, Jack.
Kinship: selected readings. Penguin Books. p.85-98.
36
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
37
FRANCHETTO, Bruna, CAVALCANTI, M. Laura V. C. e HEILBORN, M. Luiza (1981).
Antropologia e feminismo. Perspectivas antropolgicas da mulher. Rio de Janeiro:
Zahar, n. 1, p. 11-47.
FREDERICO, Celso (1979). Conscincia operria no Brasil. So Paulo: tica.
FREUD, Sigmund (1945) [1929]. El malestar en la cultura In: ________. Obras completas.
Madrid: Biblioteca Nueva. Tomo III.
FREYRE, Gilberto (1980) [1933]. Casa-grande e senzala. 20. ed. Rio de Janeiro/Braslia:
Jos Olympio/INL.
________ (1951) [1936]. Sobrados e mocambos. 2. ed. Rio de Janeiro: Jos Olympio.
GIDDENS, Anthony (1993). A transformao da intimidade: sexualidade, amor e erotismo
nas sociedades modernas. So Paulo: Editora da Unesp.
GILLIGAN, Carol (1982). Uma voz diferente: psicologia da diferena entre homens e
mulheres da infncia idade adulta. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos.
HRITIER, Franoise (1975). Les dogmes ne meurent pas. Paris: Autrement, n. 3.
HIRATA, Helena e HUMPHREY, John (1983). Processo de trabalho, diviso sexual do
trabalho e reivindicaes femininas. In: 7 Reunio Anual da ANPOCS, guas de
So Pedro. Mimeo.
________ (1984). O emprego industrial feminino e a crise econmica brasileira. Revista de
Economia Poltica, 4(4).
HOGGART, Richard (1973). As utilizaes da cultura. Lisboa: Presena. v. 1.
HOLANDA, Srgio Buarque de (1963) [1936]. Razes do Brasil. 4. ed. Braslia: Editora
Universidade de Braslia.
HOLSTON, James (1991). The misrule of law: land and usurpation in Brazil. Comparative
Studies in Society and History, v. 33, n. 4, October.
KOTTAK, Conrad (1967) Kinship and class in Brazil. Ethnology, v. 6, n. 4, p. 427-43,
October.
KOWARICK, Lcio (1979). A espoliao urbana. Rio de Janeiro, Zahar.
________ (1977). Capitalismo e marginalidade na Amrica Latina. 2. ed. Rio de Janeiro:
Paz e Terra.
LANNA, Marcos (1995). A dvida divina: troca e patronagem no nordeste brasileiro.
Campinas: Editora da Unicamp.
37
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
38
LVI-STRAUSS, Claude (1986) [1962]. O totemismo hoje. Lisboa: Edies 70.
(Perspectivas do homem, 26.)
________ (1989) [1960]. O campo da Antropologia. In: ________. Antropologia estrutural
2. 3. ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro. p. 11-40.
LEWIS, Oscar (1975). La Vida. Una famlia puertorriquea en la cultura de la pobreza: San
Juan y Nueva York. 4. ed. Mxico: Joaqun Mortiz.
LIEBOW, Elliot (s/d). Tallys corner: a study of negro streetcorner men. Boston/Toronto:
Little Brown.
LOPES, Jos Srgio Leite et al. (s/d). Cultura e identidade operria. So Paulo/Rio de
Janeiro: Marco Zero/UFRJ-Museu Nacional.
LOPES, Juarez Brando e GOTTSCHALK, Andra (1990). Recesso, pobreza e famlia: a
dcada mais do que perdida. So Paulo em Perspectiva, So Paulo: Fundao
SEADE, v. 4, n. 1, p. 100-9, jan./mar.
MACEDO, Carmen Cinira (1979). A reproduo da desigualdade. So Paulo: HUCITEC.
MADEIRA, Felcia R. (1993). Pobreza, escola e trabalho: convices virtuosas, conexes
viciosas. So Paulo em Perspectiva, So Paulo: Fundao SEADE, v. 7, n. 1, p. 70-
83, jan./mar.
MAGNANI, Jos Guilherme Cantor (1998) [1984]. Festa no pedao, cultura popular e
lazer na cidade. 2. ed. So Paulo: HUCITEC/Editora da Unesp.
MARX, Karl (1946) [1867]. La mercanca. El capital. Mxico/Buenos Aires: Fondo de
Cultura Econmica. Tomo I, cap. 1, p. 3-47.
MAUSS, Marcel (1974) [1923-24]. Ensaio sobre a ddiva. In: _______. Sociologia e
Antropologia. So Paulo: Edusp/EPU. p. 37-184.
MONTALI, Llia (1991). Famlia e trabalho na conjuntura recessiva. So Paulo em
Perspectiva., v. 5, n. 1, p. 72-84, jan./mar.
MONTES, Maria Lcia Aparecida (1981) O discurso populista ou caminhos cruzados. In:
MELO, Jos Marques de (org.).Populismo e comunicao. So Paulo: Cortez. p. 61-
75.
________ (1983). Lazer e ideologia: a representao do social e do poltico na cultura
popular. Tese (Doutorado) Departamento de Cincias Sociais, FFLCH/USP, So
Paulo.
38
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
39
________ (1992). 1789: a idia republicana e o imaginrio das Luzes. Seminrio
Tiradentes hoje: Imaginrio e poltica na Repblica brasileira, organizado pela
Fundao Joo Pinheiro, Belo Horizonte. Mimeo.
MORAES, Maria Lygia Quartim de (1976). A questo feminina. Estudos CEBRAP, So
Paulo, n. 16, p. 155-68.
________ (1985). Famlia e feminismo: o encontro homem-mulher como perspectiva.
Perspectivas, So Paulo, n. 8, p. 143-52.
________ (1989/90). Avatares da identidade feminina. Perspectivas, So Paulo n. 12/13, p.
163-79.
________ (1994). Infncia e cidadania. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 91, p. 23-29,
novembro.
NEVES, Delma Pessanha (1984). Nesse terreiro, galo no canta: estudo do carter
matrifocal de unidades familiares de baixa renda. Anurio Antropolgico/83, Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro.
OLIVEIRA, Francisco de (1977). A economia brasileira: crtica da razo dualista. Selees
CEBRAP. 3. ed. So Paulo: Brasiliense/CEBRAP, n. 1, p. 5-78.
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de (1976). Identidade, etnia e estrutura social. So Paulo:
Pioneira.
PAES, Jos Paulo (1983). Samba, esteretipos, desforra. In: SCHWARZ, Roberto (org.).
Os pobres na literatura brasileira. So Paulo: Brasiliense. p.175-80.
PAOLI, Maria Clia (1974). Desenvolvimento e marginalidade. So Paulo: Pioneira.
PENA, Maria Valria Junho (1980a). A mulher na fora de trabalho. BIB, Rio de Janeiro, n.
9, p. 11-21.
________ (1980b). Uma nova sociologia? Dados, Rio de Janeiro, v. 23, n. 1, p. 93-107.
________ (1981). Mulheres e trabalhadoras: presena feminina na constituio do sistema
fabril. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
PERLMAN, Janice E. (1977). O mito da marginalidade: favelas e poltica no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
PIERUCCI, Antonio Flavio (1987). As bases da nova direita. Novos Estudos, So Paulo:
CEBRAP, n. 19, p. 26-45, dezembro.
39
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
40
PITT-RIVERS, Julian (1988). Honra e posio social. In: PERISTIANY, J. G. (org.).
Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrneas. 2. ed. Lisboa: Fundao
Calouste Gulbenkian. p.11-59.
________ (1992). A doena da honra. In: GAUTHERON, M. (org.). A honra: imagem de si
ou dom de si - um ideal equvoco. Porto Alegre: LPM. p. 17-32. (Coleo ticas.)
RIBEIRO, Darcy (1986) [1977]. Os ndios e a civilizao: integrao das populaes
indgenas ao Brasil moderno. 5. ed. Petrpolis: Vozes.
RODRIGUES, Arakcy Martins (1978). Operrio, operria: estudo exploratrio sobre o
operariado industrial da Grande So Paulo. So Paulo: Smbolo.
ROSEMBERG, Flvia (1993). O discurso sobre criana de rua na dcada de 80. Cadernos
de Pesquisa, So Paulo, n. 87, p. 71-81, novembro.
SADER, der e PAOLI M. Clia (1986). Sobre classes populares no pensamento
sociolgico brasileiro (notas de leitura sobre acontecimentos recentes). In:
CARDOSO, Ruth (org.). A aventura antropolgica. Rio de Janeiro: Paz e Terra. p.
39-67.
SAFFIOTTI, Heleieth (1976). A mulher na sociedade de classes: mito e realidade.
Petrpolis: Vozes.
SAHLINS, Marshall (1979). Cultura e razo prtica. Rio de Janeiro: Zahar.
SALEM, Tania (1981). Mulheres faveladas: com a venda nos olhos. Perspectivas
antropolgicas da mulher. Rio de Janeiro: Zahar, n. 1, p. 49-99.
SARTI, Cynthia Andersen (1985a) sina que a gente traz: ser mulher na periferia
urbana. Dissertao (Mestrado) Departamento de Cincias Sociais, FFLCH/USP,
So Paulo.
________ (1985b). Trabalho feminino: de olho na literatura. Literatura Econmica, v. 7, n.
1, p. 93-116.
________ (1992). Famlia patriarcal entre os pobres urbanos? Cadernos de Pesquisa, So
Paulo, n. 82, p. 37-71, agosto.
________ (1995a). Famlia e individualidade: um problema moderno. In: CARVALHO,
Maria do Carmo Brant de (org.). A famlia contempornea em debate. So Paulo:
EDUC/Cortez. p. 39-49. (Srie Eventos.)
40
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
41
________ (1995b). A continuidade entre casa e rua no mundo da criana pobre. Revista
Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humanos. So Paulo, v. 5, n. 1/2, p.
39-47.
________ (1997). A seduo da igualdade: trabalho, gnero e classe. In: SCHPUN, M. R.
(org.). Gnero sem fronteiras. Florianpolis: Editora Mulheres. p. 153-68.
SECRETARIA DA CRIANA, FAMLIA E BEM-ESTAR SOCIAL DE SO PAULO
(1994). Contagem de crianas e adolescentes em situao de rua na cidade de So
Paulo. So Paulo: SCFBES.
SCOTT, Parry R. (1990). O homem na matrifocalidade: gnero, percepo e experincias
do domnio domstico. Cadernos de Pesquisa, So Paulo, n. 73, p. 38-47, maio.
STOLCKE, Verena (1980). Mulher e Trabalho. Estudos Cebrap, So Paulo, n. 26, p. 83-
117.
TAVARES, Maria da Conceio (1991). Economia e felicidade. Novos Estudos, So Paulo:
CEBRAP, n. 30, p. 63-75, julho.
TELLES, Vera da Silva (1992). Cidadania inexistente: incivilidade e pobreza. Um estudo
sobre trabalho e famlia na Grande So Paulo. Tese (Doutorado) Departamento de
Sociologia, FFLCH/USP, So Paulo.
VALLADARES, Lcia do Prado (1983). Estudos recentes sobre a habitao no Brasil:
resenha da literatura. In: ________. (org.). Repensando a habitao no Brasil. Rio de
Janeiro: Zahar. p.21-77.
________(1991). Cem anos pensando a pobreza (urbana) no Brasil. In: BOSCHI, Renato
R. (org.). Corporativismo e desigualdade: a construo do espao pblico no Brasil.
Rio de Janeiro:Rio Fundo/Iuperj. p.81-112.
VEROSA, Elcio de Gusmo (1985). Ideologia e prtica pedaggica escolar. Dissertao
(Mestrado) Centro de Educao, Universidade Federal de Pernambuco, Recife.
VOGT, Carlos (1983). Trabalho, pobreza e trabalho intelectual (O quarto de despejo de
Carolina Maria de Jesus). In: SCHWARZ, Roberto (org.). Os pobres na literatura
brasileira. So Paulo: Brasiliense. p.204-13.
WEBER, Max (1967) [1904]. A tica protestante e o esprito do capitalismo. So Paulo:
Pioneira.
41
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
42
WOORTMANN, Klaas (1982). Casa e famlia operria. Anurio antropolgico/80, Rio de
Janeiro/Fortaleza: Tempo Brasileiro/Editora UFC. p.119-50.
________ (1984). A famlia trabalhadora. Cincias Sociais Hoje. So Paulo:
ANPOCS/Cortez. p. 69-87.
________ (1986). A comida, a famlia e a construo do gnero feminino. Dados, Rio de
Janeiro,v. 29, n. 1, p. 103-30.
________ (1987). A famlia das mulheres. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro/CNPq.
ZALUAR, Alba (1985). A mquina e a revolta: as organizaes populares e o significado
da pobreza. So Paulo: Brasiliense.
42
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Você também pode gostar
- Violência Intrafamiliar Contra a Pessoa Idosa: O Trabalho das Assistentes Sociais do Ministério Público do MaranhãoNo EverandViolência Intrafamiliar Contra a Pessoa Idosa: O Trabalho das Assistentes Sociais do Ministério Público do MaranhãoAinda não há avaliações
- Prática de intervenção nas violências na AmazôniaNo EverandPrática de intervenção nas violências na AmazôniaAinda não há avaliações
- Educação Superior e Trabalho Docente no Serviço Social: Processos Atuais, Intensificação, Produtivismo e ResistênciasNo EverandEducação Superior e Trabalho Docente no Serviço Social: Processos Atuais, Intensificação, Produtivismo e ResistênciasAinda não há avaliações
- A Questão Agrária e a Luta pela Reforma Agrária no Triângulo MineiroNo EverandA Questão Agrária e a Luta pela Reforma Agrária no Triângulo MineiroAinda não há avaliações
- Preconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposNo EverandPreconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposAinda não há avaliações
- Serviço social e meio ambiente: a contribuição do Assistente Social em um Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e nas ações de educação socioambientalNo EverandServiço social e meio ambiente: a contribuição do Assistente Social em um Programa de Aceleração do Crescimento – PAC e nas ações de educação socioambientalAinda não há avaliações
- Serviço Social e alienação parental: contribuições para a prática profissionalNo EverandServiço Social e alienação parental: contribuições para a prática profissionalAinda não há avaliações
- Serviço Social no Nordeste: das origens à renovaçãoNo EverandServiço Social no Nordeste: das origens à renovaçãoAinda não há avaliações
- Ações Afirmativas - Mapa ConceitualDocumento2 páginasAções Afirmativas - Mapa ConceitualWalter BarrosAinda não há avaliações
- eBook-Raca, Genero, Etnia e Direitos Humanos PDFDocumento32 páginaseBook-Raca, Genero, Etnia e Direitos Humanos PDFlenecostasAinda não há avaliações
- População em Situação de Rua: Pesquisa QualitativaDocumento11 páginasPopulação em Situação de Rua: Pesquisa QualitativaGustavo Lopes100% (1)
- A Evolução Da FamíliaDocumento4 páginasA Evolução Da FamíliaAna Flávia Rotta100% (1)
- Amor LiquidoDocumento4 páginasAmor LiquidogerdiangtlAinda não há avaliações
- Aspectos Intergeracionais Da Violência - 2021Documento17 páginasAspectos Intergeracionais Da Violência - 2021Nardelia FrancoAinda não há avaliações
- Exclusão Social - Elimar Pinheiro Do NascimentoDocumento19 páginasExclusão Social - Elimar Pinheiro Do NascimentoHionaraAinda não há avaliações
- VIVEROS VIGOYA Mara 2018 As Cores Da MasculinidadeDocumento3 páginasVIVEROS VIGOYA Mara 2018 As Cores Da MasculinidadeFernandaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Antropologia, Cultura e Identidade NacionalDocumento24 páginasAula 1 - Antropologia, Cultura e Identidade NacionalMoisés fernandesAinda não há avaliações
- Ante Projeto MestradoDocumento20 páginasAnte Projeto MestradoKleiton AraujoAinda não há avaliações
- GUZZO, Raquel - Escola Amordaçada PDFDocumento7 páginasGUZZO, Raquel - Escola Amordaçada PDFRenatoAinda não há avaliações
- Brasil em Contra Reforma - ResumoDocumento25 páginasBrasil em Contra Reforma - ResumoCristina Santos100% (2)
- Diagnóstico Social - Mary E. Richmond, Trad. de José Alberto de FariaDocumento12 páginasDiagnóstico Social - Mary E. Richmond, Trad. de José Alberto de FariaKatia Cilene100% (1)
- "Família, Emoção e Ideologia'', Publicado No Livro "Psicologia Social - O Homem em Movimento" - Resenha Crítica Por Roberta Maria Silveira NassarDocumento4 páginas"Família, Emoção e Ideologia'', Publicado No Livro "Psicologia Social - O Homem em Movimento" - Resenha Crítica Por Roberta Maria Silveira NassarRoberta NAinda não há avaliações
- Os Arapesh Da MontanhaDocumento22 páginasOs Arapesh Da MontanhaJulia Do Carmo100% (1)
- Por Uma Escrita Dos RestosDocumento242 páginasPor Uma Escrita Dos RestosIgor MonteiroAinda não há avaliações
- Livro Ao Sul Do CorpoDocumento301 páginasLivro Ao Sul Do CorpoAnonymous DBqzfp100% (1)
- Jose Murilo de Carvalho Cidadania Estadania e Apatia PDFDocumento6 páginasJose Murilo de Carvalho Cidadania Estadania e Apatia PDFMárciaLúcia100% (1)
- Compêndio de Análise Institucional e Outras Correntes Teoria e PráticaDocumento12 páginasCompêndio de Análise Institucional e Outras Correntes Teoria e PráticaNeusa ValleAinda não há avaliações
- Produção de Documentos e Emissao de Opiniao Tecnica em Serviço SocialDocumento232 páginasProdução de Documentos e Emissao de Opiniao Tecnica em Serviço SocialGustAinda não há avaliações
- Adoção de Má Fé e Trabalho EscravoDocumento18 páginasAdoção de Má Fé e Trabalho EscravoMultlabor FotoAinda não há avaliações
- Resumo - Familia & Escola - Trajetorias de Escolarização en Camadas Medias e Populares - Orgs. Nogueira, Romanelli e ZagoDocumento8 páginasResumo - Familia & Escola - Trajetorias de Escolarização en Camadas Medias e Populares - Orgs. Nogueira, Romanelli e ZagoMarcelo FeitosaAinda não há avaliações
- Herbert de Souza Poder Do CidadãoDocumento6 páginasHerbert de Souza Poder Do CidadãoFrancisco EmanuelAinda não há avaliações
- Reflexão Do Filme QuerôDocumento3 páginasReflexão Do Filme QuerôlupepaixaoAinda não há avaliações
- Trabalho Social Com Famílias Na Política de Assistência SocialDocumento20 páginasTrabalho Social Com Famílias Na Política de Assistência SocialV. L.Ainda não há avaliações
- Livros e Filmes Sobre AdoçãoDocumento19 páginasLivros e Filmes Sobre Adoçãoanadara1Ainda não há avaliações
- RESENHA Filme OriDocumento3 páginasRESENHA Filme OriJAMILE O MONDEGOAinda não há avaliações
- Tese Fernanda Coutinho PDFDocumento146 páginasTese Fernanda Coutinho PDFRaquelAlbuquerqueAinda não há avaliações
- Nova Ficha de Filiação Hor Ver Versão 2Documento1 páginaNova Ficha de Filiação Hor Ver Versão 2Bruno Lima100% (2)
- PDF Instrumentalidade Do Servico SocialDocumento20 páginasPDF Instrumentalidade Do Servico SocialLarissa LiraAinda não há avaliações
- Slide Padrão Grupo Iepam 2021Documento27 páginasSlide Padrão Grupo Iepam 2021bruna100% (1)
- Questões Legais e AcolhimentoDocumento129 páginasQuestões Legais e AcolhimentoAlguémAinda não há avaliações
- A Revolução Industrial e o Surgimento Do Serviço SocialDocumento2 páginasA Revolução Industrial e o Surgimento Do Serviço SocialKáttia Gonçalves Cassiano AlvesAinda não há avaliações
- Sociedade de Esquina - ResenhaDocumento2 páginasSociedade de Esquina - ResenhaAnonymous iY9sOs3h100% (2)
- Poema Da MulherDocumento3 páginasPoema Da MulherVictória CruzAinda não há avaliações
- O Papel Do Psicologo Martin BaroDocumento21 páginasO Papel Do Psicologo Martin BaroDenise YalmanianAinda não há avaliações
- Psicologia Social Do Racismo - Estudos Sobre Branquitude e Branqueamento No Brasil.Documento92 páginasPsicologia Social Do Racismo - Estudos Sobre Branquitude e Branqueamento No Brasil.maicon100% (3)
- Cultura e PersonalidadeDocumento1 páginaCultura e PersonalidadeTiago Donizette da CunhaAinda não há avaliações
- DIAS DUARTE, Luiz Fernando. 2004. A Sexualidade Nas Ciências Sociais, Leitura Crítica Das ConvençõesDocumento30 páginasDIAS DUARTE, Luiz Fernando. 2004. A Sexualidade Nas Ciências Sociais, Leitura Crítica Das ConvençõesRodrigoMelhadoAinda não há avaliações
- Slides - o Desenvolvimento Afetivo Segundo Piaget - Grupo - 23!10!06Documento46 páginasSlides - o Desenvolvimento Afetivo Segundo Piaget - Grupo - 23!10!06Kátia ZanardoAinda não há avaliações
- Aula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - DecryptedDocumento25 páginasAula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - Decryptedlucasm4st3r100% (1)
- SINGER, Paul - O Brasil No Contexto Do Capitalismo Internacional 1889-1930Documento48 páginasSINGER, Paul - O Brasil No Contexto Do Capitalismo Internacional 1889-1930Mauro Sérgio FigueiraAinda não há avaliações
- Jogo Da ÉticaDocumento56 páginasJogo Da ÉticaMarco RodriguesAinda não há avaliações
- Resumo Celso FurtadoDocumento4 páginasResumo Celso FurtadoDuck MDAinda não há avaliações
- Resenha - A Construcao Social Da SubcidadaniaDocumento6 páginasResenha - A Construcao Social Da SubcidadaniaAnaBeatrizReisAinda não há avaliações
- Resolução Sme #223 de 1 de Dezembro de 2020 - Dispõe Sobre A Utilização de Imóvel Municipal Vinculado À Unidade Escolar Por Servidor-ResidenteDocumento7 páginasResolução Sme #223 de 1 de Dezembro de 2020 - Dispõe Sobre A Utilização de Imóvel Municipal Vinculado À Unidade Escolar Por Servidor-ResidenteProfessor_AdoniasAinda não há avaliações
- A Gestação Do Espaço Psicológico Do Século XixDocumento3 páginasA Gestação Do Espaço Psicológico Do Século Xixgeanekarla16Ainda não há avaliações
- Algumas Reflexões Sobre A Psicologia Escolar - Freud Vol 13 Obras CompletasDocumento3 páginasAlgumas Reflexões Sobre A Psicologia Escolar - Freud Vol 13 Obras CompletasVinícius Belvedere100% (1)
- Meu ArtigoDocumento16 páginasMeu ArtigoTelma Regina VenturaAinda não há avaliações
- Mulher Sagrada e CíclicaDocumento26 páginasMulher Sagrada e CíclicaCaCavalcanti92% (13)
- Susie Orbach - Gordura e Uma Questao FeministaDocumento172 páginasSusie Orbach - Gordura e Uma Questao Feministalevezadoser100% (8)
- A Crítica Literária Feminista e Os Estudos de Gênero Um PasseioDocumento11 páginasA Crítica Literária Feminista e Os Estudos de Gênero Um PasseioLy DonatoAinda não há avaliações
- O Dia em Que o Talibã Libertou As Mulheres - Bruna FrascollaDocumento3 páginasO Dia em Que o Talibã Libertou As Mulheres - Bruna FrascollaMauro HorstAinda não há avaliações
- Texto Kehl - em Defesa Da Familia TentacularDocumento7 páginasTexto Kehl - em Defesa Da Familia Tentacularfabrício nascimentoAinda não há avaliações
- Michelle Sales - Jorge Cabrera. O Giro DecolonialDocumento20 páginasMichelle Sales - Jorge Cabrera. O Giro DecolonialAnne PenhaAinda não há avaliações
- TCC Planejamento FamiliarDocumento70 páginasTCC Planejamento FamiliarSarah Costa Sarah Costa100% (1)
- Fabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaDocumento14 páginasFabrício Mendes - Uma Crítica Ao Conceito de Masculinidade HegemônicaNatã SouzaAinda não há avaliações
- Sexualidade e Educação Sexual - Políticas Educativas, Investigação e PráticasDocumento426 páginasSexualidade e Educação Sexual - Políticas Educativas, Investigação e PráticasRose Oliveira75% (4)
- Ouvindo As Operárias: Uma Análise Sobre o Trabalho Feminino Das Operárias Da Fábrica São Braz Na Bahia Pós-GuerraDocumento46 páginasOuvindo As Operárias: Uma Análise Sobre o Trabalho Feminino Das Operárias Da Fábrica São Braz Na Bahia Pós-GuerraTamara MenezesAinda não há avaliações
- Silva Range CoelhoDocumento14 páginasSilva Range CoelhoCarlosCavalcantiAinda não há avaliações
- Teoria Do FeminismoDocumento31 páginasTeoria Do FeminismoJeferson AlcantaraAinda não há avaliações
- Estratégias Policiais de Prevenção e Combate As Uniões Prematuras em MoçambiqueDocumento52 páginasEstratégias Policiais de Prevenção e Combate As Uniões Prematuras em MoçambiqueEdson Mário Chituvane33% (3)
- PROVA TIPO 2 DO PS CFAQ MFC-MFM e CAAQ-CTS 2022 - 060951Documento14 páginasPROVA TIPO 2 DO PS CFAQ MFC-MFM e CAAQ-CTS 2022 - 060951Igo Gomes100% (1)
- Relatório - A Dor e A Delícia Das Transmasculinidades No BrasilDocumento86 páginasRelatório - A Dor e A Delícia Das Transmasculinidades No BrasilRevista Estudos Transviades [ISSN 2764-8133]Ainda não há avaliações
- EU SOU O MONSTRO QUE VOS FALA (Versão Revisada) by Paul B. PreciadoDocumento54 páginasEU SOU O MONSTRO QUE VOS FALA (Versão Revisada) by Paul B. PreciadoAyrton Yuri Alves Souza100% (24)
- Uma Reflexçao Sobre Fragmentos de Doris SalcedoDocumento12 páginasUma Reflexçao Sobre Fragmentos de Doris SalcedoLucas de VasconcellosAinda não há avaliações
- 1 1 Fichamento Butler MulherescomosujeitodofeminismoDocumento3 páginas1 1 Fichamento Butler MulherescomosujeitodofeminismosoblackfullAinda não há avaliações
- VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: Notas Sobre o Feminicídio em Salvador/BA.Documento13 páginasVIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: Notas Sobre o Feminicídio em Salvador/BA.Verbena Córdula AlmeidaAinda não há avaliações
- Apostila Gelp 2020 PDFDocumento98 páginasApostila Gelp 2020 PDFmateus cauaAinda não há avaliações
- A Jornada Da Heroína - Maureen MurdockDocumento237 páginasA Jornada Da Heroína - Maureen MurdockLucas TeixeiraAinda não há avaliações
- Imprensa Feminista No XIXDocumento15 páginasImprensa Feminista No XIXIsadora NogareAinda não há avaliações
- Artigo - DA SEDUÇÃO À LIBERDADE - As Mulheres Nas Letras de Isabel Allende - Larissa LopesDocumento25 páginasArtigo - DA SEDUÇÃO À LIBERDADE - As Mulheres Nas Letras de Isabel Allende - Larissa LopesRuth Marcela Bown CuelloAinda não há avaliações
- Ekeys, A Trajetória Histórica Da Violência de Gênero No BrasilDocumento18 páginasEkeys, A Trajetória Histórica Da Violência de Gênero No BrasilVictoria SayuriAinda não há avaliações
- 2014 - CARDOSO - Claudia Pons - Amefricanizando o Feminismo - o Pensamento de Lélia GonzalezDocumento22 páginas2014 - CARDOSO - Claudia Pons - Amefricanizando o Feminismo - o Pensamento de Lélia GonzalezPriscylla RamalhoAinda não há avaliações
- Vainfas-Patriarcalismo e MisoginiaDocumento3 páginasVainfas-Patriarcalismo e MisoginiaCaroline PitangaAinda não há avaliações
- 251-Documento Principal (Texto Do Manuscrito Sem Pagina de Titulo) - 453-1!10!20181114Documento11 páginas251-Documento Principal (Texto Do Manuscrito Sem Pagina de Titulo) - 453-1!10!20181114MARIANA BULHOES DE LIMAAinda não há avaliações
- Saúde Sexual e ReprodutivaDocumento40 páginasSaúde Sexual e ReprodutivaAlberto F. Traquinho SauéAinda não há avaliações
- (Blucher) Patu, Antje Schrupp - Uma Breve História Do Feminismo No Contexto Euro-Americano (2019) PDFDocumento87 páginas(Blucher) Patu, Antje Schrupp - Uma Breve História Do Feminismo No Contexto Euro-Americano (2019) PDFEl83% (6)