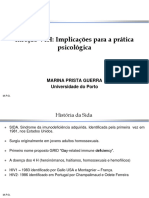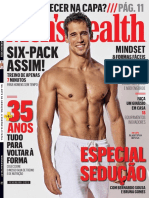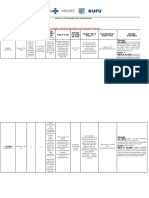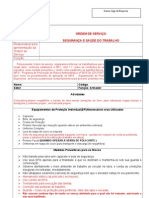Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
De Édipo A Narciso
Enviado por
Carina da PaixãoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
De Édipo A Narciso
Enviado por
Carina da PaixãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
De dipo
a Narciso
De_edipo_a_narciso.indd 1 25/08/2014 15:57:12
De_edipo_a_narciso.indd 2 25/08/2014 15:57:12
De dipo
a Narciso
Organizadoras
Regina Herzog
Fernanda Pacheco-Ferreira
Edio com apoio do PRODOC/CAPES
De_edipo_a_narciso.indd 3 25/08/2014 15:57:12
Copyright @ Regina Herzog e Fernanda Pacheco-Ferreira
Direitos de edio adquiridos pela
Editora Campo Matemico
Proibida a reproduo total ou parcial
Editorao Eletrnica
Abreus System
Reviso
Sandra Regina Felgueiras
Editor Responsvel
Jos Nazar
Capa
Aline Carrier
Rio de Janeiro, 2014
CIP-BRASIL. CATALOGAO-NA-FONTE
SINDICATO NACIONAL DOS EDITORES DE LIVROS, RJ
S664
De dipo a Narciso a clnica e seus dispositivos / organizadores, HERZOG, Regina
e PACHECO-FERREIRA, Fernanda Rio de Janeiro: Cia de Freud: UFRJ; Braslia, DF:
CAPES PRODOC, 2014.
220 p.
Inclui bibliografia
ISBN 978-85-7724-116-3
1. dipo. 2. Narcisismo. 3. Psicanlise I. Herzog, Regina e Pacheco-Ferreira, Fernanda
II. Brasil. Coordenao de Amparo Pesquisa de Nvel Superior. Programa de Apoio a Pro-
jetos Institucionais com a Participao de Recm-doutores. III. Universidade Federal do Rio
de Janeiro. Programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica.
12-2800 CDD: 155.2
CDU: 159.923
30.04.14 09.05.14 035187
Financiamento Programa de Apoio a Projetos Institucionais com a
Participao de Recm-Doutores (PRODOC/CAPES)
Instituies de Apoio
Programa de ps-graduao em Teoria Psicanaltica
Endereo para Correspondncia
Rua Baro de Sertrio, 48 - casa
Tel.: (21) 2273-9357 (21) 2293-5863
Rio Comprido - Rio de Janeiro
E-mail: ciadefreud@gmail.com
De_edipo_a_narciso.indd 4 25/08/2014 15:57:13
Sumrio
Prefcio .......................................................................................................9
Para introduzir o narcisismo... cem anos depois
Regina Herzog & Fernanda Pacheco-Ferreira
Artigos
De dipo a Narciso: a tcnica em questo ................................................. 23
Fernanda Pacheco-Ferreira & Regina Herzog
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade .................................... 39
Ren Roussillon
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica
em psicanlise........................................................................................... 61
Julio Verztman & Diane Viana
Um outro lugar para o analista ................................................................ 79
Joel Birman
A psicanlise, o novo e a garantia ............................................................. 95
Romildo do Rgo Barros
De_edipo_a_narciso.indd 5 25/08/2014 15:57:13
Por um olhar de confiana ......................................................................103
Leonardo Cmara, Thais Klein & Regina Herzog
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos ................................................119
J Gondar
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise ..................135
Ana Brbara Andrade & Regina Herzog
Histeria e falso self aproximaes e diferenas .......................................149
Teresa Pinheiro
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos .........161
Raquel Rubim Del Giudice Monteiro & Marta Rezende Cardoso
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao .....179
Jse Lane de Sales & Regina Herzog
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica:
algumas observaes e apontamentos.....................................................197
Rafaela Zorzanelli, Selena Caravelli, Bruno Farah & Teresa Pinheiro
Sobre os autores ................................................................................... 215
De_edipo_a_narciso.indd 6 25/08/2014 15:57:13
De_edipo_a_narciso.indd 7 25/08/2014 15:57:13
De_edipo_a_narciso.indd 8 25/08/2014 15:57:13
Prefcio
Para introduzir o narcisismo... cem anos depois
Regina Herzog & Fernanda Pacheco-Ferreira
Cem anos depois de Freud introduzir formalmente o narcisismo no campo
da psicanlise, espantoso perceber a pertinncia da utilizao desse con-
ceito para a atualidade. Trabalhado por vrios pensadores, inclusive fora do
mbito psicanaltico, o termo narcisismo j serviu para descrever compor-
tamentos sexuais, qualificar um modo especfico de economia libidinal, de-
signar patologias cuja questo central gravitava em torno do engendramen-
to do eu, ou ainda para definir o comportamento do sujeito na cultura da
contemporaneidade.
Retomando os passos da construo deste conceito na trama psicanalti-
ca, vemos que ele surge pela primeira vez em 1910, em uma nota de rodap
acrescentada ao texto Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), cla-
ramente referida questo do homossexualismo masculino. E desta mesma
forma que vai ser tematizado no texto sobre Leonardo da Vinci (1910). Em
ambos, a problemtica se d com relao ao tipo de escolha de objeto.
S em 1911, no artigo sobre o Presidente Schreber, o narcisismo vai ga-
nhar uma amplitude conceitual. Se, at ento, no se distinguia narcisismo
de autoerotismo, com o Caso Schreber o narcisismo passa a ser pensado
como um estado entre o autoerotismo e o amor objetal.
De todo modo, o narcisismo instaura a possibilidade de um novo cami-
nho de explorao psicanaltica atravs do estudo do Eu e de suas produes
De_edipo_a_narciso.indd 9 25/08/2014 15:57:13
10 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
sintomticas especficas. Em 1917, com Luto e melancolia e, em 1921, com
Psicologia das massas e anlise do Eu, a temtica da identificao narcsica
ganha destaque. Na melancolia, Freud descreve uma regresso narcsica que
leva o sujeito a se retirar do mundo dos objetos externos. O sujeito incorpora
o objeto perdido, que ganha cada vez mais espao, ao passo que o eu se en-
contra cada vez mais esvaziado. A famosa frase a sombra do objeto recai so-
bre o eu exemplifica de forma magistral esse fenmeno pelo qual a perda do
objeto transforma-se numa perda do eu e o conflito anterior existente entre
o eu e o objeto d lugar a uma ciso no eu entre uma parte crtica e uma parte
modificada pela identificao com o objeto perdido, processo que prenuncia
a instncia superegoica.
A temtica da identificao narcsica vai sendo adensada, em especial a
partir dos textos culturais, nos quais o processo de identificao e a ligao
com as instncias ideais ser melhor trabalhado. Em 1921, Freud afirma que,
assim como no eu, preciso controlar e dominar as excitaes externas e
regular as tenses internas nas massas. Tomando como modelo as organiza-
es da Igreja e do Exrcito, Freud entende que a coeso do grupo e a manu-
teno de seu poder se deve ao fato de o objeto ser alado ao lugar de ideal do
eu do sujeito. Desse modo, dentro do grupo, em nome da proteo do lder,
as vontades individuais so apagadas, bem como as relaes de ambivalncia
amor-dio. Mas no se reprime o dio impunemente e esta hostilidade acaba
sendo dirigida para o exterior, ao diferente, alteridade que corresponde a
tudo que se encontra fora do crculo protegido do grupo. o narcisismo das
pequenas diferenas, to importante para entendermos as questes dos gru-
pos e a prpria constituio do eu.
Gradativamente, portanto, o termo passa de uma simples noo para al-
canar uma dimenso conceitual da maior relevncia no seio da trama freu-
diana: concebido como uma fase referida ao desenvolvimento libidinal do
sujeito, o narcisismo se firma como uma estrutura permanente, remetida ao
processo de constituio subjetiva. E isto graas necessidade de se voltar,
tanto por conta de impasses clnicos quanto tericos, para a questo de um
eu que deixa de ser um eu consciente, deslibidinizado. Ao perder sua racio-
nalidade, o eu se torna um eu fragilizado, um eu que no est dado desde o
incio, pois requer uma nova ao psquica para se constituir narcisicamente.
De_edipo_a_narciso.indd 10 25/08/2014 15:57:13
Prefcio 11
Em outras palavras, antes de 1914, Freud no se preocupou em descrever o
surgimento do Eu. A clnica da neurose no lhe impunha tal necessidade, j
que ali sua estabilidade, ainda que imaginria, suposta. Mas os impasses
da clnica, como sempre, em especial com respeito questo da possibili-
dade ou no da instaurao da transferncia e do fenmeno da resistncia,
obrigaram-no a repensar esta questo. Embora a polmica com Jung acerca
da libido na psicose tenha servido como pretexto para a escrita deste artigo,
o alcance de suas consequncias foi muito mais amplo. Freud se viu, a, ques-
tionado em sua maior descoberta, a que remete a um conflito entre desejo
(sexual) e proibio, no qual o recalque funcionava como o operador maior e
o eu como o articulador desta operao.
A riqueza desta noo que prenunciou a virada de 1920 com os avanos
e transformaes na teoria e na clnica da segunda tpica continuou a ser
retrabalhada at o fim da obra freudiana, provocando debates fecundos. A
questo dos ideais e do superego, por exemplo, bem como sua articulao
com a pulso de morte so testemunhos disso. Contudo, no coube a Freud
fazer grandes articulaes entre a noo de narcisismo e a segunda teoria
pulsional, essa tarefa ficando para outros autores.
Sem aprofundar a complexidade e o potencial deste debate, cabe lembrar
que o conceito de narcisismo primrio, proposto em 1914, suscitou impor-
tantes polmicas, e o artigo de Balint sobre o amor primrio, de 1937, um
bom exemplo disso. O narcisismo primrio havia se tornado a teoria-padro
na poca para descrever a relao mais primitiva do indivduo com seu entor-
no e Balint criticava esta noo, em especial por ser descrita como um estado
anobjetal. A ideia de que o sujeito nasce como uma espcie de mnada da qual
deveria sair, sabe-se l como, para investir o mundo dos objetos lhe parecia
equivocada. Alm disso, Balint considerava que as teorias sobre o autoerotis-
mo, o amor objetal primrio e o narcisismo primrio eram mutuamente con-
traditrias. Para o discpulo de Ferenczi, a mais precoce fase da vida mental
extrauterina no seria narcsica, mas dirigida a objetos. Contudo, essa relao
precoce seria passiva, no sentido da necessidade de ser amado sem que nada
fosse exigido em troca. O narcisismo secundrio, por sua vez, seria passvel
de observao clnica, qualificando um estado no qual parte da libido que an-
teriormente investia os objetos externos retira-se deles e se volta para o ego.
De_edipo_a_narciso.indd 11 25/08/2014 15:57:13
12 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Em outra vertente, Lacan tambm reformula a teoria do narcisismo ao
ressaltar que o infans no possui de incio uma imagem unificada do cor-
po, o que s se torna possvel atravs da relao com o Outro tomado como
espelho. Descrevendo esta experincia em seu famoso texto O estdio do
espelho como formador da funo do [eu] tal como revelada na experin-
cia psicanaltica (1949), Lacan traz uma contribuio da maior relevncia
para esta discusso ao valorizar o lugar do Outro no processo de subjetiva-
o e tambm pela nfase que confere insero da criana no universo da
linguagem.
Aps um perodo de relativo ostracismo, o conceito foi retomado por di-
versos autores franceses e tambm nos Estados Unidos, com Otto Kernberg
e, especialmente, com Heinz Kohut, fundador da Self Psychology. Na tradio
francesa ps-lacaniana, Green, em 1983, publica Narcisismo de vida, narcisis-
mo de morte, chamando ateno para a relao entre o narcisismo e a pulso
de morte, articulao no problematizada por Freud, como j mencionamos.
Green prope a teoria do narcisismo negativo, complemento do narcisismo
positivo formulado por Freud. O narcisismo negativo uma espcie de duplo
invertido do eu unitrio do narcisismo visando regressivamente ao zero de
tenso, o que na clnica se manifestaria por um vazio subjetivo. A partir des-
sa articulao do narcisismo com a pulso de morte, Green vai desenvolver
importantes reflexes sobre o trabalho do negativo. A complexidade da ques-
to do narcisismo na clnica, em especial nos chamados casos limite, foi uma
das maiores preocupaes de Green, que dedicou grande parte de sua obra a
lanar luz sobre essa temtica.
Ainda na tradio francesa, na esteira de Green, Roussillon insiste na
importncia de se desnarcizar a teoria do narcisismo, fazendo com que o
papel do outro enquanto objeto externo tenha a um lugar central. Para este
autor, devemos encarar a constituio subjetiva a partir de uma relao ho-
mossexual primria em duplo, relao ao mesmo tempo narcsica e objetal.
Em outras palavras, quando o espelho do olhar e de todo o conjunto de res-
postas do outro aos movimentos do sujeito funciona suficientemente bem,
o investimento objetal tambm investimento de si mesmo. Roussillon se
apoia na leitura de Winnicott para quem o narcisismo primrio seria o esta-
do no qual tanto o que se percebe como sendo o ambiente do beb quanto
De_edipo_a_narciso.indd 12 25/08/2014 15:57:13
Prefcio 13
o que se percebe como sendo o beb constituem, de fato, uma unidade. Para
Winnicott (1988), portanto, o narcisismo primrio no um estado de isola-
mento intrapsquico. Diferentemente de Lacan, o papel da alteridade aqui
valorizado em sua dimenso afetiva e qualitativa.
Consoante apontado acima, alm dos autores do campo da psicanlise,
o termo narcisismo foi amplamente empregado por diversos pensadores
como adjetivo para descrever a relao do sujeito com a cultura mercanti-
lista, em especial nos anos 70. A discusso acerca da especificidade dessas
leituras mostra como nas ltimas dcadas do sculo XX toda uma produo
em torno dos efeitos decorrentes da prevalncia de um olhar para si pr-
prio em detrimento do outro tem lugar, indicando de certa forma uma fa-
lncia da autoridade simblica (Ehrenberg, 2010). Nesta perspectiva, Lasch
(1970) sugere um narcisismo patolgico, referindo-se cultura americana
da poca que tinha e nos perguntamos se no continua tendo at hoje o
consumo como palavra de ordem. Consequentemente, o interesse exclusivo
em si mesmo acarreta a busca por um prazer desenfreado aparentemente
alcanado na obteno dos objetos desejados (ainda que absolutamente vo-
lteis). Sennet (1974), por sua vez, defende a ideia de um carter narcsico
presente, de um modo geral, nas sociedades ocidentais desenvolvidas, de-
corrente da invaso da esfera de sociabilidade pblica pela esfera do privado.
J Baudrillard (1970) considera que o consumismo, atravs da personaliza-
o de cada detalhe na vida, propicia o individualismo e, como decorrncia,
verificam-se dois fenmenos presentes neste processo: a burocracia e o nar-
cisismo. Este ltimo vai ser remetido pelo autor questo do corpo como um
objeto de consumo no capitalismo. No entanto, este investimento no corpo
no est voltado para uma singularizao do sujeito; no narcisismo dos tem-
pos atuais, o que est em jogo a produo de um corpo que venha realar
um lugar de destaque do indivduo em seu meio, da o autor design-lo como
um narcisismo dirigido.
Em suma, as diversas concepes de uma cultura do narcisismo, traba-
lhadas por esses autores nos anos 70, apontam para um hedonismo pri-
vado em contraposio a uma profunda indiferena pelo que do mbito
da vida pblica. Nesta esteira, o sujeito vai abrindo mo da obedincia a
De_edipo_a_narciso.indd 13 25/08/2014 15:57:13
14 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
uma figura de autoridade moral externa e vertical que lhe d segurana
(Ehrenberg, 2010).
Apoiando-se no pensamento psicanaltico, Costa (1984) vai se contrapor
a estas posies, designando o narcisismo moderno como um narcisismo re-
generador, e isto porque, segundo o autor, o capitalismo moderno obrigou
o indivduo a adotar uma estratgia de sobrevivncia narcsica que pouco
tem a ver com o prazer e muito a ver com a dor.
No artigo Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos, J Gondar, neste
volume, tambm trata a questo das patologias narcsicas como uma estra-
tgia existencial positiva de lidar com o sofrimento. A autora reflete sobre
modos subjetivos que remetem a uma fragilidade na constituio do narci-
sismo em consequncia de vivncias traumticas muito primitivas e prope
uma leitura pela via do paradoxo, distinguindo-se de uma leitura que ressal-
taria apenas a dimenso negativa dessas patologias. A prpria modalidade
de sofrimento desses sujeitos seria paradoxal e oscilatria entre tendncias
opostas: uma delas no sentido da unificao, e outra no sentido de uma frag-
mentao cada vez maior. Nesta perspectiva, considera clinicamente mais in-
teressante situar esses casos em um movimento pendular incessante, atravs
do qual esses sujeitos encontrariam um equilbrio metainstvel.
Outras leituras psicanalticas tendem a acentuar diferentes aspectos
dessa mesma questo. Um destes aspectos se refere produo de um novo
sujeito, o homem narcisista que busca sobreviver ao declnio da autorida-
de paterna em decorrncia dos avanos vertiginosos do capitalismo e das
transformaes em todos os setores da sociedade. o prprio dipo que
vacila e, diante de uma situao de desamparo, se torna voraz, rumando
em direo a um eu ideal, mas acabando por se deparar com um supereu
tirnico que o lana, nos dias atuais, a um sentimento de insuficincia que
o paralisa.
Romildo do Rgo Barros vai tratar desta questo atravs do declnio da
garantia paterna. A perda dessa garantia abala o enquadramento freudiano
clssico de um sujeito situado entre a diferena de geraes e a diferena se-
xual e, na ausncia do endosso dessa diferena, o que se revela o engodo
que tal garantia prometia. Os chamados novos sintomas seriam justamen-
te aquelas manifestaes que ao mesmo tempo aprofundam as diferenas e
De_edipo_a_narciso.indd 14 25/08/2014 15:57:13
Prefcio 15
denunciam o engodo paterno. Contudo, sem o asseguramento dessa garantia
imaginria, o sujeito se encontra desamparado.
H quem afirme que na contemporaneidade seria mais apropriado falar
em registro do desalento ao invs de registro do desamparo. Joel Birman, em
Um outro lugar para o analista na experincia analtica, defende esta ideia
atravs da constatao de que o mal-estar se enuncia hoje principalmente
como dor e no mais como sofrimento. Segundo o autor, o sofrimento na con-
temporaneidade no se apresenta com as mesmas caractersticas e signos
apresentadas nos tempos iniciais da psicanlise, pois a conflitualidade ps-
quica no se sustenta de forma interiorizada, mas de forma exteriorizada. Este
processo revelou que a figura do infantil no mais representada pela figura
de sua majestade o beb, pois a contemporaneidade teria produzido uma
perda de investimento narcsico fundamental.
A ausncia do modelo sua majestade o beb tambm retomada por
Teresa Pinheiro em Histeria e falso self: aproximaes e diferenas e por
Jse Lane de Sales e Regina Herzog em O corpo em psicanlise: entre a
fragmentao e a ilusria unificao. No primeiro caso, a autora procura
pensar as configuraes melanclicas retirando-lhes o carter com que ge-
ralmente so descritas, isto , como uma espcie de projeto de neurose mal
acabada. Atravs de pesquisas clnicas e tericas realizadas nos ltimos vin-
te anos, a autora vem trabalhando argumentos para identificar um mode-
lo de subjetivao prprio da melancolia. Esse trabalho terico foi sempre
confrontado com a clnica e permitiu ampliar o leque nosogrfico da me-
lancolia, distinguindo-o do modelo da histeria. Desse modo, Pinheiro pode
contribuir para uma maior compreenso da melancolia e das patologias des-
critas como personalidades narcsicas, denominadas por Winnicott de falso
self e por grande parte dos psicanalistas de casos ou estados limites.
Sales e Herzog, por sua vez, buscam uma reflexo crtica acerca da noo
de corpo em Freud, temtica importante no mbito da discusso desenvolvi-
da neste volume. No artigo O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e
a ilusria unificao, citado mais acima, as autoras ressaltam, em especial, a
diferena entre a descrio freudiana no mbito da histeria, na qual o corpo
comparece em sua dimenso ergena, e em casos nos quais o corpo se apre-
senta envolto por questes que perpassam a sua unificao e apropriao.
De_edipo_a_narciso.indd 15 25/08/2014 15:57:14
16 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Raquel Monteiro e Marta Cardoso desenvolvem essa questo to impor-
tante para a clnica psicanaltica contempornea atravs das patologias do
corpo e do ato no artigo A relao eu/outro nos estados limites: aspectos te-
ricos e clnicos. Apresentando diferentes posies acerca do que se conven-
cionou designar como patologias limite, destacam duas correntes: a inglesa
e a francesa. Enquanto na primeira essa denominao faria referncia a um
modo de funcionamento psquico particular entre a neurose e a psicose, a se-
gunda, por sua vez, insistiria na possibilidade de estados e situaes limites,
no configurando uma estrutura determinada. Para pensar o manejo clnico,
as autoras problematizam a relao eu/outro que, nesses casos, se apresenta
afetada por uma dimenso intensamente ameaadora.
Ainda no mbito da clnica e das problemticas da separao eu/outro,
Ana Brbara Andrade e Regina Herzog sugerem que dificuldades para atra-
vessar a experincia de separao e interiorizao do objeto primrio, cuja
presena teria sido excessiva, provocam efeitos importantes na mobilidade
psquica do sujeito. Este ficaria atrelado a uma fantasia de no-diferenciao,
resultando na paralisia da plasticidade e maleabilidade da atividade fantas-
mtica. Em Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise,
as autoras apresentam diversas formas de interpretao, ressaltando que a
funo do analista nesses casos depende eminentemente de um trabalho de
inveno a dois.
O artigo Por um olhar de confiana traz tona a questo da dificulda-
de de manejo clnico, em especial as surgidas em atendimentos de sujeitos
que se apresentam como tmidos. Atravs da problematizao do papel do
olhar para esses sujeitos e da prevalncia do sentimento de vergonha, Cma-
ra, Klein e Herzog articulam a hiptese de que os pacientes tmidos encon-
tram dificuldades em brincar no setting analtico. Valendo-se da definio
winnicottiana do brincar, articulada proposta de elasticidade da tcnica de
Ferenczi, enfatizada a importncia de um olhar que, ao invs de desnudar,
possa transmitir confiana ao paciente e funcione como um operador clnico
na direo da cura.
No artigo Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa
clnica: algumas observaes e apontamentos, Zorzanelli, Caravelli, Farah
e Pinheiro destacam a presena da agressividade na clnica em sua vertente
De_edipo_a_narciso.indd 16 25/08/2014 15:57:14
Prefcio 17
positiva e negativa, ressaltando sua polissemia. A agressividade se apresen-
ta, nos casos analisados, em um espectro que vai desde o exerccio de uma
forma latente, via humor irnico e sarcstico, passando pela ideao persis-
tente de cenas agressivas dirigidas s figuras parentais, at alcanar francas
passagens ao ato. Segundo os autores, certos casos confirmam a funo cru-
cial da agressividade na constituio narcsica, tornando-a matriz identifica-
tria para esses sujeitos. Em outros, o sujeito alvo da agressividade por no
corresponder ao projeto narcsico dos pais, reeditando-a sob outras manifes-
taes. Finalmente, encontram sujeitos com inequvocos traos melancli-
cos que se manifestam por atos de auto e heteroagressividade. Cabendo ao
analista a difcil tarefa de identificar esses diferentes tipos e saber manejar a
transferncia.
Toda essa discusso nos faz pensar que a pesquisa clnica esbarra em difi-
culdades que esto ligadas prpria estrutura do pensamento psicanaltico.
Enquanto as outras cincias conquistaram certa independncia em relao
aos grandes personagens fundadores, o pensamento psicanaltico persiste
extremamente dependente do pensamento dessas eminentes figuras. Em
A pesquisa clnica em psicanlise na universidade, Roussillon traz essa re-
flexo e sugere que, para se fazer verdadeiramente pesquisa, fundamental
pensar em conexo com as tradies tericas dos grandes autores e, ao mes-
mo tempo, de forma independente deles. Isso significa que a pesquisa clnica
sempre, tambm, uma pesquisa sobre o prprio mtodo da pesquisa. Se no
for assim, observa Roussillon, a clnica se torna uma espcie de prtica de
atribuio, no sentido de encaixar certo discurso do paciente em um modelo
de catalog-lo. A escuta fica, assim, atrofiada. Alm disso, continua, determi-
nados mtodos autorizam certos tipos de materiais; em outras palavras, os
pacientes regulam o que dizem sobre a anlise de acordo com a maneira pela
qual intervimos. De acordo com este autor, preciso tentar compreender de
que maneira um dispositivo, ou um tipo de interpretao, possibilita alguma
coisa e impede outra, promovendo uma operao de assassinato do fetichis-
mo da teoria e restabelecendo nossa capacidade de escuta e interveno.
Freud sempre reiterou a indissociabilidade entre tratamento e pesquisa,
mas os critrios de definio de pesquisa sofreram muitas transformaes
desde sua morte, cabendo aos analistas que defendem a possibilidade de se
De_edipo_a_narciso.indd 17 25/08/2014 15:57:14
18 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
fazer pesquisa clnica em psicanlise na Universidade repensar constante-
mente essas questes. Verztman e Viana tm se dedicado a essa temtica e
seu artigo Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa
clnica em psicanlise busca contribuir para essa discusso ao explorar mo-
delos de pesquisa mais afins ao objeto e ao modo de trabalhar psicanaltico.
Em artigos anteriores os autores cunharam uma ferramenta metodolgica
denominada Estudo Psicanaltico de Casos Clnicos Mltiplos e, no artigo pre-
sente neste volume, levantam alguns problemas surgidos do seu emprego em
duas pesquisas j realizadas, refletindo criticamente sobre algumas vicissitu-
des da clnica psicanaltica em ambiente universitrio.
Para concluirmos essa breve exposio sobre o lugar do narcisismo desde
a sua criao no campo psicanaltico at os dias de hoje, vale retomar o ttulo
deste livro De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos. Acreditamos
que, de forma geral, verifica-se na produo psicanaltica contempornea
um movimento que vai de dipo a Narciso, ou seja, concentrando-se mui-
to mais no ltimo do que no primeiro. Trabalhamos essa questo no artigo
De dipo a Narciso: a tcnica em questo, lembrando que, apesar de na
obra freudiana a questo edpica ter sido tematizada antes do narcisismo, no
processo de subjetivao, como sabemos, h uma antecedncia da questo
do narcisismo com respeito questo edpica. O que nos permite dizer que
atravs da constituio narcsica a castrao, pela via do dipo, introduz o
sujeito na ordem simblica. Este movimento parece justamente indicar um
abalo no processo que vai de Narciso a dipo, j detectado por Freud em sua
poca e, de nosso ponto de vista, cada vez mais intenso hoje, em funo de o
indivduo vir perdendo as referncias externas, sendo obrigado a criar suas
prprias referncias. Este deslocamento conduz, no mbito da clnica, a um
arrefecimento das famosas psiconeuroses dos tempos de Freud e a um au-
mento significativo das chamadas patologias narcsico-identitrias, fazendo
com que os psicanalistas busquem, cada vez mais, estar atentos s expres-
ses do sofrimento psquico na contemporaneidade, visando novos meios
de compreender e intervir nesses casos. Propusemos pensar a interpretao
de modo ampliado, incluindo a ideia de construo e chamando ateno para
a polissemia do inconsciente que no deve ser escutado exclusivamente em
sua manifestao estritamente verbal.
De_edipo_a_narciso.indd 18 25/08/2014 15:57:14
Prefcio 19
Os mitos so muito elucidativos, em especial os que nos so mais fami-
liares, dipo e Narciso. Em ambos, patente a nostalgia da unidade perdida.
Em Narciso, h um furioso desejo de unir-se ao duplo nas guas. Mas no h
outro, seno imagem. O mesmo vai ocorrer com a palavra, s h Eco. Jdi-
po quer desnascer, voltar para dentro da me. Em ambos os casos, o destino
a morte: dipo se torna cego, a imagem desfeita de Narciso resulta em uma
flor, e Eco se torna pedra. A condio humana, neste sentido, incurvel.
Pode, no entanto, orientar-se para uma vida criativa, segundo os anseios
possveis de cada um.
A intuio de Ovdio diante do desvario de Narciso possui uma atuali-
dade gritante. O inusitado furordo filho de Lirope que fenece na busca de
encontrar o duplo que contempla diante de si aponta para a fora da imagem
tomada como real e no como reflexo. A inebriante palavra de Eco, tambm
dupla, posto que reproduo do discurso de Narciso que ele materializa em
outro, apenas ressonncia, sem materialidade com que se possa celebrar
um encontro.
Aloucura de Narciso narrada por Ovdio nos soa familiar quando consta-
tamos o excesso do olhar to onipresente no mundo contemporneo, olhar
que invade mais do que orienta e que provoca mais dor do que sofrimento.
Poderamos concluir a proposta deste conjunto de artigos como uma in-
citao reflexo sobre os dispositivos clnicos da psicanlise frente aos so-
frimentos narcsicos, lembrando que o analista no deveria destruir nem
o complexo de dipo nem o mito de Narciso, mas permitir ao primeiro se
inserir na trama do segundo (Flournoy, 1976).
O Ncleo de Estudos em Psicanlise e Clnica da Contemporaneidade
(NEPECC/UFRJ), coordenado por Julio Verztman, Teresa Pinheiro e Regi-
na Herzog, vem, h doze anos, buscando contribuir com essa discusso e
o apoio do Projeto PRODOC/CAPES, coordenado por Regina Herzog e cuja
bolsista Fernanda Pacheco-Ferreira, ambas organizadoras deste volume,
veio possibilitar a produo deste compndio em forma de material didtico
que oferecemos agora ao leitor. Nossa esperana a de que a discusso sobre
o narcisismo possa continuar fecunda por muitos anos mais, ajudando-nos
no laboroso e encantador ofcio de pesquisadores e clnicos. Organizadoras
De_edipo_a_narciso.indd 19 25/08/2014 15:57:14
20 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
deste livro, gostaramos de agradecer em especial aos demais coordenado-
res do NEPECC, Julio Verztman e Teresa Pinheiro que, alm de produzirem
artigos para este volume, acompanharam todo o processo de elaborao e
concepo desse material. Tambm agradecemos aos autores que contribu-
ram com artigos e participaram de diversas atividades do ncleo de pesqui-
sa enquanto membros pesquisadores e colaboradores no mbito do projeto
PRODOC, ou ainda como convidados no colquio Sofrimentos Narcsicos,
organizado pelo nosso ncleo em 2012, e nas Conferncias de Ren Rous-
sillon no Rio de Janeiro, organizadas em 2013 em conjunto com o Grupo de
Pesquisa Clnica em Psicanlise da Infncia e da Adolescncia (GPCPIA-IFF/
FIOCRUZ), sob a coordenao de Octavio Souza. Este livro foi integralmente
financiado com o apoio do PRODOC/CAPES.
De_edipo_a_narciso.indd 20 25/08/2014 15:57:14
Artigos
De_edipo_a_narciso.indd 21 25/08/2014 15:57:14
De_edipo_a_narciso.indd 22 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em
questo1
Fernanda Pacheco-Ferreira & Regina Herzog
De forma geral, verifica-se na produo psicanaltica contempornea um mo-
vimento que vai de dipo a Narciso, ou seja, concentrando-se muito mais no
ltimo do que no primeiro. Apesar de na obra freudiana a questo edpica ter
sido tratada antes do narcisismo, sabemos que no processo de subjetivao
h uma antecedncia da questo do narcisismo com respeito questo edpi-
ca. O que nos permite dizer que atravs da constituio narcsica a castrao,
pela via do dipo, introduz o sujeito na ordem simblica. Este movimento
parece justamente indicar um abalo no processo que vai de Narciso a dipo,
j detectado por Freud em sua poca e, de nosso ponto de vista, cada vez mais
intenso hoje, em funo de o indivduo vir perdendo as referncias externas,
sendo obrigado a criar suas prprias referncias.
Este deslocamento conduz, no mbito da clnica, a um arrefecimento das
famosas psiconeuroses dos tempos de Freud e a um aumento significativo
1
Uma primeira verso deste artigo foi publicada no Cadernos de Psicanlise (SPCRJ), em
2012, sob o ttulo A posio do analista frente aos sofrimentos narcsico-identitrios. A atu-
al verso deriva das investigaes que tiveram lugar a partir das apresentaes de convidados
e de membros de nosso grupo de pesquisa no colquio Sofrimentos Narcsicos, organizado
pelo NEPECC, em 2012, e nas discusses em torno das Conferncias de Ren Roussillon,
realizadas em 2013.
De_edipo_a_narciso.indd 23 25/08/2014 15:57:14
24 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
das chamadas patologias narcsico-identitrias. Em decorrncia dessa mu-
dana, nos deparamos com um acirrado questionamento acerca da pertinn-
cia de uma abordagem psicanaltica destas perturbaes, envolvendo ques-
tes quanto normatividade social. E isto devido ideia bastante difundida
de que sua trama conceitual est calcada no modelo da histeria, no qual o
dipo tem lugar de destaque.
Todavia, nunca demais lembrar que no foi Freud quem criou o sujeito
conflituado entre o desejo e a culpa, mas sim quem descreveu com proprie-
dade este sujeito produzido pela modernidade, apontando os efeitos de tal
produo. Em outros termos, a teoria freudiana foi elaborada justamente
sobre o declnio das comunidades que estava em curso no final do sculo
XIX. Neste sentido, bastante expressiva sua afirmao de que enquanto
a comunidade no assume outra forma que no seja a da famlia, o conflito
est fadado a se expressar no complexo edipiano, a estabelecer a conscincia
e a criar o primeiro sentimento de culpa (Freud, 1930/1974, p. 156). Tudo
indica que hoje estamos diante de outra forma de organizao.
Sem dvida, Freud foi bastante enftico ao indicar que a psicanlise de-
monstrou plenamente o papel desempenhado pelas condies e exigncias
sociais como causadores de neurose (1913/1974, p. 224), sendo tambm
veemente na denncia do desmantelamento da sociedade. Porm, em 1929,
foi alm quando ps em dvida que uma diminuio destas exigncias pudes-
se proporcionar alguma felicidade ao homem. O que significa que a balana
entre satisfao e renncia (outro modo de designar Narciso e dipo), a des-
peito de nossos esforos, jamais ser equilibrada. Este parece ser o sentido
dado pelo autor quando diz o problema que temos pela frente saber como
livrar-se do maior estorvo civilizao isto , a inclinao, constitutiva dos
seres humanos, para a agressividade mtua (1930/1974, p. 167).
Neste registro, mesmo que se observe um deslocamento das doenas do
pai (neurose obsessiva, histeria, paranoia) para as doenas da me (esta-
dos limites, esquizofrenias, depresses) (Schneider, 2002, p. 112), isto no
implica que a psicanlise nada tenha a dizer com relao s ltimas. Se
inegvel que a psicanlise seja datada, no menos verdade que, como filha
de seu tempo, ela carrega o germe da mudana e, alm de grandes avanos
no plano da clnica feitos a partir da teorizao dos vnculos precoces e da
De_edipo_a_narciso.indd 24 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 25
crescente valorizao do papel do meio ambiente na constituio narcsica,
nota-se que os psicanalistas tm, cada vez mais, estado atentos para as ex-
presses do sofrimento psquico na contemporaneidade, buscando novos
meios de compreender e intervir nesses casos.
Feito este esclarecimento, vamos retomar a questo que nos interessa:
como lidar, no mbito da clnica, com o que hoje se denomina patologias
narcsicas, nas quais o que est em jogo o dficit, a vergonha, a clivagem,
a identidade, e no mais o conflito, a culpa, o recalque ou o desejo. Esta dis-
tino por si s nos levaria a concluir que o modelo tradicional do dispositi-
vo clnico (leia-se modelo do recalque) no funcionaria para as modalidades
contemporneas de padecimento psquico.
Todavia, arriscado tomar esta assero como fait accompli. Em primei-
ro lugar, preciso estar atento s consequncias de tal posicionamento. Em
muitos casos, nos deparamos com uma postura saudosista, uma nostalgia
quase melanclica de uma situao em que a crena no social pudesse nos
salvar de ns mesmos. Tudo isso sustentado pela concepo idealizada de um
mundo ordenado que funcionaria por meio de uma relao vertical estabele-
cida pela autoridade simblica; o que, na atualidade, teria rudo.
Ora, conceber que a direo da cura implica na possibilidade, qui no proje-
to, de se submeter a uma ordem transcendente (no caso, a ordem simblica) nos
parece distante da proposta freudiana, cujo mtodo de tratamento foi concebi-
do visando que o sujeito possa lidar com sua pulsionalidade a despeito da inge-
rncia da comunidade. Criar caminhos alternativos, inventar uma narrativa de
si, poder escolher esto entre os objetivos deste mtodo, o que, de modo algum,
implica uma ideologia da escolha ou a prescrio de caminhos mais adequados
ao bem viver. Nesta lgica, o conjunto das neuroses de transferncia pensado
como patologias da verticalidade, ao passo que as ditas novas patologias narc-
sicas so a consequncia da horizontalidade (Ehrenberg, 2010). E se o psicana-
lista tem as ferramentas para lidar com as primeiras entre elas a associao
livre, a escuta flutuante, a interpretao , acaba titubeante diante das ltimas.
De fato, no podemos negar que haja uma diferena no modo de se abordar
cada caso, mas, ainda assim, preciso certo cuidado no estabelecimento destas
diferenas. Talvez a questo mais pertinente no seja quais so as diferenas de
cada caso, mas a problematizao do que vem a ser o mtodo psicanaltico.
De_edipo_a_narciso.indd 25 25/08/2014 15:57:14
26 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Para comear, devemos lembrar que toda pretenso de generalizao e
normatizao acaba se afastando da proposta freudiana cujo mtodo cons-
trudo para singularizar cada caso. Neste sentido, a importncia do complexo
de dipo como operador central das neuroses de transferncia no reside
no fato de com isso se construir ou produzir um modelo tradicional que vai
dar forma direo da cura. Se Freud, por exemplo, se recusou a tratar das
psicoses porque nelas a transferncia parecia no ter lugar, isto no significa
que as ferramentas utilizadas devam ser descartadas. Trata-se, nestes casos,
de estabelecer em que bases uma relao transferencial vai ser instituda. Em
outros termos, h que se ter cuidado com a designao apressada dos limites
da interpretao (que no a mesma coisa que o limite do interpretvel)
quando o traumtico que est em jogo e no mais, ou no tanto, o desejo
inconsciente2.
Como afirma Roussillon (2014)3, a prtica clnica impe ao analista uma
atitude de pesquisador, no sentido de estar aberto ao inusitado da clnica,
mesmo quando diante de posies subjetivas supostamente conhecidas. Em
psicanlise, sempre precisamos nos perguntar quais as possibilidades que
cada sujeito tem de lidar com seu lugar no mundo, isto , o que ele pode fazer
a partir de sua posio subjetiva. Esta visada nos possibilita, com bem assi-
nala Gondar (2014)4, evitar um olhar exclusivamente negativo e deficitrio
sobre essas patologias, sempre as qualificando a partir de certo referencial
positivo de subjetividade: o neurtico. Como alternativa a essa leitura, a au-
tora prope uma abordagem sob a lgica do paradoxo, a partir da qual uma
perspectiva negativa e uma positiva so consideradas em conjunto, sem que
haja uma busca de sntese entre as duas. No se trata de um a mais (excesso)
ou de um a menos (falta) e sequer de um meio termo. As subjetividades nar-
csicas apontam, segundo Gondar, para um modo particular de circulao de
energia, de afetos e de padres relacionais que resultam em contornos tem-
porrios. A nosso ver, essa expressividade em trnsito apontaria, justamen-
te, para a dificuldade de manuteno do sentimento de continuidade do ser.
2
Para uma discusso mais ampla dos riscos de ter na ideia de representao psquica um
referente, postulando um para alm dela, remetemos o leitor a Herzog, 2011.
3
Texto publicado neste volume.
4
Texto publicado neste volume.
De_edipo_a_narciso.indd 26 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 27
Tais casos nos levam a questionar constantemente os recursos clnicos
disponveis diante de cada situao com a qual nos defrontarmos. Neste
sentido, certa elasticidade da tcnica, mesmo levando em conta os possveis
riscos, necessria sempre que o arsenal terico e tcnico se mostra insu-
ficiente frente a situaes que escapam ao campo das neuroses, em outras
palavras, questo edpica.
A despeito das recomendaes de Freud, cuja preocupao maior foi jus-
tamente a de no se fechar sobre um modelo inflexvel, lugar comum con-
siderar que a tcnica interpretativa clssica opera no plano da representao.
Esta se baseia no mtodo da associao livre, centrada sobre a problemtica
edpica e o recalque, ancorada na posio de neutralidade do analista. Em lu-
gar de repensar ou mesmo rejeitar este modelo, nos parece mais apropriado
trazer a discusso para o mbito da relao transferencial e, mais especifica-
mente, para a posio do analista nesta relao.
Em nosso grupo de pesquisa, o NEPECC5, realizamos pesquisas clnicas
nas quais o lugar do analista e de suas intervenes na clnica dos sofrimen-
tos narcsicos sempre interrogado. A articulao entre vergonha, angstia
e timidez presente nestes sujeitos nos permitiu entrar em contato com situa-
es clnicas que julgamos particularmente pertinentes ao sujeito contempo-
rneo e que se apresentam como desafios ao dispositivo psicanaltico.
Quadros clnicos que remetem falta ou excesso de limites como as ano-
rexias, as depresses, os estados compulsivos e os quadros de pnico nos
foram a revisitar a prpria ideia de interpretao. Como j indicado, a in-
terpretao estrito senso seria aquela que tem lugar na neurose, a que visa o
desejo inconsciente bem como a fantasia que o sustenta e cujo modelo a in-
terpretao dos sonhos. Contudo, diante de configuraes subjetivas menos
estruturadas, como as citadas acima, esse tipo de interpretao no produz
os efeitos esperados. Quanto a isso, nenhuma novidade.
Este , alis, o conflito que Freud enfrentou no final de sua vida e que
em grande parte motivou os remanejamentos metapsicolgicos e clnicos a
5
Em relao produo do Ncleo de Estudos em Psicanlise e Clnica da Contemporanei-
dade (NEPECC/UFRJ), remetemos o leitor a Verztman, J.; Herzog, R.; Pinheiro, T. & Pacheco-
-Ferreira, F. (orgs.), 2012, e a outros artigos neste volume.
De_edipo_a_narciso.indd 27 25/08/2014 15:57:14
28 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
partir de 1920, incluindo a escrita de dois textos importantes para pensar
essas questes: Anlise terminvel e interminvel e Construes em anli-
se, ambos de 1937. Freud est ali s voltas com os limites da tcnica psicana-
ltica, de sua eficcia teraputica e, neste contexto, surge como alternativa a
proposta da construo. Esta virada no pensamento freudiano muitas vezes
provocou uma leitura na qual a oposio entre interpretao e construo
foi exagerada. Todavia, a nosso ver, preciso insistir em uma definio mais
ampla de interpretao, que se dirija no s ao desejo inconsciente, mas tam-
bm s resistncias, aos mecanismos de defesa, ou mesmo s caractersticas
do meio ambiente. E o grande ponto de diferena que vale ser marcado entre
interpretao e construo talvez se d no papel da atividade imaginativa do
analista que, cabe salientar, no deve se sobrepor do paciente, mas pode ser
crucial quando o que est em jogo so processos inconscientes mais precoces.
Da interpretao e da construo
No que concerne aos debates sobre tcnica, a temtica da construo, embo-
ra presente de forma incipiente no famoso caso do Homem dos Lobos (1918
[1914]), nunca recebeu o mesmo destaque que a da interpretao e s foi
realmente formulada no final de sua vida, com o artigo Construes em
anlise, de 1937. No texto, Freud define a ideia de construo contrapondo-
-a tcnica interpretativa clssica, na qual, como se sabe, o analista busca,
atravs da anlise da transferncia, vencer as resistncias e tornar o material
recalcado consciente. A nosso ver, mais do que funcionar como um contra-
ponto, este posicionamento traz para a cena a problemtica da relao ana-
lista/analisando para mostrar que no se trata da mesma relao presente na
sugesto hipntica, ainda que a sugesto esteja presente nesta dinmica; e
que o limite do interpretvel, concomitante ao limite da psicanlise, deve ser
entendido no como impossibilidade, mas como abertura.
Justamente no momento em que Freud comea a questionar a eficcia
teraputica do mtodo psicanaltico, especialmente por referncia possi-
bilidade de uma recordao completa, e em que, simultaneamente, coloca
questes concernentes a um para alm do dipo, a figura da construo
De_edipo_a_narciso.indd 28 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 29
introduzida. A construo passa a ser concebida como um instrumento de
que o analista pode lanar mo a fim de viabilizar a emergncia de eventos
psquicos impedidos de vir luz pela via da rememorao. Sendo um trabalho
que envolve duas pessoas, cada uma com tarefas distintas, ao analista cabe
completar aquilo que foi esquecido a partir dos traos que deixou atrs de si
ou, mais precisamente, constru-lo (Freud, 1937/1996, p. 276).
Freud equivale esse trabalho de construo ou reconstruo (j que neste
texto no difere um termo do outro) escavao arqueolgica, mas afirma
que o analista possui vantagens em relao ao arquelogo, pois para o analis-
ta todos os elementos essenciais se acham preservados; mesmo coisas que
parecem completamente esquecidas esto presentes, de alguma maneira e em
algum lugar, e simplesmente foram enterradas e tornadas inacessveis ao in-
divduo (Freud, 1937/1996, p. 277; grifos nossos). Enquanto a interpreta-
o se aplica a algum elemento isolado do material, tal como uma associao
ou ato falho, a construo diz respeito apresentao por parte do analista
de um fragmento esquecido da histria primitiva do paciente. O exemplo de
construo dado por Freud neste texto (Freud, 1937/1996, p. 279) muito
prximo daquele proposto anos antes a Sergei Pankejeff.
Segundo Etchegoyen (apud Abella, 2011), a maioria dos autores ps-freu-
dianos concorda que a interpretao se concentra sobre um aspecto parcial
do material enquanto a construo possuiria um carter totalizante. A in-
terpretao, portanto, seria mais breve, pontual e afirmativa e a constru-
o mais ampla e hipottica. A partir da depreende-se que a interpretao
guardaria um aspecto de decomposio ou desconstruo e a construo pro-
priamente dita implicaria uma sntese. Em Linhas de progresso na terapia
psicanaltica (1919/1996) Freud compara a atividade psicanaltica com um
procedimento qumico: analisar corresponderia a dividir os processos men-
tais em seus componentes elementares. Mas, sempre que isto conseguido,
tal como ocorre com a anlise qumica, surgem snteses que no fazem parte
de sua inteno, devido liberao das afinidades eletivas das substncias em
questo (Freud, 1919/1996, p. 175). O trabalho de sntese descrito, por-
tanto, como uma funo do eu e, de acordo com a observao de Freud, nas
neuroses a psicossntese de fato atingida durante o tratamento analtico
sem a nossa interveno, automtica e inevitavelmente (Freud, 1919/1996,
De_edipo_a_narciso.indd 29 25/08/2014 15:57:14
30 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
p. 175). O neurtico suporta o efeito de desconstruo de uma interpretao,
pois capaz de mobilizar seu psiquismo e reorganiz-lo de maneira menos
rgida e estereotipada, ao menos esta a aposta do analista.
Contudo, nos casos em que o eu do paciente d sinais de fragilidade e insta-
bilidade caberia ao analista organizar estes fragmentos: uma construo seria
necessria antes de se considerar a pertinncia de uma desconstruo. Cabe
marcar que no se trata de um trabalho realizado exclusivamente pelo analis-
ta, pois fruto da relao transferencial, implicando a escuta atenta no s do
discurso verbal, mas principalmente do que se manifesta sem encobrimentos.
Desse modo, ao escolhermos problematizar a ideia de construo neste ar-
tigo, no a estamos usando estritamente de acordo com o exemplo de Freud,
ou seja, na busca da reconstruo de um passado na histria do paciente.
Aqui estamos pensando em como a ideia de construo pode ser til para
criar uma experincia de continuidade narrativa ausente em alguns sujeitos,
em especial no campo do que chamamos patologias narcsico-identitrias.
Para alguns pacientes, construir uma narrativa, mesmo que rudimentar,
uma verdadeira e rdua conquista que muitas vezes s possvel atravs do
papel de testemunho do analista.
No artigo intitulado O inesquecvel, limite do analisvel, Press (2011,
p. 173) prope que um limite significativo do analisvel est ligado ao que
ns no podemos de forma alguma esquecer. A rememorao pressupe um
funcionamento eficaz da temporalidade: para se lembrar preciso poder es-
quecer e, para esquecer, preciso que uma impresso (Eindruck) possa ter
adquirido um valor psquico, entrando na dimenso temporal e tornando-se
assim um trao mnsico. Neste registro, o inesquecvel no seria acessvel
rememorao, o que nos leva a dizer que se trata de algo sempre presente.
Ora, o que no pode ser esquecido no pode ser recalcado.
Acompanhando a argumentao de Press (2011), cremos poder aproximar
esta ideia de impresso (Eindruck) do que Freud designa como fragmentos no
texto Construes em anlise. A impresso (Eindruck) em si no constitui
uma lembrana, s podendo ser conservada como trao (Spur) ou represen-
tao. por meio da inscrio dos traos que uma impresso mantm seus
efeitos na memria, mas, se ela no for inscrita, no pode ser evocada, da a
necessidade do trabalho de construo.
De_edipo_a_narciso.indd 30 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 31
Press (2011) considera a possibilidade de este inesquecvel tomar diversas
formas, inclusive uma forma positiva, designando uma espcie de barulho de
fundo de nossa presena sensvel, que permite o advento da fantasia. Neste
sentido, o autor admite a possibilidade de que haja uma forma primeira e
incontornvel de inesquecvel no interior de cada cura (Press, 2011, p. 179).
Entretanto, em nossa argumentao estamos preocupados com aquele ines-
quecvel que, atravs do excesso traumtico, curto-circuita a metabolizao
psquica, impedindo o esquecimento e, consequentemente, a rememorao
verbal. O sujeito vive em um tempo indefinido o passado lhe foi roubado e,
por uma transmutao trgica, este passado ocupa oculta todo seu fu-
turo (Press, 2011, p. 180). Scarfone (2014, p. 64) prope denominar este
tempo que se apresentaria, na perspectiva cronolgica de algum de fora,
como pertencente ao passado, mas que, paradoxalmente, na perspectiva do
sujeito, se apresenta como atual, de impassado, tanto mais que a palavra de-
nota tambm seu status de impasse na vida do sujeito.
O manejo com relao a este impassado inesquecvel da ordem da escu-
ta no apenas do que dito pelo paciente, mas de tudo o que se manifesta
no contexto analtico, conforme apontado mais acima a propsito da cons-
truo. importante no tomar essas manifestaes como resistncia, mas
acolh-las como uma verdadeira comunicao, donde a necessidade de am-
pliar nossa concepo de linguagem para acolher os afetos (em seu excesso
ou ausncia) no plano de uma linguagem do sensvel (Herzog 2011). Neste
sentido, Gondar (2010, p. 130) afirma que a palavra sensria e literal no se
presta interpretao psicanaltica tradicional, que supe que o paciente
quer dizer outra coisa alm daquilo que diz e que remete lgica do recal-
camento. Na literalidade, salienta a autora, impera a lgica da clivagem e
esta exige do analista uma postura que promova uma atmosfera de confian-
a, sinceridade e, especialmente, de crena nas experincias reais relatadas
pelos pacientes (Gondar, 2010, p. 131). Depreendemos da que a presena
do analista, seus comportamentos, seu tom e ritmo de voz, suas expres-
ses e gestos podem tambm ganhar um lugar importante como ferramen-
ta de interveno. Tal parece ser tambm a proposta de Roussillon (2014)
ao enfatizar a necessidade de ampliarmos nossa escuta a uma linguagem
mimo-gesto-postural.
De_edipo_a_narciso.indd 31 25/08/2014 15:57:14
32 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Nosso grupo de pesquisa tem recebido sujeitos com uma problemtica
que gravita majoritariamente em torno de falhas na construo do eu, na
distino eu/outro e nos limites dentro/fora; dentre estes pacientes se des-
tacam aqueles que se descrevem como tmidos e apresentam graves sinto-
mas fbicos. Nestes casos, interpretar se tomamos a noo em seu sentido
estrito , ao invs de aumentar o processo de subjetivao, pode ser uma
violncia, desqualificando a realidade subjetivamente vivida pelo paciente.
Fazer uso da construo, bem como de outras ferramentas clnicas, inspira-
das pelas intuies fereczianas, tais como a tcnica das fantasias provocadas,
ou o jogo de perguntas e respostas, permite criar uma continuidade subjetiva
para que algum movimento desejante venha se instalar. Alm disso, atravs
da relao analtica, abre-se a possibilidade de inveno de uma narrativa e,
consequentemente, de uma memria.
Ainda a respeito do efeito da interpretao clssica nestes pacientes, a
reao de um dos sujeitos atendidos pela pesquisa s intervenes do ana-
lista ilustrativa. Uma das imagens que o paciente traz para expressar o que
sente em relao ao mundo a sua volta tirada de um jogo interativo no qual
o personagem principal constri seu destino a partir das consequncias de
suas aes. No jogo em questo, face a cada novo desafio, o personagem tem
a sua disposio diferentes opes de aes, o que faz com que a histria siga
rumos distintos a partir de cada escolha. Tal variedade e amplitude de ao
encantava o paciente que, diferentemente do heri de seu jogo, no via surgir
em sua vida nenhuma opo quando precisava, inclusive frente a situaes
corriqueiras como perguntar as horas a um transeunte. Este comentrio ex-
pressa a dimenso de sua inibio, que o remetia a uma sensao de vazio
subjetivo. Na clnica dos sofrimentos narcsico-identitrios, a vergonha de si
infiltra a personalidade do sujeito, implicando uma autopercepo desvalori-
zada, concreta e pouco metaforizada, dificultando que a fala se abra a novos
sentidos.
Alm de um empobrecimento da capacidade associativa, a ambivalncia
e a ambiguidade prprias linguagem no encontram lugar. Este mesmo pa-
ciente, por exemplo, em outro momento da anlise, se diz instvel emocio-
nalmente por experimentar sentimentos muito diversos em relao a uma
mesma pessoa, sentimentos para os quais no consegue identificar uma
De_edipo_a_narciso.indd 32 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 33
causa. Diante desse fenmeno, se pergunta como os outros iro perceb-lo,
dado que ora expressa um sentimento, ora outro. Tendo, em outros momen-
tos, optado por intervenes que no surtiram efeito no paciente6, o analista
nesta ocasio se limita a assinalar que as pessoas so ambivalentes, que
algo que faz parte da vida, ao que o paciente reage com uma expresso in-
trigada. Ao fim daquela sesso, e ao longo de algumas sesses seguintes, ele
retoma essa questo: verdade? As pessoas so mesmo ambivalentes?
Em outra ocasio este paciente ficou muito perplexo e curioso ao des-
cobrir o termo mentira branca, pois a possibilidade de ter uma dimenso
de segredo, de espao privado, lhe parecia inacessvel. Nesta mesma linha,
outro exemplo interessante pode ser obtido atravs da imagem concreta e,
ao mesmo tempo, bastante criativa, trazida por outro paciente para abordar
um conflito que estava vivendo. Sem encontrar os meios de expressar em
primeira pessoa a diviso que estava sofrendo, ele disse que, caso houvesse
um plebiscito em um pas sobre aquela questo, o resultado seria 60% a favor
e 40% contra.
Tais consideraes nos indicam algo debatido na comunidade analtica h
algumas dcadas, mas que ainda aguarda maior desenvolvimento, isto , a
necessidade de uma discusso a respeito dos recursos tcnicos que devem ser
priorizados nesta clnica, o que nos conduz indagao sobre a posio do
analista e suas possibilidades de interveno nesses casos. Evidentemente,
no preconizamos uma proposio tcnica universal, pois, como j ressalta-
do, a prtica analtica deve sempre se basear no encontro singular com cada
sujeito. Nossa inteno apenas considerar os efeitos de certas interven-
es em pacientes que, de algum modo, foram privados da iluso de serem
sujeitos. Apresentam-se, assim, sem face nem verso, sem avesso nem direi-
to, para usar uma expresso de Ciccone e Ferrant (2009, p. 48), ou melhor,
pode-se dizer que seu avesso no remete a algo que se passa no plano de uma
6
Uma interveno deste tipo se deu quando o paciente foi tomado por uma forte neces-
sidade de descobrir o motivo de uma pessoa de quem gostava ter faltado a um encontro de
trabalho sem avisar ou dar explicaes. O evento havia ocorrido meses antes, mas a intensa
reao afetiva surgiu ao mesmo tempo que o paciente comeava a se indagar sobre um possvel
abandono por parte de sua me na infncia. Quando o analista lhe apontou a provvel ligao
entre os dois eventos, o paciente no esboou nenhuma reao.
De_edipo_a_narciso.indd 33 25/08/2014 15:57:14
34 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
interioridade. A interpretao analtica clssica que convida o sujeito a se
responsabilizar pelo seu desejo no provoca o efeito esperado, pois ali no se
encontra, ainda, um sujeito desejante, no sentido comumente descrito pela
psicanlise.
Nestes termos, o trabalho analtico deve abrir espao para que uma nova
narrativa de si tenha lugar, permitindo que o paciente dela se aproprie,
criando a partir da novos sentidos. Seguindo Green (1974/1990), podemos
dizer que, para ser eficaz, o trabalho analtico com estes pacientes deve se
dar na superfcie, rente s associaes. As interpretaes profundas e com-
plexas, ou sistematicamente transferenciais, tm apenas poder de reforar a
clivagem. Outra interveno que nos fez pensar na importncia de irmos ao
encontro do paciente e falarmos sua lngua decorreu do que um dos ana-
listas da pesquisa considerou, em um primeiro momento, como um deslize
de sua parte.
Diante de uma fala do paciente que indicava uma aposta prazerosa em
si mesmo e no futuro, o analista deixou escapar uma constatao que em
princpio guardaria apenas para si mesmo e disse, com um misto de surpresa
e contentamento, quem te viu, quem te v!. O paciente ficou visivelmente
emocionado e agradeceu aquelas palavras, as quais repetiu em voz alta para
si mesmo em seguida. Neste momento, o analista percebeu que, para o pa-
ciente, que se define como algum que no sabe ler as emoes dos outros,
a funo do olhar tem uma importncia capital. Algo desta funo especular
deve passar pela relao analtica e pelo papel do olhar do analista que ates-
ta e reconhece sua existncia e seus movimentos. Aquele espao de fato o
primeiro lugar no qual pode falar e isso, por si s, produz efeitos positivos.
Temos observado nesses casos que, muitas vezes, trata-se de fazer mais
afirmaes do que perguntas, isto , de explicitar o surgimento de um desejo,
ao invs de buscar a interpretao do desejo que, em realidade, ainda no se
constituiu. Contudo, como j afirmamos, diante do vazio associativo, corre-
-se o risco de ficar apenas no plano explicativo, caindo na cilada da sugesto
e da resposta demanda inicial de adaptao ou de remoo dos sintomas.
Ao contrrio de uma visada educativa e comportamental, tais afirmaes te-
riam a funo de criar pontos de certeza em torno dos quais o paciente pode
construir algo, uma nova fico de si mesmo.
De_edipo_a_narciso.indd 34 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 35
Winnicott nos fornece uma ilustrao deste tipo de interveno atravs
de uma observao feita durante a anlise de Margaret Little. Segundo a pr-
pria Little (2002), um comentrio de Winnicott sobre sua me ser impre-
visvel, catica e criar o caos em torno dela foi uma espcie de revelao,
mais do que de uma interpretao analtica propriamente dita, permitindo-
-lhe compreender e integrar algo que j sabia, mas do qual no podia se apro-
priar. O objetivo dessa interveno, como lembra Roussillon (2005), no era
culpabilizar a me da paciente, designando-a como objeto mau, o que seria
analiticamente intil, alm de no ser pertinente. Seu objetivo era permi-
tir que Little no sentisse seu caos interno como o simples efeito de uma
pulso anrquica e desorganizadora (Roussillon, 2005, p. 75), restituindo
assim a perspectiva de uma dimenso objetal perdida na regresso narcsi-
ca confusional e abrindo para a possibilidade de uma apropriao subjetiva
desse vivido.
Ainda segundo Roussillon (2002, p. 56), com este tipo de interveno
o analista no interpreta o desejo do sujeito, ele reconstri a experincia
subjetiva no subjetivada que infiltra o presente perceptivo do sujeito, aju-
dando-o a estabelecer uma diferena entre o que lhe pertence e o que resulta
mais propriamente de seu ambiente inicial. Desse modo, atravs da explicita-
o das identificaes narcsicas primeiras, o espao analtico viabiliza a pos-
sibilidade de uma diferenciao dentro/fora, eu/no-eu, que nesses sujeitos
se apresenta de forma instvel. Com este tipo de paciente, contudo, um risco
recorrente, para o qual Freud sempre chamou ateno, o de, ao empatizar
com seu sofrimento, ao fazer o paciente entrar em contato com sua realida-
de psquica, sucumbirmos a uma vitimizao que em nada o ajudaria. Por
outro lado, acreditamos que tambm de nada adiantaria convidar o paciente
a se responsabilizar por seu desejo se este ainda no se encontra constitu-
do. Como afirma Pontalis (1991, p. 68), podemos conduzir nossos pacientes
rumo ao outro sentido, recalcado ou desconhecido, de uma vivncia. Mas
no podemos desqualificar o seu ser.
No caso de pacientes que experimentam um desencontro entre suas ne-
cessidades e as respostas do ambiente, nos parece necessrio que o trabalho
analtico viabilize o reconhecimento e a significao das emoes que eles
sentem, mas no conseguem nomear, para que um trabalho posterior seja
De_edipo_a_narciso.indd 35 25/08/2014 15:57:14
36 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
possvel. Para tanto, preciso escutar o sofrimento do paciente em todas as
suas formas de expresso. Como afirma Green (1979/1990), o inconsciente
se diz como pode e privilegiar apenas uma dimenso, seja ela representativa,
afetiva ou corporal, equivale a negar sua polissemia.
Concluso
A despeito da contribuio de vrios autores posteriores a Freud, os limites
entre interpretao e construo permanecem pouco claros. Pode-se consi-
derar, por exemplo, que uma construo, mesmo no comunicada, pode ser
levada em conta na interpretao, inclusive orientando-a (Bertrand, 2011,
p. 59). Neste artigo, nos propusemos a desviar a ateno para os sinais de
fragilidade dados pelos pacientes para pensar em que medida a ideia de
construo pode nos ser til diante das dificuldades no campo da associati-
vidade, que geram impasses para a rememorao e para o prprio estabele-
cimento da relao transferencial nos casos denominados como patologias
narcsico-identitrias.
Adotamos uma ideia de construo na qual a relao analtica permite
criar as condies para que fragmentos de impresses que no puderam se
inscrever, provavelmente devido a uma falha de sintonia nas trocas afetivas
precoces do sujeito com o meio ambiente, possam ser apropriados no sentido
de se organizar em uma narrativa. Neste sentido, o que comumente consi-
deramos uma falha de simbolizao deveria antes ser compreendido como
a persistncia, pouco ou quase nada modificada, de um estado de coisas que
exprime constantemente a situao de transbordamento, sem jamais nos dizer em
que ela consistiu (seria mais exato empregar o termo no plural: trata-se quase
sempre de feitos cumulativos) (Press, 2011, p. 186; grifos do autor).
Andrade e Herzog (2014), neste volume, lembram que, na concepo win-
nicottiana da interpretao, o importante no o contedo do que o analista
comunica, mas aquilo que, em sua comunicao, se oferece para ser modifi-
cado pelo paciente. Como afirmam as autoras, a direo do tratamento com
esses sujeitos no visa compreenso, mas possibilidade de compartilha-
rem a experincia de se surpreender com o que surge de forma criativa e
De_edipo_a_narciso.indd 36 25/08/2014 15:57:14
De dipo a Narciso: a tcnica em questo 37
irrefletida em anlise. Trata-se, acima de tudo, da parte do analista, de per-
mitir, ou melhor, de criar um espao para que a inveno de um si mesmo
tenha lugar.
Referncias bibliogrficas
Abella, A. (2011). La problmatique de la construction. In: Abella, A. & Manzano, J.
La construction en psychanalyse: rcuprer le pass ou le rinventer? Paris: PUF.
Bertrand, M. (2011). Construire, inventer, changer. In: Abella, A. & Manzano, J. La
construction en psychanalyse: rcuprer le pass ou le rinventer? Paris: PUF.
Ciccone, A. & Ferrant, A. (2009). Honte, culpabilit et traumatisme. Paris: Dunod.
Ehrenberg, A. (2010). La socit du malaise. Paris: Odile Jacob.
Freud, S. (1913). O interesse cientfico da psicanlise. In: Edio standard brasileira
das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XIII. Rio de Janeiro: Imago,
1974.
Freud, S. (1919). Linhas de progresso na terapia psicanaltica. In: Edio standard
brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XVII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
Freud, S. (1930). O mal-estar na civilizao. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1937). Construes em anlise. In: Edio standard brasileira das obras psi-
colgicas completas de Sigmund Freud, v. XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Gondar, J. (2010). As coisas nas palavras: Ferenczi e a linguagem. Caderno de Psican-
lise, Rio de Janeiro, v. 32, n. 23.
Green, A. (1974). Lanalyste, la symbolisation et labsence dans le cadre analytique.
In: Green, A. La folie prive. Paris: Gallimard, 1990.
Green, A. (1979). Le silence du psychanalyste. In: Green, A. La folie prive. Paris:
Gallimard, 1990.
Herzog, R. (2011). Os limites da representao psquica. In: Garcia, C. A. & Cardoso, M.
R. (Orgs.). Limites da clnica, clnica dos limites. Rio de Janeiro: Cia. de Freud / FAPERJ.
Little, M. (2002). Lorsque Winnicott travaille dans des zones o dominent les an-
goisses psychotiques un compte rendu personnel. In: Andr, J.& Thompson, C.
(dir.). Transfert et tats limites. Paris: PUF.
De_edipo_a_narciso.indd 37 25/08/2014 15:57:14
38 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Pontalis, J.-B. (1991). No, duas vezes no. In:Pontalis, J.-B. Perder de vista: da fanta-
sia de recuperao do objeto perdido. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Press, J. (2011). Linoubliable, limite de lanalysable. In: Abella, A. & Manzano, J. La
construction en psychanalyse: rcuprer le pass ou le rinventer? Paris: PUF.
Roussillon, R. (2002). Le transfert dlirant, lobjet et la reconstruction. In: Andr,
J.& Thompson, C. (dir.). Transfert et tats limites. Paris: PUF.
Roussillon, R. (2005). Prconditions de laire transitionnelle: la dconstruction du
narcissisme primaire. In: Duparc, F. (dir.). Winnicott en quatre squiggles. Paris: In
Press.
Scarfone, D. (2014). O Impassado, atualidade do inconsciente. Relatrio para o Con-
gresso dos Psicanalistas de Lngua Francesa. Montreal.
Schneider, M. (2002). Big Mother. Psychopathologie de la vie politique. Paris: Odile
Jacob.
Verztman, J.; Herzog, R.; Pinheiro, T. & Pacheco-Ferreira, F. (Orgs.) (2012). Sofri-
mentos narcsicos. Rio de Janeiro: Cia de Freud.
De_edipo_a_narciso.indd 38 25/08/2014 15:57:14
A pesquisa clnica em psicanlise na
Universidade1
Ren Roussillon
Estou muito contente de me encontrar de novo no Rio de Janeiro, porque h
o sol do Rio de Janeiro, h o ambiente do Rio e tambm pelas trocas com os
cariocas, que so sempre muito interessantes e proveitosas. E isso se iniciou
hoje cedo com dois estudos de casos que foram extremamente ricos para fa-
zer refletir acerca de aspectos de situaes clnicas nos quais eu no tinha
pensado anteriormente. A maneira de vocs de praticar a pesquisa e a tcni-
ca, moda brasileira, moda carioca, vai me permitir partir de volta para
a Frana com reflexes novas e muito material para continuar a pensar.
Eu gostaria de lhes apresentar determinado nmero de reflexes que sa-
ram de minha experincia e podem ser confrontadas com a experincia de
vocs, que diferente.
Mas gostaria de lhes dizer em primeiro lugar que penso que a escolha
desse tema centrado na questo da pesquisa me parece absolutamente
1
Palestra proferida em francs, em outubro de 2013, no evento Conferncias de Ren Rous-
sillon no Rio de Janeiro, organizado pelo NEPECC/UFRJ (Ncleo de Estudos em Psicanlise
e Clnica da Contemporaneidade) e pelo GPCPIA-IFF/FIOCRUZ (Grupo de Pesquisa Clnica
em Psicanlise da Infncia e da Adolescncia). Traduo para o portugus de Pedro Henrique
Bernardes Rondon (ABEPPS Associao Brasileira para o Estudo da Psicologia Psicanaltica
do Self).
De_edipo_a_narciso.indd 39 25/08/2014 15:57:14
40 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
fundamental: vai tornar-se uma das grandes questes do sculo XXI. uma
questo muito importante, uma vez que a clnica da relao psicanaltica
atacada com bastante frequncia em todo caso, na Europa; no sei o que
acontece no Brasil. Penso que a psicanlise se defende mal e que se defende
mal porque a questo da pesquisa clnica em psicanlise no foi suficiente-
mente colocada, assim como tambm no se colocou bastante a questo da
avaliao do trabalho psicanaltico. Portanto, centrar a reflexo na questo
da pesquisa realmente uma das atuais urgncias.
Pode-se dizer, para incio de conversa, que a pesquisa em clnica esbarra
em dificuldades que esto ligadas prpria estrutura do pensamento psica-
naltico. Por exemplo, o sujeito psicanalista freudiano, kleiniano, lacaniano,
mas ningum fsico bohriano, fsico einsteiniano, ou fsico newtoniano.
Isso quer dizer que as outras cincias conquistaram certa independncia em
relao aos grandes personagens fundadores, ao passo que o pensamento
psicanaltico persiste extremamente dependente da obra de determinados
personagens muito grandes, e possvel dizer que talvez, para fazer pesquisa
verdadeira, seja preciso ser freudiano, e kleiniano, e bioniano, ou seja, no
ser freudiano, nem kleiniano, nem lacaniano. Em outros termos, h uma
operao interior de assassinato, assassinato desses grandes personagens,
para conquistar o direito de pensar em conexo com as tradies deles e, ao
mesmo tempo, independentemente deles. Veremos que essa questo se en-
contra em quase todos os nveis da pesquisa.
Eu lhes dizia h pouco que as reflexes que vou propor provm de minha
experincia de pesquisador e de diretor de pesquisa na Universidade Lyon 2.
H uma particularidade na configurao francesa de Lyon 2 e, sem dvida,
em parte tambm na Europa; a de que ns s nos empenhamos em pesquisas
que, de sada, tiverem apoio prtico. Isso quer dizer que a maioria das pes-
quisas que vamos lanar se estabelecem porque h um clnico, h uma equipe
que vem nos dizer olhe bem, esbarramos em uma dificuldade clnica, ou
ento inventamos um dispositivo de cuidados particulares, mas temos von-
tade de refletir acerca desse dispositivo, examinar se ele to bom quanto a
gente pensa que seja, avali-lo, portanto, e talvez difundi-lo. Isso quer dizer
que estamos colocados na posio de s desenvolver pesquisas a partir de
questes de campo. Partimos de situaes clnicas que absolutamente no
De_edipo_a_narciso.indd 40 25/08/2014 15:57:14
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 41
so situaes clnicas fceis, correntes, standard, situaes clnicas que
propem problemas de enquadramento inteiramente particulares, de enqua-
dramento de cuidados, talvez mesmo problemas conceituais singulares, ou
ainda que impelem a inventar novas maneiras de trabalhar.
Vou lhes dar alguns exemplos para que possam fazer alguma ideia. Vo-
cs sabem que atualmente na Europa h uma grave crise econmica que se
traduz pelo fato de que h os SDF, sem domiclio fixo, pessoas que esto
e que vivem na rua. E que no apenas esto na rua, mas que tambm tm
muito medo de no estar mais na rua. Num primeiro momento, tendo esca-
pado esse pormenor, os diferentes intervenientes sociais abriram lugares de
acolhimento para que os SDF pudessem dormir e comer, e as prticas que se
desenvolveram, desenvolveram-se a partir desses lugares. As pessoas eram
acolhidas para sua autoconservao, e esperava-se que, a partir dessa base,
fosse ser possvel o incio de um acompanhamento clnico ou uma psicotera-
pia. Logo se deram conta de que essa estratgia no funcionava bem. Desde
que tinham comido, dormido um pouco, eles desapareciam, e os acompanha-
mentos que se tentava instituir resultavam em fracasso. Isso no funcionava,
ou funcionava realmente muito pouco. Portanto, foi preciso inventar alguma
coisa que se apoiasse em uma outra maneira de abordar o problema, porque,
se no h um bom dispositivo clnico, no h possibilidade de ajuda, e no h
pesquisa possvel. Criamos ento um dispositivo de aproximao gradativa.
Vocs vo compreender.
Suponhamos que se tenha notado um senhor que vive num cantinho de
calada, com uma panelinha para recolher um pouco de dinheiro e que com
regularidade est nesse local. A gente decidia ir l v-lo onde ele estava e lhe
propor nossos servios. As equipes passavam, paravam perto dele e diziam
ns podemos acompanh-lo, podemos nos ocupar de voc, podemos cuidar
de voc, podemos fazer com que algum cuide de voc, etc. E a equipe pas-
sava no dia seguinte... e no dia seguinte ele tinha desaparecido. Foi preciso
mudar, e foi da que nasceu a estratgia de gradativamente se tornar conhe-
cido e habitual.
Tornar-se habitual consiste, portanto, em descer da posio elevada, pr-
-se de joelhos, agachar-se, com o rosto no mesmo nvel que o homem que
est na calada e dizer-lhe: Bom dia, eu sou Ren Roussillon, hoje no est
De_edipo_a_narciso.indd 41 25/08/2014 15:57:14
42 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
calor... Bom, isso, at logo. Segundo dia: Bom dia, eu me chamo Ren
Roussillon. Ah, o tempo melhorou hoje. At logo. Terceiro dia: Bom dia,
voc est bem a nessa sua calada?. E depois, sua busca est dando certo?
Bom, tchau. Dez segundos, quinze segundos, trinta segundos, um minuto.
Quando no nos possvel passar por l, outra pessoa passa e diz: Bom dia,
venho lhe dizer bom dia da parte do Ren Roussillon.
Ao cabo de alguns meses h um incio de conversa, e nesse incio de con-
versa as pessoas vo dizer: eu me machuquei ali, fiquei estropiado na coxa,
um cachorro me mordeu. Elas no vo pedir ajuda, vo indicar que h um
ponto de sofrimento. E a partir da vai se formar um vnculo, um contato;
depois, um dispositivo de acolhimento. E pode durar trs, quatro, cinco, seis
meses antes que se chegue a esse ponto. Quando em seguida elas chegam ao
local de acolhimento, onde servem comida, onde podem descansar e dormir,
de incio pegam a mesa logo ao lado da porta. E se chegamos de pronto perto
delas, elas fogem de novo. Portanto, preciso avanar com precauo e, ao
fim de quinze dias, trs semanas, a mesa que escolhem fica um pouco mais
para dentro, e assim segue-se a linguagem de sua relao com o lugar, de sua
insero no local do acolhimento.
Vamos parar para pensar esses poucos dados.
Em primeiro lugar preciso ir ao domiclio, isto , ir ao local onde essas
pessoas esto, e no faz-las vir aos nossos lugares de acolhimento. Este
um primeiro princpio: quanto mais precria a situao em que as pessoas
esto, mais inseguras elas esto, e tanto menos podem deixar o lugar onde
se prendem, sendo necessrio que nos desloquemos at os lugares delas. E
se quisermos fazer uma pesquisa acerca de expatriao, sobre vida errante,
convm tomar essas medidas e ir ao lugar dessa vida errante. Aqui, se quise-
rem trabalhar com os moradores de favelas, preciso ir at l, ou pelo menos
chegar l perto.
Encontramos problemas semelhantes com os adolescentes que vivem na
periferia. Vocs podem imaginar: eles enfiam um capuz assim, se escondem,
caminham em grupos. Vocs os convidam a ir aos centros sociais, dois dias
depois a sede dos centros invadida e destruda. Vocs tentam sentar-se
frente a frente com eles, eles no ficam no lugar, eles se mexem. Vocs olham
para eles, eles ficam inteiramente perseguidos pelo seu olhar. Ento, o que
De_edipo_a_narciso.indd 42 25/08/2014 15:57:14
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 43
foi que a gente fez? O jeito foi no fazer com que fossem. Ns que vamos
aonde eles esto. Fomos at l onde eles estavam. No os fizemos sentar-se.
No os olhamos de frente, caminhamos ao lado deles. E nesse momento eles
se puseram a falar de coisas que no contam e no discutem quando os rece-
bemos em um escritrio com uma poltrona, etc.
Se vocs querem trabalhar com adolescentes dessas periferias, preciso
levar em conta todas essas dimenses, ento ir ao domiclio, l onde eles es-
to, mesmo que seja um canto de calada, e depois levar em conta a dimenso
corporal. Ser que eles suportam ser imobilizados? Ser que no se deve fazer
clnica caminhando? Que linguagem preciso falar? Ser que no preciso
falar uma linguagem mimo-gesto-postural? Se eu olho para algum que est
sentado no cho, e se o olho assim, de cima, completamente diferente de
falar com ele no mesmo nvel visual, e isso uma linguagem da postura.
Quando estou assim (de cima), sou o psiclogo que sabe, sou o psiclogo que
vai dizer para ele como fazer as coisas. Se eu estou assim (no mesmo nvel
visual), sou um humano com outro humano, e estamos no mesmo plano.
Quanto a ele, est em um estado de enorme precariedade. Se olho para ele
assim, de cima, eu o esmago.
Isso parece completamente estpido, mas fundamental se queremos
pr de p um dispositivo clnico. Portanto, vocs veem o que eu tentava lhes
dizer com esses poucos exemplos, para fazer vocs sentirem o tipo de tra-
balho que vamos fazer na pesquisa clnica. As pessoas chegam dizendo-nos a
gente no sabe como lidar com esses sem-teto. H cada vez mais sem-teto,
e no vamos conseguir cuidar deles, no podemos ocupar-nos deles, eles vo
mal. E se no nos ocuparmos deles, eles vo acabar morrendo. Um ltimo
exemplo sobre os sem-teto que acabo de abordar: exatamente na semana an-
terior a esta em que vim aqui, havia em Saint tienne, cidadezinha perto de
Lyon, um sem-teto que caminhava nos trilhos da estrada de ferro. Ele podia
caminhar 10 km, 20 km por dia e depois, em seguida, voltava no sentido
oposto, e o psiclogo que me falava sobre isso me disse: o que ser que po-
deremos fazer?. E eu ento lhe disse: Pois bem, voc pode se colocar ao lado
dele e caminhar com ele. Voc no precisa falar, voc j est ao lado dele.
Outro exemplo ainda: com as crianas autistas. Voc est numa sala
com essa criana, h brinquedos espalhados por toda parte, voc bem tinha
De_edipo_a_narciso.indd 43 25/08/2014 15:57:14
44 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
previsto tudo, mas ela est com a cara metida na vidraa da janela. Isso talvez
vocs no conheam no Rio, mas na Frana faz frio, e quando voc sopra nas
vidraas frias esse bafo forma um embaado, faz coisas assim. E a criana faz
assim (sopra). Ento o que que a gente faz? Dissemos psicloga: tente
colocar-se ao lado dela e faa a mesma coisa. Ento a criana sopra, a psic-
loga sopra tambm. A criana olha-a, sopra, a psicloga sopra e olha para a
criana. A tambm estamos em domiclio, estamos no mundo dela. Esta-
mos em paralelo e somos um duplo. Lado a lado. No pegamos a criana para
encar-la olho no olho, mas sim buscamos criar uma linguagem. Ela sopra
duas vezes, a gente sopra duas vezes e, ao fim de duas semanas, de trs sema-
nas, isso comea a adquirir o valor de uma linguagem e, quando a gente faz
isso durante certo tempo, a gente percebe que pode entrar em comunicao
com crianas autistas se formos capazes de falar a linguagem dela.
Ento, a primeira das questes a propsito de qualquer pesquisa: inte-
ressante fazer pesquisa sobre aquilo que no funciona. preciso no esque-
cer nunca que a gente faz uma pesquisa sobre um fracasso, e as pesquisas so-
bre os fracassos nos ensinam o que preciso no fazer. , entretanto, muito
mais interessante lanar uma pesquisa acerca daquilo que funciona. No h
uma boa pesquisa se no houver uma boa clnica. Ento vocs vo me dizer:
E isso uma pesquisa?. Ento a est outra posio que temos em Lyon 2, e
consiste em dizer: no existe prtica sem pesquisa.
O processo do cuidar um processo de pesquisa. Se quisermos, podemos
utilizar um termo que Winnicott usava e que eu acho formidvel: ele fala
de explorao psicanaltica. Gosto mais da ideia de uma explorao do que
de uma ideia de pesquisa. Porque na ideia de uma pesquisa parece que no
sabemos o que vamos encontrar, mas sabemos o que que estamos procu-
rando. Ento, na ideia de explorao, a gente explora, mas no sabe o que
vai encontrar. A gente no procura como se diz Voc no me procuraria se
j no tivesse me encontrado. Na pesquisa, ento, de certa maneira o resul-
tado j est dado no incio. E isso constitui um fraco nvel de criatividade.
Pois a explorao tambm uma atitude interior, consiste em ir em direo
aos pacientes e aceitar aprender coisas que eles, sim, sabem (sem mesmo
saberem que o sabem), que eles vivem, mas que ns, ns aceitamos aprender
a partir deles, escutando-os com o mtodo da associao. Isso uma atitude
De_edipo_a_narciso.indd 44 25/08/2014 15:57:14
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 45
inteiramente essencial, creio eu, para termos determinado tipo de material
clnico. H tambm outra caracterstica nessas exploraes: no existe prtica
clnica que no seja uma prtica de pesquisa.
Quando a gente se forma, forma-se em anlise de processos psquicos. A
gente aprende o que recalcamento, aprende o que clivagem, o que des-
locamento, o que sexualizao, pulso, a gente aprende ento os conceitos
com os quais as pessoas vo de certa maneira transformar sua experincia.
Porm, quando encontramos um senhor, no encontramos o recalcamento,
encontramos um senhor que est em uma estratgia de vida, uma estratgia
de pulso, uma estratgia de terror, e isso no recalcamento, a vida dele.
E na vida ele utiliza o recalcamento. Isto quer dizer que est certo ter o con-
ceito de recalcamento, mas o que conta a vida desse cavalheiro ou daquela
senhora. E isso singular. De que maneira ele transformou sua experincia,
como sua vida se tramou de maneira particular, isso algo absolutamente
nico. No h dois que sejam iguais. Portanto, a gente faz pesquisa o tempo
todo sobre esse sujeito singular, particular. A prtica clnica uma prtica de
pesquisa sobre um objeto nico. No se pode no ter uma atitude de pesquisa-
dor porque, mesmo que a gente encontre recalcamento, clivagem ou coisas
que so bem conhecidas, o que a gente no sabe o que esse cavalheiro vai fa-
zer em particular, como ele vai criar alguma coisa que lhe seja prpria, como
ele vai dar sentido a alguma coisa de sua histria; e isso, sua maneira de dar
sentido, seu trabalho de criao prpria.
Penso, portanto, que a gente no pode no fazer pesquisa. Toda prtica
clnica uma prtica de pesquisa. E quando no uma prtica de pesquisa,
uma prtica de atribuio. Se eu digo de uma paciente que essa uma pacien-
te histrica, a eu a enfiei em um modelo, no encontrei a pessoa, eu nada sei
dela e, a partir do momento em que a cataloguei, seguramente perdi a opor-
tunidade e deixei passar alguma coisa. A est algo que para ns um postu-
lado absolutamente essencial, a clnica, para isso que a gente trabalha com
os clnicos, as prticas clnicas so prticas de pesquisa. E o que a gente pode
oferecer na universidade no fazer pesquisa, porque ela j a faz: ajud-la
a formalizar sua pesquisa. Essa a coisa mal compreendida. O que de maneira
geral chamamos de pesquisa apenas a formalizao da pesquisa, e o que
chamamos de prtica clnica o lugar da pesquisa. Simplesmente, no o
De_edipo_a_narciso.indd 45 25/08/2014 15:57:14
46 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
lugar de uma pesquisa formalizada. Ento, ns, nosso trabalho a partir disso,
vai ser o de ajudar na formalizao das pesquisas dos clnicos. pensar tam-
bm que tudo o que eles descobriram, que puderam inventar em sua prtica
clnica, preciso lhes oferecer um lugar para que eles possam vir a empreen-
der uma reflexo, para que possam vir a pensar, formalizar e transmitir.
O problema que a gente vai encontrar em seguida , portanto, um pro-
blema de formalizao. O problema de formalizao tem dois aspectos. Um
primeiro aspecto diz respeito ao mtodo: o material que temos e sobre o qual
refletimos, o material clnico, como vamos organiz-lo para que ele seja utili-
zvel? Com que regras metodolgicas vamos utiliz-lo?
H depois uma segunda questo: com que mtodo vamos tentar forma-
liz-lo? Quando a gente se preocupa com mtodo, diferentes aspectos vo
aparecer. O mtodo j um dispositivo, por exemplo o mtodo psicanaltico
consiste em dizer ao paciente deite-se no div, o analista se senta atrs e
formula aquilo que chamamos de regra fundamental, a regra da associao
livre: diga tudo o que lhe vier cabea, assim como lhe venha cabea, sem
censura, etc. A, ento, a gente tem o mtodo psicanaltico clssico, a gen-
te define o que vai ser material, so as associaes verbais do paciente, e
quando a gente faz uma superviso, as pessoas chegam e dizem o paciente
disse isso, disse aquilo, disse isso, disse aquilo, disse isso, disse aquilo. Elas
no dizem ele disse isso e coou a cabea, elas no dizem ele disse isso
[snif-snif] e fungou duas vezes. Elas no dizem ele disse isso e esfregou o
ombro. A gente escuta, mas no v mais o paciente e eu diria a postura
dele, a mmica, o gestual quando fala. Isso significa que temos uma teoria da
associatividade que inteiramente restrita.
Vocs no podem no compreender todos os problemas que evoquei an-
teriormente, os problemas cotidianos de clnica. Ou ento vocs vo ter uma
atitude muito negativa a propsito do material. Quando o adolescente se le-
vanta de sua cadeira, a gente vai dizer que ele passa ao ato, ele foge, ele des-
carrega... tudo o que negativo. A gente no inclui o elemento de motrici-
dade em ato no interior de uma associatividade. Ento vocs compreendem
que o primeiro trabalho que se vai fazer a propsito dos mtodos, se a gente
guarda a ideia da associatividade como mtodo fundamental da psicanlise,
e da clnica psicanaltica, comear a refletir e a pensar um pouco mais sobre
De_edipo_a_narciso.indd 46 25/08/2014 15:57:14
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 47
o mtodo e saber se a associatividade unicamente a associatividade verbal
todos os terapeutas de crianas que esto aqui na sala sabem bem que no
assim. As crianas chegam, pegam um cubo, brincam, ou se levantam, se
mexem, vo fazer xixi, voltam. Isto , existe uma associatividade que levada
em conta nesse momento, ento a gente presta ateno quando uma criana
sai para fazer pipi e volta, e hoje ela quer desenhar, e desenha alguma coisa,
a gente no s escuta o que a criana diz, a gente tambm olha o que ela faz.
A gente se pe a escutar no somente com nossos ouvidos, mas tambm com
nossos olhos, a gente escuta com nosso corpo, a gente escuta com nossa pos-
tura, a gente escuta a postura dela com nossa postura.
Vocs tm uma criana autista numa oficina de histria, a histria a
dos trs porquinhos; a casa do segundo porquinho, aquele que fez uma casa
de madeira, cai, a criana autista escorrega, e cai. Eu no ouvi nada, ela no
disse nada. Ou eu vejo e considero que uma linguagem que aparece. Nesse
momento a estou diante da questo seguinte, a da necessidade de uma teo-
ria, portanto, do mtodo clnico, da associatividade polimrfica. A expressi-
vidade humana so as palavras, as mmicas, o gestual, posturas, emoes, e
tudo isso junto. Ento no simplesmente estou te escutando, eu recebo
todos os modos de comunicao que voc dirige a mim. Ento, vocs veem
tambm as consequncias: h pacientes que talvez tenham necessidade de
uma expressividade corporal. porque eles tm necessidade de olhar para
vocs, de ver vocs, porque no suportam a ausncia, porque tm necessida-
de de lhes dirigir uma mensagem: estou no telefone. Quanto a mim, eu sei
o que um telefone, mas eles esto no telefone desse jeito a. Fazem o gesto,
e depois, quando desligam o telefone, quando a conversa ao telefone termi-
nou, eles fazem o gesto de colocar o fone no gancho, no lhes basta se fazer
ouvir, eles precisam mostrar alguma coisa.
Portanto, primeira orientao, o trabalho acerca do mtodo, e se a gente
quer fazer pesquisa clnica necessria uma extenso da compreenso do
mtodo clnico. Vocs veem, uma pesquisa imensa. Como que a gente
associa palavras, mmicas, gestuais, posturas, emoes? Como que a gente
associa isso de maneira harmoniosa, de maneira no harmoniosa, e eu con-
to a vocs coisas horrveis com um ar inteiramente ausente. Eu digo a vo-
cs alguma coisa com minhas palavras, o que lhes digo com minhas palavras
De_edipo_a_narciso.indd 47 25/08/2014 15:57:14
48 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
constitui alguma coisa que um horror, mas com meu rosto eu lhes digo tudo
isso que escorrega por baixo. Eu s posso escutar uma parte da mensagem.
O material clnico que tenho para explorar bem a articulao de todas essas
maneiras de exprimir a vida psquica.
Portanto, a pesquisa clnica dever fazer uma pesquisa sobre o prprio
mtodo da pesquisa. O que que se passa se eu digo ao paciente deite-se
no div, no estou olhando para voc? O que que acontece se digo ao pa-
ciente sente-se, vou olhar para voc, mas voc no se mexa? E o que que
vai acontecer se lhe digo faa o que voc quiser, e vamos tentar entrar em
comunicao desse jeito? A voc pode se mexer, pode se esconder, pode
ver... Tenho uma paciente borderline que fez uma coisa terrvel para ela, fez
um aborto e o produto do abortamento estava em cima da mesa; os atenden-
tes saram da sala, ela pegou um bisturi e o cortou em pedacinhos pequenos.
Isso um horror. Ela estava deitada no div, no podia dizer absolutamente
nada sobre isso. Ento se levantou, foi at a outra extremidade da sala, se
escondeu num canto e, medida que comeou a me contar, ela pde voltar e,
quando a sesso ia terminar, estava novamente deitada no div. Ora, vejam
toda a complexidade dessa cena. preciso levar em conta todo o espao do
cuidar. Mas se tenho um mtodo que probe de se mexer no div, ela vai ficar
deitada, ela no vai conseguir dizer nada e depois vai comear a ter eczemas
no corpo, ter umas ziquiziras vermelhas esquisitas pela pele toda porque no
conseguiu exprimir alguma coisa que viveu.
Ento vocs compreendem a importncia dessa questo. Quando olha-
mos o conjunto da literatura psicanaltica, o mtodo da associao livre o
mtodo fundamental, mas no encontramos nenhuma pesquisa sobre a as-
sociao. H tempos a gente j deveria ter um primeiro modelo da associao
livre nas sesses. Um primeiro modelo das caractersticas do recalcamento,
talvez mesmo um segundo modelo das caractersticas da clivagem e um ter-
ceiro modelo das caractersticas da supresso emocional. E isso existe? Bem,
no. Eis a um problema, a gente utiliza um mtodo fundamental, e no h
pesquisa sobre o mtodo.
Segundo exemplo: um grande modelo tambm o trabalho a partir do
jogo, porque todas as psicoterapias de criana e sabe Deus que um terri-
trio importante e o psicodrama dos adolescentes comportam o jogo. As
De_edipo_a_narciso.indd 48 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 49
terapias que utilizam intermediaes tambm comportam essa dimenso do
jogo com o meio. A gente pode utilizar a ideia do jogo por analogia. Pode-se
ter a impresso de que o sujeito com quem a gente conversa est se esconden-
do, se mostrando, se escondendo, se mostrando, se escondendo, se mostran-
do isto , ele brinca de esconde-esconde. Ento, nesse caso a, no se trata
realmente de que ele esteja brincando de esconde-esconde, por analogia
que a gente diz: isso parece uma brincadeira de esconde-esconde. A gente
tambm no diz que um paciente joga suas palavras, mas ele diz alguma coisa
como se colocasse muito longe os pensamentos que tinha, como se expulsas-
se esses pensamentos, como o jogo que Winnicott faz com a menininha que
o jogo da esptula em que ela joga a esptula, ele entrega a esptula, ela joga
a esptula, ele lha entrega.
Ento, vocs veem, esse modelo, esse modelo da associatividade, um
modelo de escuta. O modelo do jogo um modelo no somente de escuta,
mas tambm de interao. Se a gente quiser pensar como as coisas trans-
correm na relao de cuidar, o modelo do jogo interessante. interessante
porque permite passar a um modelo de jogo intersubjetivo muito til para
pensar a clnica no do sujeito, mas do sujeito no encontro clnico. Vocs
compreendem bem que conforme a maneira pela qual jogo com o outro, ou
que no jogo, vai poder desenvolver-se, ou no, vai poder desenvolver-se todo
um material. Ento, quando se reflete sobre o mtodo com o qual a gente re-
colhe dados, a gente no pode refletir como se estivesse com um microscpio
estudando um objeto inteiramente estranho, todo o nosso material clnico
material clnico do encontro, com as particularidades do encontro. Portan-
to, precisamos de uma teoria do encontro clnico, mas tambm do encontro
clnico com um sem-teto, com uma adolescente anorxica, com um autista,
com um sujeito antissocial, porque todo o material que temos acerca dessas
problemticas clnicas depende desse encontro.
Ento, vocs comeam a ver como a gente vai formalizar. A gente vai
formalizar tentando analisar todo o mtodo clnico, a prtica clnica qual
a gente se entrega. No considero que tenha material clnico, olho os por-
menores de como o material clnico foi produzido, isso que eu chamo de
uma escuta acerca do que o sujeito dizia. Essa escuta comportava tambm
que eram levados em conta a postura do sujeito, suas mmicas, seu gestual,
De_edipo_a_narciso.indd 49 25/08/2014 15:57:15
50 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
minha postura, meu gestual, e que eu podia trazer o material independente
do que eu disse e do que eu no disse. Vocs chegam de repente numa super-
viso, h algum que lhes diz: o paciente disse isso, eu lhe dou trs sesses.
Ao fim de quatro anos de anlise, voc tem trs sesses, como se as sesses
fossem independentes de tudo o que aconteceu anteriormente, de toda a ma-
neira de como o analista interveio, no interveio, se o clnico compreendeu
ou no compreendeu. Ora, a gente sabe bem que a maneira pela qual as pes-
soas trabalham favorece ou no esse tipo de material.
Vou lhes contar uma historieta. Em 1997 Haide Faimberg, psicanalista
francesa vice-presidente de pesquisa em psicanlise na ocasio, disse: Os
psicanalistas do mundo inteiro se conhecem mal, preciso que a gente lhes
ensine a se conhecer, ento a gente vai passar em revista diferentes psican-
lises de diferentes pases. A gente comea pela Frana, ela seleciona trs psi-
canalistas para falar da psicanlise francesa, Andr Green, Jean Laplanche,
Ren Roussillon. Quanto a mim, eu estava no papel do mais moo, portanto
no papel daquele que estava l para expor a clnica, aquele que corre os riscos,
algo assim. Laplanche desenvolveu estratagemas acerca do conceito psica-
naltico de a posteriori, inventou o termo afterwordness. Green diz: bem, vou
trabalhar acerca da concepo do tempo clat e, quanto a mim, eu tinha
material clnico.
Quando me pediram que interviesse, peguei o material da primeira pa-
ciente que iria atender no dia seguinte. Ento escuto minha paciente e obser-
vo tudo, tudo, tudo, tudo, muito bem. A gente no pode observar tudo, mas
observo tudo o que posso. Esta paciente relata um sonho e nele seu marido
estava com uma mulher que se chamava Dominique. Disse ter acordado mui-
to, muito furiosa com seu marido. E ento me disse, mas isso, em portugus,
eu no sei como vai soar: Dominique, nique, nique. Em francs, niquer quer
dizer transar. Essa a cano de uma freirinha que cantava Dominique ni-
que, nique e se chamava Irm Sorriso. Ento eu contei esse material e o
trabalho que fiz com ele.
Os ingleses caram de pau. E disseram mas vocs, franceses, a gente no
sabe como vocs fazem, vocs sempre tm alguma coisa sexual nos seus tra-
tamentos. E eu retruquei: E vocs, no?. Eles me respondem: De fato,
muito raramente. E a gente ento discute, e o que aparece na discusso
De_edipo_a_narciso.indd 50 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 51
que, com a tcnica kleiniana, que consiste em referir tudo o que acontece
ao que se passa entre analista e paciente, se voc traz material sexual, isso
vai ser imediatamente referido relao com o analista. Portanto, o mate-
rial sexual deixado de lado por eles porque seria literalmente considerado
como uma provocao sexual do analista. Na Frana, onde no h a prtica
de referir o tempo todo o que se diz relao com o analista, os pacientes
podem falar de sua sexualidade, porque no se vai dizer paciente Ren,
nique, nique.
Portanto, o mtodo de interpretao intervm sobre o material que se
desenvolve ou que no se desenvolve, no se pode eliminar isso da pesquisa
e, claro, determinados mtodos autorizam certos tipos de materiais, ou-
tros mtodos no o autorizam. H um princpio que a gente pode formular
e que foi formulado por um psicanalista antroplogo que se chama George
Devereux. O que Devereux diz o observado observa o observador. O que
quer dizer que o analisando analisa o analista. Em outras palavras, os pacien-
tes regulam o que dizem sobre a anlise de acordo com a maneira pela qual
intervimos.
Dois exemplos: um primeiro, absolutamente inimaginvel. Depois da Se-
gunda Guerra Mundial, uma multido de pessoas que eram judias entraram
em anlise e, no incio, falaram um pouco da Shoah. Como os analistas no
diziam nada da Shoah, elas pararam de falar da Shoah e fizeram suas anli-
ses mantendo fora da anlise toda uma parte de suas vidas. Em 1985, no
Congresso de Berlim, houve algo que se produziu sob a presso de uma judia
que se chamava Janine Chasseguet, que era ento vice-presidente da IPA; ela
disse: Vocs sabem, terrvel o que aconteceu nos campos de concentra-
o. Isso teve grandes consequncias sobre as pessoas que estavam presen-
tes, consequncias de ordem psicolgica, e especialmente sobre os filhos de
pessoas que tinham estado l [nos campos de concentrao]. Enfim algum
dizia alguma coisa evidente, mas na poca era tudo fantasia. As projees
do sujeito, a castrao, a cena primria, mas com a Shoah ningum sabia o
que fazer. Em 1985, em Lyon, e um pouco em toda parte, a gente fazia os pri-
meiros trabalhos sobre o trauma. Ento, o que foi que aconteceu? Houve uma
multido de judeus que voltaram ao div e que se puseram a falar daquilo que
tinham deixado de lado em sua primeira anlise.
De_edipo_a_narciso.indd 51 25/08/2014 15:57:15
52 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Ento vocs compreendem bem que quando se pretende fazer pesquisa
clnica preciso incluir a escuta do clnico. Vocs compreendem por que
complicada a pesquisa clnica. Quando vocs olham as bactrias ao micros-
cpio, descrevem o microscpio, sempre o mesmo. O nosso microscpio
muda com o passar do tempo e conforme os clnicos, aqueles que so espe-
cializados no sexual, especializados na funo alfa, enfim... Vocs compre-
endem por que eu dizia ainda agora: se a gente freudiano, a gente mais
psicanalista; se a gente kleiniano, a gente mais psicanalista; se a gente
lacaniano, a gente mais psicanalista. como se tivssemos um microscpio
que est pronto para olhar, para ver tudo o que est l para ser visto. E tam-
bm para escutar.
Vou lhes contar uma outra historieta. Vejo chegar um senhor, idoso, e fico
sabendo que ele tem um histrico de quarenta anos de anlise. Ele veio me
ver dizendo que sou sua derradeira oportunidade, pois acaba de constatar
que o sintoma pelo qual tinha comeado todas as suas anlises, quarenta
anos de psicanlise, no tinha absolutamente se mexido durante todo esse
tempo. Ento digo a esse senhor: Bom, eu quero tentar. E a gente tenta. Ele
comea me dizendo que era inventor e que seu trabalho era inventar sistemas
para manter tubos ligados. Um tubo aqui, um tubo l; como a gente faz para
mant-los juntos? Ele explica como habitualmente se faz e em seguida me
explica que isso vale determinado preo na SNCF2, entre os encanadores, etc.
Todas as vezes que preciso juntar um tubo com outro, isso custa tal preo.
Eu me pergunto por que ele est me contando tudo isso. E me digo: se
estivesse falando da Shoah, eu compreendia, mas os tubos com cerflex, o
que que a gente faz com isso no plano psicanaltico? Especialmente por-
que depois ele me explica que tinha tido uma ideia. Ele tinha comprado
tal mquina na Alemanha, tinha comprado tal tipo de material na China,
ia fazer trabalhar o material vindo da China numa fbrica que se encon-
tra na Alscia... e me conta que essa fbrica torcia os fios de tal maneira
e ele tinha diversos fios um ao lado do outro, e como, com esse material,
encontrou um meio novo de prender dois tubos juntos, fazendo com que
2
Socit nationale des chemins de fer franais empresa pblica francesa que trabalha com
transportes ferrovirios (N. do T.)
De_edipo_a_narciso.indd 52 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 53
ficassem seis vezes menos pesados do que o sistema existente e que vai
custar quatro vezes menos.
Nesse ponto comeo a compreender por que ele fez quarenta anos de an-
lise. Porque o que que a gente faz com isso num plano psicanaltico? uma
questo de escuta. Ele explica que seu primeiro psicanalista lhe dissera que
h um tubo pai, um tubo me e que ele queria juntar o tubo pai e o tubo
me. Outro psicanalista lhe disse: o senhor tem medo de que lhe cortem seu
tubo, portanto preciso prend-lo com muita fora. E isso no mudou nada.
Felizmente, alis, porque ele inventou, fez fortuna inventando objetos extra-
ordinrios. Ento, tratei de calar a boca, fiquei em silncio. Eu o escutei e me
disse: mas o que isso que ele est me contando, est falando de qu? Ento
eu disse: a mquina l, na Alemanha, por que o senhor vai Alemanha?
E falamos da Alemanha e da recuperao, da recup, como ele dizia. Ele
chama assim o trabalho de recuperar mquinas que no servem mais para
nada. E compreendi que ele era especialista em recup. A vida inteira ele tinha
procurado recuperar coisas que no serviam para nada para fazer delas coisas
que serviam para alguma coisa. E me dei conta de que ele era especializado
num tipo de jogo particular, o jogo de recup. Em seguida me interessei em
saber por que esse material vinha da China e por que se torcia desse jeito o
material; fiquei sabendo que, quando se torcia o material que vinha l de lon-
ge, ele suportava muito mais presso com um dimetro bem menor. (Espero
que isso no os esteja chateando demais). Mas bem isso, porque vocs veem
um pouco de que se tratava... com que jogo a gente se defrontava.
Passados seis meses eu havia compreendido que ele tinha um ambiente
primeiro rgido: desse jeito, no de outro. Um pai que dizia preciso, e
quando tinha dito preciso no se podia mudar nada. Ele vivia num am-
biente que no se transformava. E a jogada fundamental de sua vida, para po-
der tornar-se criativo, foi como seria possvel recuperar-se na recup, como a
gente pode se recuperar de um ambiente como esse, rgido, mas que de qual-
quer modo o tinha ajudado a se manter; como recuperar um material assim
para chegar a torn-lo mais malevel? De que maneira seria possvel tornar
esse ambiente menos pesado? E comecei ento a compreender por que ele me
falava de suas invenes. Ento abri meu ouvido a um sentido possvel desse
material, porque eu tinha compreendido que os analistas anteriores tinham,
De_edipo_a_narciso.indd 53 25/08/2014 15:57:15
54 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
de sada, chapado um sentido pronto acerca desses tubos que se cortam, etc...
sem escut-lo. Pois escutavam a teoria, a cena primria, a castrao, e a partir
de tudo isso os anos de anlise tinham-se sucedido e nada essencial e subs-
tancial tinha acontecido.
Ento vocs veem que a pesquisa tambm como o material tinha sido
escutado e que hipteses havia, que modelos estavam subjacentes escuta.
Ento, agora que j falamos da questo do mtodo, preciso falar da questo
dos modelos, que tambm uma questo bastante fundamental.
Portanto, a gente formaliza uma pesquisa, descreve o mtodo e os mode-
los. E a gente pode enfrentar uma escolha do modelo, que modelo vou esco-
lher? E qual o valor do modelo que escolho? Isso pressupe que os modelos
sejam avaliados. No h nenhuma avaliao dos modelos em psicanlise. Vol-
tamos questo que eu evocava ainda agora: ser que o modelo lacaniano
funciona? Ser que o modelo kleiniano funciona? Ser que o modelo freu-
diano funciona? O que que funciona no modelo kleiniano? O que que
funciona no modelo freudiano? Vocs compreendem que estamos numa situ-
ao em que transmitimos modelos; esses modelos no so necessariamente
compatveis entre si, mas coexistem e no so avaliados nunca. Isso coloca
problemas quando voc quer fazer pesquisa e a formalizao da pesquisa. Se
pudssemos ter pesquisas que dizem, por exemplo, para trabalhar problem-
ticas de autismo, ento os modelos kleinianos so os melhores, poderamos
eventualmente dizer: busco tal metodologia com tal modelo porque tenho a
avaliao de que esse modelo o melhor. Mas no assim que as coisas se
passam. Os kleinianos utilizam modelos kleinianos, os freudianos utilizam
modelos freudianos, os lacanianos utilizam modelos lacanianos. Sem que os
modelos tenham sido avaliados.
Ento ns, na nossa clnica em Lyon, onde no somos kleinianos, nem
freudianos, nem lacanianos, bionianos, nem nada disso, mas conhecemos os
modelos de qualquer maneira porque somos universitrios bem formados,
tentamos aquele que funcione melhor e tentamos fazer uma avaliao pelo
fato de que o modelo d inteligibilidade e no d inteligibilidade. O modelo
produz mudanas na prtica ou no produz mudanas na prtica. H um pe-
queno dilogo assim, muito interessante, que vocs tm no livro de Marion
Milner que, em francs, se chama La folie refoule des gens normaux [A loucura
De_edipo_a_narciso.indd 54 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 55
suprimida do homem so]. Num dos artigos, ela conta ( um artigo escrito em
homenagem a Mlanie Klein) o tratamento de uma criana que foi supervi-
sionado por Mlanie Klein.
Era um garoto terrvel. Ele pe fogo nas coisas durante as sesses, pega os
soldadinhos de chumbo e os derrete, pega os desenhos e pe fogo neles e
Marion Milner no sabe o que fazer. Ento ela fala sobre isso regularmente
com Mlanie Klein e esta lhe diz: Interprete a destrutividade desse garoto.
Marion Milner, que estava em formao, interpreta a destrutividade do garo-
to, e o garoto continua. E Mlanie Klein lhe diz: repita a interpretao. E a
interpretao... e o garoto continua. Alm disso, ele se torna tirnico. Ento
Mlanie Klein lhe diz: Interprete a destrutividade e a tirania do garoto. E
isso segue desse jeito durante dois anos. Um dia, ela encontra Winnicott. Ela
lhe diz: Caramba, estou com um garoto e no sei o que fazer. Winnicott
diz simplesmente: Se voc quer integrar um soldado de chumbo, preci-
so fundi-lo. Ele poderia ter dito: Se voc quer digerir uma ma, preciso
mastig-la, isto : ele no teria interpretado a vontade de morder, mas a in-
viabilidade de morder e mastigar para digerir, sendo o objetivo digerir. Ento
Marion Milner diz: Essa uma ideia. Ela ainda no tinha tentado isso.
E ento ela tenta, vai s sesses com isso na cabea e diz uma coisinha
assim ao garoto que continuava a pr fogo. E o garoto para, para de pr fogo,
para de ser tirnico. Ento depois interessante, mas Marion Milner conta
tudo isso, e volta a ver Mlanie Klein. Esta lhe diz: uma ideia muito, muito
boa, mas voc deveria ter interpretado mais a destrutividade. Assim, vocs
veem, de qualquer maneira isso alguma coisa muito interessante. Se Mla-
nie Klein tivesse podido no ser kleiniana, penso que ela teria compreendi-
do alguma coisa desse tratamento. Talvez tivssemos podido ter o exemplo
complementar e inverso com um tratamento supervisionado por Winnicott
com uma pequena frase de Mlanie Klein. O que quero dizer que a a gente
tem a avaliao de um modelo. O modelo centrado na interpretao sistem-
tica da destrutividade no funciona. O modelo que inclui a destrutividade no
processo de integrao funciona. A avaliao pela clnica: o que que funcio-
na, o que que no funciona.
Tenho ento uma oportunidade extraordinria, que tenho em vinte
anos sete a oito seminrios centrados em tratamentos psicanalticos que
De_edipo_a_narciso.indd 55 25/08/2014 15:57:15
56 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
no funcionam. Portanto, trabalhamos quase duzentos, duzentos e cin-
quenta tratamentos nesses vinte anos. A gente trabalha trs dias a cada
ms. E a gente trabalha com um protocolo do qual no vou lhes falar, por-
que isso nos tomaria tempo demais, mas um protoloco em que tomamos
o tratamento tal como ele , e tentamos compreender por que um fracas-
so. So analistas bem formados, todos, impecveis, portanto, a nica coisa
que problema , de algum modo, seu modelo de compreenso daquilo que
se passa.
A gente se deu conta de que determinados modelos de compreenso no
combinam absolutamente com determinados tipos de situaes. E o meu tra-
balho tentar encontrar que modelo corresponderia a tal paciente. Trata-se
de pequenos grupos de sete pessoas, e passamos duas horas, quatro horas,
seis horas, oito horas se for preciso para discutir o fracasso, mas no oito
horas seguidas duas horas, um ms depois outras duas horas, um ms mais
tarde duas horas, enquanto o tratamento no tenha ficado desbloqueado. A
a gente tem quase 100% de tratamentos desbloqueados. Algumas vezes isso
levou tempo, mas quando h o desbloqueio, a gente tenta compreender o
que possibilitou isso. A gente tenta compreender o que estava emperrando as
escutas e quais os modelos implcitos que estavam inadequados.
Tentamos compreender tambm quais so as solues para os modelos
que tornem possvel a evoluo. E vocs veem que a gente comea a ter um
sistema de avaliao dos modelos pelo resultado. Os grupos so formados
de tal maneira que h pessoas que so de todos os universos. No se trata de
grupos de freudianos, de kleinianos, do que quer que seja: so analistas. E a
gente tenta modelos. A grosso modo, a gente diz: bem, ento o que que Bion
teria dito, o que que Lacan teria dito, o que que Freud teria dito, mas o
essencial sentir se tal tipo de interveno funciona ou no funciona. Even-
tualmente a gente experimenta os modelos. E a gente v no que d. So semi-
nrios de explorao-pesquisa em psicanlise acerca de tratamentos que no
funcionam: sobre tratamentos que no funcionam, tentar balizar o modelo
que trava e tentar propor outro modelo que poderia permitir uma evoluo,
interessante na avaliao dos modelos.
O meu livro Agonia, clivagem e simbolizao fruto desse trabalho. Ao cabo
de seis anos de trabalho tentei tirar a lio disso que tnhamos aprendido.
De_edipo_a_narciso.indd 56 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 57
Tambm no livro sobre a reflexividade, Le transitionnel, le sexuel et larflexivi-
t, e naquele sobre o jogo e o interjogo, Le jeu et lentre-je(u), tento formalizar
de algum modo a pesquisa que se baseia nesses seminrios e que prope ago-
ra determinado nmero de modelos alternativos. Posso agora avanar que
todas as vezes que a gente tenta pensar um assunto sem pensar a reao do
ambiente e de seus movimentos a gente se engana. E todas as vezes que a
gente toma o que esse sujeito diz de seu ambiente como simples projeo de
sua parte a gente se engana. O jogo e o interjogo tentam precisar isso: se a
gente no leva em conta o que se passa entre dois sujeitos, todos os modelos
so falsos. Ou so aproximativos.
Vou lhes apresentar ainda uma coisinha, e em seguida a gente passa
discusso. Tudo o que acabo de lhes dizer desemboca na ideia de que pre-
ciso fazer uma clnica dos dispositivos. Isto , tentar compreender de que
maneira um dispositivo possibilita alguma coisa e impede outra. Uma clni-
ca das tcnicas, de que modo um tipo de interpretao possibilita uma coisa
e impede outra. E uma clnica da teoria saber de que modo um modelo
tem um grau de pertinncia assim como tem graus de impertinncia. E com
tudo isso somos conduzidos ao que tambm completamente essencial no
que eu dizia, isto , no ser freudiano, kleiniano, lacaniano, ou o que quer
que seja, mas sim utilizar aquilo que Freud, Klein, Bion trouxeram para
fazer uma psicanlise que utilize tudo o que h de bom. Ento, isso quer
dizer que de certa maneira preciso fazer uma operao totalmente funda-
mental em pesquisa clnica, uma operao de assassinato do fetichismo
da teoria.
Estamos numa situao inteiramente estranha. Freud morreu em 1939
e, na Frana, a gente continua a estar numa posio tipo Freud disse. Na
Inglaterra a gente continua a estar numa posio tipo Mlanie Klein, Bion
disse. Ou ento Winnicott disse. Ento tomemos um exemplo: em 1974,
Anzieu prope o conceito do Eu-Pele. Todo mundo: ah, que coisa formidvel.
Pelo menos na Frana. E no s na Frana, uma vez que a IPA lhe d o prmio
Sigournet, dizendo verdadeiramente que uma contribuio fundamental.
Em seguida, no prolongamento, ele descreve o que chama de significantes
formais. So modos de representao de transformao, sem objeto, sem su-
jeito, que vamos encontrar em especial nas problemticas narcsicas. E que se
De_edipo_a_narciso.indd 57 25/08/2014 15:57:15
58 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
apresentam da seguinte maneira: um corpo se afasta e volta, uma superfcie
plana desaba, no h ao, enfim h uma ao, mas no h contexto. No h
sujeito, no h objeto.
Piera Aulagnier, por seu lado, descreveu o que ela chama de pictogramas
em 1976. Ento 74-76, estamos em 2013, h pessoas que utilizam o conceito
de Anzieu, h pessoas que utilizam o conceito de Piera Aulagnier, nenhuma
contribuio nova sobre conceitos como esses. Freud, o recalcamento, Freud,
a clivagem, Mlanie Klein, a identificao projetiva, Anzieu, os significantes
formais. Se vocs pensarem que h 40 anos temos o conceito do significante
formal, talvez a gente pudesse complet-lo um pouco. E ento o problema
principal, esse um grande problema. como se geraes inteiras de clnicos
utilizassem conceitos que estavam disponveis, mas sem os fazer trabalhar.
Sem procurar desenvolv-los. Ento precisamos de uma pesquisa conceitual
que se refira a esses conceitos e tente desenvolver o que a gente pode fazer
disso agora.
Vocs compreendem o que estou tentando dizer, se quisermos desenvol-
ver pesquisas clnicas: procuro refletir bastante acerca de por que a pesquisa
clnica no se desenvolveu mais, e digo que a pesquisa clnica no se desen-
volveu mais porque a metodologia no foi suficientemente trabalhada. A
gente no fez variar suficientemente os dispositivos. Utilizamos os conceitos
de maneira fetichizada e seu derradeiro elemento foi, vou terminar nesse
ponto, que houve toda uma tendncia a refletir em termos de indicao, de
indicao psicanaltica. Este um bom caso para a psicanlise, este no
um caso bom para a psicanlise. Como se houvesse: A psicanlise e os bons
casos e os maus casos, e menos uma outra atitude que teria consistido em
dizer: Como a gente pode fazer a psicanlise desse tipo de paciente?. E o
que a psicanlise desse tipo de paciente pode nos ensinar, de uma maneira
geral, sobre a psicanlise?
Ento, por exemplo, sobre o autismo. Diz-se que os resultados da psi-
canlise do autismo so maus. No colocada a questo de saber se os re-
sultados da psicanlise do autismo que so maus ou se o modelo anal-
tico que foi utilizado que no o bom, e ns, em Lyon, pegamos jovens
clnicos... vocs sabem, a vantagem que a gente tem que por exemplo no
mestrado temos 600 estudantes, e bem 50, 60 quase 100 deles so bons.
De_edipo_a_narciso.indd 58 25/08/2014 15:57:15
A pesquisa clnica em psicanlise na Universidade 59
Eles entram em todos os terrenos possveis, ainda no esto deformados
por uma formao; portanto, inventam. Eles olham: isso no funcionou,
isso funcionou, isso no funcionou, isso funcionou, isso no funcionou. A
gente os acompanha e tenta ver como a gente pode ajudar esse processo no
caso deles. Pois bem, posso lhes dizer que nos ltimos 10 anos, nos ltimos
5 anos tenho bem uma dezena de casos bem-sucedidos de autistas, mas
que se baseiam em hipteses inteiramente diferentes das grandes hipte-
ses clssicas. Isso faz refletir.
O derradeiro ponto que desejo evocar descreve o mtodo que prepa-
ramos e ajustamos que consiste em dizer: no tomemos o problema em
termos de indicao ou de no indicao, tentemos ajustar, de alguma ma-
neira, o dispositivo. Segundo elemento, no somos ns que temos razo,
o paciente quem tem razo. Porque se o que eu digo no funciona, no
porque ele resiste, porque eu tenho razo e ele resiste, porque o meu mo-
delo no bom, preciso que eu mude. Ento o ltimo ponto, com o qual
a gente tenta desenvolver as coisas, meu primeiro livro se chama Paradoxes
et situations limites [Paradoxos e situaes-limite], o mtodo das situaes
limites. A situao-limite, o que isso? Iniciei um tratamento psicanalti-
co com um protocolo analtico clssico ou comecei um tratamento de psi-
coterapia com um protocolo psicoterpico clssico e me dou conta de que
nesse tratamento, com esse paciente determinado, estamos o tempo todo
no limite da possibilidade da situao, a situao est sempre ameaada de
explodir, uma exploso, e o tempo inteiro preciso encontrar um meio de
restabelec-la. Propus a ideia de que esses pacientes eram os analisadores
do dispositivo, do dispositivo ou da teoria ou dos modelos, e todos esses
pacientes que eram ditos pacientes-limites, fora da anlise, no bons para
anlise..., etc., isto , que eram tratados como casos de rejeio, para ns se
tornaram uma felicidade.
E a gente diz: o que que essas pessoas nos ensinam acerca dos erros
de nossos modelos, acerca das fragilidades dos nossos modelos? O que
que nos ensinam sobre os paradoxos do enquadre? O teor do livro acima
citado mostra que os pacientes fronteirios fomentam e pem em evidn-
cia toda uma srie de paradoxos potenciais do enquadre: esses pacientes
nos mostram esses paradoxos. H modos de funcionamento psquico que
De_edipo_a_narciso.indd 59 25/08/2014 15:57:15
60 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
so analisadores de nossos pontos cegos, de nossos postulados, de nossas
teorias. Pois bem, preciso que nos apoiemos no que esses pacientes nos
ensinam para continuarmos a fazer a explorao dos prprios fundamen-
tos de nossa atitude. Ento, para terminar, estou seguro de que com
esses pacientes que todos vocs trabalham, porque so esses pacientes que
nos impelem inevitvel pesquisa clnica. Essa a essncia do que queria
lhes dizer.
De_edipo_a_narciso.indd 60 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta
metodolgica para a pesquisa clnica
em psicanlise
Julio Verztman & Diane Viana
Percebemos com grande satisfao que a literatura psicanaltica tem se ocu-
pado cada vez mais dos percalos relacionados articulao entre pesquisa e
clnica psicanaltica. Se tomarmos como parmetro apenas a literatura sobre
o assunto produzida recentemente em nosso pas1, notamos um interesse
crescente pela sistematizao de conceitos que respaldem a prtica clnica
1
Podemos dar como exemplo: Eizirik, C. L. (2006). Psicanlise e pesquisa. In: Rev Bras Psi-
quiatr., 28, 3. So Paulo, p.171-2; Figueiredo, A. C. (2004). A construo do caso clnico: uma
contribuio da psicanlise psicopatologia e sade mental. In: Rev. Latinoam. Psicopat. Fund.,
VII, 1. So Paulo: Editora Escuta, p. 75-86; Figueiredo, L. C., Minerbo, M. (2006). Pesquisa em
psicanlise: algumas ideias e um exemplo. In: Jornal de Psicanlise, 39, 70. So Paulo: SBPSP, p.
257-278; Iribarry, I. N. (2003). O que pesquisa psicanaltica? In: gora, v. VI, n.1 jan/jun. Rio
de Janeiro: PPGTP, p. 115-138; Jung, S. I. et al. (2006). Histria recente e perspectivas atuais da
pesquisa de resultados em psicoterapia psicanaltica de longa durao. In: Rev Psiquiatr RS, 28,
3. Porto Alegre: SPRS, p. 298-312; Lo Bianco, A. C. (2003). Sobre as bases dos procedimentos
investigativos em psicanlise. In: Psico-USF, v. 8, n. 2. So Paulo, p. 115-123; Mezan, R. (2006).
Pesquisa em psicanlise: algumas reflexes. In: Jornal de Psicanlise, 39, 70. So Paulo, p.227-
241; Mezncio, M. S. (2004). Metodologia e pesquisa em psicanlise: uma questo. In: Psicologia
em Revista, v. 10, n. 15. Belo Horizonte, p. 104-113; Moura, A. & Nikos, I. (2001). Estudo de
caso, construo do caso e ensaio metapsicolgico: da clnica psicanaltica pesquisa psicanalti-
ca. In: Pulsional Revista de Psicanlise, ano XIII, n. 140/141. So Paulo: Editora Escuta, p. 69-76;
Nogueira, L. C. (2004). A pesquisa em psicanlise. In: Psicologia USP, 15, . So Paulo, p. 83-106.
De_edipo_a_narciso.indd 61 25/08/2014 15:57:15
62 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
em situao de pesquisa. notrio que Freud (1923 [1922]/1996) sempre
reiterou a indissociabilidade entre tratamento e pesquisa, entretanto temos
que reconhecer que o que se concebe atualmente como pesquisa sofreu uma
grande transformao desde a morte do pai da psicanlise. O modelo de
pesquisa quantitativa se tornou um paradigma forado do que se configu-
ra como atividade investigativa. A hegemonia deste modelo, extremamente
difcil (talvez impossvel) de ser conjugado com a pesquisa psicanaltica, faz
com que os psicanalistas se engajem na busca de novos modelos de pesquisa
mais afins a seu objeto e seu modo de trabalhar.
O presente artigo visa contribuir para a direo apontada acima. Em ar-
tigos anteriores (Verztman, Pinheiro, Saceanu & Viana, 2006; Verztman,
2013) descrevemos uma ferramenta metodolgica que veio a ser cunhada
de Estudo Psicanaltico de Casos Clnicos Mltiplos, utilizada em duas pesqui-
sas. Nosso objetivo no atual escrito trazer uma reflexo sobre certos ele-
mentos deste mtodo, sobre alguns problemas surgidos do seu emprego e
sobre algumas vicissitudes da clnica psicanaltica em ambiente universit-
rio. Ao final, proporemos um breve roteiro de questes a serem respondi-
das pelos pesquisadores que se interessarem por investigaes semelhantes
s aqui descritas. O NEPECC (Ncleo de Estudos em Psicanlise e Clnica
da Contemporaneidade)2 realiza suas atividades desde 2002, a partir de um
acordo entre o Programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica e o Insti-
tuto de Psiquiatria ambos da UFRJ, sob a coordenao de Teresa Pinheiro,
Regina Herzog e Julio Verztman. O incio das atividades desse grupo de pes-
quisa se deu a partir da linha de pesquisa terico-clnica intitulada Patolo-
gias narcsicas e doenas auto-imunes realizada no perodo de 2002 a 2007,
atravs de um acordo entre o Programa de Ps-graduao em Teoria Psicana-
ltica da UFRJ, o Instituto de Psiquiatria da UFRJ (IPUB) e o setor de sade
mental do ambulatrio de colagenoses do Hospital Clementino Fraga Filho
(HUCFF UFRJ). O objeto desta investigao centrou-se em um estudo com-
parativo entre pacientes portadoras de lpus eritematoso sistmico (LES) e
2
Para uma visada mais ampla sobre a produo deste grupo de pesquisa: Verztman, J. S.,
Herzog, R. & Pinheiro, T., Ferreira, F. P.(Orgs.). (2012). Sofrimentos narcsicos. 1. ed. Rio de
Janeiro: Companhia de Freud. v. 1. 321p.
De_edipo_a_narciso.indd 62 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 63
pacientes melanclicas, a partir do tratamento psicanaltico dispensado a
ambos os grupos de sujeitos da pesquisa. Dados preliminares nos conduzi-
ram hiptese de que as pacientes lpicas apresentavam caractersticas em
comum com o modelo narcsico que vnhamos pesquisando anteriormente,
cujo principal paradigma seria a melancolia. A partir disso propusemos um
estudo comparativo, a fim de confirmar ou no a aproximao entre nossas
propostas acerca da melancolia ou das patologias narcsicas e a histria de
alguns pacientes portadores de LES3.
Este estudo marcou o ponto de partida de uma empreitada original de
pesquisa psicanaltica no mbito da universidade, que conduziu o referido
grupo para a construo de uma metodologia de pesquisa que proporcio-
nasse, ao mesmo tempo, a sistematizao necessria tanto no que tange
ao ambiente universitrio quanto no que diz respeito ao mtodo clnico
psicanaltico. Foi assim que chegamos construo do estudo psicanaltico
de casos clnicos mltiplos (Verztman, 2013). Subsequentemente seguiu-se
uma investigao sobre o tratamento psicanaltico oferecido a sujeitos ca-
racterizados como tmidos que apresentavam o diagnstico psiquitrico de
fobia social.
Neste contexto discutiremos a relao entre psicanlise, pesquisa e clnica
e, sobretudo, os possveis efeitos dessa inter-relao sobre o mtodo e so-
bre o tratamento. Vale ressaltar que, simultaneamente s questes clnicas e
conceituais, o NEPECC vem se deparando com a necessidade permanente de
repensar sua metodologia de trabalho e formular propostas para os impasses
e peculiaridades que esta atividade impe aos seus pesquisadores4.
3
Uma apresentao mais detalhada da delimitao de nossa proposta e de nosso problema
de pesquisa encontra-se em: Pinheiro, T. & Verztman, J. (2003). As novas subjetividades, a
melancolia e as doenas auto-imunes. In: Pinheiro, T. (Org.). Psicanlise e formas de subjetiva-
o contemporneas. Rio de Janeiro: Contra Capa, p. 77-104.
4
Sobre as discusses j publicadas pelo NEPECC sobre metodologia de pesquisa, consul-
tar: Verztman, J.; Pinheiro, T.; Saceanu, P. & Viana, D. (2006). Patologias narcsicas e doenas
auto-imunes: discusso da metodologia de pesquisa. Revista Latinoamericana de Psicopatologia
Fundamental, ano IX, n. 4, So Paulo: Editora Escuta, p. 647-667; Verztman, J. (2013). Estudo
psicanaltico de casos clnicos mltiplos. In: Ana Maria Nicolaci da Costa e Daniela Romo
Dias (Orgs.). Qualidade faz diferena: mtodos qualitativos para a pesquisa em psicologia e reas
afins. 1 ed. Rio de Janeiro: Loyola, p. 67-92.
De_edipo_a_narciso.indd 63 25/08/2014 15:57:15
64 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
A prtica clnica em situao de pesquisa
A proposta de atendimento psicanaltico em situao de pesquisa traz uma
srie de questes para o que convencionalmente concebemos como a clnica
psicanaltica. Gostaramos de discutir a especificidade desta prtica, visando
delimitar que tipo de implicaes este contexto universitrio coloca para a
construo do dispositivo clnico.
O dispositivo clnico nessa circunstncia engloba desde a sistematizao da
pesquisa, com seus procedimentos metodolgicos, at o mtodo mais amplo
que orienta a prtica, em nosso caso o mtodo psicanaltico. O alargamento
da concepo de dispositivo vai ser fundamental para o estabelecimento do
enquadre clnico, o que ter repercusses no tratamento dos sujeitos atendi-
dos/pesquisados e na construo de seus dados, em funo das especificidades
deste tipo de setting. Estas dimenses devem ser simultnea e cuidadosamente
analisadas para garantir que tanto o tratamento oferecido quanto a situao de
pesquisa se desenvolvam, sem o prejuzo de qualquer uma delas sobre a outra.
Parece-nos instigante a observao de Roussillon acerca da inter-relao en-
tre mtodo e objeto: o mtodo constri seu objeto e este especfico, mas o
prprio objeto tem um efeito sobre mtodo: ele o transforma (2012, p. 214).
H, portanto, mtuas ressonncias entre nosso mtodo de explorao clnica e o
objeto ao qual ele se dedica. Assim nos perguntamos: de que modo esse dispositi-
vo interfere no tratamento dos sujeitos atendidos pela pesquisa? Quais so as es-
pecificidades da relao entre esses sujeitos e tal dispositivo e, nesse caso, o que
ressoa tanto na metodologia de pesquisa quanto no mtodo clnico de escuta?
So esses questionamentos que orientam as reflexes no mbito deste tra-
balho. Partiremos de pontos cruciais da pesquisa j explanados em artigos pu-
blicados (Verztman, 2013; Verztman et al., 2006) para levantarmos questes
ainda no respondidas e que serviro de analisadores de nossa empreitada.
Estabelecer um perfil clnico necessrio para a pesquisa?
O primeiro ponto que merece ser discutido a necessidade de estabelecer o
perfil clnico dos sujeitos que constituiro nosso objeto de estudo. Nas duas
investigaes mencionadas, devido a seus objetivos, foram estabelecidas
De_edipo_a_narciso.indd 64 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 65
algumas caractersticas necessrias para que um determinado sujeito fosse,
em cada uma delas, includo. Na primeira pesquisa, criamos o que chamamos
de duas subamostras. Uma constituda de pacientes portadoras de LES com
demanda de tratamento psicanaltico e outra constituda de sujeitos melanc-
licos. Na segunda pesquisa nossa amostra caracterizou-se por sujeitos que se
queixavam de timidez e apresentavam diagnstico psiquitrico de fobia social.
Queremos assinalar que, mesmo no caso de haver vagas disponveis, desde o
incio a equipe escolhia seus futuros analisantes em funo de seus objetivos,
o que exclua muitas outras situaes clnicas, mesmo que a indicao e a de-
manda pela psicanlise fossem pertinentes. A palavra amostra nesse contexto
merece um comentrio adicional. Utilizamos esta expresso bastante usual em
mbito universitrio, com um significado particular. Na falta de outro vocbu-
lo, amostra para nossa equipe significa o conjunto do material a que tivemos
acesso. Ela no um resumo, ou o modo condensado de um acontecimento
que ocorre fora dela. Ela inclui os dados trabalhados e no trabalhados pelos
pesquisadores e delimita certo terreno para a produo de saber.
Este o primeiro aspecto da especificidade da situao de pesquisa em
relao ao funcionamento habitual do psicanalista. Este trabalha a partir de
uma demanda do sujeito que busca anlise, requisito fundamental para o
desenvolvimento do tratamento. Em pesquisas, como foram as nossas, a de-
manda do sujeito importante, mas no suficiente; necessrio tambm
que o sujeito apresente as caractersticas definidas pelo referido perfil clni-
co previamente determinado. Devemos aqui fazer uma pequena observao.
Entendemos por perfil clnico o recorte produzido pelo entrecruzamento en-
tre o objetivo do investigador, sua metodologia e sua referncia terica. No
necessrio que este recorte tenha como eixo central traos relacionados a
diagnsticos ou organizaes subjetivas especficas, como ocorreu em nossas
duas investigaes. Mesmo quando o perfil amplo o suficiente para conter a
clnica provinda da demanda espontnea que acorre a uma equipe de pesqui-
sa, num determinado perodo, se h um projeto prvio, este necessariamente
produziu um recorte relacionado ao objetivo da pesquisa.
Sobre isso cabem algumas consideraes. Ao partirmos da psicanlise
como referncia terico-clnica devemos considerar o efeito a posteriori do
material clnico que emerge nos atendimentos. Isso nos coloca de sada uma
De_edipo_a_narciso.indd 65 25/08/2014 15:57:15
66 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
questo: o que seria o perfil clnico definido pela pesquisa em relao aos su-
jeitos a serem pesquisados? Se por um lado precisamos definir esses marca-
dores a fim de estabelecermos uma situao de pesquisa na universidade, por
outro no podemos perder de vista a relatividade e indeterminao que estes
marcadores de perfil adquirem quando se trata de uma pesquisa psicanaltica.
O estabelecimento de perfil clnico , portanto, apenas o ponto de partida
deste tipo de pesquisa psicanaltica. Jamais seu ponto de chegada. Ele facilita
a constituio do material, principalmente quando nos propomos a trabalhar
sincronicamente com muitos casos. Esta estratgia relevante para pesqui-
sadores que se dedicam a estudos comparativos de modelos de subjetividade
(Verztman, 2013). Deste modo, o estabelecimento prvio de um perfil pode
ser o desdobramento da prtica clnica, j que pesquisa e tratamento esto
articulados para a psicanlise. Para Freud (1923 [1922]/1996) a experin-
cia clnica fonte primordial do conhecimento psicanaltico, origem de toda
pesquisa. A psicanlise ao mesmo tempo um mtodo de investigao, um
mtodo de cura e um mtodo de produo de teoria/conhecimento. Sendo
assim, a clnica o lcus de produo do saber psicanaltico e de avaliao da
consistncia de seus conceitos.
Ainda segundo Freud, os conceitos psicanalticos devem estar sempre re-
lacionados aos seus respectivos achados. Nesse sentido, certo grau de sus-
penso terica bem-vinda para a emergncia do acontecimento clnico. Par-
timos das categorias clnicas para definir o perfil que desejamos investigar,
contudo estamos certos de que mudanas ao longo do tratamento muitas
vezes desconstroem esse perfil inicialmente circunscrito e podemos rein-
formar a teoria e produzir novos conhecimentos. Assim, a desconstruo do
perfil se torna um dos nossos intuitos fundamentais.
Como receber pacientes em situao de pesquisa?
A forma de receber pacientes tambm comporta uma matizao peculiar.
Atravs de uma ou mais entrevistas, as quais denominamos em trabalhos an-
teriores de triagem, se opera uma seleo daqueles sujeitos que correspondem
clinicamente aos propsitos da pesquisa. No caso de o paciente comear a ser
De_edipo_a_narciso.indd 66 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 67
atendido, o cuidado em reduzir o impacto da situao de pesquisa e da ava-
liao de incluso sobre o tratamento considerado a partir do encaminha-
mento do paciente a outro analista da equipe, distinto dos coordenadores que
realizam a entrevista inicial. Cabe aqui uma observao acerca da expresso
entrevista de triagem. Embora tenhamos recorrido a ela em outros trabalhos,
percebemos que ela merece certo grau de correo, uma vez que a escuta ope-
rante nas entrevistas inicias segue os princpios do acolhimento e da recepo,
norteadores da atual poltica de sade mental5. A equipe se sente tambm
responsvel pelo cuidado com aqueles sujeitos que no so includos na inves-
tigao, imbuindo-se da tarefa de pensar um possvel encaminhamento. Tra-
balhamos articulados com a rede de sade, participando do fluxo de recepo
e encaminhamento de casos. Vimos nessa articulao tambm uma forma de
reduzir o possvel efeito negativo de no ter sido abarcado pela pesquisa.
Como manejar problemas quanto ao tempo de durao do
tratamento?
Outro desdobramento refere-se necessidade de limitar o tempo de durao
da pesquisa em funo dos prazos da(s) agncia(s) de fomento, dos protocolos
da universidade, da disponibilidade de atendimento dos profissionais (mui-
tas vezes alunos de ps-graduao), da necessidade de estabelecer critrios de
desligamento do paciente e da possibilidade de afastamento do profissional
que exerce o atendimento. O tempo de tratamento pode exceder o tempo de
durao da pesquisa e esta uma questo que pode perpassar a nossa inteno
inicial, constituindo um fator com efeitos clnicos, sobre os quais estamos em
processo de anlise. importante frisar que uma equipe de pesquisa clnica
em psicanlise deve estar preparada para se responsabilizar pela conduo do
caso ou por seu encaminhamento adequado quando este no for mais possvel
5
Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Ncleo Tcnico da Poltica Na-
cional de Humanizao. Acolhimento nas prticas de produo de sade / Ministrio da Sade,
Secretaria de Ateno Sade, Ncleo Tcnico da Poltica Nacional de Humanizao. 2. ed.
Braslia: Ministrio da Sade, 2006; Cadernos IPUB: A clnica da recepo nos dispositivos de
sade mental. Vol. VI. n. 17, 2000.
De_edipo_a_narciso.indd 67 25/08/2014 15:57:15
68 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
de ser sustentado diretamente. Se uma investigao tem por objeto o aten-
dimento psicanaltico, um imperativo tico que as necessidades deste no
sejam menosprezadas em detrimento de qualquer fator ligado pesquisa. As-
sim, criamos um dispositivo clnico para avaliar a continuidade do tratamento
a cada dois anos e envolver os sujeitos da pesquisa nessa apreciao. Estamos
comeando a sistematizar os impactos que isto pode trazer para a trajetria
analtica. Acrescentamos que, at o momento, ainda atendemos a inmeros
pacientes de pesquisas anteriores, por perodos que j ultrapassam seis anos.
Consideraes ticas: o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE)
Um assunto pouco discutido na literatura psicanaltica brasileira diz respeito
necessidade da pesquisa psicanaltica se adequar resoluo 466/2012 do
conselho nacional de sade6, a qual dispe sobre os critrios ticos para qual-
quer pesquisa com seres humanos. Recentemente, percebemos o incio de um
movimento, no protagonizado especialmente por psicanalistas, mas princi-
palmente por pesquisadores da rea de cincias humanas, questionando vrios
destes critrios criados para construir procedimentos ticos de pesquisa na
rea da sade. A prpria plataforma Brasil7 instrumento obrigatrio para
que um pesquisador submeta seu projeto a um Comit de tica em Pesquisa
(CEP) e possa ter este aprovado criticada por ser excessivamente guiada por
valores originados dentro de uma dmarche quantitativa ou epidemiolgica.
No mbito do presente artigo seria leviano entrar em um debate to complexo.
Para ns, psicanalistas, um aspecto crucial desse novo contexto a exi-
gncia da assinatura por parte de nossos pacientes do Termo de Consenti-
mento Livre e Esclarecido (TCLE). Na plataforma Brasil h um espao para
que o pesquisador possa solicitar a dispensa deste instrumento legal, mas
6
Brasil. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Comisso Nacional de tica em
Pesquisa (CONEP). Resoluo n 466 verso 2012. [Online: acesso em 04 de abril de 2014].
Disponvel: http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
7
Plataforma Brasil. [Online: acesso em 20 jan2014]. Disponvel em: <http://aplicacao.sau-
de.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>.
De_edipo_a_narciso.indd 68 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 69
sua justificativa para tal deve ser suficientemente convincente e a medida se
aplica a situaes bastante restritas. O TCLE deve ser elaborado numa lin-
guagem amplamente compreensvel, conter as informaes mais relevantes
sobre a investigao, descrever os riscos do procedimento, alm de outros
aspectos. Assim, a presena de um termo de compromisso a ser assinado pelo
paciente marca uma das peculiaridades desta clnica. Algumas questes so
colocadas: este instrumento um empecilho intransponvel para a pesquisa
psicanaltica? As informaes contidas no TCLE, tais como, por exemplo, a
avaliao de riscos e benefcios, oferecem contedos intrusivos aos nossos
pacientes? O processo analtico apresentar impasses incontornveis caso o
paciente se saiba participante de uma pesquisa? Idem caso ele tome conhe-
cimento dos objetivos e da metodologia da pesquisa? Contedos paranoides
tomaro artificialmente a frente da cena caso ele saiba que aspectos seus e de
seu tratamento podero ser objeto de material transmissvel ou publicvel?
No possumos estas respostas, j que, respeitando a especificidade de
nossa prtica, elas s podem ser construdas no a posteriori da clnica singular
de cada um. Podemos, entretanto, dar nosso testemunho acerca do enfrenta-
mento cotidiano desta situao delicada. Curiosamente, a assinatura do TCLE
por mais de 20 pacientes atendidos pelo NEPECC desde 2002 ainda no reper-
cutiu negativamente para os mesmos durante as sesses posteriores. O TCLE,
at o presente momento, no se constituiu num empecilho para nenhum tra-
tamento. Sabemos, contudo, que este pode se tornar um fator atravessador
da relao transferencial, necessitando de cuidadoso manejo clnico. Isto, en-
tretanto, prprio da situao analtica. Seus impasses so o seu motor, como
demonstra Freud (1912), desde, pelo menos, seus escritos tcnicos.
Efeitos da situao de pesquisa para a relao
transferencial
Percebemos cada vez mais a relevncia de observar os possveis efeitos desse
tipo de interveno, tanto em funo da escolha de um perfil especfico para
o tratamento dos pacientes pesquisados, quanto em funo de os pacientes
serem sabedores de que so objeto de interveno de uma equipe de pesquisa.
De_edipo_a_narciso.indd 69 25/08/2014 15:57:15
70 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Haveria alguma ressonncia entre estes fatores e a relao transferencial?
Haveria algum efeito particular do fator pesquisa sobre o perfil de sujeito pes-
quisado (em nossas investigaes, sujeitos com sofrimento narcsico)?
Quanto primeira indagao observamos trs tipos de efeito: alguns pacien-
tes apresentaram um vnculo transferencial mais dirigido instituio univer-
sidade, o que comum populao que utiliza servios prestados pelas institui-
es pblicas universitrias; outros estabeleceram relao transferencial mais
diretamente relacionada situao de pesquisa; e alguns outros pacientes for-
maram um vnculo mais estreito e estrito com o pesquisador-analista que dirigia
o seu atendimento, como ocorre em situao de consultrio. Neste ltimo caso,
estes pacientes s se recordavam de que estavam participando de uma pesquisa
quando algumas limitaes intrnsecas a esta atividade se evidenciavam, como
o fator tempo de durao do tratamento e eventuais critrios de desligamento.
Quanto segunda indagao, consideramos esta um eixo de trabalho que
visamos aprofundar. Observamos que sujeitos em sofrimento narcsico po-
dem, num certo sentido, se beneficiar de fazer parte de uma pesquisa. Assim,
o efeito da pesquisa sobre os sujeitos pesquisados pode se converter em um
efeito clnico. Alguns dos nossos casos especialmente aqueles que remetem
a um acidente narcsico importante em sua constituio encontram na si-
tuao de sujeitos/pacientes de pesquisa um testemunho de suas existncias
(Pinheiro et al., 2006). Supomos que a pesquisa clnica pode construir efeitos
e implicaes que no esto usualmente colocadas para os psicanalistas que
trabalham em outros dispositivos.
Desse modo, pensar o efeito do enquadramento da pesquisa sobre o pa-
ciente e sobre a transferncia , na mesma medida, porm no sentido oposto,
pensar que este ou aquele modelo de subjetividade e/ou tipo de relao trans-
ferencial podem produzir a necessidade de novos enquadres para pesquisa.
O Dispositivo e o efeito equipe
Vejamos ponto a ponto as principais caractersticas do enquadre de nosso
dispositivo. O exerccio da clnica em nosso caso indissocivel da proposta
de uma partilha em equipe, tanto das aes que so propostas, quanto da
De_edipo_a_narciso.indd 70 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 71
elaborao em conjunto da concepo terica e prtica das investigaes. A
noo de partilha no s uma condio desta clnica como tambm o efeito
dela. So, assim, justamente as implicaes desse coletivo que esto em jogo
quando nos propomos a pensar sobre o mtodo clnico.
Antes mesmo dos atendimentos clnicos serem oferecidos aos sujeitos
pesquisados foi desenvolvido um extenso trabalho de pesquisa terica so-
bre o tema correlacionado, aspecto relevante da preparao da equipe para
receber cada paciente. Este preparo significou, alm de uma explorao bi-
bliogrfica sobre o tema, a escolha do perfil clnico dos sujeitos que seriam
nosso objeto de estudo. H, desde esse momento, uma construo coletiva
no modo de pensar e conceber a prtica clnica, o que guarda uma especifici-
dade na comparao clinica exercida em outros contextos. A constituio
deste enquadre comea muito antes de o paciente chegar.
A propsito, o espao fsico de nossos atendimentos consiste numa sala
dentro de um ambulatrio pblico, mobiliada com duas poltronas, de modo
que as sesses ocorrem no regime face a face. Isto no se tornou um empe-
cilho, apesar de supormos que alguns pacientes poderiam se beneficiar do
recurso do div. Em nosso caso, j que a maioria de nossos pacientes apre-
senta problemas na constituio narcsica, este arranjo espacial veio frequen-
temente ao encontro da importncia que a dimenso do olhar adquire para
eles. H tambm outros fatores em nosso setting, tais como o fato de este es-
tar includo dentro de um instituto de psiquiatria, de os pacientes terem que
compartilhar a sala de espera do ambulatrio, por vezes lotada de pacientes
com sofrimento psquico grave, de ser necessrio receber um carto onde
so anotadas as datas de suas sesses, etc. Todos esses aspectos constituem
tambm pequenos ou grandes detalhes que fazem parte do enquadre. Deve-
mos nos perguntar: isso repercute no atendimento dos pacientes? Para uns
sim, para outros no? Por que, para determinados pacientes, este enquadre
praticamente invisvel e para outros, absolutamente fundamental no estabe-
lecimento de seu tratamento?
A superviso em grupo outro aspecto indicativo da clnica partilhada. A
partir das reunies de superviso e de um projeto clnico-terico partilhado,
os pacientes deixam de ser apenas pacientes de um psicanalista para serem
pacientes da pesquisa. Se por um lado isso pode ocasionalmente gerar um
De_edipo_a_narciso.indd 71 25/08/2014 15:57:15
72 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
efeito imaginrio negativo nos analistas-pesquisadores, acerca do receio de
ter seu trabalho avaliado pelos demais, por outro, os efeitos de uma supervi-
so em grupo vem a somar singularidade do atendimento de cada psicana-
lista, deslocando-o de sua posio de posse imaginria sobre seu trabalho.
A concepo de uma clinica partilhada o pilar fundamental deste m-
todo. Podemos, a partir dessa caracterstica fundamental, problematizar os
desdobramentos dessa especificidade sobre a clnica. Como os casos se in-
fluenciam mutuamente numa pesquisa? Ou seja, como a superviso de um
caso reverbera na construo de outro? E, em ltima instncia, como o tra-
balho de um analista influencia o trabalho de outro? Que efeitos a heteroge-
neidade do grupo pode produzir para os atendimentos, para o estudo do caso
e para o dispositivo de forma mais ampla?
Pesquisa e ensino
Alm da pesquisa e da clnica, outra dimenso est colocada para o desenvol-
vimento de nossas atividades na universidade: o mbito do ensino tambm
parte integrante de nosso exerccio. Concomitantemente s nossas investi-
gaes realizamos outra forma de partilha ao oferecermos para os alunos do
Programa de Ps-Graduao em Teoria Psicanaltica da UFRJ (programa no
qual o NEPECC est inserido) um seminrio sobre o tema da pesquisa, es-
pao onde os achados clnicos so discutidos na articulao com a teoria e,
portanto, revisitados e realimentados.
Cabe ressaltar que temos a preocupao de no permitir que a pesquisa
terica se sobreponha escuta clnica. Este risco se coloca de duas formas:
o contgio da escuta pelos analisadores decorrente da investigao terica e
a supremacia dos procedimentos de pesquisa sobre o atendimento. Ambos
devem ser permanentemente evitados atravs da criao de mecanismos de
preservao da escuta clnica. As necessidades dos pacientes so soberanas s
definies do referencial terico, bem como s exigncias da pesquisa. Este
, sem dvida, o divisor de guas entre a pesquisa em psicanlise e outras
pesquisas na rea de psicologia ou das cincias humanas. esta dimenso
que nos cabe ensinar.
De_edipo_a_narciso.indd 72 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 73
Qual a importncia do olhar/escuta externos?
Outro pilar desta forma de conceber a pesquisa clnica na universidade a
prtica regular de submeter os achados terico-clnicos a psicanalistas ex-
ternos equipe. Desde nossa primeira investigao, realizamos encontros
peridicos com colegas de diferentes orientaes e inseres institucionais
a fim de entrar em contato com pontos pouco explorados por ns. Ao longo
destes anos percebemos que uma equipe de pesquisa, principalmente quan-
do ela bem-sucedida e longeva, pode correr o risco de fechamento em torno
dos seus pressupostos. Este risco outra verso da seduo que os objeti-
vos da pesquisa podem trazer para a clnica. A apresentao do material a
psicanalistas descomprometidos com suas referncias e hipteses recoloca
o pesquisador em contato com o que h de novo e aberto em sua prtica.
Este recurso nos levou, em todo nosso percurso, a mudanas de perspectiva
terica, explorao de aspectos pouco valorizados em nossa clnica, a certas
correes de rumo, ou mesmo abertura de novos campos de investigao.
Cabe ressaltar que esta interlocuo dinmica e no ocorre na base da
submisso. O que nela valorizado a capacidade de uma equipe transmitir
seus achados e suas reflexes, bem como a capacidade dos interlocutores de,
concordando ou no com seus pressupostos, apontar para aspectos inconsis-
tentes dentro do enquadre proposto, ou, ao contrrio, ressaltar aspectos con-
sistentes, mas pouco realados. evidente que a relao de confiana entre
os interlocutores e a equipe determinante para o sucesso desta empreitada.
O que retido destes encontros so exatamente o dilogo instaurado e sua
capacidade transformadora.
Outro aspecto que no pode deixar de ser mencionado o compromisso
de uma equipe de pesquisa com a publicao de seu material e de suas refle-
xes. Esta a ltima etapa de uma investigao, no que tange coloc-la em
contato com o escrutnio do outro. O preparo do material para publicao
um compromisso de uma equipe de pesquisa, sobretudo no mbito da uni-
versidade pblica, e potencializa sua possibilidade de dilogo no campo no
qual est inserida.
De_edipo_a_narciso.indd 73 25/08/2014 15:57:15
74 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Concluindo com perguntas
A partir desta breve apresentao das linhas gerais que orientam nosso dispo-
sitivo de pesquisa clnica, consideramos importante a construo de um rotei-
ro de perguntas que possa nos orientar na continuidade de uma reflexo acerca
de nosso mtodo. O objetivo deste fazer com que cada pesquisador de nossa
equipe ou de outras, porventura por ns inspiradas, possa responder s ques-
tes aqui elencadas na construo e superviso dos seus casos. Objetivamos,
assim, agregar anlise do caso uma anlise tambm do mtodo e de seus
efeitos sobre a clnica e/ou da clnica sobre o mtodo. Conclumos este artigo
com algumas perguntas, aludidas acima, e agora sistematizadas em conjunto:
o fator pesquisa aparece no discurso do sujeito em tratamento?
fazer parte de uma pesquisa um aspecto do lao transferencial?
se sim, de que maneira o sujeito se refere ao fato de fazer
parte de uma pesquisa e de que modo se relaciona com isso?
ocorreu alguma inibio ou impasse na conduo do trata-
mento derivado da situao de pesquisa?
o paciente apresenta curiosidade ou interesse pela pes-
quisa? Quais so as ressonncias disso sobre a relao
transferencial?
o paciente produz algum material durante as sesses que s
pode ser compreendido pela situao de pesquisa? H ind-
cios de fantasia ou outro material relacionado com ser espe-
cialmente observado?
h algum material expresso ou latente que indique receio in-
tenso de estar exposto pela situao de pesquisa?
h efeitos positivos ou negativos do fator pesquisa sobre o
sujeito em tratamento?
a entrevista inicial teve alguma repercusso para o paciente?
Ele se refere a ela? Como? H alguma fantasia ou elemento
discursivo relacionado figura dos supervisores ou da equipe?
H referncias posteriores ao Termo de Consentimento Livre
e Esclarecido? Mesmo na ausncia de elementos discursivos
De_edipo_a_narciso.indd 74 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 75
a este respeito, percebeu-se alguma repercusso de sua assi-
natura para o paciente? Se sim, qual?
o fator durao do tratamento produz alguma consequncia
clnica?
em caso de encerramento do atendimento, como se deu o
desligamento do paciente da pesquisa?
no caso de o paciente permanecer por mais de 2 anos na pes-
quisa, como se deu a renovao do contrato? Se houve troca
de analista, como o paciente vivenciou essa passagem?
como o paciente se sente no espao fsico em que atendido?
o caso coloca o analista diante de algum impasse tcnico?
o caso demanda do analista alguma modificao do enquadre
previsto?
qual a avaliao que o analista faz da superviso em grupo?
a participao na superviso de outros casos da equipe
tem alguma interferncia sobre o seu atendimento e sua
superviso?
o embasamento terico estudado na pesquisa compatvel
com a realidade clnica da mesma?
qual a avaliao do analista sobre o efeito da situao de pes-
quisa sobre a sua prtica?
Referncias bibliogrficas
Brasil. Ministrio da Sade. Secretaria de Ateno Sade. Ncleo Tcnico da Po-
ltica Nacional de Humanizao. Acolhimento nas prticas de produo de sade /
Ministrio da Sade, Secretaria de Ateno Sade, Ncleo Tcnico da Poltica
Nacional de Humanizao. 2. ed. Braslia: Ministrio da Sade, 2006.
Brasil. Ministrio da Sade. Conselho Nacional de Sade. Comisso Nacional de tica em
Pesquisa (CONEP). Resoluo n 466 verso 2012. [Online: acesso em 04 abril 2014].
Disponvel em: <http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>
Cadernos IPUB (2000). A clnica da recepo nos dispositivos de sade mental. V. VI, n. 17.
Eizirik, C. L. (2006). Psicanlise e pesquisa. In: Rev Bras Psiquiatr., 28, 3. So Paulo.
De_edipo_a_narciso.indd 75 25/08/2014 15:57:15
76 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Figueiredo, A. C. (2004). A construo do caso clnico: uma contribuio da psican-
lise psicopatologia e sade mental. In: Rev. Latinoam. Psicopat. Fund., VII, 1.
So Paulo: Editora Escuta.
Figueiredo, L. C. & Minerbo, M. (2006). Pesquisa em psicanlise: algumas ideias e
um exemplo. In: Jornal de Psicanlise, 39, 70. So Paulo: SBPSP.
Freud, S. (1912). A dinmica da transferncia. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S.. (1923 [1922]). Dois verbetes de enciclopdia. (A) Psicanlise. In: Edio
standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XVIII. Rio
de Janeiro: Imago, 1996.
Iribarry, I. N. (2003). O que pesquisa psicanaltica? In: gora, v. VI, n. 1, jan/jun.
Rio de Janeiro: PPGTP.
Jung, S. I. et al. (2006). Histria recente e perspectivas atuais da pesquisa de resul-
tados em psicoterapia psicanaltica de longa durao. In: Rev. Psiquiatr. RS, 28, 3.
Porto Alegre: SPRS.
Lo Bianco, A. C. (2003). Sobre as bases dos procedimentos investigativos em psica-
nlise. In: Psico-USF, v. 8, n. 2. So Paulo.
Mezan, R. (2006). Pesquisa em psicanlise: algumas reflexes. In: Jornal de Psican-
lise, 39, 70. So Paulo.
Mezncio, M. S. (2004). Metodologia e pesquisa em psicanlise: uma questo. In:
Psicologia em Revista, v. 10, n. 15. Belo Horizonte.
Moura, A. & Nikos, I. (2001). Estudo de caso, construo do caso, e ensaio metapsi-
colgico: da clnica psicanaltica pesquisa psicanaltica. In: Pulsional Revista de
Psicanlise, ano XIII, n. 140/141. So Paulo: Editora Escuta.
Nogueira, L. C. (2004). A pesquisa em psicanlise. In: Psicologia USP, 15, 1/2. So Paulo.
Pinheiro, T. & Verztman, J. (2003). As novas subjetividades, a melancolia e as doen-
as auto-imunes. In: Pinheiro, T. (Org.). Psicanlise e formas de subjetivao con-
temporneas. Rio de Janeiro: Contra Capa.
Pinheiro, T.; Verztman, J.; Viana, D.; Venturini, C; Caravelli, S. & Canosa, L. (2006).
Patologias narcsicas e doenas auto-imunes: algumas consideraes sobre o cor-
po na clnica. In: Psicologia Clnica, v. 18.1. Rio de Janeiro: Pontifcia Universidade
Catlica do Rio de Janeiro.
Pinto, E. B. (2004). A pesquisa qualitativa em psicologia clnica. In: Psicologia USP,
15, 1/2. So Paulo.
De_edipo_a_narciso.indd 76 25/08/2014 15:57:15
Reflexes sobre uma ferramenta metodolgica para a pesquisa clnica em psicanlise 77
Roussillon, R. (2012). Manuel de pratique clinique. Elsevier-Masson.
Verztman, J.; Pinheiro, T.; Saceanu, P. & Viana, D. (2006). Patologias narcsicas e
doenas auto-imunes: discusso da metodologia de pesquisa. In: Revista Latino-
americana de Psicopatologia Fundamental, ano IX, n. 4. So Paulo: Editora Escuta.
Verztman, J. S.; Herzog, R.; Pinheiro, T. & Ferreira, F. P.(Orgs.). (2012). Sofrimentos
narcsicos. 1. ed. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Verztman, J. (2013). Estudo psicanaltico de casos clnicos mltiplos. In: Nicolaci da
Costa, A. M. & Dias, D. R. (Orgs.). Qualidade faz diferena: mtodos qualitativos
para a pesquisa em psicologia e reas afins. 1 ed. Rio de Janeiro: Loyola.
De_edipo_a_narciso.indd 77 25/08/2014 15:57:15
De_edipo_a_narciso.indd 78 25/08/2014 15:57:15
Um outro lugar para o analista1
Joel Birman
I. Prembulo
A questo a ser desenvolvida neste ensaio a de problematizar e a de cir-
cunscrever rigorosamente qual o lugar do analista na clnica da atualidade,
considerando como ponto de partida desta reflexo terica que a experin-
cia clnica se transformou efetivamente na contemporaneidade, em contraste
evidente de como esta estava delineada nos anos 80 do sculo passado. Com
efeito, devemos reconhecer que na atualidade a clnica se caracteriza por
certas especificidades, em decorrncia das novas modalidades de sofrimen-
to psquico existentes hoje, que so marcadamente diferentes daquelas de
outrora.
Contudo, para desenvolver este tema de maneira pertinente e plausvel
necessrio delinear, de forma preliminar, o que se condensa efetivamente
no enunciado clnica atual. Assim, o que se pretende formular com este
enunciado no algo que se possa dizer que seja lquido e certo, isto , no
se trata de algo que seja em si mesmo evidente, pois este enunciado no
unvoco na sua significao. Com efeito, trata-se de um enunciado plurvoco,
1
Texto elaborado a partir da palestra proferida no Colquio Sofrimentos Narcsicos, em 2012.
De_edipo_a_narciso.indd 79 25/08/2014 15:57:16
80 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
marcado pela polissemia na sua significao. Portanto, ser apenas pela res-
posta rigorosa e consistente para esta pergunta que poderemos circunscrever
a indagao preliminar sobre o lugar do analista na atualidade.
II. A concepo de clnica em pauta
Assim, numa primeira leitura desta questo poder-se-ia dizer que o lugar do
analista na clnica contempornea no deixaria qualquer possibilidade para
a dvida, na medida em que o campo atual da clnica seria evidente nas suas
coordenadas fundamentais, isto , o campo da clnica se ordenaria de ma-
neira clara na sua positividade e objetividade. Com efeito, ordenada que se-
ria por certas categorias diagnsticas precisas, pelas quais se delineariam o
registro da etiologia, por um lado, e os registros do sintoma e do sinal, pelo
outro, a clnica atual se configuraria numa nosografia, que seria rigorosa e
bem estabelecida.
Neste contexto, a psicanlise como prtica clnica se inscreveria apenas
com legitimidade terica em certos registros deste campo nosogrfico, isto
, somente naqueles registros que remeteriam a certas etiologias especfi-
cas e que reenviariam a certos campos sintomticos especficos. Vale dizer,
a prtica psicanaltica apenas seria vlida e legtima no que concerne a cer-
tas etiologias do quadro nosogrfico nas quais o registro psquico estivesse
implicado e claramente colocado em cena. Contudo, deve-se dizer ainda que
o discurso psicanaltico no seria o nico a ter legitimidade terica sobre o
dito registro psquico, pois partilharia a sua pertinncia terica com outros
discursos psicopatolgicos no que concerne ao registro do psquico. Da por
que aludi acima a certas etiologias psquicas do campo nosogrfico, nas quais
a prtica analtica seria efetivamente pertinente.
Alm disso, estaria ainda suposto nesta leitura que outros registros etio-
lgicos, que remeteriam assim a outros campos sintomticos, no seriam
pertinentes para a prtica psicanaltica, na medida em que esta no teria
qualquer legitimidade terica sobre aqueles, exigindo ento a insero efeti-
va de outros discursos tericos no campo da clnica atual. Portanto, a psica-
nlise deveria ser ento francamente reduzida no seu campo de interveno
De_edipo_a_narciso.indd 80 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 81
clnica, j que no teria consistncia clnica e teraputica para ultrapassar
certas fronteiras bem estabelecidas pelo cdigo nosogrfico acima referido,
devendo ento assim reconhecer o lugar crucial ocupado por outros discur-
sos tericos no campo da clnica contempornea, tal como este foi configura-
do pelo campo da classificao psicopatolgica na atualidade.
Evidentemente, o campo nosogrfico em questo representado pelo Ma-
nual Diagnstico, que foi forjado pela Associao Americana de Psiquiatria
desde o inicio dos anos 50 e foi codificado com o signo DSM. No obstante a
sua origem histrica norte-americana, este cdigo diagnstico se disseminou
internacionalmente, de maneira inesperada, como sendo o cdigo nosogrfi-
co por excelncia, ao qual devem ser submetidas todas as prticas clnicas no
campo da psicopatologia em escala mundial. Portanto, foi no contexto triun-
fante deste cdigo nosogrfico que o lugar terico da psicanlise e da experi-
ncia analtica, assim como o lugar especfico do analista nesta experincia,
foram delineados de maneira bastante restrita na clnica da atualidade, com
as dimenses e coordenadas que coloquei acima em destaque.
No entanto, numa segunda leitura sobre a clnica atual poder-se-ia dizer,
em contrapartida, que no assim to evidente o que se pretende enunciar
sobre o que a clnica na atualidade, pois o campo desta no absolutamente
garantido na sua pertinncia e consistncia terica pela configurao noso-
grfica estabelecida pelo DSM, que no oferece efetivamente para a clnica
na contemporaneidade nem a positividade nem tampouco a objetividade que
formula e que foi ento proposta.
Isso porque os diferentes discursos tericos presentes no campo da psi-
copatologia contempornea constituem efetivamente campos clnicos diver-
sos que no se superpem concretamente nas suas empiricidades, pois se
referem a positividades clnicas que so francamente diferentes. No que con-
cerne a isso, com efeito, deve-se enunciar que o campo da clnica delineado
pelo discurso cognitivista no o mesmo do que configurado pelo discurso
psicanaltico, nem tampouco pelo discurso das neurocincias, de forma que
cada um destes discursos tericos constitui positividades clnicas especficas
e bem diferenciadas.
Porm possvel enunciar ainda que existe uma proximidade evidente
e at mesmo certa superposio entre os campos clnicos delineados pelos
De_edipo_a_narciso.indd 81 25/08/2014 15:57:16
82 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
discursos tericos do cognitivismo e das neurocincias, em oposio ostensi-
va ao campo clnico delineado pelo discurso psicanaltico, na medida em que
aqueles se inscrevem num paradigma cientfico naturalista, o que no certa-
mente o que ocorre no campo da psicanlise. Vale dizer, existem afinidades
eletivas entre os discursos tericos do cognitivismo e das neurocincias, para
parafrasear o titulo de um famoso romance de Goethe, em consequncia des-
te mesmo pressuposto naturalista em que ambos se baseiam.
Em decorrncia disso, pode-se dizer ento que existe uma insero coe-
rente dos discursos tericos do cognitivismo e das neurocincias no cdigo
nosogrfico do DSM, em funo dos pressupostos naturalistas que direcio-
naram epistemologicamente as linhas de fora para a constituio deste c-
digo diagnstico pela Associao Americana de Psiquiatria. Com efeito, no
se trata de um contrassenso terico a relao de colaborao efetiva que se
estabeleceu entre as neurocincias e o cognitivismo na contemporaneidade,
nos registros terico e clnico. Seria ainda por conta disso, enfim, que o dis-
curso psicanaltico seria um estranho no ninho no cdigo do DSM, para
aludir ao ttulo do instigante filme de Milos Forman sobre o funcionamento
do hospital e da instituio psiquitrica, pois os seus pressupostos tericos
no so fundados no naturalismo.
Nesta perspectiva, a tese inicial a ser sustentada neste ensaio que o dis-
curso psicanaltico delineia, como consequncia de um conjunto de coorde-
nadas que lhe so prprias, um campo especfico para a clnica, que no se
confunde com o que configurado pelo DSM, como se passa com o discurso
das neurocincias e com o discurso do cognitivismo, na medida em que os
pressupostos tericos que o fundam epistemologicamente no se norteiam
como estas em bases naturalistas.
Esta tese terica, que foi acima enunciada, se funda na leitura epistemo-
lgica formulada por Canguilhem (1968) sobre a constituio do discurso da
cincia no ensaio intitulado O objeto da histria das cincias segundo a
qual um determinado objeto terico remete para um campo conceitual espe-
cfico e determinado, e vice-versa , assim como na leitura epistemolgica de
Kuhn (1976) sobre os paradigmas cientficos formulados no livro A estrutura
das revolues cientficas, pela qual os ditos paradigmas remetem efetivamen-
te a certos problemas especficos colocados pela comunidade cientfica, num
De_edipo_a_narciso.indd 82 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 83
determinado contexto histrico e social, para serem devidamente respondi-
dos pela clnica contempornea de maneira diferente daquela que circuns-
crita pelos discursos das neurocincias e do cognitivismo, pois os objetos
tericos daqueles e destes no so certamente os mesmos. Com efeito, os
problemas colocados pela psicanlise para serem confrontados no campo da
clnica no so seguramente os mesmos daqueles que foram colocados pelos
discursos das neurocincias e do cognitivismo. Pode-se enunciar, assim, que,
se os discursos do cognitivismo e das neurocincias fundam efetivamente o
campo terico da psiquiatria na atualidade, configurando um campo clnico
especfico que se consubstancia no sistema classificatrio das enfermidades
mentais plasmado no DSM, o discurso psicanaltico, em contrapartida, deli-
neia um outro campo e um outro horizonte para a clnica na atualidade.
Nesta perspectiva, o que se impe em seguida, como questo importante
neste ensaio, o que diferencia efetivamente o discurso psicanaltico e o dis-
curso psiquitrico, que remetem para campos clnicos diversos.
III. Enfermidade e sujeito
Assim, pode-se enunciar que a clnica psicanaltica no se superpe concreta-
mente clnica psiquitrica, na medida em que a primeira se funda na posio
estratgica atribuda ao sujeito no seu discurso terico e na experincia clni-
ca, enquanto que a segunda, em contrapartida, se funda na posio estratgi-
ca atribuda figura da enfermidade no seu discurso terico. Desta maneira, a
clnica psiquitrica atual se inscreve efetivamente no campo da medicina, tal
como, alis, o discurso psiquitrico na contemporaneidade reivindica isso de
maneira eloquente, pois aquela e este se forjam pela eliminao sistemtica
da figura do sujeito do seu campo de interveno clnica.
claro que a psiquiatria atual se baseia nas neurocincias, isto , na bio-
qumica dos neuro-hormnios e na gentica, o que no fazia a psiquiatria do
sculo XIX, que pretendia se fundar, em contrapartida, no registro da leso
anatmica. Porm deve-se evocar devidamente que a suspenso da figura do
sujeito persistiu como uma constante e como uma marca de continuidade,
no obstante esta transformao histrica ocorrida no campo dos saberes
De_edipo_a_narciso.indd 83 25/08/2014 15:57:16
84 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
tericos de referncia no campo da psiquiatria. Alm disso, bvio tambm
que a figura da enfermidade, presente no discurso psiquitrico desde o scu-
lo XIX, foi estrategicamente substituda pela da sndrome na psiquiatria con-
tempornea para tornar assim mais operatria e supostamente bem mais
eficaz a interveno mdica com os medicamentos psicofarmacolgicos.
Seria esta transformao fundamental na concepo nosogrfica o que
explicaria, alis, a multiplicao progressiva dos quadros diagnsticos nas di-
versas verses do DSM desde os anos 50, que no DSM-1 contava com pouco
mais de cem categorias diagnsticas e o DSM-V, apresentado em 2013, conta
com mais de quatrocentas categorias diagnsticas. No entanto, deve-se des-
tacar que a categoria de sujeito foi abolida igualmente na atualidade, como
ocorria no discurso psiquitrico desde o sculo XIX. Pode-se afirmar assim
que a nica coisa que importa concretamente para a formulao do diagns-
tico psiquitrico na atualidade e o encaminhamento correlato do procedi-
mento teraputico o enunciado de uma sndrome, que se baseia sempre
em signos objetivveis que se conjugam de maneira regular, de forma que
no existe qualquer dvida de que a figura do sujeito sempre abolida no
ato clnico psiquitrico propriamente dito, de fato e de direito (Kant, 1971).
Pode-se enunciar assim que o discurso psiquitrico na atualidade se auto-
nomizou completamente em relao psicanlise e pde reivindicar ento a
sua insero efetiva no campo da medicina, pois se baseia em saberes biol-
gicos bem mais consistentes do que ocorria com a psiquiatria do sculo XIX.
Isso porque o discurso da leso anatmica no dava subsdios cientficos con-
sistentes para o discurso psiquitrico do passado (Birman, 1978), o que no
certamente o caso na contemporaneidade com os discursos das neurocin-
cias. Com efeito, face ao silncio eloquente das leses anatmicas no campo
das perturbaes psquicas (Birman, 1978), o que no ocorria efetivamente
no campo das enfermidades somticas (Birman, 1978), a psiquiatria acabou
por se aliar psicanlise, nas primeiras dcadas do sculo XX, para constituir
o que se dominou de psiquiatria dinmica na tradio norte-americana. Po-
rm esta aliana terica e clnica se tornou plenamente descartvel na atuali-
dade, com o advento triunfante das neurocincias.
No entanto, deve-se destacar que, com o deslocamento da figura da en-
fermidade para a da sndrome no discurso psiquitrico do sculo XIX, para o
De_edipo_a_narciso.indd 84 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 85
discurso psiquitrico na contemporaneidade, a figura do sujeito permaneceu
suspensa e silenciosa pelo destaque que foi conferido aos discursos tericos
da anatomia e das neurocincias respectivamente, foi esta operao decisiva
de excluso do sujeito o que conferiu para a medicina somtica a sua dimen-
so eminentemente cientfica. Com efeito, estaria justamente aqui a matriz
epistemolgica efetiva que foi constituinte da medicina cientfica na moder-
nidade, que a psiquiatria do sculo XIX no conseguiu realizar concretamen-
te pela relao sempre inconclusiva e mesmo fracassada que pretendeu esta-
belecer entre os registros da enfermidade mental e da leso anatmica, como
se realizava plenamente no campo da medicina somtica.
IV. Sintoma e signo
Assim, o que caracterizou a constituio cientfica da medicina moderna foi
a relao estabelecida entre os registros dos sintomas e sinais com o da leso
(Foucault, 1963). Constituiu-se ento o discurso de anatomoclnica na au-
rora do sculo XIX, como nos disse Foucault no livro intitulado Nascimento
da clnica (Foucault, 1963). Desta maneira, a problemtica da morte se colo-
cou no primeiro plano do discurso da medicina, de forma a estabelecer desta
maneira uma nova leitura sobre a vida, pois, como formulou rigorosamente
Bichat, na constituio da anatomia patolgica e da histologia, a vida passou
a ser concebida como sendo o conjunto de foras em luta permanente contra
a morte (Foucault, 1963). Neste contexto, a enfermidade passou a ser conce-
bida como uma forma parcial da morte (Foucault, 1963) e mesmo como uma
morte relativa.
Contudo, a constituio do discurso da anatomoclnica representou certa-
mente uma ruptura crucial no apenas com o discurso mdico da Idade Cls-
sica, mas tambm com o discurso da protoclnica, existente no final do scu-
lo XVIII (Foucault, 1963), pelo privilgio que foi conferido problemtica da
morte na concepo da vida. Vale dizer, a constituio da medicina moderna
teve como corolrio a inveno da problemtica da finitude (Foucault, 1963),
na medida mesmo em que o limite efetivo da vida estaria inserido no interior
mesmo da vida, sob a forma discursiva de que esta seria assim o conjunto de
De_edipo_a_narciso.indd 85 25/08/2014 15:57:16
86 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
foras que lutam permanentemente contra a morte. Enfim, a problemtica
da finitude se deslocou, em seguida, para outros discursos tericos como a
psicanlise e a filosofia existencial na primeira metade do sculo XX, deline-
ando ento de maneira insofismvel uma concepo trgica da existncia,
que marcou de maneira radical a modernidade.
O que implicou efetivamente, no registro especfico do discurso da anatomo-
clnica, a diferena deste com o discurso da protoclnica e com o discurso da me-
dicina da Idade Clssica? Quais foram as marcas fundamentais desta diferena?
Nada mais nada menos que o esvaziamento progressivo do registro do
sintoma no discurso mdico e o privilgio outorgado, em contrapartida, ao
registro do signo no discurso anatomoclnico (Foucault, 1963). Assim, o que
caracterizava de fato o registro do signo neste discurso era a dimenso de ob-
jetivao ostensiva da enfermidade, que se realizaria tanto pelo olhar, quanto
pela ausculta e pela palpao do corpo do enfermo (Foucault, 1963), atravs
dos quais a espacializao (Foucault, 1963) da enfermidade no registro da
anatomia seria ento devidamente perfilada. Em decorrncia disso, o regis-
tro do sintoma, revelador que seria do sujeito na protoclnica, foi progressi-
vamente esvaziado face ao registro do signo, reduzido que foi o ato clnico
pergunta precisa do mdico, que visava especificamente a espacializao
anatmica do mal: onde di? Em contrapartida, deve-se destacar devidamen-
te que, de fato, o registro do sintoma e do sujeito estavam presentes na pro-
toclnica e na medicina da Idade Clssica (Foucault, 1963).
Quais foram os desdobramentos decisivos disso para a constituio do
discurso da medicina moderna? Antes de mais nada, o desaparecimento fun-
damental dos registros do discurso e da linguagem no campo da anatomocl-
nica teve como correlatos a imobilidade e a passividade da figura do enfermo
na experincia clnica, contrapontos indiscutveis que seriam estes de seu
silncio e a prefigurao insofismvel da figura do cadver a ser dissecado fu-
turamente no exame a ser realizado pela anatomia patolgica. Em seguida,
neste remanejamento estratgico produzido entre os registros do signo e do
sintoma, que resultaram no privilgio ostensivo conferido figura da enfer-
midade face do enfermo no ato clnico, a narrativa clnica na medicina cien-
tfica se centrou efetivamente no lugar estratgico atribudo para a figura da
enfermidade, de forma a silenciar decisivamente a do sujeito.
De_edipo_a_narciso.indd 86 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 87
Nesta perspectiva, a constituio da psicanlise no final do sculo XIX,
com a emergncia terica do discurso freudiano, implicou na crtica siste-
mtica do discurso da medicina cientfica, pois conferiu importncia crucial
aos registros do sujeito e do discurso na experincia psicanaltica, caminhos
privilegiados que seriam para a elucidao da figura da enfermidade, mas
pela mediao paradoxal do registro do sintoma. Com efeito, pelo privilgio
outorgado aos registros da linguagem e do discurso, restabeleceu-se assim
a posio estratgica do registro do sintoma face ao do signo e inverteu-se
assim as coordenadas presentes no discurso da medicina clnica, restaurando
ento por este vis o sujeito, na medida em que pelo registro do sintoma o
sujeito estaria efetivamente sendo enunciado de corpo inteiro. Em decorrn-
cia disso, a pergunta bsica do mdico clnico onde di? foi significativa-
mente substituda pelas novas perguntas Como di? e de que forma di?.
Portanto, o discurso freudiano foi constitudo pela crtica sistemtica que
realizou do discurso da anatomoclnica, baseando-se fundamentalmente
para tal nos traos diferenciais acima destacados, de maneira a empreender
a oposio rigorosa existente entre o discurso psicanaltico e o discurso da
medicina cientfica, delineando-se assim campos clnicos diferenciados. O
discurso freudiano realizou esta crtica desde o seu incio no final do sculo
XIX e a manteve posteriormente como tal, sem qualquer reformulao quan-
to a isso. o que veremos, no que se segue, aludindo uma srie de referncias
textuais precisas no discurso freudiano, na sua emergncia histrica inicial-
mente e no seu percurso posterior em seguida.
V. Linguagem, intensidade e fantasma
Assim, desde 1891 Freud comeou a realizar a sua crtica sistemtica ao dis-
curso da medicina clnica de maneira ao mesmo tempo rigorosa e decisiva,
disso resultando a constituio da psicanlise. Isso porque neste ano crucial
Freud realizou a publicao de dois textos fundamentais para a constituio
desta, quais sejam, Tratamento psquico (1981/1984) e Contribuio con-
cepo das afasias (1981/1989). Contudo, estes textos so complementares, na
medida em que em ambos foi a problemtica da linguagem que foi decidida-
mente colocada em cena na experincia psicanaltica, que j estava ento se
De_edipo_a_narciso.indd 87 25/08/2014 15:57:16
88 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
forjando. Se no primeiro Freud trabalhou a importncia estratgica da lin-
guagem no registro estrito e operacional da experincia clnica, no segundo,
em contrapartida, Freud procurou sustentar teoricamente esta importncia
conferida ao discurso na experincia clnica.
Assim, no ensaio intitulado o Tratamento psquico, Freud sustentou a
tese de que o tratamento psquico se realizaria pela mediao da linguagem e
teria no discurso o seu campo operacional. Desta maneira, o dito tratamento
no teria no registro da conscincia o seu foco de ao, de forma que, pelo
destaque conferido para a linguagem na experincia clnica, foi sendo ento
forjado de maneira progressiva que o tratamento psquico visaria o regis-
tro do inconsciente e no o da conscincia (Freud, 1981/1984). Finalmente,
Freud enunciou tambm que se as prticas religiosas e as prticas populares
ento existentes de cura eram efetivamente eficazes, isso se daria em decor-
rncia da importncia fundamental da linguagem nestes dispositivos ritual
e teraputico (Freud, 1981/1984), em franca oposio ao que se sustentava
teoricamente ento no campo da medicina clnica (Freud, 1981/1989).
No entanto, no ensaio sobre as afasias o que Freud procurou sustentar
teoricamente foi o discurso terico em que se baseava no novo dispositivo
clnico que propunha e que logo em seguida iria denominar de metapsicolo-
gia, qual seja, de que o psiquismo seria um aparelho de linguagem. Com efeito,
Freud criticou rigorosamente a hiptese sobre o psiquismo, enunciado por
Werneck, de que este seria um aparelho da alma, para enunci-lo decidida-
mente ento como sendo um aparelho de linguagem (Freud, 1981/1989).
Enunciava, enfim, a fundamentao terica para o novo dispositivo clnico
que estava em processo de constituir.
Ao lado disso, as diversas narrativas clnicas forjadas, logo em seguida,
pelo discurso freudiano, mas neste mesmo contexto terico, evidenciavam os
rastros imprimidos nestes textos pela insero da problemtica da linguagem
e do discurso no novo dispositivo clnico. Pode-se destacar a presena destes
rastros tanto nos ensaios publicados em 1894 sobre As psiconeuroses de de-
fesa (Freud, 1894/1973) e em 1896 sobre os Novos comentrios sobre as
psiconeuroses de defesa (Freud, 1896/1973), quanto nos Estudos sobre a
histeria (Freud & Breuer, 1895/1971) publicado em 1895, em colaborao
com Breuer. Em todas estas narrativas clnicas a figura do sujeito se inscreve
no primeiro plano dos textos de Freud, orientando decisivamente a elucidao
De_edipo_a_narciso.indd 88 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 89
das figuras das enfermidades em questo, quais sejam, a histeria, a neurose
obsessiva e a psicose alucinatria. Alem disso, foi pelos rastros deixados no
registro do sintoma e no pelas marcas objetivas presentes no registro do
signo que a questo do sujeito foi sinalizada no campo da experincia clnica.
Foi por conta disso que a comunidade mdica de Viena reagiu intempes-
tiva e negativamente a estas publicaes, afirmando que a escrita clnica de
Freud era decididamente pautada pela estilo romanesco de descrio e no
pelos cnones mdicos de cientificidade, estabelecidos rigorosamente que
estes seriam ento nos discursos da clnica mdica e da clnica neurolgica.
Freud se referiu especificamente a isso tanto na Psicoterapia da histeria
(Freud, 1895/1971), ensaio que foi publicado em 1895, quando numa carta a
Fliess de 1896 (Freud, 1887-1902/1973). Alm disso, comentou justamente
a mesma questo na narrativa clnica de Dora, que foi publicada em 1905
(Freud, 1905/1975), evidenciando a sua ironia em relao a esta modalidade
de recepo negativa de seus textos.
Contudo, se no Projeto de uma psicologia cientfica, ensaio escrito em
1895, Freud enunciou o conceito de aparelho psquico, no lugar do anterior
conceito de aparelho de linguagem, o que estava em pauta era ainda o dito
aparelho de linguagem, mas permeado agora pela insero do registro das
intensidades (Freud, 1895/1973). Ao lado disso, em A interpretao dos so-
nhos, livro publicado em 1900, Freud inscreveu o registro do fantasma no
aparelho psquico, de forma a articular intimamente neste os diferentes re-
gistros da linguagem, da intensidade e do fantasma (Freud, 1900/1976).
Se a ruptura terica e clnica entre o discurso psicanaltico e o discurso da
medicina cientfica j estava fundamentalmente assentada na passagem da
teoria da seduo para a teoria do fantasma, enunciada que foi esta em A inter-
pretao dos sonhos, Freud retomou ainda esta diferena e oposio cruciais
entre aquelas ordens discursivas nos anos 20, do sculo XX, em dois ensaios
importantes, quais sejam, Uma neurose demonaca do sculo XVII, que foi
publicado em 1923, e no ensaio sobre A questo da anlise profana, que foi
publicado em 1926 (Freud, 1926/1985). Com efeito, se no primeiro ensaio
Freud aproximou o discurso psicanaltico do discurso da demonologia, pois
em ambos a questo do fantasma foi devidamente destacada nas experin-
cias da possesso, do transe e na experincia psicanaltica, em oposio ao
discurso da medicina cientfica (Freud, 1923/1985), em contrapartida, no
De_edipo_a_narciso.indd 89 25/08/2014 15:57:16
90 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
ensaio sobre a anlise profana a questo de Freud era a de enfatizar de ma-
neira eloquente a eficcia teraputica da linguagem e do discurso na experi-
ncia clnica (Freud, 1926/1985).
Alm de todas estas dimenses que j foram devidamente enfatizadas e
que aproximavam decisivamente o discurso psicanaltico com os da protocl-
nica e da medicina da Idade Clssica, deve-se evocar tambm que o discurso
freudiano retomou ainda a teoria da crise da medicina pr-moderna pela
qual a enfermidade se enunciava ento com intensidade e na sua plenitude
a sua verdade efetiva , com o conceito de neurose de transferncia na expe-
rincia psicanaltica, pela qual na relao das figuras do analista com a do
analisando a neurose se evidenciaria com todas as suas coordenadas, se ex-
plicitando ento em toda a sua verdade (Freud, 1972).
Desta maneira, por todos estes signos ostensivos que destacamos acima
podemos enunciar que a clnica psicanaltica, delineada pelo discurso freu-
diano desde a emergncia terica e histrica da psicanlise, se diferenciava e
se opunha rigorosamente s coordenadas presentes nos campos das clnicas
mdica e psiquitrica, nas quais o que estaria em pauta era efetivamente a
figura da enfermidade e no a do sujeito.
Seria ainda por conta disso que a leitura freudiana da psicose passou pela
formulao decisiva de que o delrio era uma produo psquica positiva e
no negativa, na medida em que atravs dele o sujeito estaria realizando
uma tentativa de cura, desde pelo menos a publicao do ensaio sobre Schre-
ber (Freud, 1911/1975). Com efeito, esta interpretao de Freud se basea-
va no pressuposto de que o delrio seria fundamentalmente uma forma de
linguagem, considerado que foi ento como algo efetivamente positivo pela
enunciao do sujeito que estaria em pauta e no como algo negativo (Freud,
1911/1975), como era ento considerado no discurso psiquitrico.
VI. O analista hoje
Contudo, bastante claro que o sofrimento na contemporaneidade no se
apresenta mais com as mesmas caractersticas e signos que eram apresentadas
nos tempos iniciais da psicanlise. As formas de subjetivao (Foucault, 1976)
De_edipo_a_narciso.indd 90 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 91
de outrora no mais se apresentam na atualidade da mesma maneira, pois a
conflitualidade psquica no se sustenta e no se mantm mais hoje de forma
interiorizada como antigamente, mas de forma decididamente exteriorizada
(Birman, 2012), num confronto direto e face a face do sujeito com o outro,
que se manifesta ainda numa relao de corpo a corpo do sujeito com o outro.
Com efeito, o mal-estar contemporneo se enuncia principalmente como
dor e no mais como sofrimento como outrora, indicando esta mudana e
deslocamento do registro da interioridade em direo ao da exterioridade
(Birman, 2012), na medida em que o registro do desamparo psquico foi subs-
titudo pelo do desalento. Portanto, o mal-estar na atualidade se enuncia nos
registros do corpo, da ao e da intensidade, com pequeno ndice de interiori-
zao (Birman, 2012), evidenciando ainda, em contrapartida, nesta exterio-
rizao do conflito, o desinvestimento correlato que ocorreu nos registros do
pensamento e da linguagem.
Porm, se tudo isso evidencia efetivamente e de maneira patente que um
processo crucial ocorreu no que tange ao campo das subjetivaes, o que
isso nos revelou como base deste processo foi a perda e o desinvestimento
das marcas do narcisismo do sujeito na contemporaneidade (Birman, 2012).
Isso implica em dizer, com efeito, que a figura do infantil no hoje mais
representada pela figura de sua majestade o beb (Freud, 1914/1973),
como nos disse Freud no ensaio intitulado Para introduzir o narcisismo,
pois uma perda de investimento narcsico fundamental foi produzida na
contemporaneidade.
Desta maneira, face a estas novas modalidades de subjetivao, marcadas
negativamente pelo narcisismo, o dispositivo clnico da experincia psicanal-
tica teve que ser substitudo, em mltiplas condies clnicas, pelo disposi-
tivo do face a face, para possibilitar decisivamente o investimento narcsico
nestas novas modalidades de subjetivao disseminada na contemporanei-
dade (Birman, 2012). O que implica dizer que o registro do olhar se inscreve,
de fato e de direito, no campo da experincia psicanaltica, ao lado do registro
da escuta, tendo como pressuposto para isso o imperativo para a restaurao
narcsica do sujeito.
Alm disso, a figura do analista, nestas novas condies clnicas e face a
estas novas formas de subjetivao, no pode mais se pautar pela relativa
De_edipo_a_narciso.indd 91 25/08/2014 15:57:16
92 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
ausncia e pelo silncio na experincia psicanaltica, como fazia outrora, pois
estes procedimentos supem no apenas a interiorizao do conflito psqui-
co, como tambm o relativamente alto investimento narcsico do sujeito.
por este vis que o lugar e a posio da figura do analista na experincia
psicanaltica se transformou nas suas linhas de fora e de fuga na atualidade,
pois para articular devida e concisamente hoje os diferentes registros da lin-
guagem, do fantasma e da intensidade, preciso, na atualidade, realizar um
trabalho psquico preliminar voltado e condensado no registro do narcisismo
que se empreende certamente num outro dispositivo de cura, baseado em
novas coordenadas inscritas no campo psicanaltico.
Referncias bibliogrficas
Birman, J. (1978). A psiquiatria como discurso da moralidade. Rio de Janeiro: Graal.
Birman, J. (2012). O sujeito na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira.
Canguilhem, G. (1968). Lobjet de lhistoire de la science. In: Canguilhem, G. tudes
dhistoire et de philosophie des sciences. Paris: Vrin.
Foucault, M. (1963). Naissance de la clinique. Une archologie du regard mdical. Paris:
PUF.
Foucault, M. (1976). La volont de savoir. Paris: PUF.
Freud, S. (1887-1902). Lettres Wilhem Fliess, Notes et Plans. In: Freud, S. La nais-
sance de la psychanalyse. Paris: PUF, 1973.
Freud, S. (1891). Contribution la conception des aphasies. Paris: PUF, 1989.
Freud, S. (1891). Traitement psychique. In: Freud, S. Rsultats, ides, problmes
(1890-1920), v. I. Paris: PUF, 1984.
Freud, S. (1891). Contribution la conception des aphasies. Paris: PUF, 1989.
Freud, S. (1900). Linterprtation des rves. Paris: PUF, 1976.
Freud, S. (1926). La question de lanalyse profane. Paris: Gallimard, 1985.
Freud, S. (1894). Les psychonvroses de dfense. In: Freud, S. Nvrose, psychose et
perversion. Paris: PUF, 1973.
Freud, S. (1895). Esquisse dune psychologie scientifique. In: Freud, S. La naissance
de la psychanalyse. Paris: PUF, 1973.
De_edipo_a_narciso.indd 92 25/08/2014 15:57:16
Um outro lugar para o analista 93
Freud, S. (1895). La psychothrapie de lhysterie. In: tudes sur lhystrie. Paris: PUF,
1971.
Freud, S. (1896). Nouvelles remarques sur les psychonvroses de dfense. Paris: PUF,
1973.
Freud, S. (1905). Fragment dune analyse dhystrie (Dora). In: Freud, S. Cinq psycha-
nalyses. Paris: PUF, 1975.
Freud, S. (1911). Remarques psychanalytiques sur lautobiographie dun cas de pa-
ranoa (Dementia paranoides). In: Freud, S. Cinq psychanalyses. Paris: PUF, 1975.
Freud, S. (1914). Pour introduire le narcisisme. In: Freud, S. La vie sexuelle. Paris:
PUF, 1973.
Freud, S. (1923). Une nvrose diabolique au XVIIe sicle. In: Freud, S. Linquitante
tranget et autres essais. Paris: Gallimard, 1985.
Freud, S. (1972). La technique psychanalytique. Paris: PUF.
Freud, S. & Breuer, J. (1895). tudes sur lhystrie. Paris: PUF, 1971.
Kant, E. (1971). Critique de la raison pure. Paris: PUF.
Kuhn, T. (1976). A estrutura das revolues cientficas. So Paulo: Perspectiva.
De_edipo_a_narciso.indd 93 25/08/2014 15:57:16
De_edipo_a_narciso.indd 94 25/08/2014 15:57:16
A psicanlise, o novo e a garantia1
Romildo do Rgo Barros
Gostaria de agradecer o convite que me foi feito pelo NEPECC e tambm
pelos 10 anos de existncia e de prtica. Quero tambm agradecer a Julio
Verztman, com quem tive um contato mais direto. Esta mesa, este encontro
aqui, que me d tambm a alegria de mais uma vez trabalhar com meu ami-
go Jurandir, teria a finalidade, digamos ltima, de falar um pouco do que
foi chamado de novos sintomas. Eu preferi me deter em alguma coisa que
seria mais os fundamentos, fundamentos de qu? Fundamentos da crise,
crise de qu? Crise da psicanlise. Lembro de um encontro franco-brasileiro
que houve h muitos anos em Paris no qual um psicanalista, que tinha sido
convidado para falar justamente sobre a crise da psicanlise, disse: a crise da
psicanlise vem desde que inventaram a psicanlise. Vocs deveriam ter me
dito de que poca vocs queriam que eu falasse, porque a crise da psicanlise
e a histria da psicanlise so quase a mesma coisa.
Vou partir de uma citao que encontrei um pouco por acaso. (Como qua-
se todo mundo que est aqui, quando eu tenho uma ideia ou sou convidado
para falar, a primeira coisa que fao ver no Google o que se diz sobre o
assunto, somente depois que vou aos livros e aos arquivos). uma citao
1
Palestra proferida no Colquio Sofrimentos Narcsicos, em 2012.
De_edipo_a_narciso.indd 95 25/08/2014 15:57:16
96 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
de um livro de Jean-Franois Lyotard que se chama O ps-moderno explicado
s crianas. Lyotard, como vocs sabem, o autor que difundiu os termos
ps-modernismo e ps-moderno em seu livro A condio ps-moderna. Ali ele
prope uma definio do ps-moderno que se tornou clebre: o ps-moder-
no um efeito da falncia das metanarrativas (mtarcits).
Vejam como interessante esta citao, um pouco longa mas no vi
como cortar. Falando com uma criana, Lyotard diz que o que se esboa como
horizonte para o seu sculo o crescimento da complexidade na maioria dos
domnios, inclusive nos modos de vida, na vida cotidiana, complexidade que,
me parece, pode ser tomada exatamente no sentido que, no final do sculo
XIX, Durkheim emprestava ao termo complexificao para designar uma es-
pcie de diferenciao gradativa, de tal maneira que os coletivos vo mais ou
menos se dissolvendo na direo de uma diferenciao individual, que, para-
doxalmente, refora o corpo social. Parece-me que Lyotard est usando esse
termo mais ou menos no sentido da hiptese de Durkheim.
Lyotard diz: um novo cenrio se instala lentamente, o cosmos o que
restou de uma exploso, ou seja, de uma exploso e no de uma criao di-
vina ou de algo em perptua evoluo ( o contrrio do que a gente sempre
pensou). Os estilhaos ainda se espalham desde o impulso inaugural, isto ,
o surgimento do universo vai completar-se com a sua destruio. Os astros,
ao se queimarem, transformam os elementos, as suas horas esto contadas, a
vida do sol tambm. A chance de que a sntese das primeiras algas ocorresse
na gua sobre a terra era nfima. O humano era ainda menos provvel: seu
crtex cerebral a organizao material mais complexa que se conhece, ou
seja, mais diferenciada. As mquinas que ele engendra so uma extenso sua,
a rede que formaro ser como um segundo crtex, mais complexo. A com-
plexificao, continua Lyotard, atravessa o abismo que parecia insondvel
entre o homem e as mquinas. Ela dever resolver os problemas de evacuao
da humanidade antes da morte do sol. Vocs sabem que isso um encontro
marcado que ns temos com o fim da vida na Terra daqui a cinco bilhes de
anos. A triagem daqueles que podero partir e dos que esto condenados
imploso j comeou (lembro que um texto para crianas), sob o critrio
do subdesenvolvimento, ou seja, pode ser que esse cenrio esteja no incons-
ciente. Essa triagem o ltimo enquadramento jurdico da humanidade, tal
De_edipo_a_narciso.indd 96 25/08/2014 15:57:16
A psicanlise, o novo e a garantia 97
como o entendemos, e a ltima das diferenas. Lyotard termina dizendo: o
ltimo atentado ao narcisismo da humanidade (alm daqueles trs clebres
que foram apontados por Freud) est a servio da complexificao. Esse ce-
nrio est erguido no inconsciente dos jovens desde j, est erguido no teu
inconsciente, ele termina se dirigindo criana para quem ele fala.
Um primeiro comentrio: pode ser que este cenrio esteja no inconscien-
te dos jovens de hoje, mas uma coisa parece certa, ele no estava, pelo menos
com esse formato, no inconsciente dos pacientes histricos de Freud. Ento,
alguma coisa que caracteriza uma poca diferente. Depois da leitura do tex-
to feito por Lyotard para as crianas, veio-me cabea perguntar que diferen-
a faz, que diferena existe entre a narrativa de Lyotard, que perfeitamente
contempornea, e um conto de fadas. Ou entre essa narrativa e um texto
literrio do tipo O paraso perdido, de John Milton.
Certamente, a diferena no vai estar no fato de a narrativa de Lyotard
tratar de uma catstrofe, porque os contos de fadas e o relato de Milton tam-
bm falam de catstrofes. Talvez a diferena esteja no fato de que essa nar-
rativa se refere a algo que pode ou deve acontecer, a supor que o saber da
cincia conduz de fato a algum tipo de certeza, enquanto os contos de fadas
se situam fora da disciplina da cincia, no tendo, por conseguinte, nenhum
compromisso com a certeza. O encontro entre Chapeuzinho Vermelho e o
Lobo no vai acontecer na realidade e, o mais importante, as crianas sabem
disso. As crianas creem em muita coisa, mas no necessariamente na reali-
dade dos contos de fadas.
Uma segunda diferena a relao que cada uma dessas narrativas man-
tm com o mito ou com a fico, como Lacan preferia chamar. Mesmo no
caso do saber cientfico, necessrio o uso de algum tipo de fico sob pena
de ser intransmissvel. Estou lembrando o livro publicado h alguns anos de
Octavio Souza, aqui presente, chamado Fantasias de Brasil, que mostra com
bastante clareza esse ponto de encontro entre a fico, a fantasia e o real.
Quer dizer, existem descobrimentos feitos pelos europeus do Novo Mundo,
existem imaginrios acerca do paraso perdido e, ao mesmo tempo, existe
uma estruturao, como Octavio mostrava, exatamente a mesma estrutura-
o de uma fantasia, de uma fantasia, digamos, freudiana. E, finalmente, a
diferena est sobretudo naquilo que serve de garantia para essas narrativas.
De_edipo_a_narciso.indd 97 25/08/2014 15:57:16
98 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Em que essa narrativa de Lyotard se garante? Podemos dizer, claro: na
cincia. Em que esses contos de fadas se garantem? Pode-se dizer que eles
se garantem na formao familiar, na dramtica da formao familiar que,
em geral, o que d a lgica do desfecho dos contos de fadas. No caso dos
escritores, poetas, etc., a garantia est na lngua, na medida em que esses
artistas trabalham construindo e reconstruindo novos limites para a lngua.
Basta que a gente pense em escritores como, aqui no Brasil, Guimares Rosa,
Cline, na Frana, Joyce, artistas que se caracterizam por criarem quase
margem da lngua materna, mas, apesar disso, so autorizados pela lngua
que utilizam.
Garantia das diferenas
Queria concentrar o que tenho pra dizer hoje no plano dessa terceira dife-
rena que o plano da garantia: o que que garante as diferenas? uma
pergunta quase coextensiva psicanlise, ou, pelo menos, uma pergunta
fundadora da psicanlise.
Em psicanlise, a primeira ideia que nos aparece que est em questo a
garantia do pai, esta a garantia freudiana. A garantia freudiana circuns-
crita pelas vrias figuras e verses do pai. Podemos perguntar de sada o que
acontece com a psicanlise e a encontramos o assunto desta mesa: qual o
papel da psicanlise se a garantia paterna sofre um declnio ou uma decadn-
cia ou uma sria crise que exija, digamos, novos paradigmas? Dito de manei-
ra mais simples: ser que a psicanlise resiste s transformaes da famlia a
que estamos assistindo e que, sem dvida, vo se radicalizar? Vemos, desde
j, tendncias que vo ser, cedo ou tarde, assimiladas ou englobadas pelos
aparatos legais, no h nenhuma dvida. Isso vem se dando no plano da fi-
liao, do casamento, da definio mesmo da famlia etc.
H um tempo atrs, tive a curiosidade, e um pouco a obrigao, porque es-
tava tratando disso em um seminrio, de olhar de perto a questo da famlia
no novo Cdigo Civil brasileiro, de 2002, e tive a oportunidade de compar-
-lo superficialmente com o Cdigo Civil de 1916, conhecido pelo nome de
seu autor Clvis Bevilqua. Nessa comparao, mesmo superficial, pode-se
De_edipo_a_narciso.indd 98 25/08/2014 15:57:16
A psicanlise, o novo e a garantia 99
ver a mudana ou a evoluo nas definies de famlia, que, de uma unidade
social heterossexual, monogmica e nica capaz de criar filhos, passa a ter
uma consistncia bem diferente, que prepara as transformaes que ocorre-
ram a partir de 1916 e, sobretudo, deixa um espao aberto para as que esto
por acontecer. Se a psicanlise no estiver altura de responder clinicamen-
te a essas mudanas, que no esto somente no Cdigo Civil, ser que ela
foi simplesmente um ltimo recurso para um pai que perdia suas foras ou,
como queriam Gilles Deleuze e Flix Guattari no comeo dos anos 1970, ter
sido apenas uma tentativa de defesa do edipianismo que estava comeando a
mostrar os seus limites?
Parece-me que podemos dizer que a garantia opera sobretudo na manu-
teno, por um lado e por outro, na administrao das diferenas. Esta seria
uma quase definio da garantia, algo que opera na manuteno e na ad-
ministrao das diferenas. Parece-me que um bom exemplo disso est no
prprio termo complexificao que se l na frase de Lyotard, e que Durkheim
usava para se referir tendncia diferenciao que caracteriza a histria.
curioso porque, de fato, h um paralelo com a expanso do universo que vai
terminar com o seu desaparecimento.
medida que as funes se diferenciam, ou seja, medida que as aes e
decises individuais se tornam mais importantes, paradoxalmente o corpo
social se torna igualmente mais complexo. Ento, mais perto do nosso in-
teresse, me parece que podemos testar uma ideia, no hoje, mas fica como
uma sugesto, em relao dupla diferena que tem inspirado a compreen-
so psicanaltica sobre o sujeito, essa dupla diferena que Freud consagrou e
que poderamos talvez desenhar sob a forma de um traado cartesiano. Ele
teria, no vetor vertical, por exemplo, a diferena de geraes e, no horizontal,
as diferenas sexuais, o que ilustra o quadro a partir do qual Freud trabalha-
va. Dois textos me parecem importantes sobre isso: um de Freud, de 1923,
amplamente trabalhado e conhecido, A organizao genital infantil, e um
escrito de Lacan de 1958 que se chama A significao do falo, que na verda-
de foi uma conferncia que ele fez na Alemanha. Mas isso s uma pista que
evidentemente no vai ser explorada hoje.
Eu estava pensando, muito difcil se saber o que uma diferena ab-
soluta. verdade que no Seminrio 11, Os quatro conceitos fundamentais da
De_edipo_a_narciso.indd 99 25/08/2014 15:57:16
100 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
psicanlise, Lacan fala da diferena absoluta como o ponto, digamos, estrat-
gico de uma anlise. O ponto onde uma anlise deveria chegar aquele em
que o sujeito experimenta uma diferena absoluta no s no sentido da sin-
gularidade, mas tambm no sentido de que no conta com nenhuma garan-
tia. A diferena relativa mais fcil de entender, pois ela parte sempre de uma
comparao, sempre pede, portanto, uma garantia. Em que, ou em quem, em
que mestre, em que autor voc se baseia para propor essa diferena?
Sempre h uma autoridade e sempre h um binmio que so os termos da
comparao. alguma coisa que fazemos praticamente todo dia e que define
esse enquadramento freudiano clssico de um sujeito situado em algum lu-
gar entre a diferena de geraes e a diferena sexual. Se essa diferena no
avalizada por ningum ou por nenhuma instncia, ela se dispersa e, quando
se dispersa, mostra paradoxalmente o engodo que estava na base da garan-
tia. Cada vez que uma garantia perde sua membrana externa, se posso falar
assim, fica ao mesmo tempo evidenciado que a garantia que ela tinha para ter
aquela membrana, no valia no final das contas grande coisa. precisamente
essa, me parece, a crise que sofre a psicanlise clssica em relao garantia
paterna.
Os novos sintomas so aquelas manifestaes que ao mesmo tempo apro-
fundam as diferenas e denunciam o engodo paterno. V-se aqui a grande
importncia do surgimento, eu no diria nem de sintomas inditos, mas de
certos sintomas que ganharam uma prevalncia na patologia geral de nos-
so mundo. Depresso sempre existiu, o consumo de drogas que alteram o
estado de conscincia sempre existiu, consumismo (bem, este um pouco
mais recente), mas, enfim, as compulses e as depresses sempre existiram.
A questo qual o papel que elas tm hoje e qual a funo que dada psi-
canlise face a essas patologias que passaram a ser sintomas sociais. Quer di-
zer, no se trata mais de algum que vai dizer ao analista eu vim aqui porque
eu estou triste, porque est triste como todo mundo; entra aqui um pouco a
questo do narcisismo, termo que figura no ttulo desta mesa. O sujeito est
desamparado pela decadncia da garantia que lhe dava o pai. Lembro de uma
discusso de que participei no Crculo Psicanaltico do Rio de Janeiro junto
com Teresa Pinheiro, precisamente em torno da questo da depresso como
sintoma social, isto , da depresso como um quadro que mostra a crise em
De_edipo_a_narciso.indd 100 25/08/2014 15:57:16
A psicanlise, o novo e a garantia 101
que vive o mundo, em que vivem as patologias, as famlias e a psicanlise. O
surgimento do engodo da garantia quando ela comea a dispersar-se o que
a gente poderia chamar de lado progressista da diferena, da diferena relati-
va, no sentido de que, na medida em que denuncia a garantia que falhou, ela
pede um novo enquadramento.
aqui que se situa uma viso progressista da formao, deformao, ou
transformao das diferenas. o que parece estar experimentando a nossa
poca em relao garantia paterna. Existe uma espcie de um esgaramento
da garantia paterna e, ao mesmo tempo, a denncia de que a garantia repou-
sava, no final das contas, sobre um terreno instvel e sobre ps frgeis. Essas
consequncias atingem necessariamente a prtica e a doutrina psicanaltica,
se a gente supe (como eu suponho) que a psicanlise surgiu, grosso modo,
como tratamento para o declnio da garantia do pai. Freud, ou a psicanlise,
aparece exatamente como um recurso para tratar a decadncia da garantia
simblica. A manifestao disso no tempo de Freud se deu sobretudo atravs
da exceo histrica.
aqui, nesse ponto, me parece, que se pode situar a crtica que Lacan faz
a Freud no Seminrio 11, uma crtica de uma profundidade histrica muito
grande. Lacan afirma que os limites da psicanlise so marcados pelo desejo
que Freud tinha de salvar o pai. uma frase que merece ser amplamente
discutida.
Para terminar, eu diria que o declnio, a decadncia, ou queda da garantia
paterna resulta na suspenso da garantia do prprio pai. Ou seja, se o pai
j no garante as diferenas, quem ou o que o garantir? Esse um exem-
plo do que chamei h pouco de engodo da garantia, que somente se torna
manifesto quando a garantia est sob suspeita, pois uma garantia que no
est sob suspeita no mostra sobre que ps frgeis ela se apoia. como no
delicioso paradoxo que Freud citava: se So Cristvo carrega o Cristo, e se
Cristo carrega o mundo, onde que So Cristvo pe os ps? Penso que
a partir dessa montagem paradoxal que podemos discutir as relaes entre
a psicanlise e os novos sintomas ou os novos enquadramentos de velhos
sintomas quando se defrontam com uma dificuldade na garantia simblica.
Obrigado.
De_edipo_a_narciso.indd 101 25/08/2014 15:57:16
De_edipo_a_narciso.indd 102 25/08/2014 15:57:16
Por um olhar de confiana
Leonardo Cmara, Thais Klein & Regina Herzog
Introduo
Uma das representaes mais antigas do processo psicanaltico a figura da
arqueologia que se encontra presente desde os primrdios da psicanlise e
atravessa boa parte do pensamento freudiano como uma metfora recor-
rente. O trabalho psicanaltico caracterizado como um processo anlogo
ao do arquelogo que busca variadas camadas de sedimentos superpostas
para reconstruir as civilizaes antigas. O psicanalista, em seu deciframento,
explora as diversas sedimentaes do sentido, isto , as interpretaes das
marcas originrias (Birman, 1991). A literatura psicanaltica, contudo, vem
apontando que certas configuraes subjetivas colocam em xeque tal dispo-
sitivo, indicando a necessidade de repens-lo. Nos pacientes atendidos pelo
NEPECC, os impasses gerados em certos momentos do tratamento confir-
mam esta posio.
Eu no gosto de ser o centro das atenes, afirma de maneira categrica
uma paciente em sua entrevista preliminar. Esta frase conclui seu curto pro-
nunciamento quando solicitada a falar sobre si mesma. A imagem que surge
na cabea do analista de uma porta sendo fechada violentamente em sua
cara. De bolsos (ou de ouvidos) vazios, ele procura manter a sobrevida da
De_edipo_a_narciso.indd 103 25/08/2014 15:57:16
104 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
sesso com outras perguntas, que so respondidas de maneira semelhante. A
entrevista encerrada pouco tempo depois.
Evidentemente, nem todos aqueles que se qualificam como tmidos se
recusam a falar de si de forma to incisiva no tratamento. Outra paciente
mobilizava-se para responder s perguntas; entretanto, era notvel o esforo
que despendia para cumpri-lo. A impresso que seu silncio subsequente
expressava um esgotamento completo do assunto. No toa, terminada a
sesso, reclamava de dores na garganta. Outros pacientes, por sua vez, sur-
preendem pela completa desinibio com que se expressam, apesar de sofre-
rem graves transtornos na vida social. Suas falas no apenas preenchem todo
o tempo regular de uma sesso, como atropelam quaisquer intervenes ver-
bais do analista. Ou seja, o atendimento de pacientes tmidos pela pesquisa
mostrou uma grande diversidade clnica.
O presente artigo se prope trabalhar as dificuldades que vm se apre-
sentando nos atendimentos de uma parcela dos sujeitos tmidos com rela-
o no apenas ao mbito da expresso, mas tambm ao envolvimento no
tratamento. um fato amide observado a baixa adeso s diferentes tera-
puticas, acompanhada de uma demanda por medicamentos para acalmar os
mais diversos sintomas psquicos. A experincia de estarem sob os cuidados
psicolgicos pode ser to penosa que sua interrupo uma alternativa for-
temente considerada e muitas vezes levada a cabo.
O olhar clssico do analista-investigador, aquele que busca extrair o metal
puro dos pensamentos reprimidos do minrio das ideias no intencionais
(Freud, 1905[1904]/1977, p. 267) parece repetir uma ameaa de desvela-
mento da qual o sujeito tmido se v vtima. Real ou fantasiado, o olhar
atribudo ao outro funciona com tonalidades persecutrias, na forma de
algo que acusa e julga (Avrane, 2007; Saltztrager, Sales & Herzog, 2012). O
sofrimento de ansiedade que acompanha a vergonha situa-se nessa tenso
produzida pela exposio ao olhar do outro. Como buscar aquilo que est
velado, a verdade por trs do discurso, se o sujeito se sente transparente, re-
velando toda a sua misria na superfcie? O olhar do analista conjurado a um
modo interpretativo se apresenta como um dos fatores que pode ser aliado
interrupo do tratamento. Nestes termos, torna-se urgente repensar o
dispositivo psicanaltico.
De_edipo_a_narciso.indd 104 25/08/2014 15:57:16
Por um olhar de confiana 105
Para realizar uma leitura desta problemtica, recorrer-se- ao paradigma
estabelecido por Winnicott (1971, p. 59) segundo o qual a psicoterapia trata
de duas pessoas que brincam juntas. De acordo com o autor, quando um
paciente no pode brincar, o analista deve prestar ateno nesse fato antes
de interpretar seu discurso manifesto (Winnicott, 1971). Tais coordenadas
sero o ponto de partida para a hiptese inicial de que os pacientes tmidos
encontram dificuldades em brincar no setting analtico. Para sustentar esta
afirmao, ser primeiramente descrito o conceito de brincar dentro da pers-
pectiva winnicottiana. Pretende-se, deste modo, encontrar elementos teri-
cos para auxiliar nas decises tcnicas a serem concernidas pelo psicanalista
em sua prtica.
O brincar
O brincar no um comportamento, mas um conceito. Se por um lado re-
monta especialmente infncia, por outro no se reduz a tal perodo da vida
ou s atividades que levam comumente seu nome; ou seja, est relacionado
com o que se entende em psicanlise como o infantil, o que extrapola a in-
fncia. A elaborao deste conceito depende de dois movimentos tericos
distintos: sua diferenciao em relao s outras concepes psicanalticas
que versam sobre o brincar infantil e sua generalizao para alm das fron-
teiras da infncia.
O brincar enunciado, enquanto conceito, a partir da divergncia de Win-
nicott (1971) em relao a algumas teses firmemente consolidadas pela psi-
canlise acerca das brincadeiras infantis. As crticas podem ser alocadas em
dois registros, o metapsicolgico e o tico. No primeiro deles, o brincar no
considerado uma atividade masturbatria. Esta crtica baseia-se no vrtice
terico de Winnicott segundo o qual h uma criatividade primria (um im-
pulso criativo bsico), operando em um regime distinto da pulso ou de sua
sublimao, que emerge espontaneamente no encontro da criana com um
ambiente adaptativo. A segunda crtica, estabelecida no plano tico, de que
o brincar no deve ser decifrado isto , no deve ser objeto de interpretao.
A partir desta posio, o mesmo deixa de ser o mero veculo de contedos a
De_edipo_a_narciso.indd 105 25/08/2014 15:57:16
106 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
serem interpretados pelo analista para passar a ser uma experincia em si.
Tanto a excitao sexual quanto a interpretao so tomadas como critrios
negativos para a enunciao do conceito por serem considerados eventos que
perturbam ou comprometem a capacidade do sujeito de brincar.
O brincar compreendido, portanto, como uma experincia. Em conso-
nncia com esta posio terica, Winnicott encontra condies para empre-
ender o segundo movimento a fim de torn-lo um conceito. Este movimento
consiste em extrair os traos estruturais dessa experincia, podendo assim
transgredir os limites impostos pelo sentido comum da palavra. Assim, o
brincar passa a ser um conceito com a potncia de nomear certas formas de
experincia que ocorrem com o sujeito, independentemente de sua idade.
Trata-se da realizao de um potencial criativo, isto , uma experincia na
qual o sujeito sente ter plena e indubitvel autoria. O exerccio da criativida-
de um elemento estrutural desta experincia: para Winnicott, pelo brin-
car que a criatividade se manifesta. Aquilo que ele designa como sentimento
do self conjunto de sensaes que podem ser agrupadas nas experincias
de sentir-se vivo, real e autor de seus movimentos acessvel de maneira
privilegiada pelo brincar. Longe de ser um passatempo ou um mecanismo de
defesa, implica uma ausncia de intencionalidade. Nesta configurao no se
busca lograr resultados ou produzir consequncias da seu carter intrinse-
camente espontneo. Esta particularidade ora caracterizada como um esta-
do no-intencional, ora designada como uma experincia de amorfia, na qual
se verifica uma ausncia de elementos impondo qualquer forma que preceda
e oriente o brincar (Winnicott, 1971).
evidente que tanto a criana quanto o adulto so incapazes de manter-se
brincando indefinidamente. O brincar uma atividade pontual, que comea
em um momento e termina em outro de forma espontnea. Nestes termos,
Winnicott (1971) afirma que a emergncia de tal experincia creditada por
certas condies proporcionadas pelo ambiente. A partir da apreciao mais
pormenorizada dos dois critrios negativos de enunciao do brincar a ex-
citao sexual e a interpretao , possvel deduzir certas condies ne-
cessrias para que a experincia do brincar tenha lugar. A excitao conduz
o sujeito a um estado de tenso levando-o a tomar medidas para reduzi-la.
A interpretao, por sua vez, interrompe o fluxo de experincia do brincar,
De_edipo_a_narciso.indd 106 25/08/2014 15:57:16
Por um olhar de confiana 107
forando o sujeito a ocupar-se com um elemento estranho a ele prprio, ao
invs de ocupar-se consigo. Desta maneira, tenso e adaptao so eventos
que inibem a possibilidade da espontaneidade e de uma vivncia criativa.
A tenso emparelha-se ansiedade. Estas duas experincias induzem o
eu a se reconfigurar em uma forma integrada com a finalidade de tomar as
medidas necessrias para alivi-lo de tais sensaes penosas. Em outras pa-
lavras, um grau extremo de ansiedade destri o brincar. O extremo oposto
da tenso o estado de relaxamento. Nesse estado, o sujeito no se sente
ocupado em administrar ou conter suas aes, e nem preocupado com as re-
aes que possam ser suscitadas no seu interlocutor em decorrncia de sua
conduta. Se no estado de tenso a morfologia do eu figurada como inte-
grada e constrita, no estado de relaxamento o eu pode ser imaginado como
estando no-integrado. Winnicott (1958/1983) descreve esse ltimo como
um momento comparvel ao devaneio, no qual no h qualquer orientao.
Nestes termos, o estado de relaxamento uma condio necessria para
viabilizar o brincar. Buscando uma maior preciso terica, pode-se compre-
ender que, se o brincar uma experincia, o relaxamento uma posio.
Enuncia-se assim que na posio de relaxamento que a experincia do brin-
car pode-se realizar.
O tmido e a relativa incapacidade para o brincar
A experincia clnica nos indica que certos pacientes que se qualificam como
tmidos apresentam dificuldades quanto submetidos ao enquadre analtico
clssico. Dentre as dificuldades destacamos, aqui, a impossibilidade de brin-
car. Tais pacientes mantm-se retrados e afastados, indicando pouco envol-
vimento no tratamento. Por consequncia, a ansiedade um afeto constante
e mesmo visvel. A regra fundamental associao livre no parece ter fun-
damento para sujeitos que sentem no ter nada a oferecer ao outro.
O analista, portanto, convocado a sair da posio de escuta para assumir
outra na qual consiga criar condies para o sujeito falar. Contudo, susten-
tar a posio de quem pergunta no suficiente e pode fracassar nesse in-
tento. Quando a expresso do analisando lacnica, fica claro o quanto sua
De_edipo_a_narciso.indd 107 25/08/2014 15:57:16
108 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
capacidade criativa est comprometida. Para Winnicott (1963/1983), a cria-
tividade consiste na possibilidade de dar um colorido autoral sua experi-
ncia; o discurso desses pacientes, contudo, praticamente monocromtico.
A partir destas observaes, podemos depreender a dificuldade que o
brincar em uma situao analtica para certos pacientes. O nvel de tenso
de tal ordem que compromete esta experincia. Diante desta constatao, a
deciso tcnica a ser concernida pelo analista a de oferecer condies nas
quais o paciente sinta-se relaxado. Interroga-se, no entanto, como criar tais
condies. Tanto Ferenczi (1931/2011) quanto Winnicott (1971) respondem
que a posio de relaxamento ou (no-integrao do eu) dependente da
confiana que o sujeito adquire em relao ao ambiente. Para estes autores, a
confiana pode ser estabelecida a partir de certas modificaes do enquadre
analtico, sendo elas notadamente orientadas pelas especificidades dos pa-
cientes (Cmara, 2012). Entretanto, fundamental a delimitao de marcos
conceituais que esclaream a natureza dessas especificidades no que concer-
ne aos sujeitos tmidos.
Se a aquisio do senso de confiana em relao anlise um meio de
contornar os nveis insuportveis de tenso que o sujeito sofre no encontro
com o analista, verificar a natureza dessa tenso pode fornecer evidncias
para as especificidades a serem levadas em conta. Considera-se que as teori-
zaes sobre o sentimento de vergonha na clnica dos sujeitos tmidos ofere-
ce um campo conceitual profcuo para esta investigao.
A vergonha e o olhar
No discurso de pacientes que se consideram tmidos, o sentimento de ver-
gonha ocupa um espao no-negligencivel, sendo descrito constantemente
como uma fonte particular de mal-estar. Segundo as consideraes feitas a
partir da pesquisa empreendida pelo NEPECC, a vergonha compreendida
como a principal emoo a organizar o modo de relao do sujeito tmido
com o mundo e consigo mesmo. A experincia deste sentimento no est
atrelada, de maneira fundamental, reao do sujeito a uma situao es-
pecfica potencialmente embaraosa, mas prpria imagem que tem de si.
De_edipo_a_narciso.indd 108 25/08/2014 15:57:16
Por um olhar de confiana 109
Mais precisamente, a forma de vergonha vivida pelos pacientes localiza-se na
tenso desta imagem de si com o olhar do outro (Venturi & Verztman, 2012).
Constata-se, desde os clssicos estudos de Darwin sobre as expresses
emocionais no homem e nos animais, que a vergonha uma emoo que
refere-se presena e opinio dos outros (Darwin, 1872/2013, p. 293). O
maior desejo de uma paciente atendida pela equipe, por exemplo, era de po-
der cantar no karaok e danar com desenvoltura em festas. Naturalmente,
em decorrncia de sua timidez, sentia-se inibida quando as oportunidades
se apresentavam. A presena de outras pessoas potenciais espectadores
intimidava-a, impedindo-a de ser espontnea e concretizar suas aspiraes.
Na solido de sua casa, por outro lado, fechava as cortinas e era capaz de
danar e cantar com liberdade, sem nenhum pudor; at o momento em que
algum chegasse ao seu apartamento, evidentemente. Esta narrativa trazida
pela paciente demonstra que os tmidos so capazes de brincar apenas em
condies muito especficas: isto , na solido, quando se est seguro de no
haver testemunhas.
Dois fatores intimamente relacionados esto em jogo no sentimento de
vergonha: a imagem que o sujeito tem de si e o valor atribudo ao olhar do ou-
tro. Clinicamente, as descries que o tmido consegue tecer sobre ele so ge-
ralmente acompanhadas de comparaes em relao s outras pessoas. Estas
comparaes funcionam sob a tirania de uma lgica do fracasso: sempre o eu
pior que o objeto, no importando o critrio que se utilize. Frequentemen-
te, o tmido se descreve como pequeno e ridculo, inadequado e insuficien-
te. Desta forma, o eu um retalho onde costurada uma srie de adjetivos
negativos que atestam a condio de inferioridade do sujeito em relao ao
mundo. Como revela Fausto a Mefistfeles: Com esta longa barba minha,
/ Falta-me o jeito airoso, a linha; / O ensaio ser-me- infecundo; / Jamais
soube adaptar-me ao mundo, / Ante outrem sinto-me to mido, / Sempre
estarei sem jeito em tudo (Goethe, 1808/2013, p. 199).
O sentimento de vergonha acompanhado pela sensao de permanen-
te desvantagem nas relaes sociais. Tais pacientes sentem-se em um esta-
do constante de ameaa, como se as relaes mantidas com os outros fosse
caracterizada por uma fragilidade essencial. Qualquer acontecimento pode
vir a quebrar estas relaes, enviando os pacientes de volta solido. Neste
De_edipo_a_narciso.indd 109 25/08/2014 15:57:16
110 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
sentido, os tmidos costumam sentir-se pouco vontade com as pessoas com
as quais, paradoxalmente, desejam manter relaes.
Qualificar-se de tmido descrever-se como algum que sofre o desejo
continuamente fracassado de ingressar em um mundo sentido como impos-
svel. Na cultura na qual estamos inseridos, em que a reinveno de si um
produto de consumo to disponvel e rpido quanto um corte de cabelo, de
se esperar que a demanda desses pacientes para uma psicoterapia seja a de
reconstru-los em uma verso mais adaptada ao mundo. Em certos discursos
no campo da psicologia, designa-se como habilidades sociais o repertrio
de competncias no qual o tmido deve ser treinado e instrudo para ser ca-
paz de funcionar da forma esperada nos eventos sociais.
Um objeto de constante preocupao destes pacientes estar diante do
olhar do outro: este pode desvelar a insuficincia que o envergonhado deseja
tanto ocultar. Seja em uma situao concreta ou imaginada, o olhar atribudo
ao outro funciona com tonalidades persecutrias. O sofrimento da vergonha
s pode ser entendido neste espao onde o sujeito se encontra na tenso de
sentir-se exposto diante de um olhar estranho. O tmido no se sente visto,
mas cruamente exposto, como se os seus elementos mais ntimos adornas-
sem as partes mais visveis de si.
Uma paciente passa a se considerar preguiosa aps sua me design-la
desta maneira. No se limitando apenas s fronteiras de sua casa, este marco
identificatrio convocado quando se compara aos colegas da faculdade.
iminncia de uma entrevista de estgio, a paciente revela que ter de saber
esconder o fato de ser preguiosa para conseguir a vaga. Preguia torna-se
uma palavra que condensa o valor explicativo para todos os fracassos que vi-
venciou, assim como para todos aqueles que certamente vo advir. A pregui-
a torna-se um adjetivo fundamental, provocando a sensao de que todos
aqueles que a olharem podero acessar este trao e conden-la. Os versos de
T. S. Eliot (1920/2013) se revestem de uma nova colorao a partir dessas
consideraes: And I have known the eyes already, known them all- / The
eyes that fix you in a formulated phrase [...]1.
1
E eu j conheci os olhos, conheci todos eles / Os olhos que te fixam em uma frase
pr-formulada. Traduo nossa.
De_edipo_a_narciso.indd 110 25/08/2014 15:57:16
Por um olhar de confiana 111
O olhar do analista
O estudo do sentimento de vergonha nos permite compreender com maior
apuro a natureza da tenso que o tmido sofre no tratamento. Conforme ex-
plicitado pela fala da paciente coligida no incio deste trabalho, para estes
sujeitos ser o centro das atenes uma experincia insuportvel. Ora,
como ento realizar um tratamento psicanaltico, se esta teraputica consis-
te justamente em colocar o sujeito sob a luz dos holofotes? Isto jamais parece
ter sido um problema na clnica da histeria, por exemplo. Nesta perspectiva,
o sujeito histrico funciona a partir da mxima falem mal, mas falem de
mim. O obsessivo, por sua vez, concede ser o centro das atenes, desde
que domine os holofotes e os guie meticulosamente para onde ele quiser que
estejam apontados. certo que a timidez no se encontra no mesmo plano
nosolgico que estas duas entidades clnicas; entretanto, a comparao cari-
catural pertinente para ilustrar uma dificuldade premente destes sujeitos
em relao ao tratamento analtico.
Seguindo esta analogia, o tmido no dispe nem das indumentrias da
histrica, nem do domnio do obsessivo. Estar diante do olhar do analista
estar potencialmente nu e impotente. Se o recurso metfora uma manei-
ra de falar sobre si, preservando-se da exposio absoluta, o sujeito tmido
encontra grandes dificuldades para desempenhar tal movimento. Neste sen-
tido, a figura do analista no est inclume de se tornar uma ameaa aos
pacientes envergonhados. Com muita facilidade, o rosto pouco responsivo e
neutro do analista converte-se em um olhar hostil, que avalia e acumula os
achados percebidos para us-los em algum momento ulterior. Compreende-
-se que o sujeito tmido se encontra, neste cenrio, em um estado de cons-
tante insegurana. Estar diante de um olhar que a todo o momento busca
devassar o sujeito e faz-lo confrontar-se consigo mesmo como lan-lo em
uma condio de vulnerabilidade. A situao analtica falha em propiciar um
espao confivel para que o sujeito sinta-se minimamente protegido e possa
se expressar. A consequncia direta disso um estado de tenso constante,
no qual o paciente se sente incapaz de brincar.
compreensvel o motivo pelo qual algumas abordagens psicoteraputi-
cas sejam to bem recebidas pelos sujeitos tmidos: aprender a agir de uma
De_edipo_a_narciso.indd 111 25/08/2014 15:57:17
112 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
maneira mais adaptada s expectativas sociais uma forma de alienar-se de
outras formas de ao menos adaptadas, porm mais prximas do que o su-
jeito sente como sendo suas. Observa-se que estas ltimas formas de agir so
gestos espontneos, que eventualmente escapam do cuidadoso repertrio de
inibies e clculos prvios. Estes lapsos momentneos de espontaneidade
podem ser seguidos por um afeto de extrema angstia, tornando-se, ami-
de, objetos de longa ruminao e lamento. Estas aes so descritas como
inadequadas ou ridculas. Elas induzem a um intenso desprazer e afloram o
afeto de vergonha quando relembradas. A paciente que sonhava em danar
em festas e em cantar em karaoks relatava no ter domnio algum sobre
seu corpo. Quando, em certos momentos, arriscara danar em uma boate,
descreveu sua forma de danar como desengonada e, mais que isso, ridcula.
No tarda a perfilarem adjetivos negativos que marcam o desempenho do
ato e estigmatizam as qualidades do ator.
Em parte dos pacientes tmidos, nota-se um grande sofrimento, consis-
tindo na dificuldade de se sentirem autores de suas vidas; o uso de tcnicas
que os faam adaptar-se o preo que esto dispostos a pagar para realiza-
rem esta aspirao. Algo nestes sujeitos no foi reconhecido por um olhar
importante no momento de sua constituio narcsica (Avrane, 2007). Este
algo luta por se tornar reconhecido ante outros olhares; entretanto, observa-
-se que este reconhecimento jamais adquirido. Tais esforos so colididos
frontalmente por fantasmas de desaprovao e crticas fulminantes enun-
ciados por olhares unvocos em suas sentenas. Uma direo que privilegie
a criatividade se torna compreensvel ao se cotejar esta problemtica: a ob-
servao da disposio para o brincar destes pacientes converte-se em uma
ferramenta terica til para o estudo da tcnica a ser concernida.
O percurso desenvolvido at agora ressaltou a dificuldade do sujeito tmi-
do com relao ao brincar na situao analtica, mostrando como esta dificul-
dade est articulada a uma tenso cuja experincia se contrape condio
essencial para que essa experincia se realize: o estado de relaxamento. A
partir destas consideraes, vimos que em um aporte clnico tradicional o
olhar do analista potencialmente reatualiza o olhar judicativo e avaliativo
que ameaa o envergonhado. Nestes termos, o olhar do analista pode repro-
duzir e evocar as mesmas experincias que conduzem o sujeito tmido a uma
De_edipo_a_narciso.indd 112 25/08/2014 15:57:17
Por um olhar de confiana 113
sensao de angstia insuportvel, tolhendo a possibilidade de espontanei-
dade. Neste sentido, cabe refletir sobre o olhar do analista, visando atribuir
a este olhar o estatuto de ferramenta clnica que possa favorecer o estado de
relaxamento, logo, o brincar.
Por um olhar de confiana
Propiciar para o sujeito tmido um espao que viabilize uma experincia de
autoria um dos objetivos a que se propem os atendimentos no NEPECC.
Esta postura diverge completamente de uma postura adaptativa e aposta na
primazia da criatividade, o que configura um referencial tico da anlise des-
tes pacientes. Se o brincar uma das manifestaes mais francas da potncia
criativa, sua eleio como ferramenta clnica uma via importante na dire-
o do tratamento. Sendo, portanto, nos casos citados, o impedimento do
brincar um fato clnico, Winnicott (1971, p. 80) supe duas decises lgicas
a serem levadas em conta: Se o terapeuta no pode brincar, ento ele no se
adqua ao trabalho. Se o paciente que no pode, ento algo precisa ser feito
para ajud-lo a tornar-se capaz de brincar, aps o que a psicoterapia pode
comear.
Segundo esta perspectiva, a constituio de um ambiente confivel au-
xilia o paciente no sentido de se tornar capaz de brincar. Se para que o tra-
tamento acontea indispensvel a criao de um vnculo com o paciente,
necessrio se criar um espao para tal. Este espao construdo pela confian-
a no analista. A confiana um estado consistente e contnuo que marca a
introjeo do sentimento de que o objeto confivel. Esta confiana no
um fato natural e espontneo, mas construdo na relao entre os dois atores
da cena analtica. Ressalta-se, assim, que este sentimento adquirido pela
experincia. Desta forma, somente atravs da relao que o lao se trans-
forma, remodelando-se em termos de um vnculo positivo e estvel entre o
paciente e o analista. A confiana se torna, assim, um elemento importante
para potencializar a continuidade do tratamento ou at mesmo para possi-
bilitar que o trabalho analtico tenha lugar. Mas como construir esta relao
de confiana?
De_edipo_a_narciso.indd 113 25/08/2014 15:57:17
114 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Ferenczi e Winnicott so enfticos ao afirmar que a confiana do paciente
algo que se conquista muitas vezes a duras penas. A confiabilidade do
objeto condiciona-se a partir de sua capacidade responsiva diante de expe-
rincias que remetem o sujeito ao desamparo. Nestes termos, a confiana
se adquire em ocasies em que o analista consegue adequar o enquadre, de
tal maneira que possa se efetivar uma resposta a certos estados de angstia
desorganizadores no sujeito. Ferenczi (1928/2011) nomeia elasticidade da
tcnica a ideia de que no seria o paciente quem deveria se enquadrar ao
dispositivo analtico, mas sim o analista. Como uma tira elstica, este ltimo
deve ceder s tendncias do paciente sem, no entanto, abandonar a trao na
direo da bagagem conceitual como psicanalista.
Ora, sendo o olhar o cone privilegiado para indicar o sofrimento da ver-
gonha e seu consequente impacto na capacidade para o brincar, por esta via
que deve-se abordar o sujeito tmido. Entretanto, surge uma questo: como
transformar o olhar do analista que inicialmente pode reatualizar a experin-
cia traumtica da vergonha em uma ferramenta que possibilite um lao con-
sistente entre analista e analisando? Esta situao paradoxal (Roussillon,
2005), na medida em que estes pacientes parecem, por um lado, demandar
a presena concreta do olhar do analista e, por outro, evit-la ou repudi-la.
O fato de o analista ser exigido em presena indica que o seu olhar, numa
dimenso perceptiva, pode ser utilizado a favor para a constituio e preser-
vao do campo teraputico, desde que seja respeitada a especificidade dos
pacientes.
Nestes termos, prope-se a noo de olhar de confiana. Longe de ter a
pretenso de ser um alicerce no tratamento desses sujeitos, sugere-se que
esta noo seja uma figura, uma expresso discursiva, um operador clnico
ou uma chave que integre o material terico apresentado com a experincia
obtida no tratamento do paciente. Sua funo representar um vetor que
agregue e oriente decises e solues a serem concernidas pelo analista no
tratamento de pacientes tmidos que apresentem sinais importantes de ini-
bio ou angstia ante a visibilidade concreta adquirida na relao terapu-
tica. Os fatores olhar e confiana, conjugados nesta funo, conduzem
composio de um olhar que seja elstico e moldado pelas peculiaridades
ligadas ao sofrimento da vergonha.
De_edipo_a_narciso.indd 114 25/08/2014 15:57:17
Por um olhar de confiana 115
Os esboos que sero apresentados nesta concluso no tm o valor de
regras, recomendaes ou dicas, mas apenas de imagens que possam compor
alguma materialidade noo proposta e instigar a criatividade do analista
quando em sua prtica e, logo, instigar a criatividade do paciente. A este
propsito, no podemos esquecer-nos de levar em conta a prudncia, inau-
gurada por Freud, no que concerne aos discursos sobre a tcnica psicanal-
tica. Posto este parnteses, invoca-se o que Winnicott considerou como o
dilema inerente atividade artstica: no imo do artista, h a coexistncia
de duas tendncias, a necessidade urgente de se comunicar e a necessidade
ainda mais urgente de no ser decifrado (Winnicott, 1963/1983, p. 168).
Pode-se reler esta dualidade na clnica do sujeito tmido, enunciando-se que
este demanda um olhar que o conduza no a um desnudamento, mas a um
reconhecimento.
Remetendo-se ao princpio de abstinncia, o analista pode decidir man-
ter um olhar neutro e uma postura opaca. Isto ocasiona, por sua vez, conse-
quncias srias na relao analtica com os pacientes tmidos. A qualidade
desse olhar invoca ressonncias traumticas, mobilizando o paciente para
lidar com elas. Em tais casos, o analista pode ter de se distanciar de uma posi-
o de investigador que para estes pacientes encarna uma srie de caracters-
ticas hostis, como o de examinador, avaliador, perseguidor, destruidor, etc.
Uma interpretao pode ser tomada como uma crtica. Por outro lado, ler-se
o mesmo fenmeno como a demanda por um reconhecimento no-obtido,
isto , por um olhar que consiga acolher e legitimar aquilo que no o foi ante-
riormente, tambm uma maneira de portar-se na clnica. Compreende-se, a
partir desta interpretao, que o sujeito anseia menos por um deciframento
do que pela possibilidade de conseguir comunicar-se, tanto consigo quanto
com o outro. A dificuldade singular que estes sujeitos apresentam ao ten-
tar empreender um dilogo verbal solicita do analista a ateno para outros
planos de comunicao, tanto no registro daquilo que recebe do paciente,
quanto do que emite para ele.
O campo perceptivo, nesse sentido, ganha certa importncia, pois per-
mite ampliar os modos de expresso. A via discursiva, na esteira do pensa-
mento de Ferenczi (1931/2011), no consiste no nico modo de expresso
possvel; uma comunicao por meio de gestos e sinais figurados no corpo
De_edipo_a_narciso.indd 115 25/08/2014 15:57:17
116 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
constitui uma via privilegiada para certas experincias. Conjecturou-se que
para o sujeito tmido falar de si uma tarefa rdua, logo as dimenses gestu-
al e corporal ganham o estatuto de via de expresso atravs da qual se pode
entrar em contato com mensagens que no necessariamente passam pelo
campo da linguagem. O face-a-face, ou o lado-a-lado consistem em posies
privilegiadas, permitindo reintroduzir a expresso de experincias atravs de
mensagens no-verbais e permitindo um modo de conversao que passa
por ancoragens corporais. O discurso, no entanto, continua sendo a via prin-
cipal no quesito da comunicao; contudo, trata-se de pensar a existncia
de uma comunicao mediante a qual as experincias psquicas possam ser
comunicadas por meio de outras vias (Mello, 2012). A noo de comunicao
, portanto, expandida: no se trata somente de um meio atravs do qual
se informa o outro, mas destaca-se uma interao por meios viscerais, uma
troca pelo detalhe (Roussillon, 2005). Com tais pacientes, portanto, o campo
perceptivo ganha um lugar privilegiado: a postura corporal, os gestos, mo-
mentos em que o contedo psquico apresentado mais que dito. Dessa
forma, possvel pensarmos em ferramentas clnicas que partem das im-
presses sensveis para o sentido e no somente das palavras para o sentido
(Gondar, 2010).
luz das ideias de Winnicott (1971), o analista, tal qual o olhar da me,
pode servir como uma espcie de espelho para o analisando. O olhar da me,
em condies favorveis, reflete aquilo que v no beb que, por sua vez, apre-
ender seus gestos e movimentos atravs desse olhar. Tal movimento, de
acordo com o autor, essencial para a distino entre eu e no-eu e para um
sentimento de continuidade da existncia. Isto , para ver o mundo com o
olhar de uma existncia singular necessrio inicialmente apreender a expe-
rincia de ter sido olhado. Assim, o olhar da me consiste em um dos aspectos
dos cuidados iniciais que fornece a experincia do prazer em ser olhado, per-
mitindo ao beb obter, atravs do olhar, uma existncia singular. O analista-
-espelho, por sua vez, ao invs de interpretaes pertinentes, reflete para o
analisando aquilo que este apresenta, se tornando um derivado complexo
da face materna que reflete o que visto no beb (Winiccott, 1971, p. 117).
Dessa forma, os gestos e detalhes do analisando so reenviados pelo analista,
reforando que o olhar no necessariamente algo que destitui a existncia
De_edipo_a_narciso.indd 116 25/08/2014 15:57:17
Por um olhar de confiana 117
causando embarao. Supe-se que, ao receber de volta os gestos posturais
apreendidos pelo analista, o analisando constitua uma ideia de interioridade
e intimidade, criando um estofo subjetivo que ir contra a sensao de obvie-
dade do fracasso de si diante do olhar do outro. O olhar do outro, destitudo
de um sentido absoluto, ganha outras funes tais como a funo de prazer
no ato de olhar e ser olhado. Nestes termos, o olhar de confiana privilegia
uma forma de comunicao alternativa ao registro verbal. A disponibilidade
de perceber nas expresses corporais ou afetivas algo que anseia ser reco-
nhecido complementada pela possibilidade de responder a elas atravs de
alteraes do setting. O olhar de confiana , portanto, um operador clnico
que consiste em um olhar que se mostre curioso, mas no invasivo; paciente,
mas no inerte; encorajador, mas no imperativo.
Retomando os versos de T. S. Eliot, espera-se que um olhar de confiana
oferea para o sujeito tmido ao menos um par de olhos que no o fixem em
uma frase pr- formulada. Talvez, assim, o tmido sinta-se capaz de brincar
na presena do outro.
Referncias bibliogrficas
Avrane, P. (2007). Les timides. Paris: ditions du Seuil.
Birman, J. (1991). Freud e a interpretao psicanaltica. Rio de Janeiro: Relume-Dumar.
Cmara, L. (2012). Do descrdito (desmentido) catstrofe: a teoria ferencziana do trau-
ma. Monografia, Instituto de Psicologia, UFRJ, Rio de Janeiro.
Ciccone, A. & Ferrant, A. (2009). Honte, culpabilit et traumatisme. Paris: Dunod.
Darwin, C. (1872). A expresso das emoes no homem e nos animais. So Paulo: Com-
panhia das Letras, 2009.
Eliot, T. S. (1920). The love song of J. Alfred Prufrock. In: Prufock and other observa-
tions. Disponvel em: <http://www.bartleby.com/198/1.html>. Acessado em: 5
de dezembro de 2013.
Ferenczi, S. (1928). Elasticidade da tcnica psicanaltica. In: Obras completas:Psica-
nlise, v. IV. So Paulo: Martins Fontes, 2011.
Ferenczi, S. (1931). Anlise de crianas com adultos. In: Obras completas:Psicanlise,
v. IV. So Paulo: Martins Fontes, 2011.
De_edipo_a_narciso.indd 117 25/08/2014 15:57:17
118 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Freud, S. (1905 [1904]). Sobre a psicoterapia. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1977.
Garcia-Roza, L. A. (1990). Palavra e verdade: na filosofia antiga e na psicanlise. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2005.
Goethe, J. W. (1808). Fausto: uma tragdia primeira parte. So Paulo: Editora 34,
2013.
Gondar, J. (2010). As coisas nas palavras. Ferenczi e a linguagem. In: Caderno de
psicanlise-CPRJ. Rio de Janeiro, ano 32, n. 23.
Mello, R. (2012). A problemtica da clivagem: aspectos tericos e clnicos. Tese de
doutorado. Programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica, UFRJ, Rio de Ja-
neiro, 2012.
Pacheco-Ferreira, F. (2012). Algumas questes sobre a angstia e sua relao com
a vergonha. In: Herzog, R.; Verztman, J.; Pinheiro, T. & Pacheco-Ferreira, F.
(Orgs.). Sofrimentos narcsicos. Rio de Janeiro: Cia. de Freud.
Roussillon, R. (2005). La conversation psychanalytique: un divan en latence. In:
Revue Franaise de Psychanalyse, v. 69. P.U.F.
Salztrager, R.; Sales, J. L. & Herzog, R. (2012). A fobia social uma fobia?. In: Her-
zog, R.; Verztman, J.; Pinheiro, T. & Pacheco-Ferreira, F. (Orgs.). Sofrimentos nar-
csicos. Rio de Janeiro: Cia. de Freud.
Venturi, C. & Verztman, J. (2012). Intersees da vergonha na cultura, na subjeti-
vidade e na clnica atual. In: Herzog, R.; Verztman, J.; Pinheiro, T. & Pacheco-
-Ferreira, F. (Orgs.). Sofrimentos narcsicos. Rio de Janeiro: Cia. de Freud.
Winnicott, D. W. (1958). A capacidade para estar s. In: O ambiente e os processos de
maturao. Porto Alegre: Artmed, 1983.
Winnicott, D. W. (1963). Comunicao e falta de comunicao levando ao estudo de
certos opostos. In: O ambiente e os processos de maturao. Porto Alegre: Artmed,
1983.
Winnicott, D. W. (1971). O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago.
De_edipo_a_narciso.indd 118 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos
narcsicos
J Gondar
Aquilo que tem sido atualmente designado como sofrimento narcsico no
uma entidade psicopatolgica definida, mas uma forma de considerar alguns
modos contemporneos de padecimento para os quais se buscam alternati-
vas tericas e clnicas. Design-los assim implica uma hiptese sobre o tipo
de sofrimento que acomete esses sujeitos: considera-se que h modos de ser e
de sofrer que se caracterizam por uma ausncia de coeso subjetiva. So mo-
dos subjetivos que remetem a uma fragilidade na constituio do narcisismo
em consequncia de vivncias traumticas muito primitivas. Existe nesses
sujeitos algum contorno, alguma unificao do corpo, mas essa unificao
no tem muita consistncia; o contorno egoico frgil e pode se desvanecer
com facilidade. justamente essa inconsistncia ou tendncia ao desvaneci-
mento que est sendo apontada como caracterstica do sofrimento narcsico.
possvel, e nada incomum, encarar essa modalidade de sofrimento a
partir de sua dimenso negativa, isto , definindo ou patologizando o sujeito
que assim sofre pela distncia que ele apresenta em relao a um modelo
positivo de subjetividade. A esses sujeitos faltaria algo um contorno, uma
identidade, uma unidade e devido a isso eles padecem. Trata-se de uma for-
ma possvel de pensar e existem trabalhos importantes que a desenvolvem.
Tambm existem outras. Gostaramos de desenvolver uma hiptese sobre
De_edipo_a_narciso.indd 119 25/08/2014 15:57:17
120 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
essa forma de funcionamento subjetivo que, em vez de tom-la apenas em
uma dimenso negativa, procura consider-la como uma estratgia existen-
cial positiva de lidar com o sofrimento. Nesse sentido, nossa abordagem se
far sob a lgica do paradoxo: sero levadas em conta uma perspectiva nega-
tiva e uma perspectiva positiva sobre os sofrimentos narcsicos, sem qual-
quer possibilidade de sntese entre as duas.
Porm a lgica do paradoxo no se reduz, nesse caso, a um problema de
abordagem ou de perspectiva. No simplesmente o olhar que lanamos so-
bre esse tipo de sofrimento que paradoxal. O prprio modo de ser e de
sofrer desses sujeitos tambm o . Fazendo recurso ao paradoxo, estamos
apenas procurando ser fiis modalidade existencial que est sendo tratada,
procurando entend-la como algo que se pesquisa, mas tambm como algo
com que se empatiza.
A hiptese apresentada como paradoxal a de que os sofrimentos nar-
csicos se caracterizam por um modo subjetivo instvel e por uma oscilao
entre tendncias opostas: uma delas caminharia no sentido da unificao,
enquanto que outra no sentido de uma fragmentao cada vez maior. essa
ideia que pretendemos agora explicar.
Entre fragmentar e unificar
As patologias contemporneas no apresentam o recalcamento como opera-
dor psquico fundamental; sobre isso no h muita discordncia, sendo essa
uma das principais razes pela qual se admite que o modelo erigido a partir
da neurose histrica insuficiente para pens-las. Com isso no se est afir-
mando que os sujeitos contemporneos no recalcam; o que est sendo dito
que o recalcamento no o seu principal operador subjetivo. O operador
privilegiado nesses casos a clivagem psquica, modo de subjetivao que foi
objeto de estudo de Ferenczi (1931; 1933) e de outros psicanalistas posterio-
res, dedicados ao trabalho com formas no neurticas de sofrimento.
Ora, a clivagem no incide sobre representaes inconciliveis com o eu,
como o recalque; ela age no plano do eu, conduzindo a sua fragmentao e
at mesmo pulverizao do eu. Como indica Ferenczi, h casos em que a
De_edipo_a_narciso.indd 120 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 121
fragmentao a nica forma que o sujeito encontra de poder suportar uma
dor impossvel. O abandono de uma percepo unificada faz desaparecer,
pelo menos, o sofrimento simultneo de um desprazer com mltiplas faces.
Cada fragmento sofre por si mesmo; a unificao insuportvel de todas as
qualidades e quantidades de sofrimento eliminada (Ferenczi, 1930/1992,
p. 248). Em casos de clivagens sucessivas, como costuma ocorrer com o ac-
mulo de microtraumas ou de situaes traumticas, o eu pode se tornar por
demais fragmentado e pulverizado, espalhado como um arquiplago de mui-
tas ilhas, podendo mesmo no se constituir no sentido que habitualmente
lhe damos: o de projeo mental da superfcie do corpo, capaz de forjar um
contorno prprio para o sujeito. Knobloch explica, em termos existenciais, a
proposta ferencziana: quando as foras a serem enfrentadas so ao mesmo
tempo grandes e mltiplas, o melhor jeito tornar-se mltiplo, fragmentar-
-se, pois assim aumenta-se a superfcie, diminui-se o impacto e pode-se su-
portar as vrias foras (Knobloch, 2013, p. 202).
Essas so situaes nas quais no teramos a constituio de um contorno
egoico, nem mesmo a de um contorno precrio. So modos de funcionamen-
to nos quais a parcialidade, a multiplicidade e a fragmentao predominam
sobre toda tentativa de unidade. Num texto sobre a relao entre acolhimen-
to e domnio das pulses, Ferenczi mostra como uma criana mal acolhida
teria muito mais dificuldade de passar de um estado de disperso pulsional
para a constituio de um eu unificado e para o plano de uma sexualidade
genital (Ferenczi, 1929). O no-acolhimento conduziria tendncia fixa-
o em funcionamentos regidos principalmente pelas pulses autoerticas,
parciais e dispersas. Nesses casos, nos deparamos com algo para aqum de
um narcisismo frgil. Falamos de fragmentao, parcialidade e de operaes
logicamente anteriores ao narcisismo: falamos de uma atividade autoertica.
importante frisar que entre autoerotismo e narcisismo existe uma anterio-
ridade lgica, mas no cronolgica, j que, como veremos em seguida, esses
momentos convivem e no se sucedem um ao outro.
O autoerotismo pode ser definido como uma resposta presso pulsional
caracterizada por um modo fragmentrio e multiforme de erotizar (Accioly,
2010). Por um lado, poderamos dizer que o autoerotismo seria uma primei-
ra forma de erotismo, erotismo que sofre uma reorganizao depois que uma
De_edipo_a_narciso.indd 121 25/08/2014 15:57:17
122 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
nova ao psquica o narcisismo se estabelece. Essa ideia, porm, no
exata. No apenas porque o autoerotismo se reorganiza em modos mais
complexos de funcionamento ertico, mas principalmente porque o autoero-
tismo no desaparece, ou seja, ele no inteiramente substitudo por formas
supostamente mais organizadas ou mais evoludas. Mesmo depois de uma
nova ao psquica ele permanece operante, ou seja, o registro autoertico
continua em ao depois do surgimento de outros modos de organizao
pulsional e de outros investimentos libidinais. Existe sempre em todos ns
uma operao do fragmento que coexiste com a tendncia unificao, o que
nos conduz a supor uma tenso interna entre o empuxo unificador do eu e a
parcialidade multiforme da sexualidade autoertica (Accioly, 2010). Isso vale
para todos os modos subjetivos.
A questo que nas neuroses clssicas a tendncia unificao consegue
levar alguma vantagem. por amor imagem de si que a histrica e o obses-
sivo recalcam. Todas as representaes ou os desejos inconciliveis com essa
imagem de si so recalcados pelo eu, um eu com fora suficiente para tal. Mas
nos chamados sofrimentos narcsicos esse eu aparece fragmentado, e a uni-
ficao que o narcisismo promove no se d. A busca pela unificao se man-
tm, porm no consegue dominar outra tendncia em sentido contrrio. A
tenso mais forte, conduzindo a uma eterna oscilao entre a tendncia a
fragmentar e a tendncia a unificar.
No devemos considerar o empuxo ao fragmento como uma tendncia
apenas negativa, como resultado de um desenvolvimento que deveria ter
sido feito e no pde s-lo. Existe positividade na fragmentao, e podemos
ver nela alternativas que no apenas a patolgica. Para alm de um corpo
despedaado ou de um sujeito dissociado, vislumbramos a constituio de
um modo sagaz de existncia. Ferenczi, como vimos, mostra como em de-
terminadas situaes a fragmentao a nica maneira de lidar com uma
dor insuportvel. Porm a fragmentao no apenas uma defesa; ela tam-
bm uma forma paradoxal de manter a singularidade e alguma autonomia
em situaes de captura subjetiva. Uma subjetividade fragmentada menos
capturvel: trata-se, como prope Felicia Knobloch (2013), de buscar uma
modificao autoplstica criando realidades que no se situam na relao
narcsica com o outro. Ao clivar-se em muitos corpos, estando em toda a
De_edipo_a_narciso.indd 122 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 123
parte ao mesmo tempo e, assim, em nenhuma, o eu aumenta sua superfcie,
diminui o impacto das foras oponentes e se torna capaz de suportar vrias
foras (Knobloch, 2013). Cria assim uma arte de viver em perigo, uma pr-
tica atravs da qual ele busca, ativamente, desfigurar-se para no desfigurar,
fragmentar-se como forma de resistncia fragmentao (Knobloch, 2013,
p. 202).
Uma estratgia semelhante se verifica na literatura e na arte a partir do
sculo XX. No por acaso, uma lgica fragmentria se faz presente tanto
nos modos de subjetivao quanto na esttica contempornea. E com que
propsito? Esse problema foi muito bem colocado por Maurice Blanchot em
Lentretien infini, ao considerar a fragmentao como possibilidade de criao
de mundos: Quem diz fragmento no deve apenas dizer fragmentao de
uma realidade pr-existente, nem momento de um conjunto ainda por vir
[...]. Na violncia do fragmento uma outra relao, inteiramente diferente,
nos dada, numa afirmao irredutvel unidade (Blanchot, 1969, p. 32).
tambm o que realiza Proust nos sete volumes de sua Recherche. O universo
proustiano um universo em pedaos. Suas partes permanecem divididas,
fragmentadas, sem que nada lhes falte, como sugere Deleuze:
partes eternamente parciais levadas pelo tempo, caixas entreabertas
e vasos fechados, sem formar nem supor um todo, sem nada faltar
nessa diviso, e denunciando de antemo toda unidade orgnica que
se queira introduzir. Quando Proust compara sua obra a uma catedral
ou um vestido no para defender um Logos como bela totalidade,
mas, ao contrrio, para defender o direito ao inacabado, s costuras e
aos remendos (Deleuze, 2003, p. 150).
Entre esquizoidia e narcisismo
Retornemos agora ao tema dos sofrimentos narcsicos. Poderamos dizer,
em resumo, que neles observamos uma oscilao entre um movimento na
direo do narcisismo e um movimento na direo do autoertico, ou, de
outro modo, uma tendncia unidade convivendo com uma tendncia
De_edipo_a_narciso.indd 123 25/08/2014 15:57:17
124 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
fragmentao. Essa ideia se aproxima da que a psicanalista norte-americana
Althea Horner props, na dcada de 70, ao descrever o funcionamento osci-
latrio dos pacientes borderline. Horner (1976) mostrou que esses pacientes
apresentavam um padro pendular, marcado pela instabilidade e por mudan-
as sbitas. Uma dessas variaes foi por ela apontada como fundamental:
a oscilao entre uma questo narcisista e uma questo esquizoide. Ora, um
modo esquizoide justamente o que estamos aqui chamando de cindido,
fragmentrio, parcial. , de fato, a conotao de esquizo, termo originado do
grego schizo, que significa dividir, separar, cindir. O esquizo o clivado por
excelncia.
Pretendemos aqui usar a ideia proposta por Horner como outros analis-
tas j fizeram1 s que agora a expandindo como uma tendncia ou, melhor
dizendo, como tendncias presentes em quaisquer modos de subjetivao. A
ideia, em suma, a de que nos chamados sofrimentos narcsicos se radicaliza
uma tenso existente em todos ns.
Residiria a, talvez, a complexidade e a riqueza desses sujeitos. Suas flu-
tuaes e mudanas bruscas estariam ligadas justamente oscilao entre
esses dois movimentos libidinais. A tendncia na direo do narcisismo seria
um movimento de busca de unificao, mas realizado por esses pacientes de
uma forma canhestra: ao invs de construrem um eu mais coeso para si, eles
buscariam a unidade aderindo a um outro, convocando esse outro como uma
espcie de prtese da existncia do sujeito, estabelecendo-se assim uma esp-
cie de narcisismo por tabela. Aparentemente, o movimento de constituio
de um eu; contudo, essa suposta constituio se vale da adesividade ao outro
externo. H, contudo, e ao mesmo tempo, um movimento na direo con-
trria: uma operao de retirada do investimento nos outros externos e um
retraimento para si. Essa seria a forma pela qual o sujeito se defende da in-
vaso que a adesividade proporciona: produz-se uma diminuio de contatos
com o mundo e o retorno parcialidade autoertica. Atravs dessa atividade,
o sujeito tenta evitar que a situao traumtica primria, na qual teria expe-
rimentado um estado de perdio, seja reativada nas relaes com o mundo.
1
Ver por exemplo Figueiredo, L. C. O caso-limite e as sabotagens do prazer in Elementos para
a clnica contempornea.
De_edipo_a_narciso.indd 124 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 125
Entretanto, no se pode reduzir a tendncia ao autoertico a um procedi-
mento defensivo. O movimento na direo da parcialidade e do fragment-
rio pode ser visto como um processo participante da constituio existencial
do sujeito, processo que lhe d uma potncia e uma capacidade para viver
em situaes e zonas-limite (Knobloch 2013, p. 205). Como escreve Renata
Mello, os estilhaamentos psquicos, positividades pelo avesso, sobrevivem
em meio aos ventos e s mars (Mello, 2012, p. 70).
Fairbairn (1952/1996), grande especialista nesses movimentos de reti-
rada prprios do que ele chama de paciente esquizoide afirma que todo
modo de subjetivao possui como base uma certa esquizoidia, constituindo-
-se a partir de cises do eu. O filsofo Gilles Deleuze cria uma bela imagem
para este modo cindido de funcionamento: so as ilhas ocenicas, ilhas ml-
tiplas, espalhadas e independentes umas das outras, capazes de expressar
concretamente as mltiplas clivagens que jamais formam um eu consistente
(Deleuze, 2006). Diferentemente das ilhas continentais, as ilhas ocenicas
no possuem um istmo que as ligue ao continente e, em sua multiplicida-
de, isolamento e desero do mundo estabelecem um modo singular de
territorializao.
De qualquer modo, ainda que em alguns sujeitos haja a predominncia
de um ou de outro modo subjetivo, mais canhestramente unificado ou mais
fragmentrio, podemos supor que exista sempre, nos sofrimentos narcsi-
cos, uma oscilao entre os dois. por isso que esses pacientes apresentam
inmeras vezes um funcionamento paradoxal: so impulsivos e lentos; pa-
recem no ter noo do outro, ao mesmo tempo que so excelentes obser-
vadores dos outros e de si mesmos. Oscilam entre momentos de retrao e
de expanso. Nesses ltimos eles costumam agir ou, com frequncia, atuar
de uma maneira precipitada, incauta, sem se darem conta de certos aspectos
bvios do entorno, sem perceberem os sinais do mundo. Momentos em que
sua percepo da realidade parece bem pequena a hora em que o pacien-
te narcsico se mostra sem noo ou muito ingnuo. Em outras situaes
eles se voltam para dentro, para uma auto-observao. So os momentos de
retrao autoertica quando, paradoxalmente, demonstram um aumento da
percepo: nessa hora so capazes de perceber com acuidade a si mesmos e
ao ambiente e de realizar anlises surpreendentemente lcidas sobre o que
De_edipo_a_narciso.indd 125 25/08/2014 15:57:17
126 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
acontece com eles e com o entorno. Nesse aspecto eles so bastante sensveis
(so muito hbeis para sentir com) e perspicazes.
Em suma, existem momentos em que o outro visto como uma espcie
de ideal e, nesse sentido, um semelhante mesmo se idealizado ; enquanto
que em outros o sujeito se sente sem semelhante algum, num mundo sem
outrem. ( importante dizer que esses momentos no so to puros, e que
nem sempre essas caractersticas se mostram to claramente. Mas, de qual-
quer modo, suas caractersticas paradoxais se mantm). Poderamos resumir
as duas tendncias, em suma, como um movimento de expanso inconsis-
tente (no estilo de um gigante com ps de barro) e um movimento de retra-
o e isolamento. A ideia proposta por Green de que as angstias fundamen-
tais dos borderline a angstia de abandono e a angstia de invaso podem
se combinar bem com essa proposta. Nos sujeitos borderline e os pacientes
narcsicos se encaixam bem aqui a questo sempre a da boa distncia.
Problema que acaba desembocando num paradoxo de resoluo impossvel,
j que uma invaso tambm constitui um abandono, e um abandono no
deixa de ser uma invaso.
De qualquer modo, no me parece que os sofrimentos narcsicos devam
ser situados de um lado ou de outro de uma bscula; clinicamente mais
rico alm de mais fiel ao que empiricamente observamos nos tratamentos
analticos situ-los na prpria bscula, no movimento pendular incessante,
capaz de promover um equilbrio metainstvel como o de um funmbulo na
corda bamba, sustentando-se a partir do prprio desequilbrio. Isso significa
pensar que o paciente narcsico no se caracteriza por um delineamento, por
um tipo de contorno e nem tampouco pela falta dele; o que marca esses sujei-
tos um certo modo de circulao de energia, afetos, padres relacionais,
humores. Esse modo de circulao no avesso produo de contornos ou
formas; a questo que essas formas seriam temporrias, formas em trn-
sito. Ao invs de se situar em um ou outro polo, as subjetividades narcsicas
permaneceriam no entre, constituindo uma lgica paradoxal.
importante deixar claro que, em um paradoxo, o entre no constitui um
lugar do meio, e nem mesmo um novo lugar. No se trata de, entre preto e
branco, estabelecer um cinza o que implicaria uma sntese entre os polos
, e sim de levar em conta os inmeros matizes que existem entre preto e
De_edipo_a_narciso.indd 126 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 127
branco, matizes em deslocamento permanente que apontam para um movi-
mento de oscilao: quando os dois polos so afirmados ao mesmo tempo,
no podemos reduzir nem a um nem a outro o que pretendemos observar.
Pensar por fronteiras, pensar por limiares
Quando esto em jogo experincias psquicas que se situam para alm das
vivncias neurticas, preciso usar um modo de pensamento ou uma l-
gica que tambm as ultrapasse. Caso contrrio, seramos levados sempre a
pensar nos sofrimentos narcsicos como neuroses mal acabadas, instituin-
do a neurose como modelo universal da subjetividade e definindo as outras
modalidades subjetivas em relao a ela. Teresa Pinheiro (2007) menciona,
a esse respeito, as pesquisas sobre autismo realizadas por Paulina Rocha e
Ana Elizabeth Cavalcanti. Houve um momento em que, ao invs de definir
as crianas autistas pelo dficit por sua ausncia de desejo ou fantasia, por
sua dificuldade na relao com o mundo e com a vida , elas se perguntaram:
mas o que, afinal, essas crianas tm?2. De que maneira elas poderiam ser po-
sitivamente definidas? Como descrever seu modo prprio de subjetivar-se?
Poderamos fazer a mesma pergunta em relao aos pacientes narcsicos: o
que que eles tm? Como que positivamente funcionam?
O que pode ser dito, de sada, que a dinmica do sofrimento narcsico
paradoxal. No isso ou aquilo (oposio que caracteriza uma lgica binria);
na verdade isso e aquilo ao mesmo tempo (tenso que caracteriza o parado-
xo). Se tentarmos entender o sofrimento narcsico a partir de uma lgica
binria bom/mau, fora/dentro, positivo/negativo, esperana/desespero
s vamos apreend-lo enquanto deficitrio, pois vamos paut-lo no modo
de funcionamento que mais conhecemos; esse sujeito ento ser visto pelo
negativo, como um neurtico mal acabado aquele que no simboliza, no
representa, no integra, no recalca e no tem fronteiras. Ou, ao menos, que
realiza tudo isso de forma muito precria.
2
A este respeito ver Pinheiro, T. Prefcio a Cavalcanti, A. e Rocha, P., Autismo: construes e
desconstrues.
De_edipo_a_narciso.indd 127 25/08/2014 15:57:17
128 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Todavia, quando o que est em jogo um funcionamento pendular, osci-
latrio, a prpria ideia de fronteira no se aplica. Fronteira o que se cons-
titui a partir do recalcamento neurtico; um psiquismo caracterizado por
fronteiras foi a proposta de Freud em sua primeira tpica na qual a neurose
de destacou como modelo subjetivo construda na suposio de limites de-
finidos entre as instncias psquicas e entre o eu e o outro. Lidos desde esta
clave, os sujeitos narcsicos teriam que ser descritos pelo que eles no tm.
Que noo ento poderamos usar, de maneira positiva, para caracterizar o
funcionamento narcsico? Sem dvida, necessrio, para caracterizar qual-
quer modo de funcionamento, supor que ele ocorre a partir de algum limite,
tanto no registro intrapsquico quanto na relao com o outro. Mas seria
possvel falar de limite sem falar de fronteira?
Walter Benjamin nos ensina como podemos faz-lo, estabelecendo uma
diferena entre fronteira e limiar. No livro inacabado das Passagens, no ca-
derno sobre prostituio e jogo, Benjamin escreve: O limiar deve ser rigoro-
samente diferenciado de fronteira. O limiar uma zona. Remete mudana,
transio, fluxo (Benjamin, 1927-1940/2006, p. 535).
Jeanne-Marie Gagnebin (2010) escreve um belo artigo sobre essa distin-
o. A fronteira, diz ela, designa uma dupla operao de esprito e de lingua-
gem: desenha-se um trao ao redor de algo para lhe dar uma forma bem defi-
nida e evitar que esse algo se derrame sobre suas bordas. A fronteira contm
e mantm algo, evitando seu transbordar; define seus limites e as limitaes
de seu domnio. um conceito que remete a contextos jurdicos de delimita-
o territorial. Sua transposio sem acordo prvio ou controle regrado sig-
nifica uma transgresso, interpretada no mais das vezes como uma agresso
potencial (Gagnebin, 2010, p. 13).
Quanto ao limiar, Gagnebin explica que ele se inscreve num registro mais
amplo do que o da fronteira um registro de movimento, de ultrapassagem,
de passagens, de transies. Na arquitetura, o limiar apresenta justamente
essa funo de transio: permite ao morador ou ao passante que possa tran-
sitar, sem dificuldade, de um lugar a outro, um lugar diferente, s vezes at
oposto. Como exemplos arquitetnicos teramos a rampa, o umbral, a soleira
de porta, vestbulo, corredor, escadaria, sala de espera num consultrio, sala
de recepo num palcio, prtico, porto numa catedral gtica. Em suma,
De_edipo_a_narciso.indd 128 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 129
o que o limiar faz no simplesmente separar dois territrios (como faz a
fronteira): ele permite a transio. Benjamin o aproxima da ideia de onda. E
no por acaso que escreve sobre o limiar num caderno sobre prostituio: o
limiar uma zona. Lembra viagens, fluxos e contrafluxos. No significa sim-
plesmente separao, como a fronteira, mas aponta para um lugar e um tem-
po intermedirios e, nesse sentido, indeterminados [...] (Gagnebin, 2010,
p.15). aquilo que se situa entre duas categorias, essa zona intermediria
qual se costuma opor tanta resistncia, pois na maioria das vezes se prefere
as oposies demarcadas e claras (masculino/feminino, pblico/privado, eu/
outro), mesmo que se procure, em seguida, dialetizar essas dicotomias.
Mas de que maneira a noo de limiar poderia contribuir para o desenvol-
vimento de nossa questo? Seria possvel se construir um modelo de funcio-
namento psquico a partir de uma dinmica pautada por limiares?
Rede e vescula: duas metforas para a vida psquica
Vale a pena aqui retomarmos os modelos de funcionamento psquico pro-
postos por Freud. Quanto a isso, Pontalis (1974) apresenta um comentrio
capaz de nos fazer avanar; no por acaso, ele o escreve a propsito da publi-
cao francesa de um texto de Fairbairn sobre esquizoidia. Segundo Pontalis,
Freud teria nos oferecido duas metforas para pensar a vida psquica. A pri-
meira teria sido apresentada no Projeto (Freud, 1895): a imagem da rede
neural e da rede associativa, pressupondo fluxos, transmisses, trajetos, en-
trecruzamentos, pontos nodais. A noo de trilhamentos tributria desse
modo de conceber a vida psquica. A outra imagem se encontra em Alm do
princpio do prazer: a imagem da vescula viva que, para proteger-se de
uma efrao traumtica, cria para si mesma um escudo protetor estabelecen-
do um limite entre o dentro e o fora.
Pretendo aqui fazer um certo deslocamento, usando as metforas de Pon-
talis de um modo diferente do que ele prprio utilizou. possvel pensar que
a imagem da vescula a imagem da fronteira, enquanto que o modelo da
rede neural indica que possvel se estabelecer ligaes sem que haja a neces-
sidade de erigir snteses ou contornos delimitados.
De_edipo_a_narciso.indd 129 25/08/2014 15:57:17
130 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
nesse sentido que o modelo proposto por Freud em 1895 absolu-
tamente contemporneo: justamente a lgica da rede que teria hoje, no
plano social, cultural e poltico, substitudo uma lgica arborescente, disci-
plinar, baseada em um modelo identitrio. Ehrenberg (1998) mostra como
a primeira tpica freudiana, construda desde a ideia de fronteiras bem
delineadas entre as instncias e entre o fora e o dentro, tributria de
uma sociedade disciplinar. Hoje vivemos uma outra forma de organizao
social e subjetiva, na qual predomina o funcionamento rizomtico, isto ,
a lgica da rede. Lgica que no muito distinta da que nos oferecida
pelos trilhamentos freudianos: nela a memria consiste na capacidade de
ser permanentemente modificado por experincias nicas que estabele-
cem facilitaes e diferenas entre essas facilitaes (Freud, 1895/1976,
p. 399), ou, em outros termos, choques que criam trajetos privilegia-
dos em rede, sem fronteiras definidas, podendo combinar-se sob modos
diferentes.
A atualidade dessa proposta surpreendente se pensamos no funciona-
mento da Web: no h nela configurao de fronteiras ou de identidades, e
sim links rizomticos, que se espalham como grama. A memria na Web pode
ser equiparada ao modelo do Projeto (Freud, 1895): em ambas, a memria
no se caracteriza por algum tipo de contedo como uma imagem ou um
som; ela no concebida como um conjunto de lembranas e sim como uma
combinao que vai sendo criada conforme a transmisso da excitao ou de
inputs. A memria a prpria rede, so os prprios trilhamentos, e no algo
dentro deles. Desse modo o que importa so os trnsitos, as passagens e no
as fronteiras ou as identidades. Para que um estmulo possa constituir tri-
lhamentos, preciso que ele tenha impressionado, marcado suficientemente
o sujeito; preciso que ele o tenha excedido vamos usar aqui o termo psi-
canaltico: traumatizado. necessrio que um estmulo forte impressione o
psiquismo para que uma trilha se constitua, e se constitua com o intuito de
descarregar o estmulo.
Dizer que a rede se constitui devido aos choques pode parecer sur-
preendente, mas Freud o sugere, e Ferenczi, mais tarde, far disso uma
tese sobre a memria: ela seria constituda por traumas ou, para usar
seus prprios termos, os traos mnmicos so cicatrizes de impresses
De_edipo_a_narciso.indd 130 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 131
traumticas (Ferenczi, 1926/1993, p. 402). H em Ferenczi, como h em
um certo Freud, o reconhecimento da dimenso criadora dos traumas, di-
menso esta que poderia levar construo de um modelo de funciona-
mento organizado por limiares, ao invs de uma lgica identitria, pautada
por fronteiras.
Foi dito mais acima que o modelo da rede permite estabelecer ligaes
sem a necessidade de snteses ou contornos delimitados. Nesse ponto, cabe
estabelecer uma distino entre dois conceitos que costumam ser confun-
didos: o conceito de ligao e o conceito de sntese. verdade que algumas
formas de ligao como as ligaes entre representaes ou entre afetos e
representaes se fazem no sentido de estabelecer snteses, integraes,
colaborando para a constituio de um eu. Neste sentido, o funcionamen-
to autoertico, fragmentrio, trabalharia no sentido de dissolver ligaes.
Todavia, nem toda ligao se estabelece visando a constituio de um con-
torno unitrio. O modelo da rede caracteriza-se justamente pela sua ca-
pacidade conectiva, de ligao. Seria possvel estabelecer ligaes sem que
elas confluam para a construo de um eu? Ana Accioly nos aponta um
caminho interessante a este respeito: segundo ela, podemos pensar que o
autoerotismo, como operao ertica fragmentria e multiforme, poten-
cializa as ligaes de Eros, na medida em que as multiplica e autonomiza
(Accioly, 2010, p. 22). Nesse caso, as ligaes no se fazem no sentido da
sntese, mas da multiplicidade: elas podem criar novas formas de erotiza-
o e novas possibilidades de subjetivao ainda que, sem dvida, com
sua dose prpria de sofrimento. De qualquer modo, podemos dizer que se
toda sntese corresponde a uma ligao, nem toda ligao corresponde a
uma sntese.
E o lugar do analista?
As fronteiras, como vimos, predispem aos binarismos, s oposies bin-
rias entre eu e outro, ou mesmo no seio do prprio sujeito. Porm um sujeito
que permanece no entre, isto , que apresenta um funcionamento paradoxal
no pode se encaixar nessa lgica, pois o entre justamente o que nos lana
De_edipo_a_narciso.indd 131 25/08/2014 15:57:17
132 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
nos matizes, impedindo e desfazendo os binarismos. Se deixamos de usar as
fronteiras como base, o que nos permite conhecer ou reconhecer uma forma
subjetiva o seu modo de circulao e seu movimento. Mas como podera-
mos pensar, nesse caso, a funo ou o lugar do analista?
Talvez tenhamos que questionar a prpria pergunta. Pois a suposio de
lugares na clnica corresponde a um pensar por fronteiras elas tambm
delimitam lugares. Ora, se pudssemos definir um lugar do analista, basta-
ria que nos posicionssemos corretamente para que um trabalho de anlise
acontecesse. Mas para isso teramos que combinar previamente com o outro
lado como props Garrincha. Feliz ou infelizmente, no assim que as coi-
sas se passam, nem no futebol nem na clnica.
O que no significa que devamos descartar to rapidamente a questo
sobre os lugares na psicanlise. Talvez a clnica seja sempre uma interrogao
sobre o lugar do analista e sobre os lugares em geral, interrogao provenien-
te de nossa sensao de estarmos sempre fora de lugar e, nesse sentido,
podemos aprender muito com os pacientes narcsicos. Tratando-se de clni-
ca contempornea, esse o sentimento mais comum que ambos, paciente e
analista, experimentam. Os sujeitos contemporneos no possuem refern-
cias identificatrias capazes de lhes proporcionar um lugar. Ns tampouco.
Quanto mais determinarmos o lugar a partir do qual a experincia clnica
pode se dar mais vamos nos afastar dela, ao menos com esses sujeitos. Talvez
sejamos mais fiis experincia analtica justamente quando abrimos mo
de nossos referenciais tericos e clnicos e nos deslocalizamos, para usar o
termo feliz de Ana Accioly (2010).
De fato, a clnica possui um carter contingente e contextual que no
pode ser previsto pela teoria. Isso no implica que devamos descartar de vez
nossos conceitos; o que podemos fazer coloc-los em suspenso e, se qui-
sermos realmente avanar, trabalhar com aporias. Na filosofia, a aporia re-
mete ao paradoxo, dvida, ao movimento de autocontradio que impede
a determinao do sentido de um texto. Aristteles definiu as aporias como
igualdade de concluses contraditrias. Trabalhar com aporias nos conduz a
suportar o indecidvel nos textos e nas situaes, nas crenas e nas prticas.
Isso significa tambm afirmar e sustentar, como topos positivo, o fio da na-
valha, o mesmo lugar onde nossos pacientes se encontram.
De_edipo_a_narciso.indd 132 25/08/2014 15:57:17
Um paradoxo nos sofrimentos narcsicos 133
Referncias bibliogrficas
Accioly, A. (2010). Autopoiese e auto-erotismo na transferncia. Tese de Doutorado em
Sade Coletiva defendida no IMS/UERJ.
Benjamin, W. (2006). Passagens (1927-1940). Org. W. Bolle. So Paulo: IMESP.
Blanchot, M. (1969). Lentretien infini. Paris: Gallimard.
Cavalcanti, A. E. & Rocha, P. S. (2007). Autismo. Construes e desconstrues. So
Paulo: Casa do Psiclogo.
Deleuze, G. (2003). Proust e os signos. Rio de Janeiro: Forense-Universitria.
Deleuze, G. (2006). Causas e razes das ilhas desertas. In: A ilha deserta e outros tex-
tos. So Paulo: Iluminuras.
Ehrenberg, A. (1998). La fatigue dtre soi. Dpression et societ. Paris: Odile Jacob.
Fairbairn, R. (1952). Schizoid factors in the personality. In: Psychoanalytic studies of
the personality. London: Routledge, 1996.
Ferenczi, S. (1926). O problema da afirmao do desprazer. In: Obras completas. Psi-
canlise III. So Paulo: Martins Fontes, 1993.
Ferenczi, S. (1929). A criana mal acolhida e sua pulso de morte. In: Obras comple-
tas. Psicanlise IV. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
Ferenczi, S. (1930). Traumatismo e aspirao cura. Notas e fragmentos. In: Obras
completas. Psicanlise IV. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
Ferenczi, S. (1931). Anlise de crianas com adultos. In: Obras completas. Psicanlise
IV. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
Ferenczi, S. (1933). Confuso de lngua entre os adultos e a criana. In: Obras comple-
tas. Psicanlise IV. So Paulo: Martins Fontes, 1992.
Figueiredo, L. C. (2003). Elementos para a clnica psicanaltica. So Paulo: Escuta.
Freud, S. (1895). Projeto para uma psicologia cientfica. In: Edio standard brasileira
das obras psicolgicas completas de Freud, v. I. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
Gagnebin, J.-M. (2010). Entre a vida e a morte. In: Otte, G.; Sedimayer, S. & Cornel-
sen, E. (Orgs.). Limiares e passagens em Walter Benjamin. Belo Horizonte: Editora
UFMG.
Horner, A. (1976). Oscillatory pattterns of object relations and the borderline pa-
tient. In: International Review of Psychoanalysis, n. 3, p. 479-482.
Knobloch, F. (2013). No exlio da doena: polifonias subjetivas. In: Cadernos de Psica-
nlise SPCRJ, n. 29, p. 195-208.
De_edipo_a_narciso.indd 133 25/08/2014 15:57:17
134 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Mello, R. (2012). A problemtica da clivagem: aspectos tericos e clnicos. Tese de Dou-
torado em Teoria Psicanaltica defendida no IP/UFRJ.
Pinheiro, T. (2007). Prefcio: O que essas crianas tm? In: Cavalcanti, A. E. & Rocha,
P. S. Autismo. Construes e desconstrues. So Paulo: Casa do Psiclogo.
Pontalis, J.-B. (1974). propos de Fairbairn. In: Nouvelle Revue de Psychanalyse, n.
10, p. 56-59.
De_edipo_a_narciso.indd 134 25/08/2014 15:57:17
Tempos da interpretao e modalidades
rtmicas em anlise
Ana Brbara Andrade & Regina Herzog
A interpretao, como dispositivo clnico, vem sendo considerada insufi-
ciente para dar conta das configuraes subjetivas mais referenciadas pela
teoria da clnica contempornea. Esta uma constatao recorrente na co-
munidade psicanaltica diante dos impasses que o analista vem enfrentando
na atualidade e se deve ao fato de que, hoje, muitos daqueles que buscam
tratamento psicanaltico apresentam dificuldades acentuadas no mbito da
dimenso imaginativa da fantasia. A problemtica apresentada por esses pa-
cientes parece referir-se, mais precisamente, a uma paralisia da plasticidade
e mobilidade da atividade fantasmtica. Nesta medida, todo deslizamento de
sentido a ser promovido pelo movimento interpretativo encontra obstculos
frente a um enrijecimento das possibilidades de fantasiar.
Na pesquisa clnica realizada no NEPECC, a imobilidade fantasstica ga-
nha contornos mais claros quando se observa nos pacientes a presena de
uma fantasia esttica que ocupa o espao psquico de forma determinante,
cuja caracterstica central a crena em uma indiferenciao entre sujeito
e objeto. Esta fantasia de indiferenciao associa-se predominantemente
figura materna, com quem estabelecem imaginariamente uma relao de in-
timidade absoluta, a qual nos leva a pensar em uma espcie de apagamento
da diferena eu-outro (Andrade, 2013; Andrade et al., 2013).
De_edipo_a_narciso.indd 135 25/08/2014 15:57:17
136 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
A ausncia de plasticidade e mobilidade da fantasia parece ser resultado
de dificuldades para atravessar a experincia de separao e interiorizao do
objeto primrio. Em linhas gerais, esses sujeitos apresentam perturbaes da
funo da alteridade em sua organizao psquica precoce. Tais perturbaes
estariam relacionadas a um excesso de presena do objeto primrio, man-
tendo-o atrelado a uma fantasia de no-diferenciao e tornando estagnada
sua mobilidade psquica. Quando o investimento materno no permite ao
sujeito vivenciar de forma gradual experincias de ausncia objetal, o outro
sentido como excessivamente presente, o que vem impedir o ensejo e o livre
curso de sua vida imaginativa.
No contexto de um investimento objetal benfico, a criana buscaria ela-
borar a perda do objeto atravs de sua capacidade de pensar e de representar
a ausncia. Ela pode utilizar sua atividade incipiente de fantasiar imaginan-
do que o objeto ausente perceptivamente est presente em outro lugar, re-
presentado junto a um outro (Roussillon, 2003). Assim, ao lidar com a perda
do objeto, o sujeito d ensejo vida fantasstica, quando preenche a falta do
objeto com sua prpria atividade de fantasiar. Desse modo, suas fantasias
vo se ampliando gradativamente em termos de plasticidade e mobilidade
psquica. Isto no o que ocorre com os casos clnicos a que nos referimos
acima.
Vale observar que o carter de indiferenciao que se destaca na fantasia
privilegiada desses sujeitos se coaduna ao modo particular de insero do su-
jeito na cultura contempornea, a qual incide, como se assevera atualmente,
em uma acentuada homogeneizao, sustentada por um movimento tenaz
de apagamento de toda diferena. A este respeito, Birman (2012) nos indica
em sua leitura do processo scio-histrico de transio da modernidade
contemporaneidade que tal transio teria engendrado uma modificao es-
sencial da posio subjetiva predominante na cultura. Isto , teria ocorrido
uma mudana que implica a transposio de uma posio subjetiva de ordem
alteritria, qual seja, uma posio que pressupe a incluso do outro em sua
experincia psquica, para uma posio solipsista do sujeito, que implica em
um fechamento diante do outro. Neste sentido, possvel estabelecer linhas
de continuidade entre a fantasia de indiferenciao eu-outro, observada nos
casos atendidos pela pesquisa, e a cultura solipsista contempornea. Ainda
De_edipo_a_narciso.indd 136 25/08/2014 15:57:17
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 137
que esta fantasia dual do paciente, atribuda mais correntemente relao
objetal primria, parea admitir um reconhecimento do outro, no acento
dado dependncia absoluta a um objeto privilegiado, tal fantasia s ocorre
a expensas de um apagamento do outro em toda a sua diferena o que no
deixa de significar, em ltima instncia, o apagamento de si.
Nosso objetivo aqui o de examinar a especificidade da tcnica psicana-
ltica que uma abordagem clnica com esses pacientes exige. Supomos que o
desafio fundamental para a direo do trabalho analtico com esses pacientes
seja, como bem sugere Fdida (2009), que o analista passe a se interrogar
sobre o seu poder de descobrir para ele uma lngua indita (Fdida, 2009,
p. 156; traduo nossa). O tempo e o ritmo dessa tal lngua indita sero os
aspectos que buscaremos desenvolver no presente artigo.
Com efeito, uma primeira questo que se coloca a de saber se seria pre-
ciso rejeitar a interpretao como modalidade tcnica central. Nossa posio
a de que o dispositivo tcnico da interpretao no est ultrapassado e no
deve ser descartado, mas sim redimensionado no contexto clnico atual. Para
tanto, propomos compreender o movimento interpretativo em um sentido
mais amplo. Supomos ser possvel apresentar uma definio mais abrangente
de interpretao, entendendo-a como um fazer interpretativo que contempla
todas as falas, aes ou gestos do analista capazes de produzir alguma mobi-
lidade psquica no paciente. Esta expresso vai permitir explicitar o carter
mltiplo e flexvel da interveno do analista, tal como se faz necessrio no
tratamento psicanaltico das subjetividades contemporneas.
Desta maneira, nossa aposta a de que, ao concebermos o movimento
interpretativo como o conjunto das intervenes do analista no tratamento
quer ganhem a forma de imagens simples, falas interrogativas ou apazi-
guadoras, quer ganhem a forma de construes mais elaboradas ou extensas
, reconhecemos que elas comportam virtualmente um valor interpretativo
a ser atualizado na relao transferencial entre analista e analisando. Con-
vm esclarecer que o valor interpretativo de uma interveno, mais do que
promover deslizamentos de sentidos, tem o poder de operar um trabalho de
ligao entre o discurso do analisando e o discurso do analista, graas a um
compartilhar afetivo de pensamentos, sentimentos ou imagens cujo resulta-
do ser um novo ato de constituio de si.
De_edipo_a_narciso.indd 137 25/08/2014 15:57:17
138 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Partindo desta definio mais abrangente de interpretao, nos inte-
ressa abordar a particularidade da direo do tratamento com os casos cl-
nicos cuja dificuldade central se situa na fixidez da atividade fantasmtica.
A nosso ver, o trabalho analtico com esses pacientes visaria tornar mais
fluido o acesso do psiquismo ao direito e ao prazer de pensar, de fantasiar,
de existir. Nesta perspectiva, o movimento interpretativo do analista no
teria como propsito a elucidao de uma verdade latente, isto , a deci-
frao de um significado secreto (Freud, 1900/1974, p. 544) a ser des-
vendado pelo mtodo da interpretao. Com base na inspirao freudiana
presente em Construes em anlise (1937), a funo do analista com
esses casos depende eminentemente de um trabalho de inveno. Inven-
o de novas narrativas, novos afetos, novas histrias possveis de serem
contadas.
Os tempos da interpretao
Prosseguindo na questo da especificidade da funo do analista na clnica
atual, convm examinar determinados processos psquicos operantes no mo-
vimento interpretativo do analista. Entre as ideias com as quais o analista se
confronta durante o tratamento, h, de um lado, aquelas construes mais
elaboradas, resultado de um trabalho psquico alcanado por meio de uma
articulao reflexiva entre as suas prprias associaes e as associaes do
paciente e, de outro, determinadas construes que se impem ao analista
como interpretaes estranhas, abstratas, que nos vm no se sabe de onde
(Pontalis, 1994, p. 109).
Estamos mais familiarizados com o primeiro tipo de experincia psquica
da interpretao, sobretudo pelo fato de a teoria da tcnica psicanaltica ter
conferido a essa modalidade sua legitimidade como mtodo clnico. poss-
vel observar que a interpretao, quando produzida por meio de um trabalho
psquico de elaborao, supe uma temporalizao ordenada, relativamen-
te linear, do movimento interpretativo. Trata-se de uma tentativa de enca-
dear lgica e cronologicamente os momentos apropriados para se propor a
interpretao.
De_edipo_a_narciso.indd 138 25/08/2014 15:57:17
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 139
O segundo tipo de experincia, por sua vez, diz respeito ao modo pelo
qual determinada interpretao forjada pelo analista de forma impensada,
irrefletida, como se tivesse sido formulada inadvertidamente, a qual surge
tanto sob a forma de imagens, quanto de expresses espontneas de lingua-
gem. Essa modalidade interpretativa produziria no analista uma experincia
de desterritorializao, como se perdesse provisoriamente seus referenciais
identitrios. Na definio precisa de Pontalis, uma experincia que nos de-
portaria para alm das fronteiras do nosso campo afetivo costumeiro e de
nossa geografia interna (Pontalis, 1994, p. 109). Nessas condies, como
se o analista no tivesse tido a possibilidade de realizar um trabalho de elabo-
rao consciente sobre o seu prprio processo psquico antes de formul-la. A
essa segunda modalidade interpretativa sugerimos denominar interpretao
irrefletida.
A propsito desta modalidade, MUzan (1994) nos oferece, com a noo
de quimera psicolgica, elementos importantes para a discusso. Trata-se,
segundo o autor, de uma forma de organismo novo, criado como produto
de uma coliso entre os processos psquicos do analista e do analisando. A
atividade dessa quimera manifestar-se-ia atravs de um cortejo de imagens
banais ou estranhas que ocupariam o campo psquico do analista. Ao estu-
dar os processos inconscientes do analista passveis de se expressar na inter-
pretao, MUzan (1994) os descreve, semelhana de Pontalis (1994), como
matrias psquicas brotadas no se sabe de onde (MUzan, 1994, p. 169;
traduo nossa). Sua natureza insondvel remetida, assim, quimera psi-
colgica, processo que se desenvolveria no psiquismo do analista de maneira
quase subterrnea (MUzan, 1994).
Sendo assim, se a interpretao reflexiva supe um tempo linear e orde-
nado, a modalidade irrefletida da interpretao pressiona o psiquismo do
analista ameaando desfazer as ordenaes por ele constitudas, indicati-
va de um tempo que o ultrapassa, avesso a qualquer ordenao. Esse tem-
po corresponde prpria temporalidade do inconsciente, se o entendemos
como uma virtualidade que, sbita e descontinuamente, pode se atualizar
em manifestaes inesperadas e imprevisveis (Gondar, 1995). Esse tempo
contempla, portanto, o carter fortuito, a natureza imprevisvel da experin-
cia interpretativa.
De_edipo_a_narciso.indd 139 25/08/2014 15:57:17
140 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
A nosso ver, a possibilidade de se abrir para tais interpretaes irrefleti-
das deve pressupor que uma atividade psquica do analista em sua prpria
identidade se mantenha integrada, coesa, mas ao mesmo tempo predisposta
a uma abertura aos afetos sbitos e inesperados que surgem na sesso. Des-
te modo, seu espao psquico estaria preservado, impedindo a instalao de
uma rea de experincia psquica de indiferenciao, onde o processo analti-
co acabaria por se mostrar improdutivo e estagnado.
Importa esclarecer ainda que os dois registros da interpretao coexis-
tem na experincia analtica, convivendo sob a forma de tenso. Se o campo
psicanaltico lida tanto com o tempo ordenado quanto com o tempo puro da
pulso, como nos mostra Gondar (1995), ele engloba, na mesma medida, o
devir catico e os modos de domin-lo, isto , de lidar com (Bewltigen)1 o
tempo da pulso. A partir desta distino, convm nos interrogarmos a res-
peito do estatuto da interpretao na obra freudiana, o que permitir apro-
fundar a discusso. Para tanto, faz-se necessrio o exame de determinadas
proposies freudianas acerca do trabalho analtico.
A temporalidade da interpretao em Freud
Comecemos pela afirmao de Freud (1912/1974) a respeito da comunicao
entre inconscientes. A referncia a este modo de comunicao aparece em sua
obra sob a forma de uma meno, surgindo de maneira sbita, quase como
um acidente fortuito que interrompe a continuidade de seu discurso. Ela fun-
cionaria, segundo Freud, semelhana de um receptor telefnico, incluindo,
ainda que indiretamente, a possibilidade da ocorrncia de uma interpretao
irrefletida. A disponibilidade do analista para direcionar seu prprio incons-
ciente ao inconsciente do paciente implica que o analista renuncie ao contro-
le de uma temporalidade ordenada da interpretao, tornando-a suscetvel
aos possveis arrebatamentos pulsionais despertados neste encontro.
1
Para uma maior compreenso sobre o modo como Freud indica a possibilidade de lidar com
o devir pulsional, remetemos o leitor anlise hermenutica do termo alemo bewltigen, no
contexto de uma discusso sobre os afetos do analista (Andrade & Herzog, 2011).
De_edipo_a_narciso.indd 140 25/08/2014 15:57:17
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 141
Todavia, essa proposio no desenvolvida ou retomada posteriormen-
te por Freud. No que concerne figura tcnica da interpretao, vemos que
o modelo clnico mais dominante na obra freudiana decorre de um traba-
lho psquico de elaborao por parte do analista. Em Psicanlise silvestre
(1910/1974), Freud critica as intervenes selvagens em anlise que teriam o
efeito de surpreender o paciente muito precocemente. Ao contrrio de uma
espontaneidade irrefletida da interpretao, Freud privilegia outro modelo
de conduo clnica. Ele valoriza a espera de um longo intervalo de tempo
para que as intervenes do analista possam ser apresentadas ao paciente,
a fim de garantir que as resistncias ao tratamento no se intensifiquem de
forma a impedir sua continuidade. Deste modo, Freud prescreve duas con-
dies para a interveno analtica: a necessidade de que o paciente esteja,
graas ao trabalho de elaborao, muito prximo de determinado contedo
recalcado para que o analista venha a propor sua interpretao. E em segun-
do lugar, que o vnculo transferencial esteja assegurado, estabelecendo um
terreno afetivo que permita ao analista propor sua interpretao (Freud,
1910/1974).
Em A questo da anlise leiga, Freud (1926/1974) aborda novamente a
necessidade de uma posio analtica atenta ao bom tempo para a interpreta-
o. Em suas palavras: A frmula : esperar at que o paciente tenha chegado
to perto do material reprimido que ele tenha apenas mais alguns passos
na dianteira da interpretao que o senhor propuser (Freud, 1926/1974, p.
251). Ao ordenar a temporalidade da interpretao, procura mostrar que o
determinante no somente o que o analista sente ou compreende a respeito
do paciente, mas que a interpretao esteja fundada como bem pontua Gre-
en (1974) na avaliao da distncia entre aquilo que o analista se prontifica
a comunicar e a apreciao hipottica daquilo que o paciente pode receber
como comunicao.
Ainda que esta seja a posio dominante no texto freudiano, podemos
notar nas entrelinhas de seu pensamento a ideia de uma abertura do ana-
lista para aquilo que da ordem do intensivo em seu prprio psiquismo. Ou
seja, possvel extrair de seu pensamento uma tenso entre duas perspec-
tivas clnicas, dois tempos distintos ambos possveis para o movimento
interpretativo.
De_edipo_a_narciso.indd 141 25/08/2014 15:57:17
142 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Neste sentido, no toa que Freud (1913/1974) teria proposto uma
analogia entre o processo analtico e o jogo de xadrez, o que denota tanto
uma abertura para a surpresa, como tambm a necessidade de uma apre-
ciao reflexiva do movimento interpretativo. Embora ele tenha chamado
a ateno para o carter de imprevisibilidade do jogo, o jogador de xadrez
no deixa de refletir sobre todas as suas jogadas em termos mais amplos,
prevendo seus efeitos em todas as suas possibilidades e atento ao esquema
mais geral do jogo. Trata-se, em ambos os casos, quer seja o analista quer seja
o jogador, de recorrer a uma capacidade estratgica de avaliar suas aes e de
tentar prever seus desdobramentos. Freud parece conceber o trabalho anal-
tico nestes termos, como um trabalho de avaliao e de previso consciente
dos efeitos de suas aes, as quais so operadas de forma ordenada e refleti-
da. Neste sentido, o excessivo apego de Freud a um modelo de interpretao
fundada em um trabalho consciente do analista no deixa de revelar, de seu
lado, uma tentativa de controle e domnio daquilo que da ordem do inten-
sivo, do pulsional no-ordenado, a fim de referenci-lo segundo uma ordem
temporal.
Mas se Freud desenvolveu sua teorizao da tcnica pautada prioritaria-
mente em um tempo ordenado, novas elaboraes neste campo puderam ser
propostas pelos autores ps-freudianos, no sentido de indicar uma prtica
analtica voltada tambm para o tempo do imprevisto. Se o jogo de xadrez
a analogia utilizada por Freud para pensar a experincia psicanaltica, o jogo
do rabisco winnicottiano serve como analogia para se pensar uma prtica cl-
nica mais sensvel afetividade circulante na relao transferencial, modelo
menos ancorado em uma visada estratgica da interveno do analista. Para
defini-lo de forma sucinta, o jogo do rabisco uma inovao tcnica propos-
ta por Winnicott (1968) para o atendimento com crianas era realizado
sem quaisquer regras ou regulamentos, escapando a toda tentativa de cl-
culo (Phillips, 2008). Winnicott (1968) propunha criana que completasse
um rabisco rudimentar que ele acabava de traar em uma folha em branco,
desenhando algo que pudesse ser reconhecvel e partilhvel. Em seguida, era
a vez de a criana comear o jogo, fazendo seu rabisco para que Winnicott o
completasse. Estes desenhos conjuntos tinham sua origem em movimen-
tos espontneos tanto do paciente quanto do analista, visando construir um
De_edipo_a_narciso.indd 142 25/08/2014 15:57:17
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 143
produto novo, algo maior do que a soma das partes dos rabiscos dos dois
(Winnicott, 1968).
Podemos depreender que essa nova visada clnica, bem representada pela
contribuio terico-clnica winnicottiana, admite um modo de interpretar
sujeito s surpresas, que surgem menos ordenadamente e mais espontanea-
mente no encontro entre analista e analisando. A perda estratgica com-
pensada por um ganho ttico. Em outras palavras, o movimento psicanal-
tico, menos afeito a intervenes com objetivo estratgico, se ancoraria em
uma perspectiva clnica de natureza ttica, isto , quando o analista capaz
de se tornar sensvel para a particularidade de cada momento do tratamen-
to, cada um deles comportando arranjos afetivos inditos. Essa sensibilida-
de do analista se refere, especialmente, ao carter rtmico do movimento
interpretativo.
O tempo rtmico: entre a consonncia e a dissonncia
Convm diferenciar dois modos possveis de o analista manejar a transfern-
cia. Da decorreriam dois ritmos temporais distintos, por assim dizer, para a
conduo clnica. Em primeiro lugar, h o ritmo que capaz de produzir um
efeito de ruptura, de descontinuidade, entre o discurso do analista e o do pa-
ciente. Segundo esta perspectiva bem ilustrada pelas indicaes de Fdida
(2009) , a interpretao do analista viria introduzir uma diferena, a fim
de tornar o analisando, ele prprio, desarmnico em relao a seus ideais,
seu discurso. Nesta concepo clnica, o modo de lidar com a transferncia
se orientaria por uma relao de dissonncia entre analista e analisando. A
interpretao no ressoaria de forma harmoniosa no analisando, mas, ao
contrrio, teria a potencialidade de subitamente desordenar sua organiza-
o subjetiva, tal como uma nota musical fora de seu tom. Em contraposio
perspectiva da dissonncia, podemos destacar outro modo de o analista
manejar a relao transferencial, que se estabelece a partir de um estado de
consonncia psquica entre analista e analisando. Nesta perspectiva, a nfase
dada capacidade do analista de exercer sua funo em harmonia com a
subjetividade do paciente (Andrade, 2013).
De_edipo_a_narciso.indd 143 25/08/2014 15:57:18
144 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Considerando os dois ritmos descritos acima, retomemos a questo que
movimenta nossa discusso. Sendo nosso propsito investigar as condies
de possibilidade para o movimento interpretativo na clnica atual, nos per-
guntamos: na experincia analtica com esses pacientes, o ritmo do manejo
deve privilegiar uma consonncia ou uma dissonncia entre analista e anali-
sando? Nossa aposta, mais do que privilegiar a consonncia ou a dissonncia,
a de propor a concomitncia entre os dois ritmos.
Privilegiar uma posio exclusivamente consonante acabaria pode acarre-
tar, na experincia analtica, uma iluso de apagamento da diferena, justa-
mente a iluso que o sujeito se esfora por manter imutvel em sua fantasia.
Nesta perspectiva, a dissonncia teria o efeito positivo de desfazer minima-
mente a iluso de indiferenciao eu-outro, efeito visado na direo do trata-
mento com esses pacientes.
Quanto importncia de certa dissonncia entre analista e analisando, Win-
nicott (1987) nos oferece uma importante contribuio com sua noo de me
suficientemente boa. Muito embora seja comum a crtica ao seu pensamento
pela suposta iluso de uma figura materna indefectvel uma me sem erros e
acertadamente cuidadosa na ateno ao seu beb , a proposio de Winnicott
justamente oposta. O conceito de uma me suficientemente boa remete,
segundo Winnicott, a uma me que, no mximo, consegue ter um cuidado ra-
zovel com seu beb, o que certamente implica em erros e falhas. O que o autor
procura mostrar que, durante o tempo em que a me cuida de seu beb, ela
est continuamente corrigindo as suas falhas. Estas falhas relativas, s quais
se d uma soluo imediata, acabam sem dvida sendo comunicadas, e assim
que o beb acaba tomando conhecimento do sucesso (Winnicott, 1987, p. 80).
Do mesmo modo, na relao transferencial, Winnicott (1969) aponta a
necessidade de o analista errar com seu paciente, ou seja, de que no tenha
uma posio perfeitamente consonante. Algumas interpretaes mal feitas
pelo analista, afirma o autor, podem ser destinadas a informar ao paciente
sobre o limite de sua compreenso, o que possibilita marcar uma distino
entre o analista e o analisando, para que uma diferenciao eu-outro possa
emergir (Winnicott, 1969). Pontalis (2005a) vai nesta mesma direo ao se
referir aos bons efeitos da interpretao errada; ele indica que o analista
pode e deve cometer erros erros geralmente bem menos danosos do que o
De_edipo_a_narciso.indd 144 25/08/2014 15:57:18
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 145
prprio analista poderia pensar (Pontalis, 2005). Por erros entende-se aque-
las falas ou movimentos do analista que produzam no paciente a impresso
de que no se amoldam ou no se ajustam aos seus prprios pensamentos e
afetos, tendo o efeito de um acorde dissonante em seu psiquismo.
Quando o analista comete erros, o paciente pode responder a esses en-
ganos por meio da expresso de sua agressividade, resposta essencial para
que o sujeito possa descobrir a prpria externalidade do objeto (Winnicott,
1969, p. 127). Desta maneira, o paciente pode se afirmar em sua existncia
separada do outro modalidade de afirmao subjetiva fundamental para um
psiquismo submetido aos efeitos de uma fantasia de no-diferenciao eu-
-outro. Sem a experincia de destrutividade mxima (objeto no protegido),
o sujeito jamais coloca o analista para fora (Winnicott, 1969, p. 127). Neste
contexto, a resposta do analista ao dio expresso pelo paciente igualmente
importante, a qual consiste para dizer de forma simplificada em no re-
taliar, isto , a de no esboar qualquer represlia (Winnicott, 1969)2.
Quanto experincia de consonncia entre analista e analisando, trata-se
mais propriamente dos momentos frteis da anlise em que uma comunicao
do analista coincide com a do paciente, em um tempo processual capaz de dar
continuidade experincia de criao de um material psquico novo. Com isso
analista e analisando podem vivenciar juntos uma experincia particular capaz
de promover a iluso, no paciente, de que aquilo que lhe comunicado rece-
bido como um produto que poderia ter sido criado por ele prprio. Imagino
esse processo como se duas linhas viessem em direes opostas, podendo apro-
ximar-se uma da outra. Se elas se superpem, ocorre um momento de iluso
(Winnicott, 1945, p. 227)3. Este momento de iluso produziria no paciente a
impresso de que aquele material comunicado pelo analista encontrado/cria-
do, amoldando-se harmonicamente aos seus prprios afetos e pensamentos.
2
A dinmica transferencial ora descrita refere-se formulao winnicottiana relativa ao
uso de um objeto (Winnicott, 1969).
3
Esta citao de Winnicott (1945) refere-se mais especificamente experincia de iluso
propiciada pela relao me-beb, quando aquilo que o beb alucina e aquilo que o mundo
apresenta para ele so vistos como idnticos. Em outras palavras, o beb vem ao seio, pronto
para alucinar alguma coisa [...] nesse momento aparece o bico real, e ele pode ento sentir que
esse bico era exatamente o que ele estava alucinando (Winnicott, 1945, p. 227).
De_edipo_a_narciso.indd 145 25/08/2014 15:57:18
146 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Consideraes finais
Para construir em anlise um espao que assegure a presena do analista
muito vivamente, porm sem exceder em interpretaes que soem invasivas,
preciso que este recorra s imagens que se formam em seu psiquismo. Com
aquelas imagens que provm no se sabe de onde e que se formam na atualida-
de do encontro transferencial, o analista confere uma forma ao discurso do
paciente, promovendo alguma mobilidade fixidez do fantasiar que emperra
a sua plasticidade psquica. Oferecer-lhe imagens esta a direo do trata-
mento que, quando utilizada pelo analista como recurso tcnico, capaz de
propiciar um desdobramento da mobilidade psquica do paciente.
Em vista disso, cabe indagar, mais precisamente, como as imagens comu-
nicadas pelo analista podem ser capazes de mobilizar a atividade fantasmti-
ca do analisando. Para responder a esta questo, convm retomar mais uma
vez a concepo winnicottiana a respeito da interpretao. Para o autor, o es-
sencial de uma interpretao no se refere ao seu contedo ou inteno que
a sustenta, mas quilo que o paciente pode fazer dela. Neste sentido, o impor-
tante no o contedo que o analista comunica, mas aquilo que, em sua co-
municao, se oferece para ser modificado (Winnicott, 1968a). Em outras pa-
lavras, a interpretao um objeto brilhante4 que excita a cobia do paciente
(Winnicott, 1941, p. 53; traduo nossa). Trata-se, portanto, de algo de natu-
reza amorfa, aquilo com que o material se assemelha, antes de ser moldado,
cortado, ajeitado e agrupado (Winnicott, 1971, p. 54). Nesta perspectiva, o
movimento interpretativo pressupe o aspecto inacabado da interpretao
um movimento de carter infindvel, inconclusivo, a ser completado.
Nestes termos, cabe prioritariamente ao paciente moldar ou dar forma s
imagens emprestadas pelo analista. Quando o paciente usa as imagens comu-
nicadas pelo analista e as complementa, moldando-as ao seu modo, ele expe-
rimenta um prazer novo, surpreendendo-se a si mesmo em funo daquilo
que vai surgindo. Quando nos surpreendemos a ns mesmos, afirma Win-
nicott (1970, p. 36), estamos sendo criativos e descobrimos que podemos
4
Aqui Winnicott (1941) compara a interpretao do analista esptula de metal que ele
utilizava no atendimento por ocasio de uma situao padronizada de observao de bebs.
De_edipo_a_narciso.indd 146 25/08/2014 15:57:18
Tempos da interpretao e modalidades rtmicas em anlise 147
confiar em nossa inesperada originalidade. A direo do tratamento com
esses sujeitos no visa, portanto, produzir uma submisso do paciente quilo
que o analista oferece, mas, sim, a possibilidade de ambos compartilharem a
experincia de se surpreender com o que surge de forma criativa e irrefletida
em anlise. Dessa maneira, o sujeito poder vir a inventar uma nova narrati-
va sobre si mesmo, graas a um acesso mais livre matria plstica e mutvel
de sua vida imaginativa.
Referncias bibliogrficas
Andrade, A. B. T. (2013). O lugar do analista na clnica atual: da fixidez da fantasia
mobilidade psquica. Tese de doutorado, UFRJ/IP/Programa de Ps-graduao em
Teoria Psicanaltica.
Andrade, A. B. T.; Pacheco-Ferreira, F. & Verztman, J. (2013). Transparence psychi-
que et traumatisme: considrations partir dune recherche clinique. Paris: Re-
cherches en Psychanalyse, 2013/2, n. 16.
Andrade, A. B. T. & Herzog, R. (2011). Os afetos do analista na obra freudiana. In:
Psicologia Clnica, v. 23, n. 1.
Birman, J. (2012). O sujeito na contemporaneidade. Rio de Janeiro: Civilizao
Brasileira.
Fdida, P. (2009). Crise et contre-transfert. Paris: PUF.
Freud, S. (1900). A interpretao dos sonhos. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. V. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1910). Psicanlise silvestre. In: Edio standard brasileira das obras psicol-
gicas completas de Sigmund Freud, v. XI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1912). Recomendaes aos mdicos que exercem a psicanlise. In: Edio
standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XII. Rio de
Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1913). Sobre o incio do tratamento (novas recomendaes sobre a tcnica
da psicanlise I). In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de
Sigmund Freud, v. XII. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1926). A questo da anlise leiga. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
De_edipo_a_narciso.indd 147 25/08/2014 15:57:18
148 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Freud, S. (1937). Construes em anlise. In: Edio standard brasileira das obras psi-
colgicas completas de Sigmund Freud, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Gondar, J. (1995). Os tempos de Freud. Rio de Janeiro: Revinter.
Green, A. (1974). Lanalyste, la symbolisation et labsence dans le cadre analytique.
In: La folie prive. Paris: Gallimard, 1990.
MUzan, M. D. (1994). La bouche de linconscient. Paris: Gallimard.
Phillips, A. (2008). Winnicott ou le choix de la solitude. Paris: ditions de lOlivier.
Pontalis, J.-B. (1994). A estao da psicanlise. Jornal de psicanlise, SBPSP. Vol. 27,
n. 52.
Pontalis, J.-B. (2005). O psiquismo como dupla metfora do corpo. In: Entre o sonho
e a dor. Aparecida, SP: Ideias & Letras.
Pontalis, J.-B. (2005a). A partir da contratransferncia: O morto e o vivo entrelaa-
dos. In: Entre o sonho e a dor. Aparecida, SP: Ideias & Letras.
Roussillon, R. (2003). A dependncia primitiva e a homossexualidade primria em du-
plo. Disponvel em: <http:/www.joseouteiral.com.br>.
Winnicott, D. W. (1941). Lobservation des jeunes enfants dans une situation tablie.
In: De la pdiatrie la psychanalyse. Paris: Payot, 1992.
Winnicott, D. W. (1945). Desenvolvimento emocional primitivo. In: Da pediatria
psicanlise. Rio de Janeiro: Imago, 2000.
Winnicott, D. W. (1968). O jogo do rabisco [squiggle game]. In: Winnicott, C.; She-
pherd, R. & Davis, M. (Orgs.). Exploraes psicanalticas: D. W. Winnicott. Porto
Alegre: Artes Mdicas Sul, 1994.
Winnicott, D. W. (1968a). Linterprtation en psychanalyse. In: La crainte de
leffondrement et autres situations cliniques. Paris: Gallimard, 2000.
Winnicott, D. W. (1969). O uso de um objeto. In: O brincar e a realidade. Rio de Janei-
ro: Imago, 1975.
Winnicott, D. W. (1970). Vivendo de modo criativo. In: Tudo comea em casa. So
Paulo: Martins Fontes, 1999.
Winnicott, D. W. (1971). Sonhar, fantasiar e viver: uma histria clnica que descreve
uma dissociao primria. In: O brincar e a realidade. Rio de Janeiro: Imago, 1975.
Winnicott, D. W. (1987). A comunicao entre o beb e a me e entre a me e o beb:
convergncias e divergncias. In: Os bebs e suas mes. So Paulo: Martins Fontes,
2002.
De_edipo_a_narciso.indd 148 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e
diferenas
Teresa Pinheiro
Este trabalho uma verso atualizada do artigo publicado em 20041. Temos
a um dos aspectos levantados na pesquisa Comparao Clnica e Metapsico-
lgica entre Pacientes Melanclicos e Portadores de Lpus Eritematoso Sistmico
realizada entre 2002 e 2008 pelo NEPECC/UFRJ a partir do acordo do PPTP,
IPUB e HUCFF. Esta investigao tinha como interrogao os impasses da
clnica frente s chamadas novas formas de sofrimento psquico. Nas duas
ltimas dcadas temos nos deparado com um nmero cada vez maior de ca-
sos de depresso, somatizaes, anorexia, bulimia e fobias, alm dos casos
de dependncia qumica. Esses pacientes chegam aos consultrios ou s ins-
tituies levados por uma enorme angstia ou ansiedade, cuja causa desco-
nhecem, ou apresentando um quadro clnico de forte depresso.
Nos ltimos vinte anos temos trabalhado os argumentos principais apre-
sentados por Freud na metapsicologia da melancolia: ambivalncia, a di-
ferena entre o luto e a melancolia frente a perda do objeto, a clivagem, o
superego cruel, a identificao narcsica, a vergonha, o modo de produo
fantasmtica e a forma discursiva do melanclico tais como encontramos
1
Tornar-se uma outra na histeria e ser uma outra no falso-self, Revista Latinoamericana de
Psicopatologia Fundamental, v. VII, n.1, 2004.
De_edipo_a_narciso.indd 149 25/08/2014 15:57:18
150 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
nos textos freudianos e tambm as noes que esto presentes na teoria do
trauma ferencziano identificao com o agressor, introjeo, confuso de
lnguas, desmentido e as descries clnicas deste autor sobre o que ele cha-
mava de casos difceis. Esse trabalho terico foi sempre confrontado com a
clnica e nos permitiu ampliar o leque nosogrfico da melancolia (Pinheiro,
1995, 2002; Pinheiro, Quintella & Verztman, 2010; Pinheiro & Viana, 2011;
Herzog, Verztman & Pinheiro, 2009). Procuramos retirar da melancolia o
carter com que geralmente descrita e pensada como ausncia ou nega-
tiva com relao aos parmetros do modelo da histeria. Pudemos identificar
um modelo de subjetivao prprio da melancolia bastante diferente daquele
que estamos acostumados a trabalhar na psicanlise atravs do modelo da
histeria. Assim nos afastamos das descries do melanclico como o que no
fantasia, esvaziado, o que no soube fazer um luto, o que parece psictico,
mas que s fala de castrao, o que parece as vezes neurtico mas que no
... Procuramos mostrar como ambivalncia, ambiguidade, verdade, castra-
o, ideal do Eu e crueldade superegoica so parmetros para a compreenso
do aparelho psquico que fazem todo sentido na histeria e que serviram de
balizadores para a compreenso das neuroses, das perverses e das psicoses
tais como a esquizofrenia e a paranoia, mas que no do conta da melanco-
lia e das patologias descritas pelos americanos como sendo personalidades
narcsicas, denominadas por Winnicott de falso self, e por grande parte dos
psicanalistas de casos limites e que na clnica contempornea vm se apre-
sentando em nmero cada vez maior.
Em virtude desses antecedentes, no presente artigo usaremos o termo
melancolia no s para nos referirmos ao quadro clssico da melancolia, mas
tambm quando nos remetemos s figuras nosolgicas dos ditos casos limi-
tes, os falsos-selves, as personalidades narcsicas, os somatizadores, distmi-
cos, bulmicos, anorxicos e dependentes qumicos.
Muito j se disse do quanto a melancolia se parece com uma neurose
mais especificamente com a histeria. Tambm h uma tendncia a aproxi-
mar a melancolia da psicose. Para ns, tanto uma quanto outra tendncia
se apoiam em falsas premissas. Na verdade, consideramos que nos vemos
diante da necessidade de problematizar o modelo da histeria visto que esta-
mos nos deparando, na atualidade, com quadros que este modelo parece ser
De_edipo_a_narciso.indd 150 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e diferenas 151
insuficiente para explicar no s em relao s dificuldades que vm colo-
cando no mbito da clnica, como tambm no mbito de uma maior preciso
conceitual.
Ao contrrio da clnica da neurose, na qual a iluso o tecido sobre o
qual trabalhamos, a clnica da melancolia parece nos remeter sempre para o
insuportvel da castrao. Nossa proposta aqui tomar o diferencial entre
a histeria e as patologias que obedecem ao registro metapsicolgico da me-
lancolia no que se refere dimenso ilusria do projeto de ser uma outra,
visando contribuir para que se estabelea uma distino mais ntida entre
estes modelos.
Encontramos na histeria, entre outros projetos, o projeto de tornar-se
uma outra. Ser uma outra, nesse caso, estar em outro lugar, idealizar
o prncipe encantado, viver no mundo que sempre parece to perfeito dos
sales da corte. Na histeria, o bordado fantasmtico parece, na maior parte
das vezes, excessivo, barroco demais, tem muita renda, muito ponto feston,
muito crivo. assim que aparece para Dora o mundo maravilhoso de Mme.
K., assim tambm o mundo sonhado por Mme. Bovary (Cf. Kehl,1998). O
projeto de ser uma outra , nesses casos, muito elaborado e cultivado com
carinho. A vida s parece ser possvel se a iluso ganhar todas as cores. Os
filmes de Doris Day parecem ter sido feitos para as mulheres sonharem que
a felicidade um estado eterno e de preferncia cantante. claro que antes
disto elas tm que passar por muito sofrimento, tem que acontecer muito
desencontro, mas, passado o susto, tudo acaba bem.
Hollywood vendeu durante anos o bordo de que para as mulheres serem
felizes bastava estarem no lugar certo, na hora certa, com o homem certo. O
modelo serve at hoje para qualquer novela ou seriado de sucesso.
A fantasia de ser uma outra est exemplificada na obra freudiana de
vrias maneiras, uma delas essa:
Depois que chamei a ateno de uma das minhas pacientes para suas
fantasias, ela me contou ter-se surpreendido em lgrimas na rua e, ao
refletir no mesmo instante sobre o motivo deste pranto, ter conse-
guido capturar a fantasia que se segue. Em sua imaginao, ligara-se
amorosamente a um conhecido pianista de sua cidade (embora no
De_edipo_a_narciso.indd 151 25/08/2014 15:57:18
152 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
o conhecesse pessoalmente); em seguida fora abandonada, com o fi-
lho que tivera com ele (na verdade no tinha filhos), ficando na mis-
ria. Fora nesse momento de sua fantasia que irrompera em lgrimas
(Freud, 1908/1993, p. 142).
Neste texto, como vemos, a fantasia histrica apresenta todos os ingre-
dientes necessrios de como tornar-se uma outra. Ser uma outra neste
caso ser a escolhida pelo grande pianista, que ela nem conhecia, mas no
bordado fantasmtico est implcito que ele certamente conhecia outras mu-
lheres. E este dado, na histeria, de importncia fundamental. Na sequncia
da produo fantasmtica, ele se apaixona por ela e a faz, neste instante,
tornar-se uma outra: torna-se aquela com quem o pianista, que ela nem co-
nhece, se liga amorosamente. Dentre todas as mulheres ela a escolhida, e
isso por si s j faz dela uma outra muito especial. Na sequncia da cena, o
pianista surge como sendo, na verdade, um vilo terrvel, um falso prncipe
encantado assim como todos os homens, ou como todas as outras pessoas,
no sintoma histrico que abandona a mulher grvida sem ter nenhuma
considerao por ela. Temos, portanto, um vilo e uma vtima, personagens
cujas identidades de mau e boazinha ningum pode pr em dvida. A vtima
vtima porque ingnua. No podia imaginar que o vilo fosse to mau,
logo ele que parecia to bom e a quem todos admiravam. Ela a moa ing-
nua, quase criana, fcil de ser enganada pelos homens. A sequncia da cena
pode ser dedutvel pela construo histrica: ele a abandona certamente por
outra mulher. O tringulo amoroso est formado e a disputa dela por um
homem ser sempre com uma outra mulher.
Um outro exemplo dado por Freud em Psicologia de grupo e anlise do
ego:
Suponha-se, por exemplo, que uma das moas de um internato rece-
ba de algum de quem est secretamente enamorada uma carta que
lhe desperta cimes e que a ela reaja por uma crise de histeria. Ento,
algumas de suas amigas que so conhecedoras do assunto pegaro a
crise, por assim dizer, atravs de uma infeco mental. O mecanismo
o da identificao baseada na possibilidade ou desejo de colocar-se na
De_edipo_a_narciso.indd 152 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e diferenas 153
mesma situao. As outras moas tambm gostariam de ter um caso
amoroso secreto e, sob a influncia do sentimento de culpa, aceitam
tambm o sofrimento envolvido nele (Freud, 1921/1993, p. 101).
Ser uma outra envolve sempre algum sofrimento, ou melhor, a esttica
histrica de ser uma outra pressupe uma mulher que sofre. O sofrimento,
a, o adereo esttico imprescindvel. O belo do feminino apresentado
como sendo o sofrer por um homem. Assim se faz o lao identificatrio das
meninas do internato. Experimentar o sofrimento de uma outra mulher
como tomar posse do saber sobre o que ser mulher. Os enredos se fazem
todos na mesma maneira: um homem cobiado, uma mulher ingnua e sofre-
dora, um vilo e uma vtima. A felicidade est sempre em outro lugar, numa
outra festa, em outra cidade, outra famlia, com outro marido e assim vai... O
bordo poderia ser, sem problemas, esse: h em algum lugar do planeta uma
mulher mais feliz que eu e ser esta mulher ter tudo, ter toda a felicidade
do mundo! H um detalhe fundamental nesta postulao. Esse bordo algo
que a histrica sabe que pode ser falso, que est ali s alinhavando um tecido
imaginrio que ela considera imprescindvel para viver, ele d a ela o sonho
de um dia banir todo o sofrimento e ao mesmo tempo garante, no presente,
a esttica da mulher que sofre por no ter aquilo que ela imagina que uma
outra mulher pode ter.
O conceito de fantasia, dentre todos os conceitos freudianos, talvez seja o
que rene melhor e de forma mais sinttica a aliana entre o eixo da lingua-
gem e o da ordem da sexualidade. Quando Freud anuncia a Fliess que aban-
donou a sua neurtica (Freud & Fliess, 1887-1904/1986, p. 246) e que pode
conceber esse psiquismo como sendo constitudo de representaes, neste
momento, ele passa a dar representao autonomia, voo prprio, conce-
bendo-a como desvinculada de um referente. No importa se elas so fruto
da percepo ou de construo fantasmtica, para a realidade psquica tero
o mesmo valor. Se com esta afirmativa a teoria da seduo, que sustentava a
etiologia da histeria (Freud, 1896/1993, p. 185-218), se torna irrelevante, a
fantasia, entretanto, passa a ganhar uma abrangncia nunca antes pensada.
Freud nos diz em 1914: Se os pacientes histricos remontam seus sintomas
a traumas que so fictcios, ento o fato novo que surge precisamente que
De_edipo_a_narciso.indd 153 25/08/2014 15:57:18
154 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
eles criam tais cenas na fantasia, e essa realidade psquica precisa ser levada
em conta ao lado da realidade prtica (Freud, 1914/1993, p. 17).
A composio da fantasia histrica comporta sempre mais de um perso-
nagem e seu objetivo ter a iluso de que possvel ter acesso subjetividade
de todos os integrantes da cena fantasmtica, ou seja, o que move o projeto
da fantasia histrica a iluso, nesta montagem, de conhecer o desejo e aqui-
lo que provoca o desejo em cada um dos personagens. O elemento mgico da
fantasia histrica antecipa todas as surpresas, todos os desejos so imagina-
dos, todos os desencontros humanos apresentados e apreendidos. O que im-
porta colocar-se no lugar do outro para saber o que o outro quer, sente ou
pensa. Trata-se de sentir e imaginar todos os paradoxos que os sentimentos
e as emoes humanas produzem. Neste sentido, o pr-requisito da dinmi-
ca do aparelho psquico reside na forma como foi concebido por Freud, qual
seja, como um aparelho capaz de interpretar o objeto atribuindo-lhe uma
subjetividade semelhante sua prpria. No h, portanto, possibilidade de
entender este aparelho de linguagem sem pens-lo como um aparelho de in-
terpretao. Em outras palavras, no se pode pensar o aparelho psquico sem
lanar mo do modelo da fantasia histrica. Desta forma, as propriedades de
articulao da subjetividade como intrprete de outras subjetividades tm
por pr-requisito o instrumental da fantasia.
Sem pretender esgotar a riqueza dessas formulaes, podemos dizer, em
linhas gerais, que deste modo que se apresenta o modelo da histeria, mode-
lo que forneceu as bases da primeira tpica freudiana permitindo-lhe descre-
ver, metapsicologicamente, o funcionamento psquico.
Em 1919, no texto Bate-se numa criana, Freud prope desmembrar a
fantasia em trs momentos. No primeiro momento a fantasia seria de que
o meu pai est batendo em outra criana porque me ama. No segundo mo-
mento o meu pai est me batendo. Se tomarmos esses dois momentos da
fantasia, temos a possibilidade de imaginar o que antecede as cenas e um
depois das cenas, tanto no primeiro quanto no segundo momento. As cenas
tm movimento. O enredo que se depreende delas est claramente vinculado
trama edipiana, os personagens so sujeitos que pertencem ao universo de
quem elabora a fantasia. O cenrio pode ser rico de detalhes, no h dvi-
da do tecido imaginrio que constri a paisagem em questo. J no terceiro
De_edipo_a_narciso.indd 154 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e diferenas 155
momento, tudo parece bem diferente. Se no o tomssemos como sendo a
sntese dos dois momentos anteriores como Freud prope, mas como se ele
fosse nico, talvez a encontrssemos algo bem prximo do modelo fantas-
mtico da melancolia. Nossa proposta (Cf. Pinheiro, 1997, p. 41-44) to-
marmos esse terceiro momento isoladamente. Neste caso ele nada teria a ver
com a fantasia histrica. O que est em questo a no interpretar o desejo
dos personagens, no h tampouco nenhum movimento, no h uma causa
que antecede a cena e nenhuma ao futura que se possa deduzir. A imagem
fixa, quase parada. A indeterminao dos personagens e a fixidez da ima-
gem diferem totalmente da fantasia histrica, na qual uma elaborao est
em curso e uma identificao ser o resultado. Se tomarmos esse terceiro
momento como base de um modelo fantasmtico das patologias narcsicas,
encontraremos nele todos os ingredientes que esto presentes na metapsi-
cologia da melancolia e que nos trazem tantas questes na clnica com esses
pacientes.
O trabalho de pesquisa com pacientes que chamamos de melanclicos in-
clui uma gama de sintomas que vo desde as descries da escola americana
que postulou as ditas personalidades narcsicas, at os pacientes traumati-
zados descritos por Ferenczi, o falso-self concebido por Winnicott, alm da
apropriao que a psicanlise fez da nosologia psiquitrica dos borderlines,
dos ditos casos limites, dos melanclicos e somatizadores. No andamento
da pesquisa fomos obrigados a trabalhar o conceito de fantasia em Freud
nos diferentes aspectos. Ao privilegiar aqui o projeto de ser uma outra para
estabelecer uma distino entre o modelo histrico e o modelo da melancolia
vamos, sobretudo, nos calcar no atendimento com pacientes com lpus, que
na sua grande maioria parecem apresentar a descrio que Winnicott faz de
falso self.
Ser uma outra no falso self, ou em qualquer patologia que obedea gra-
mtica da melancolia, bem diferente do projeto de ser uma outra da histe-
ria. Ser uma outra no um projeto com os bordados da histeria, a nica
forma de ser que se apresentou como possvel.
Acreditamos que a proposta da teoria do trauma em Ferenczi, postula-
da para dar conta do que ele chamava de casos difceis, bastante prxima
do paciente falso-self apresentado por Winnicott. A noo de progresso
De_edipo_a_narciso.indd 155 25/08/2014 15:57:18
156 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
traumtica da qual Ferenczi fala seria uma inveno de um Eu antes que o
Eu tivesse condies de advir. Neste sentido, como Abraham e Torok (1995),
acreditamos que perfeitamente possvel aproximar a identificao com o
agressor em Ferenczi e a sombra do objeto que caiu sobre o Eu em Freud. A
explicao sobre a identificao com o agressor a partir do conceito de incor-
porao d, inclusive, melhor inteligibilidade noo de a sombra do objeto
caiu sobre o Eu. Ainda no mesmo sentido podemos tomar o falso-self pato-
lgico de Winnicott, figura nosolgica quase idntica ao traumatizado feren-
cziano como equivalente identificao com o agressor e sombra do objeto.
Essas aproximaes so possveis pela equivalncia, entre esses autores, da
descrio que fazem da clivagem nesses casos e, como consequncia, da ar-
tificialidade do Eu nesses pacientes. Forjar-se um Eu , nesse sentido, uma
sada possvel diante de uma situao limite para a criana. Inventa-se um
Eu a partir de uma apropriao mimtica do objeto, a identificao narcsica
aqui no uma primeira identificao e que mais tarde ser o ncleo das ins-
tncias ideais, como Freud afirmou em 1923. Ela a nica possvel e no dar
lugar a um Eu que seja um precipitado de identificaes como encontramos
na neurose. Ser uma outra a nica forma de ser, pois o si mesmo parece ser
justamente o que foi perdido
H sem dvida um projeto esttico envolvido nesse modo de ser melan-
clico. Essa outra que se forja algum que quer ser reconhecido como sendo
corajoso ao encarar a prpria condio humana, algum que no se ilude
com bobagens como os neurticos, algum que pretende dominar de forma
unvoca os conceitos de sinceridade e justia. Mas o que nos interessa aqui
o que vem a ser esse ser uma outra do falso self. O sentimento de estranhe-
za parece ditar a questo. Como se ser o ser si mesmo fosse uma abstrao,
algo perdido pelo caminho e do qual elas no tm mais lembrana alguma.
Ferenczi fala, na sua teoria do trauma, que no momento do desmentido
o traumatizado perde a certeza de si, no confia mais na sua prpria percep-
o do mundo e dos seus sentimentos (Pinheiro & Viana, 2011, p. 352-360).
Essa hiptese pode nos ajudar a entender por que o discurso melanclico
to cheio de certezas, no parece permeado pela dvida e to assptico nos
seus sentimentos. Como se o modelo defensivo de ser uma outra fosse ser
a outra da certeza de si, que jamais foi assaltada pela dvida. Ser uma outra
De_edipo_a_narciso.indd 156 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e diferenas 157
ter uma carapaa, algo que a distancia do sentimento de si e que forneceu
todos os instrumentos para sobreviver neste mundo. O conceito de clivagem
na teoria do trauma ferencziano enriquece de alguma maneira a postulao de
falso-self de Winnicott (Verztman, 2002, p. 59-78). Uma das coisas que mais
saltam aos olhos no trabalho com essas pacientes a sensao de que procura-
ram se equipar como puderam para sobreviver. O viver um luxo neurtico.
Ao nos depararmos com esses pacientes nos damos conta do quanto o ins-
trumental da iluso, instrumental que parece no estar disponvel para esses
pacientes, serve confortavelmente aos neurticos. O que est em falta na me-
lancolia , entre outras coisas, o conforto. Conforto que a iluso proporciona
ao neurtico que, diante da inevitvel aceitao da castrao, a coloca entre
aspas, como transitria, circunstancial, ao lanar mo das instncias ideais
que garantiro, graas iluso, uma construo imaginria de que o passado
foi vivido longe dela (castrao) e no futuro ela ser banida, essa pelo me-
nos a promessa do ideal do Eu. Em contrapartida, a vida do melanclico o
aqui e agora. No h para trs nenhuma figura de Sua Majestade o beb, do
passado pouco se lembram e do que se lembram so imagens soltas que no
fazem elo, no constroem uma verso da histria de si. O futuro de novo
uma imagem parada, fixa, sem possibilidade de troca. Est longe de ser uma
tela branca onde se pode projetar e projetar-se no futuro, o que implicaria que
esse futuro seria passvel de ser mudado, modulado com o passar do tempo.
Na maior parte das vezes projetar-se no futuro parece ser o inimaginvel, pois
para projetar-se no futuro imprescindvel que se tenha iluso, preciso ter
familiaridade com o mundo dos sonhos, sair da concretude do aqui e agora.
O mundo melanclico parnasiano, as imagens so descritas minuciosa-
mente para que no paire qualquer dvida ou ambiguidade. O ser uma outra
no est ali para forjar a realizao do desejo, mas para anestesiar, impedir as
surpresas e sobressaltos. Resta ao sofrimento ter como destino de expresso
o prprio corpo. Se parecem indiferentes ao falar dos seus sentimentos, no
corpo o sofrimento tem concretude feito as palavras que usam. No h en-
trelinhas nesse sofrimento, ou ambiguidades. As articulaes doem ou a pele
apresenta manchas, texturas diferentes, ou, ainda, o cabelo cai. O corpo com
sua base material palpvel parece ser o nico reduto encontrado para uma
histria poder ser contada.
De_edipo_a_narciso.indd 157 25/08/2014 15:57:18
158 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Poderamos pensar que a questo da vitimizao que aparece no dis-
curso das melancolias apontasse para a mesma questo do lugar de vtima
da histeria. Mas na melancolia isto no faz par com o vilo. No h viles.
No h tambm nenhuma inteno de, na relao transferencial, fazer do
analista um mero espectador e comprovador de que h sempre um vilo
e que o paciente, por sua vez, a grande vtima. Se o analista colocado
como espectador no trabalho com as melanclicas para que, nesta po-
sio, ele possa v-la, atestar sua existncia enquanto outra e quem sabe
ser testemunha de um si-mesma que foi ali para enfim advir. O analista
chamado a testemunhar que ela ali faz presena, chamado para com
seu olhar fazer o contorno da imagem corporal da paciente, ajudando-a
assim a manter uma imagem de si que parece sempre ser to tnue, to
frgil, pouco capaz de se manter no tempo. Tampouco reivindicam para si
o lugar de ingnuas. Para as melanclicas, ser ingnua quase um defeito
de carter. So vtimas porque a condio humana, a realidade brutal da
conscincia da castrao no permite, segundo elas, um outro lugar que
no esse. Mas no se pretendem as nicas vtimas, para elas todas ns so-
mos vtimas. Na relao transferencial, o analista testemunha do esforo
delas em se resgatarem, se constiturem narcisicamente, sob o olhar de
algum. Ser uma outra ser qualquer um, no h individualidade, singula-
ridade, essa outra um universal, uma bula para viver, no mais que isso.
O que elas buscam no espao analtico um recuperar o si mesmo para
poder abrir mo desta outra.
Referncias bibliogrficas
Abraham, N. & Torok, M. (1995). A casca e o ncleo. So Paulo: Editora Escuta.
Freud, S. (1893). La etiologa de la histeria. In: Obras completas, v. III. Buenos Aires:
Amorrortu Editores, 1993.
Freud, S. (1908). Las fantasas histricas y su relacin con la bisexualidad. In: Obras
completas, v. IX. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1993.
Freud, S. (1914). Contribucin a la historia del movimiento psicoanaltico. In: Obras
completas, v. XIV. Buenos Aires: Amorrortu, 1993.
De_edipo_a_narciso.indd 158 25/08/2014 15:57:18
Histeria e falso self: aproximaes e diferenas 159
Freud, S. (1919). Pegan a un nio. In: Obras completas, v. XVII. Buenos Aires: Amor-
rortu Editores, 1993.
Freud, S. (1921). Psicologa de las masas y anlisis del yo. In: Obras completas, v.
XVIII. Buenos Aires: Amorrortu Editores, 1993.
Freud, S. & Fliess, W. (1986). Correspondncia completa (1887-1904). Rio de Janeiro:
Imago.
Herzog, R.; Verztman, J. & Pinheiro, T. (2009). Vergonha, culpa, depresso contem-
pornea e perdo. Trivium, v. 1.
Kehl, M. R. (1998). Deslocamentos do feminino. Rio de Janeiro: Imago.
Pinheiro,T. (1995). Algumas consideraes sobre o narcisismo, as instncias ideais e
a melancolia. In: Cadernos de Psicanlise, SPCRJ, v. 12, n. 15.
Pinheiro, T. (1997). A castrao: do interdito ao desamparo. In: Revista Sade, Sexo e
Educao, IBMR, n. 12.
Pinheiro, T. (2000). Algumas questes da metapsicologia freudiana. In: Psicologia Cl-
nica, PUC-Rio, v. 12, n. 1.
Pinheiro, T. (2002). Escuta psicanaltica e novas demandas clnicas: sobre a melanco-
lia na contemporaneidade. In: Revista Psych, SP, n. 9.
Pinheiro, T. (2004). Tornar-se uma outra na histeria e ser uma outra no falso-self. In:
Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental, v. VII, n. 1.
Pinheiro, T.; Quintella, R. R. & Verztman, J. (2010). Distino terico-clnica entre
depresso, luto e melancolia. In: Psicologia Clnica, Puc-Rio, v. 22, n. 2.
Pinheiro, T. & Viana, D. (2011). Losing the certainty of self. In: The American Journal
of Psychoanalysis, v. 71.
Verztman, J. S. (2002). O observador do mundo: a noo de clivagem em Ferenczi.
In: Revista gora, v. V, n. 1.
De_edipo_a_narciso.indd 159 25/08/2014 15:57:18
De_edipo_a_narciso.indd 160 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites:
aspectos tericos e clnicos1
Raquel Rubim Del Giudice Monteiro & Marta Rezende Cardoso
Na clnica psicanaltica contempornea observa-se significativo aumento de
pacientes anorxicos, bulmicos, psicossomticos, drogadictos, dentre ou-
tros, nos quais se percebe, de maneira significativa, a convocao do corpo
e do ato.
Diversos psicanalistas tm reunido esses quadros clnicos, respeitada
a peculiaridade de cada um, sob a designao de estados limites. No
obstante, ao percorrermos diversas consideraes tericas relativas a estas
patologias, constatamos que tal denominao no empregada de modo
uniforme no meio psicanaltico e que inmeros termos distintos so uti-
lizados para tentar circunscrever a problemtica psquica desses estados
clnicos. Vale destacar que esses diferentes termos no significam ape-
nas variaes terminolgicas, mas que cada um deles diz respeito a di-
ferentes pontos de vista implicando, inclusive, diferentes estratgias de
tratamento.
1
Este artigo foi publicado primeiramente em SIG Revista de Psicanlise (Porto Alegre; Sig-
mund Freud Associao Psicanaltica), ano I, n 1, agosto/2012.
De_edipo_a_narciso.indd 161 25/08/2014 15:57:18
162 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
A problemtica do limite nos estados limites
Visando situar algumas das diferentes concepes acerca das patologias limi-
tes, nos apoiamos nas consideraes de Villa e Cardoso (2004) que indicam
que, ao buscarmos sintetizar a grande variedade de concepes investigadas
acerca dessas patologias, desembocamos em duas grandes correntes nas
quais esse conjunto de ideias, de alguma forma, encontra-se inserido (Villa
& Cardoso, 2004, p. 60): a corrente dominante na escola inglesa e a outra,
bastante difundida entre os autores franceses.
A corrente dominante na escola inglesa muitas vezes denomina as pato-
logias limites utilizando o termo borderline. Esta denominao consiste na
viso mais originria, no que tange aos estados limites, e surgiu diante da
falta de um lugar prprio onde enquadrar certos pacientes que no se con-
figuravam de acordo com a classificao freudiana. Ou seja, eles pareciam
se situar em uma regio fronteiria entre psicose, neurose e perverso, com
traos das trs, mas com elementos refratrios a todas as incluses fceis e
consensuais (Figueiredo, 2003, p. 78-79). Para esta corrente, tais patolo-
gias so consideradas como quadro clnico especfico, com etiologia e sinto-
mas particulares, o que, inclusive, justificaria a proposta de uma modalidade
singular para o seu tratamento. Segundo grande parte dos representantes
dessa escola, o paciente borderline possuiria uma estrutura prpria, relativa-
mente estvel, devendo ser situado, no que diz respeito ao diagnstico, na
fronteira entre a neurose e a psicose (Villa & Cardoso, 2004, p. 61).
A outra corrente, bastante difundida entre os autores franceses, j se refe-
re s patologias limites como estados ou situaes limites. Esses autores con-
sideram que os estados ou situaes limite no configuram uma estrutura
determinada, e suas caractersticas poderiam se referir a mais de um quadro
clnico. Para esses autores tais patologias concernem a determinados aspec-
tos da personalidade, ou a modalidades particulares de funcionamento ps-
quico. Conforme destacaram Villa e Cardoso (2004), o prprio termo prope
que estados ou situaes limites sinalizariam algo de transitrio. Isso sig-
nifica que essa forma de funcionamento psquico no est necessariamente
referida a algo fixo e estrutural, podendo fazer-se presente numa determina-
da fase de vida, sem persistir posteriormente (Villa e Cardoso, 2004, p. 61).
De_edipo_a_narciso.indd 162 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 163
Contudo, Figueiredo (2003) sublinha que, apesar das diferentes concep-
es a respeito das patologias limites, uma de suas caractersticas marcantes,
reconhecida por todos os autores que ao longo dos anos vm se dedicando
a esse tema, sem exceo, e, para ele, das que melhor definem a dinmica
prpria ao funcionamento psquico nessas patologias. Refere-se
ao padro oscilatrio dos afetos, questo da instabilidade, das flutu-
aes, das oscilaes, das mudanas bruscas, do que muitos descrevem
como o vaivm dos humores e das reaes, e que muitas vezes se con-
funde com uma psicose manaco-depressiva (Figueiredo, 2003, p. 86).
Esse padro oscilatrio ocorre, nesses casos, de maneira cclica e pendu-
lar, isto , o sujeito se encontra preso numa dinmica oscilatria que se
repete de modo compulsivo e intermitente: tudo ora est bom, ora est mal.
Tal padro sinaliza um modo de defesa mais primitivo e elementar, marcado
pelo carter disruptivo da compulso repetio.
Segundo Figueiredo (2003), outra caracterstica marcante dos estados li-
mites a falta de coeso, de integridade do ego, a qual sugere que algum
problema srio ocorreu no processo de construo e investimento pulsional
das fronteiras externas e internas do eu (Figueiredo, 2003, p. 89).
No entanto, essa ltima caracterstica nos leva a uma questo sobre a qual
gostaramos de refletir brevemente: a prpria denominao estados limi-
tes nos remete questo das margens, das fronteiras, isto , da definio
dos limites internos e externos do aparelho psquico que consideramos estar
associada da relao com o outro (interno e externo), fundamental na con-
figurao das fronteiras psquicas.
Segundo Villa e Cardoso (2004), no que tange aos estados limites no se
trata de supormos apenas a presena de fragilidade nas fronteiras entre o eu
e o outro interno e externo, j que isto poderia significar a reduo destas a
simples linhas divisrias. Nestas patologias, as autoras consideram que uma
das principais marcas a presena no sujeito de uma dificuldade na capacida-
de de transitar entre os diversos espaos fronteirios que compem o universo
psquico (Villa e Cardoso, 2004, p. 67), o que decorre do fato de a relao com
o outro apresentar-se afetada por uma dimenso intensamente ameaadora.
De_edipo_a_narciso.indd 163 25/08/2014 15:57:18
164 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
No que concerne singularidade da dinmica prpria formao e manu-
teno dos limites com o outro, com a alteridade, as autoras salientam que,
ao pensarmos as fronteiras psquicas como espao potencial, podemos supor,
nos estados limites, a precariedade e a estreiteza desse espao fronteirio,
desse espao de trnsito entre o eu e o outro, espao de elaborao e de for-
mao de compromisso (Villa e Cardoso, 2004, p. 67).
Os limites entre o eu e o outro
A relao eu-outro (interno e externo) encontra-se no cerne da problemtica
psquica das patologias limites; h impossibilidade de vir a perder o objeto,
o que resulta, em ltima instncia, de uma relao precria com o objeto
primrio que no permite que este venha a ser interiorizado. Assim, as fron-
teiras entre o eu e o outro no se definem de forma consistente.
Atravs de sua teorizao sobre o trabalho do negativo, Green (1986/2010,
1988/2010) demonstrou o papel fundamental que os objetos desempenham
nos processos de constituio da subjetividade. Ele designa este trabalho
como o conjunto das operaes psquicas, tais como o recalque, a negao,
o desmentido e a forcluso, que se estendem ao conjunto das instncias que
compem o psiquismo.
Uma das manifestaes do trabalho do negativo consiste no apagamento
do objeto primrio, ou seja, a possibilidade de o objeto passar a ser uma pre-
sena ausente no psiquismo. Este modo de dizer no ao objeto produz um
movimento estruturante, tornando possvel ao objeto primrio passar por
um processo de negativizao interna que concerne, dentre outros aspectos,
possibilidade de ser recalcado e transformado em representao psquica.
O trabalho de internalizao, de simbolizao do objeto primrio, sendo
bem-sucedido, efetiva a diferenciao entre o eu e o outro, entre mundo in-
terno e mundo externo. O apagamento, a atenuao da presena do objeto
no psiquismo d lugar, por um lado, representao e, por outro, constitui-
o de um vazio estruturante, capaz de permitir a formao do espao psqui-
co de modo a possibilitar a trajetria desejante e do pensamento (Figueiredo
& Cintra, 2004).
De_edipo_a_narciso.indd 164 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 165
No processo de constituio da subjetividade, do ponto de vista das
pulses, o objeto primordial tem a funo paradoxal de despert-las e, ao
mesmo tempo, cont-las, lig-las. Contudo, para que contribua para a cons-
tituio da subjetividade, este objeto deve se deixar apagar no interior do
psiquismo, devendo ser internalizado como um elemento constituinte que
tem a funo de estimulao e conteno da pulso. O objeto primordial, efi-
caz e adequado, deve se fazer esquecer como elemento estruturante e existir
sob a forma da iluso de que no constitutivo da estrutura psquica, mas
se apresenta como diferente desta, como objeto de atrao ou de repulsa
(Green, 1988/2010, p. 301).
Deste modo, o trabalho do negativo cumpre a sua tarefa constitutiva quan-
do o objeto primrio se torna esquecido e se transforma em uma presena au-
sente, permanecendo sempre presente no como objeto, mas como elemento
constituinte da vida psquica, ou seja, inscrito como estrutura e vazio. Isso
mostra que o objeto primordial estar para sempre perdido como objeto, pro-
piciando a busca por objetos substitutos, por novas ligaes. Assim, o sujeito
torna-se apto, por si prprio, a administrar sua fora pulsional, a cont-la e
dirigi-la para investir novos objetos e a tolerar todas as distncias, ausncias
e inadequaes dos objetos substitutos (Figueiredo & Cintra, 2004, p. 20).
No que concerne s patologias limites, Green (1990) considera que o ob-
jeto no apagado: a sua ausncia no representada. Nesses casos o objeto
primordial fracassou em sua tarefa constitutiva, pois no permitiu que a sua
perda fosse elaborada seja por sua ausncia, seja pelo excesso de presena
A presena do objeto no interior do psiquismo vivida como ameaa de ani-
quilamento; o ego v-se diante da possibilidade de ser dominado, invadido pelo
outro, devido incapacidade de constituir efetiva zona fronteiria entre o eu e
o outro. A relao objetal fica marcada por precria diferenciao entre o eu e o
outro. Frente a esta ameaa, o ego tende a convocar como resposta defensiva o
registro do corpo e do ato e, de maneira disruptiva, utiliza recursos defensivos
externalizados. A fragilidade narcsica faz com que o eu se torne dependente
do objeto externo como forma de manter reunidas suas partes desintegradas.
A incapacidade de perder o objeto desencadeia uma relao paradoxal en-
tre o eu e o outro. Este vivenciado como intrusivo, ameaador devido oni-
presena do objeto, e tambm vivenciado como absolutamente necessrio,
De_edipo_a_narciso.indd 165 25/08/2014 15:57:18
166 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
em razo da inacessibilidade do objeto. isto que engendra o padro oscila-
trio dos afetos, caracterstica marcante dos estados limites que apontamos
anteriormente, j que a precria delimitao dos espaos fronteirios oca-
siona a constante oscilao, de modo que esse outro, quando sentido como
intrusivo, lanado violentamente para fora; quando sentido como absolu-
tamente necessrio, buscado desesperadamente, devido ameaa de des-
moronamento psquico. Esta precria delimitao na constituio subjetiva
se expressa atravs da angstia de engolfamento pelo objeto e, ao mesmo
tempo, da angstia de abandono e perda.
Clivagem do ego em Freud / Clivagem ao ego em Roussillon
Os estados limites so marcados em sua base pela dimenso do traumtico e de-
lineiam o seu modo de funcionamento psquico a partir, dentre muitos outros
fatores, de uma vivncia traumtica que inviabiliza a inscrio psquica de cer-
tos elementos. Essa impossibilidade de representao fala-nos da presena no
psiquismo de um trauma, de um traumatismo primrio (Roussillon, 1999),
o qual se caracteriza pelo esgotamento muito precoce dos recursos internos
do beb, quando o objeto primordial no responde de forma adequada s suas
necessidades. O beb, ento, encontra-se em completo desamparo, inundado
pelo excesso pulsional e, em decorrncia disso, h falhas na constituio egoica.
No que concerne aos estados traumticos primrios, este autor nos diz
que eles
possuem certo nmero de caractersticas que os especificam. So,
como os estados de desamparo, experincias de tenso e de despra-
zer sem representao (o que no quer dizer sem percepo nem sem
sensao), sem sada, sem recursos internos (foram esgotados) e sem
recursos externos (que so falhos), so estados para alm da falta e da
expectativa (Roussillon, 1999, p. 19; traduo nossa).
Assim, o traumatismo primrio engendra no psiquismo dos sujeitos li-
mites uma significativa presena de marcas, ou seja, de impresses que
De_edipo_a_narciso.indd 166 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 167
no vieram a ser representadas. Essas marcas, traumticas, permanecem
submetidas compulso repetio, o que significa que so regularmente
reativadas.
Diante dessa ameaa, o ego pode vir, como uma das defesas extremas pos-
sveis, a se retirar da experincia traumtica inicial, cortando-a de seu espao
psquico, isto , pode efetuar uma clivagem dos elementos traumticos. A
clivagem seria, ento, uma das formas de defesa que o ego utilizaria para
lidar com o que excessivamente intolervel, o que a torna fortemente cor-
relacionada com as experincias traumticas.
Tal modo de defesa, importante salientar, distinto do mecanismo do
recalque no qual as representaes psquicas incompatveis so retiradas
da conscincia e se situa na dimenso do conflito psquico. A clivagem
um modo de defesa primitivo radical contra os riscos impostos integridade
narcsica, no qual o que se tenta evitar a constituio do conflito psquico
(Figueiredo, 2003, p. 16), segregando o ego em partes distintas como con-
sequncia disto, se situa na dimenso do paradoxo.
A noo de clivagem do ego foi definida por Freud essencialmente nos
artigos Fetichismo (1927/1996), A diviso do ego no processo de defe-
sa (1938a/1996) e no Esboo de psicanlise (1938b/1996), a partir de sua
reflexo sobre as psicoses e o fetichismo. Nestes textos, ele mostra que a
diviso do ego consiste num mecanismo de defesa egoico acionado a partir
de uma situao traumtica.
Freud sustenta que sobretudo na psicose e no fetichismo , diante das
exigncias de uma realidade externa que se tornou insuportvel e do fato de
as pulses terem se tornado extremamente intensas, o ego no seria capaz
de responder a ambas as reivindicaes (externa e interna). Frente ao trau-
mtico, a funo de sntese do ego sofreria perturbaes, desencadeando o
mecanismo da clivagem do ego. Esta consistiria na diviso do ego em duas
atitudes psquicas opostas, uma delas levando em conta a realidade externa,
e a outra, negando-a. Ambas coexistem, sem se influenciar mutuamente; o
predomnio de uma atitude em relao outra dependeria da fora relativa
de cada uma delas. A clivagem do ego constitui recurso defensivo que o ego
engendra para lidar com o excessivo afluxo pulsional advindo do exterior e
do interior (Freud, 1938b/1996).
De_edipo_a_narciso.indd 167 25/08/2014 15:57:18
168 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Freud, porm, chama a nossa ateno para o fato de a existncia de duas
condutas opostas e independentes uma da outra no constituir algo novo ou
estranho para a psicanlise, uma vez que corresponderia a uma caractersti-
ca universal da neurose. Distingue, contudo, a diferena entre a diviso que
ocorreria na neurose e a clivagem do ego, demonstrando que o fundamental
no seria a existncia de condutas contrrias, mas a questo de sua localiza-
o tpica:
No caso das neuroses, entretanto, uma dessas atitudes pertence ao
ego e a contrria, que reprimida, pertence ao id. A diferena en-
tre ambos os casos essencialmente uma diferena topogrfica ou
estrutural, e nem sempre fcil decidir, num caso individual, com
qual das duas possibilidades se est lidando (Freud, 1938b/1996,
p. 217).
Ou seja, o que marcante na clivagem do ego no a existncia de duas
atitudes contrrias, mas a existncia de duas correntes psquicas incompa-
tveis, que dividem o ego, tornando possvel ao sujeito se reconhecer em
cada uma delas.
Nos estados limites o recurso clivagem tambm nos parece marcante.
Mas trata-se, nestes casos, de uma tentativa de sobrevivncia psquica en-
gendrada pelo ego diante do traumtico. Roussillon (1999) indica, com pre-
ciso e pertinncia, que nestas patologias este mecanismo de defesa egoico
seria distinto daquele descrito por Freud, pois a clivagem no seria aqui uma
clivagem do ego, mas, sim, uma clivagem ao ego. A meno a uma clivagem ao
ego diz respeito ruptura que ocorre na subjetividade frente ao traumatismo
primrio. O sujeito corta sua vida psquica subjetiva, retira de si a impresso
traumtica. A subjetividade passa a estar dividida em uma parte representa-
da e uma parte no representada.
Deste modo, estaramos diante de um mecanismo defensivo que opera
por uma ruptura, conforme Freud nos mostrou ao abordar o mecanismo
da clivagem do ego. Mas, conforme indicamos acima, nas patologias limites
o que parece ocorrer no a diviso do ego em duas cadeias representati-
vas diferentes, mas sim um corte na constituio subjetiva, pois uma parte
De_edipo_a_narciso.indd 168 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 169
desta permanece fora da representao, no conseguindo se integrar no ego.
Na clivagem
[...] o ego se cliva de uma experincia experimentada e ao mesmo
tempo no constituda como uma experincia do ego, o que suporia
que ela tivesse podido ser representada. De um lado a experincia
foi vivida e deixou traos mnsicos do que foi experimentado e,
de outro lado, ela no foi vivida e apropriada como tal, uma vez que,
como diz Winnicott, ela no foi colocada na presena do ego, o que
suporia que tivesse sido representada (Roussillon, 1999, p. 20; tra-
duo nossa).
De acordo com Figueiredo, o que ocorre nesse mecanismo de defesa
egoico uma desautorizao da vivncia traumtica, isto , trata-se de
um acontecimento sem autoria legitimada, de um episdio sem sujei-
to da experincia, em que a prpria distino entre externo e interno se
anula (Figueiredo, 2003, p. 19-20). como se o ego negasse a autorizao
para que a vivncia traumtica se inscrevesse no campo da experincia do
sujeito e este se tornasse o seu autor. Em consequncia disto, os elementos
traumticos permanecem no psiquismo em uma condio de enclave ps-
quico, ou seja, encontram-se dentro do psiquismo, mas isolados, em uma
rea afastada, inacessvel e paralela. Os contedos clivados ficam impossi-
bilitados de transitar pelas redes de representao e de se transformar em
experincia em um campo subjetivo relativamente unificado e ramificado,
aberto s metabolizaes, metaforizaes e disseminaes (Figueiredo,
2003, p. 20).
No entanto, como Freud havia sublinhado, qualquer que seja o esforo de
defesa que o ego faa, mesmo que recorra a uma defesa extrema como a cli-
vagem, o seu sucesso nunca completo e irrestrito (Freud, 1938b/1996, p.
217). No caso das patologias limites, isto tende a ocorrer porque a defesa est
sob o domnio do princpio de prazer, mas o contedo clivado, no represen-
tado, estaria alm do princpio de prazer, submetido compulso repetio.
Nesses estados, parece haver fragilidade na constituio egoica, decorren-
te da incapacidade do aparelho psquico para conter, elaborar e/ou recalcar o
De_edipo_a_narciso.indd 169 25/08/2014 15:57:18
170 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
excessivo afluxo pulsional que incide sobre ele de forma abrupta e violenta.
Diante disto e da ameaa de reviver a experincia traumtica, o psiquismo
coloca em ao defesas complementares, ou seja, de acordo com as proposi-
es de Roussillon (1999), as ligaes primrias no simblicas.
Como vimos anteriormente, os elementos traumticos, apesar de cliva-
dos do espao egoico no desaparecem do psiquismo, que conserva a sua
marca. A operao da clivagem no , portanto, suficiente; ser necessrio
repeti-la ou organizar as defesas contra o retorno do estado traumtico. Para
tentar ligar e interromper o retorno do clivado, o ego pe em ao as defesas
complementares.
Quanto questo das defesas complementares utilizadas pelo ego nes-
ses casos, elas dizem respeito ao modo como a experincia traumtica pri-
mria foi ligada, de maneira no simblica. Roussillon (1999) sinaliza que
se trata de modalidades de mecanismos egoicos acionados nos quadros
clnicos das patologias limites que nos falam dos destinos do retorno do
clivado nesses casos. Essas solues, que se opem ao retorno do clivado,
so, no fundo, solues solipsistas. Mesmo que possam se acomodar com
os complementos provindos dos objetos, so solues que no procedem
de efetivo processo de simbolizao da experincia subjetiva. Ao contrrio,
mostram como o sujeito tenta tratar aquilo a que est confrontado sem pas-
sar pelo custoso desfiladeiro da simbolizao e dos lutos que este engendra
necessariamente.
Em Agonia, clivagem e simbolizao, Roussillon (1999) apresenta de
forma minuciosa as especificidades das ligaes no simblicas que, confor-
me aponta, so respostas do ego que pressupem uma situao de fragilidade
narcsica. De acordo com as consideraes do autor, o empobrecimento do
ego constitui caracterstica geral das patologias limites. A amputao que a
clivagem faz o sujeito sofrer estaria sempre presente nesses casos, embora
nem sempre de forma manifesta. Esse empobrecimento resulta do fato de
as modalidades de defesa narcsica implicar a explorao de uma parte do
psiquismo para tentar fazer oposio ao retorno do clivado e poder operar os
contrainvestimentos indispensveis.
Poder-se-ia mesmo sustentar que aqui a melhor parte do psiquismo
empregada, sendo alienada de si mesma na tarefa de proteger o resto do
De_edipo_a_narciso.indd 170 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 171
psiquismo do retorno do traumatismo primrio. De certo modo, o empobre-
cimento do ego est sempre mais ou menos presente, podendo, portanto, ser
manifesto e situado no primeiro plano do quadro clnico. Quando isto ocorre
encontramo-nos diante do domnio de um dos tipos de ligao primria no
simblica enunciado por Roussillon: a neutralizao energtica.
Esta consiste na tentativa de neutralizar o retorno do clivado por uma
organizao da vida psquica destinada a restringir, tanto quanto possvel,
os investimentos de objeto e as relaes que arrisquem a reativao da zona
traumtica primria e o estado de falta degenerativa que a acompanhou.
Toda falta que arrisque o reinvestimento do estado traumtico, toda rela-
o que possa gerar um retorno da falta, ser evitada ou congelada; todo
engajamento ser, assim, restringido e, com ele, a vida que vai junto (Rous-
sillon, 1999, p. 25; traduo nossa). A neutralizao pode ser o mecanismo
de complementao da organizao narcsica, podendo ser acompanhada por
outras modalidades defensivas complementares, ou pode ser o principal me-
canismo utilizado.
O processo de neutralizao simples, como pontua Roussillon (1999),
certamente aparentado s formas de depresso fria sem, no entanto, o
cortejo dos afetos depressivos o que, de fato, marca uma diferena clnica
notvel entre esses dois processos. Tudo parece se passar como se o psiquis-
mo, confrontado aos fracassos de suas tentativas para integrar a experincia
traumtica, viesse a coloc-la de lado esperando que um objeto venha, em
nome do amor ou em virtude de uma forma de contrato narcsico extremo,
reencontrar e vivificar ou reaquecer a parte da qual o ego teve que se separar
mediante a clivagem.
Os estados limites, como procuramos explorar neste tpico, nos reme-
tem a uma dimenso traumtica pela presena no psiquismo de marcas que
no podem ser simbolizadas, as quais insistem como compulso repetio.
Frente a este quadro cujas defesas tendem a ser elementares, a questo da
tcnica necessita ser examinada minuciosamente, considerando as forma-
es intrapsquicas e intersubjetivas que caracterizam estes estados e seu
modo de funcionamento psquico.
Na clnica dos estados limites um aspecto especialmente relevante o ma-
nejo da contratransferncia, que analisamos a seguir.
De_edipo_a_narciso.indd 171 25/08/2014 15:57:18
172 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Particularidades da contratransferncia na anlise dos
estados limites
No decorrer de sua obra, Freud fez apenas breves referncias contratrans-
ferncia, descrita por ele como o resultado da influncia do paciente sobre o
inconsciente do analista que vem a se relacionar aos complexos e resistncias
internas do analista. Para Freud, a contratransferncia se mostrava prejudi-
cial ao tratamento analtico pelo fato de prejudicar a percepo do analista,
j que nenhum psicanalista avana alm do quanto permitem seus prprios
complexos e resistncias internas (Freud, 1910/1996, p. 150) e, em funo
disto, insistia para que o analista se esforasse para domin-la.
Diz ele, por exemplo, que: O mdico deve ser opaco aos seus pacientes
e, como um espelho, no mostrar-lhes nada, exceto o que lhe mostrado
(Freud, 1912/1996, p. 130). Desta forma, Freud considera a contratransfe-
rncia como uma espcie de resistncia cuja manifestao se d no psicana-
lista em relao a seu paciente, que pode, com o contedo de sua fala, vir a
nele mobilizar conflitos inconscientes.
Na anlise das patologias limites, com a presena de elementos clivados
que se apresentam pela via da sensorialidade, a comunicao entre incons-
cientes torna-se fundamental, indicando a necessidade de uma anlise ex-
tremamente minuciosa da relao transferencial-contratransferencial. Nesse
contexto, a contratransferncia apresenta maior amplitude do que na an-
lise dos pacientes neurticos. Mas, como pontua Figueiredo (2003), a con-
tratransferncia possui diversas modalidades, devendo ser tratada como o
conjunto das experincias emocionais do analista no campo em que se d
o encontro analista-analisando, assim como o conjunto das defesas que so
ativadas neste encontro.
Retomando algumas proposies muito pertinentes de Racker (1981),
um dos autores considerados clssicos no estudo da contratransferncia,
Figueiredo (2003) pontua que na clnica dos estados limites o psicanalista
tende muitas vezes a se encontrar diante do que o referido autor denomi-
nou contratransferncias concordantes. Trata-se da ativao no analista de
afetos e representaes semelhantes ou mesmo idnticos aos do paciente.
Embora essa dimenso da contratransferncia no se restrinja aos casos em
De_edipo_a_narciso.indd 172 25/08/2014 15:57:18
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 173
questo, parece, no entanto, ser bastante frequente que no atendimento de-
les o analista tenda a se identificar com aspectos que o paciente exclui e no
assume como seus: por exemplo, seu dio, sua indignao, seu pnico, sua
necessidade vital, etc (Figueiredo, 2003, p. 120).
Vemos, ento, que a problemtica psquica dos estados fronteirios carac-
terizada pelos limites da representao pode ter como ressonncia na situa-
o clnica a ativao de intensa contratransferncia no analista. No processo
analtico dos pacientes limites o analista necessita esforar-se para represen-
tar aquilo que o paciente no foi capaz de representar; ele precisa colocar o
seu prprio aparelho mental em ao para auxiliar o do paciente, incluindo,
assim, a sua elaborao imaginativa. De fato, nestas anlises, cabe ao ana-
lista utilizar sua capacidade vinculatria para suprir o prejuzo representa-
cional dos pacientes e possibilitar a expresso daquilo que so incapazes de
representar (Garcia, 2007).
Na situao analtica, a contratransferncia diz respeito aos afetos do ana-
lista e, tambm, aos movimentos inconscientes nele produzidos na situao
analtica. Mas como o analista identifica esses movimentos inconscientes?
De acordo com Bertrand (2008), esta identificao se d atravs dos afetos
despertados, mas tambm de impresses sensoriais, de imagens que vm es-
pontaneamente ao seu esprito e, ainda, de seus prprios impulsos a agir.
No que concerne especificamente aos estados limites, Green (1975/1988)
sustenta que as turbulncias emocionais, os sentimentos contratransferen-
ciais do analista atuam sobre ele como presso interna, levando-o a entrar
em um mundo que exige dele esforos de imaginao para ser vislumbrado.
Nessas situaes clnicas, as impresses do analista tendem a se definir de
modo precrio, no assumindo a forma de imagens ou de lembranas ntidas;
apenas reproduzem determinadas trajetrias de pulsionalidades mediante
a expresso do movimento interno inconsciente que nele tem lugar. Diante
daquilo que o mobiliza, o analista necessitar realizar um trabalho psquico
intensivo para tentar vincular as impresses incipientes e cont-las numa
forma que possa vir a significar algo para o paciente; este recurso poder ser
usado como prottipo para a decifrao de uma situao traumtica.
Assim, o analista coloca seu prprio aparelho mental em ao, fazendo
uso de sua elaborao imaginativa, o que visa auxiliar o aparelho mental do
De_edipo_a_narciso.indd 173 25/08/2014 15:57:18
174 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
paciente a construir a sua prpria elaborao da experincia traumtica. Mas
para tal o manejo da contratransferncia revela-se fundamental. Acrescenta
Aisenstein (2002) que, diante dos elementos clivados, submetidos compul-
so repetio, o analista necessita realizar um trabalho psquico atravs do
que atuado na relao transferencial para, assim, poder vir a apreender tais
contedos.
Implicao e reserva do analista no atendimento dos
estados limites
Como vimos, no espao clnico a relao paradoxal que o sujeito tende a esta-
belecer com o outro tender a ser repetida na relao transferencial, exigindo
do analista extremo cuidado no seu manejo para que suas intervenes no
sejam vivenciadas como intrusivas. Mas o analista dever tambm ficar aten-
to necessidade de ser percebido como presente, pois a sua ausncia pode
remeter o analisando a um insuportvel sentimento de desamparo. Qual a
singularidade do manejo da transferncia na anlise dos estados limites?
Para iniciarmos as nossas consideraes a respeito desta questo, seguin-
do inicialmente vrias indicaes enunciadas por Arthur K. Silveira (2006)
em sua pesquisa de Mestrado, recorremos a uma imagem utilizada por Fe-
renczi (1928/1984) por meio da metfora do boneco Joo-Bobo, a qual,
como sinalizou Figueiredo (2003) seria a melhor maneira de lidar com o pa-
dro oscilatrio prprio aos estados limites, ou seja, as turbulncias afetivas
que tendem marcar a relao do paciente com o outro. O que caracteriza este
boneco o fato de ele oscilar de um lado para o outro ao ser empurrado, mas,
devido a sua estrutura base larga e pesada somada a uma parte superior
leve e estreita , no perde o eixo, no caindo, retornando sempre posio
vertical, recuperando seu equilbrio. No discurso ferencziano enfatizado
que se se dispuser a ser utilizado como um joo-bobo, se oferecendo como
suporte das mais intensas manifestaes transferenciais, no apenas se pro-
tegendo, mantendo-se mais reservado, mas tambm encorajando o anali-
sando, mantendo-se presente, implicado, o analista poder vir a propiciar a
superao de resistncias.
De_edipo_a_narciso.indd 174 25/08/2014 15:57:19
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 175
Para isto, uma boa sintonia afetiva entre analista e analisando revela-se
igualmente essencial para que o analista consiga avaliar a justa medida de
suas intervenes. Por um lado, elas devem permitir que o paciente se sinta
vivo e, por outro, no devem ser sentidas como intrusivas. No que concerne
posio do analista no processo analtico dos pacientes limites, Figueiredo
(2003) pontua que o que deve caracteriz-la a sustentao de uma presena
ao mesmo tempo implicada e reservada, isto , uma forma de estar presente
por meio da qual se constitui um espao potencial. Nesse espao potencial
podem emergir recursos da simbolizao, sendo esta fundamental para que
as transformaes psquicas aconteam. Assim o lugar do analista se consti-
tui como
um modo de estar presente em que se constitui e se mantm uma re-
serva de espao potencial no qual o paciente pode vir a ser. Indo alm:
nesse espao vazio, mas garantido pela presena reservada do analis-
ta, que se podero instalar os jogos transferenciais e contratransfe-
renciais e as demais modalidades e dimenses da relao teraputica,
indispensveis para que a anlise progrida e propicie transformaes
(Figueiredo, 2003, p. 112-113).
Para isto, o analista dever ocupar uma posio reservada, mas implicada,
isto , trata-se de uma presena que contenha em si uma certa ausncia, sendo
esta uma ausncia convidativa, acolhedora, que se constitui como disponibili-
dade do analista de uma reserva de si para o outro (Figueiredo, 2003, p. 25).
A implicao do analista decorre da necessidade de ele se colocar de for-
ma mais presente no contexto analtico. Diante da problemtica apresentada
pelos estados limites, o analista no deve ocupar um papel passivo, que se
limita a escutar e a interpretar as associaes do paciente. O paciente limite
necessita do outro para sentir-se vivo. Ao se colocar numa posio mais pas-
siva, conforme indicamos acima, o analista tende a remeter o paciente a uma
vivncia de ausncia do outro, devido sua dependncia em relao a este
como forma de manter reunidas as partes do eu desintegradas. Este senti-
mento de ausncia poder remet-lo angstia de aniquilamento e de perda
de si, circunstncia que viria inviabilizar o tratamento.
De_edipo_a_narciso.indd 175 25/08/2014 15:57:19
176 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
No entanto, o analista dever sustentar o seu lugar na situao analtica,
por outro lado, de forma reservada, considerando o cuidado que deve tambm
tomar para que a sua presena no seja sentida como intrusiva, o que se des-
dobraria num sentimento de ameaa de aniquilamento. Se o analista se colo-
car demasiadamente presente, o sujeito poder se sentir dominado, invadido
pelo outro, devido, em ltima instncia, frgil delimitao da constituio
de suas fronteiras egoicas, fronteiras, no plano interno, entre o eu e o outro.
Na anlise dos estados limites a sustentao pela figura do analista de
uma presena reservada torna-se imprescindvel, pois, se esta posio no
for mantida e sustentada, o analista provocar intromisses mais ou menos
traumticas no psiquismo do paciente. Isto nos indica que no decorrer do
processo de anlise dos pacientes limites o analista dever sustentar a sua
posio de forma elstica, cedendo s tendncias do paciente, conforme as
indicaes de Ferenczi (Silveira, 2006).
Deste modo, podemos perceber que a posio do analista no atendimento
dos pacientes limites requer muito cuidado devido precria relao entre o
eu e o outro (interno e externo) que se repete na relao transferencial. Isto
nos indica que, para o analista conseguir ocupar o seu lugar e sustent-lo no
espao analtico de forma reservada mas implicada, ser justamente necess-
ria a utilizao de seu tato psicolgico. este que lhe permite sentir com
o paciente, escutando, tambm, os elementos clivados que lhe so apresen-
tados e, assim, realizar um manejo da relao transferencial que permita o
desdobramento do processo analtico.
Referncias bibliogrficas
Aisenstein, M. (2002). Construire, inventer, laborer. In: Inventer en psychanalyse
construire et interpreter. Paris: PUF.
Bertrand, M. (2008). Construir un passe, inventer un possible. In: Constructions en
psychanalyse. RFP, t. LXXII, n 5.
Ferenczi, S. (1928). Elasticidade da tcnica psicanaltica. In: Sandor Ferenczi. Escri-
tos psicanalticos. Rio de Janeiro: Tavares e Tristo Ed., 1984.
Figueiredo, L. C. (2003). Psicanlise: elementos para a clnica contempornea. So Pau-
lo: Escuta.
De_edipo_a_narciso.indd 176 25/08/2014 15:57:19
A relao eu/outro nos estados limites: aspectos tericos e clnicos 177
Figueiredo, L. C. & Cintra, E. U. (2004). Lendo Andr Green: o trabalho do negativo e
o paciente limite. In: Cardoso, M. R. C. (Org.). Limites. So Paulo: Escuta.
Freud. S. (1910). As perspectivas futuras da teraputica psicanaltica. In: Edio stan-
dard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XI. Rio de Ja-
neiro: Imago, 1996.
Freud. S. (1912). Recomendaes aos mdicos que exercem a psicanlise. In: Edio
standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XII. Rio de
Janeiro: Imago, 1996.
Freud. S. (1927). Fetichismo. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas com-
pletas de Sigmund Freud, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud. S. (1938a). A diviso do ego no processo de defesa. In: Edio standard bra-
sileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XXIII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
Freud. S. (1938b). Esboo de psicanlise. In: Edio standard brasileira das obras psico-
lgicas completas de Sigmund Freud, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Garcia, C. A. (2007). Os estados limites e o trabalho do negativo: uma contribuio
de A. Green para a clnica contempornea. In: Revista Mal-Estar e Subjetividade.
Fortaleza, v. VII, n. 1.
Green, A. (1975). O analista, a simbolizao e a ausncia no contexto analtico. In:
Sobre a loucura pessoal. Rio de Janeiro: Imago, 1988.
Green, A. (1986). O trabalho do negativo (anexo 1). In: O trabalho do negativo / Andr
Green. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Green, A. (1988). Seminrio sobre o trabalho do negativo (anexo 3). In: O trabalho do
negativo / Andr Green. Porto Alegre: Artmed, 2010.
Green, A. (1990). Conferncias brasileiras de Andr Green: metapsicologia dos estados
limites. Rio de Janeiro: Imago.
Racker, H. (1981). Estudos sobre tcnica psicanaltica. Porto Alegre: Artes Mdicas.
Roussillon, R. (1999). Traumatisme primaire, clivage et liaision primaires non sym-
boliques. In: Agonie, clivage et symbolisation. Paris: PUF.
Silveira, A. K. (2006). A singularidade da tcnica na clnica dos estados limites. Disser-
tao (Mestrado) UFRJ/IP/Programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica.
Villa, F. C. & Cardoso, M. R. (2004). A questo das fronteiras nos estados limites. In:
Cardoso, M. R. (Org.). Limites. So Paulo: Escuta.
De_edipo_a_narciso.indd 177 25/08/2014 15:57:19
De_edipo_a_narciso.indd 178 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a
fragmentao e a ilusria unificao
Jse Lane de Sales & Regina Herzog
Introduo
No curso dos atendimentos realizados pelo NEPECC o sentimento de ver-
gonha de si tem comparecido como sofrimento privilegiado. Intimamente
articulado a esse sentimento destaca-se, entre outras variveis, um mal-estar
oriundo da relao estabelecida com o prprio corpo. Tal constatao nos
levou a refletir sobre a forma como o corpo vem figurando no dispositivo
clnico atualmente.
Nesses atendimentos, diferentemente da descrio freudiana no mbito
da histeria, observamos que o corpo no comparece em sua dimenso er-
gena, mas sim envolto por questes que perpassam a sua unificao, apro-
priao e imagem. Por exemplo, um de nossos pacientes1, cuja demanda para
anlise envolve uma extrema timidez, revelou que sente vergonha desde
1
Estes pacientes, bem como todos os demais atendidos no NEPECC, ao iniciar o tratamento
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, autorizando a divulgao de aspec-
tos relativos ao seu atendimento para fins cientficos, com a garantia de no ter a identidade
revelada.
De_edipo_a_narciso.indd 179 25/08/2014 15:57:19
180 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
que se entende por gente (sic) e, embora no saiba precisar o motivo de seu
sentimento, apontou um enorme desconforto com relao a sua imagem cor-
poral. Outro analisando ressente-se de seus braos finos (sic), afirmando
com muita convico nunca ter visto braos to finos quanto os seus e, por
esta razo, jamais veste roupas que os deixem mostra, apesar de ter von-
tade de us-las. Ambos revelaram ter nascido com severas complicaes de
sade, correndo, inclusive, risco de vida.
O discurso de nossos pacientes, marcado por um sentimento de vergonha
de si, remetido a uma autopercepo profundamente desvalorizada, chamou
nossa ateno para a qualidade dos primeiros investimentos depositados so-
bre esses sujeitos. Ser que foi possvel aos genitores desprezarem as defici-
ncias do infans e atriburem a ele uma perfeio narcsica, tal como Freud
descreve em 1914 ao tratar do narcisismo primrio? Ser que estes analisan-
dos em algum momento foram Sua Majestade o Beb?
Dessa forma, a articulao do sentimento de vergonha de si remetido
a questes narcsicas com uma forma peculiar de o paciente lidar com o
prprio corpo nos conduziu a refletir acerca da temtica do corpo no pen-
samento de Freud. Mais precisamente, a respeito da problemtica da frag-
mentao, pois o que se destaca no discurso desses pacientes diz respeito
imagem corporal.
Assim, o presente artigo se prope explorar a tenso entre o corpo frag-
mentado do autoerotismo e a noo de um corpo unificado advinda do narci-
sismo. Para tal, caber primeiramente contextualizar o estatuto de corpo na
obra freudiana; em seguida vamos nos deter no registro do autoerotismo e
do narcisismo. Este percurso colocar necessariamente em cena a participa-
o do outro na constituio subjetiva; aspecto que tambm ser contempla-
do ao longo das consideraes.
O corpo a partir de Freud
Apesar de o corpo estar presente na elaborao freudiana desde os primrdios
de sua obra, no chegou a receber uma conceituao precisa, o que no nos
impede de vislumbrar a especificidade com que figura em seu pensamento.
De_edipo_a_narciso.indd 180 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 181
Nesta perspectiva, fazer referncia ao corpo implica em considerar ao me-
nos trs formas distintas e, ao mesmo tempo, interligadas de descrev-lo.
Ou seja, trs recortes2, sem fronteiras rgidas, coexistindo simultaneamente,
tanto do ponto de vista terico quanto clnico.
O primeiro recorte tem como ponto de origem os estudos de Freud no
campo da histeria e se consolida com a postulao dos conceitos de auto-
erotismo e pulso sexual, sendo por ns denominado de registro do corpo
autoertico. O segundo, vislumbrado a partir do conceito de narcisismo, o
qual permite pensar um investimento libidinal no Eu e uma tendncia uni-
ficao corporal, designamos como o registro narcsico do corpo. Quanto ao
terceiro recorte, se radicaliza com o advento da pulso de morte em 1920,
colocando em cena o excesso pulsional sem simbolizao e evidenciando que
o corpo tambm permeado pelo mais alm do princpio do prazer (Freud,
1920/1996): trata-se do registro do corpo irrepresentvel.
Se a designao escolhida para os dois primeiros registros facilmente
apreensvel, em vista da referncia direta aos conceitos freudianos, o tercei-
ro registro merece um esclarecimento. Optamos por usar a expresso corpo
irrepresentvel em funo da dificuldade de circunscrever com propriedade
a dimenso intensiva mais marcante no pensamento de Freud derivada da
postulao do conceito de pulso de morte. Porm estamos cientes de que
esta escolha comporta o risco de ficarmos atrelados ao par representao/
irrepresentvel, o qual, conforme salienta Herzog (2011), est referido a uma
lgica binria; lgica contrria aos nossos propsitos, tal como ficar claro
ao longo do artigo. Assim, a denominao corpo irrepresentvel visa apenas
sinalizar um registro bastante singular do corpo no qual a representao em
seu sentido restrito est em questo.
Nos trs registros corporais propostos a alteridade tem um lugar de
extrema relevncia. No mbito do primeiro registro, atravs dos cuida-
dos daquele que se ocupa do infans, em geral a me, que o organismo se
transforma em corpo autoertico. medida que tem o corpo manuseado e
as sensaes decodificadas e nomeadas, o beb investido libidinalmente,
2
A respeito desses trs registros remetemos dissertao de mestrado intitulada Corpo e alte-
ridade: processo de subjetivao (Sales, 2013), na qual esta questo explorada detalhadamente.
De_edipo_a_narciso.indd 181 25/08/2014 15:57:19
182 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
possibilitando o surgimento das zonas ergenas e consequentemente do
corpo autoertico.
No estatuto do corpo narcsico somente atravs do outro que pode ter
lugar uma nova ao psquica (Freud, 1914/1996, p. 84) capaz de reunir
as pulses parciais autoerticas, viabilizando a constituio de uma imagem
unificada do corpo e, consequentemente, do Eu. Para que este processo ocor-
ra fundamental ao recm-nascido, alm de ser investido libidinalmente,
ser tambm alvo da reedio das fantasias narcsicas onipotentes dos geni-
tores. S assim o sujeito poder se identificar e se reconhecer atravs de sua
imagem.
Com relao concepo de corpo irrepresentvel, o papel da alteridade
ainda mais fundamental. Cabe ao outro acolher a descarga pulsional, trans-
formando a exigncia de trabalho em satisfao, impedindo a eliminao pul-
sional total e, consequentemente, a morte. Freud, desde os primrdios da
psicanlise, aponta que no incio da vida o aparelho psquico no capaz de
lidar com as excitaes sem auxlio externo. J no texto Projeto para uma
psicologia cientifica (1950 [1895]/1996), ao conceber um aparelho neural
regulado pelo prazer e pela dor, a noo de ao especfica assinala o impe-
rativo de uma exterioridade ao sujeito na regulao do nvel de energia do
aparelho em questo. Nesta perspectiva, a ao especfica sempre efetu-
ada por meio de ajuda alheia e necessitando da presena de certos objetos
e condies tem por objetivo eliminar ou diminuir a tenso interna cria-
da pelo acmulo de estmulos (Freud, 1950 [1895]/1996). Anos depois, em
1915, a definio de pulso como uma fora, uma medida de exigncia de
trabalho, indica que o organismo e o prprio psiquismo no so capazes de
regular a excitabilidade sem a participao de um outro. A esse respeito, em
1926, Freud marca: Na primeira infncia o indivduo realmente no est
preparado para dominar psiquicamente as grandes somas de excitao que
o alcanam quer de fora, quer de dentro (Freud, 1926/1996, p. 144). Nesse
sentido, com a postulao de uma modalidade pulsional que visa o retorno
ao estado inanimado, a necessidade do outro para capturar as excitaes se
torna ainda mais fundamental. Somente o trabalho da alteridade, de oferecer
ao beb objetos de ligao fora pulsional que o invade, uma vez que esses
objetos no esto dados de sada, pode instaurar a experincia de satisfao.
De_edipo_a_narciso.indd 182 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 183
E atravs dessa experincia a excitabilidade pulsional poder ser regulada de
modo a se inserir no psiquismo evitando a descarga.
Antes de prosseguir, cabe reiterar que pensar o lugar do corpo no discur-
so freudiano a partir de trs diferentes registros apenas um recurso til a
nossa investigao; de maneira alguma concebemos a constituio subjetiva
como uma sucesso progressiva de corporeidades. De fato, os trs estatutos
de corpo coexistem simultaneamente, sem que um anule o outro. O mais
importante ter presente que na perspectiva psicanaltica o corpo no se
reduz ao organismo. Para comear, o corpo, diferentemente do organismo,
no est dado de sada; constitudo gradativamente no encontro com a al-
teridade (Sales, 2013). Alm disso, como coloca Ferreira (2003), enquanto
o organismo visa a homeostase, o corpo dinmico, estando em constante
reconfigurao, efeito do movimento da pulso dada a impossibilidade de
satisfao completa.
Como o objetivo central do presente artigo o de refletir acerca da ten-
so entre a fragmentao autoertica e a ilusria unificao narcsica, va-
mos retomar os dois primeiros registros de corpo brevemente apresentados:
aquele advindo com o autoerotismo e a pulso sexual e o que surge a partir
do conceito de narcisismo. Reflexo extremamente necessria clnica da
contemporaneidade, na qual so cada vez mais comuns sofrimentos psqui-
cos decorrentes de dificuldades no mbito da certeza de si, que, entre outras
coisas, colocam em relevo o processo de apropriao do corpo.
Registro do corpo no autoerotismo e no narcisismo
Com as postulaes feitas no artigo Trs ensaios sobre a teoria da sexua-
lidade (1905), Freud abre espao para pensarmos um corpo marcado pela
pulso sexual. Tanto ao assinalar que a sexualidade infantil est subordina-
da a vrias zonas ergenas, como ao enunciar que a pulso sexual se situa
entre o psquico e o somtico, e que esta pulso tem no corpo a sua fonte,
Freud (1905/1996) indica claramente que o corpo habitado e constitudo
pelas pulses sexuais autoerticas. Nesse contexto, o sexual no apenas atra-
vessa o corpo, tal como aparecia nos textos iniciais sobre a histeria, mas o
De_edipo_a_narciso.indd 183 25/08/2014 15:57:19
184 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
constitui. Depreendemos da o registro do corpo autoertico, no qual o corpo
no apresenta uma unidade, sendo marcado pela pluralidade de zonas er-
genas sem uma organizao definida (Sales, 2013) e, como salienta Leclaire
(1992), ignora qualquer processo articulador e unificante.
O carter fragmentrio e descontnuo , portanto, a principal caracte-
rstica do registro do corpo no autoerotismo; ele efeito do funcionamento
anrquico das zonas ergenas, da presena das pulses parciais e do prazer
do rgo. Este ltimo designa o tipo de satisfao das pulses parciais, as
quais apresentam atividades inteiramente autnomas; partem de variadas
fontes orgnicas; funcionam de modo anrquico, independentemente da
funo biolgica e de um objeto particular; e somente alcanam uma sn-
tese quando passam a trabalhar a servio da funo reprodutora (Freud,
1917/1996). A quantidade variada de pulses parciais e zonas ergenas evi-
dencia justamente a fragmentao e a ausncia de unidade no registro do
autoerotismo.
Nos sintomas histricos o registro do corpo autoertico que est em
questo. Por possuir um corpo investido de libido, inicialmente pelo outro e,
depois, por si mesma, a histrica consegue, por exemplo, paralisar sua perna.
Sintoma que no possui qualquer comprometimento orgnico, mas repre-
senta algo da ordem do sexual que no pode ser tolerado pela conscincia.
De acordo com Freud (1893/1996, p. 212): A histeria ignora a distribuio
dos nervos [...]. Ela toma os rgos pelo sentido comum, popular, dos nomes
que eles tm.
Est implcita nas teorizaes freudianas acerca do autoerotismo e da sin-
tomatologia histrica a noo de erogeneidade3, ou seja, a capacidade de deter-
minada parte do corpo emitir estmulos excitantes ao psiquismo. No contexto
do artigo Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905) a erogeneidade
se restringe s zonas ergenas. Posteriormente, passa a ser entendida como
uma faculdade geral de todos os rgos (Freud, 1914/1996, p. 91). E, em
1938, Freud (1940[1938]/1996) abarca o corpo inteiro. Se, por um lado, a
forma como a erogeneidade pensada por Freud no registro do autoerotismo
3
Conceito que s formalmente postulado por Freud em 1914 ao tratar do deslocamento da
libido entre os objetos e o Eu. (Freud, 1914/1996)
De_edipo_a_narciso.indd 184 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 185
nos ajuda a sustentar a ideia de um corpo sem unidade, por outro lado o que
ele enuncia a partir de 1914 nos d subsdios para sustentar a ideia de uma
unificao corporal, mesmo que ilusria. O mais importante concernente
erogeneidade o lugar por ela ocupado no processo de subjetivao, uma vez
que se encontra intimamente articulada funo da alteridade4.
Em 1914, com a introduo por Freud do narcisismo como conceito, es-
tabelecendo que o Eu tambm pode ser investido libidinalmente, o estatuto
de corpo em psicanlise se amplia. O corpo deixa de ser compreendido como
pura disperso autoertica, um amontoado de partes fragmentadas sem co-
municao entre si e, atravs da iluso de uma imagem corporal unificada,
adquire certa organizao (Sales, 2013). Como descreve Birman (2003), essa
imagem representativa do corpo forjada pelas figuras parentais opera uma
costura que perpassa as corporeidades autoerticas, permitindo que as dife-
rentes partes, at ento desorganizadas, iniciem relaes entre si, culminan-
do em um corpo minimamente integrado e unificado que passa a ser repre-
sentado pelo Eu narcsico.
A aproximao entre o Eu e o corpo torna-se mais visvel com a cons-
truo da segunda tpica, em 1923. O Eu postulado como uma instncia
psquica voltada para o exterior, instncia conectada com a realidade, sendo
derivada das percepes, principalmente daquelas que emergem da super-
fcie do corpo. Trata-se do Eu corporal (Freud, 1923/1996). Desta forma, o
nascimento do Eu fica subordinado s sensaes corporais, atrelando de for-
ma ainda mais firme a unidade do Eu unidade do corpo. Assim, o corpo,
mais do que nunca, parte constituinte do prprio psiquismo, a ponto de ser
invivel falar da constituio egoica sem fazer referncia a ele.
Ademais, medida que as percepes corporais so apontadas como deci-
sivas na constituio do Eu, observamos mais uma vez a importncia capital
da alteridade na constituio do sujeito. Nessa perspectiva, cabe aos pais via-
bilizar ao infans a apropriao do corpo prprio; ao complexa que, por estar
na dependncia da alteridade, no est previamente garantida.
A conduo da anlise de alguns pacientes do NEPECC vem sinalizando
os inmeros percalos passveis de ocorrer no processo acima descrito. Entre
4
Trataremos desse ponto um pouco mais frente.
De_edipo_a_narciso.indd 185 25/08/2014 15:57:19
186 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
outras coisas, observamos falhas da alteridade em estgios bem precoces da
subjetivao no relato dos analisandos cujo sofrimento est relacionado
imagem corporal. Sendo assim, fundamental examinar o papel do outro
neste laborioso processo no qual o corpo disperso do autoerotismo adquire
uma organizao, possibilitando ao sujeito tom-lo como parte integrante
de si mesmo.
A funo da alteridade no processo de apropriao
corporal
No registro do autoerotismo a relao com a alteridade expressa no corpo
do beb, sobretudo por meio da erogeneidade. Ou seja, atravs do corpo
que o sujeito se constitui, introjetando o outro em si. J no registro do corpo
narcsico, o sujeito constitudo a partir do processo de oposio Eu x outro.
Dito de outra forma, nesse segundo registro est em questo no a introje-
o do outro em si, mas a constituio de um outro de si. Vejamos todo esse
processo mais detalhadamente.
Se, em 1905, a participao do outro na construo da subjetividade se
destaca principalmente com relao sexualizao do corpo infantil, a partir
de 1914 esta participao passa a estar firmemente atrelada constituio
do prprio Eu. No ensaio de 1914, Freud aborda pela primeira vez de forma
explcita a questo do nascimento do Eu, deixando claro tratar-se de uma
construo e destacando, ainda, a necessidade de uma nova ao psquica
(Freud, 1914/1996, p. 84). Sua argumentao sinaliza que esta nova ao
envolve a unificao do corpo disperso do autoerotismo e desencadeada
pela alteridade. Com efeito, o outro, representado pelas figuras parentais,
atravs do investimento libidinal no corpo da criana, viabiliza a construo
do Eu.
Ainda em 1914, ao abordar o modo como os pais se relacionam com os
filhos, Freud (1914/1996) sublinha que ali est em jogo a reproduo do nar-
cisismo deles prprios, que enxergam o filho da mesma forma como um dia
j tinham se imaginado. Atribuem ao filho toda a perfeio e aspiram que
realize tudo aquilo que eles prprios no conseguiram.
De_edipo_a_narciso.indd 186 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 187
Nesse sentido, a constituio do Eu e do corpo unificado no infans re-
sultante da construo de um projeto narcsico dos pais (Pinheiro, 1995).
Projeto que d origem a Sua Majestade o Beb, permitindo criana ex-
perimentar uma completude e onipotncia fundamentais no processo de
subjetivao.
Este projeto narcsico inclui necessariamente a fantasia de um corpo
para o infans. Antes mesmo de o filho nascer, este corpo tomado como
uma unidade coesa investido libidinalmente pelos genitores, estando
inclusive inserido em uma histria familiar. Ou seja, os pais investem em
uma imagem corporal por eles antecipada. A esse respeito Aulagnier (1991)
comenta que no imaginrio da me, desde as primeiras semanas de ges-
tao, a criana no representada pelo que ela na sua realidade inicial
um embrio , mas pelo corpo imaginado (Aulagnier, 1991, p. 15), um
corpo completo, unificado, dotado de vrios atributos e separado do corpo
da me.
Sobre este processo, no qual o Eu se constitui a partir da antecipao de
uma imagem corporal promovida pelos genitores, as formulaes de Lacan
acerca do estdio do espelho so bastante elucidativas.
Em 1938 (2003), no texto Complexos familiares na formao do indiv-
duo, Lacan aborda brevemente o estdio do espelho, descrevendo-o como
um momento gentico comum aos infans por volta dos seis meses de ida-
de. A partir desta idade, apesar da imagem despedaada do corpo (Lacan,
1949/1992, p. 100) e da discordncia das suas funes e pulses, a crian-
a, ao ver seu reflexo no espelho j capaz de antecipar a unidade corpo-
ral. Hiptese sustentada atravs da comparao entre a reao infantil e a
dos chimpanzs. O infans, diferentemente destes animais, ao invs de tentar
apreender manualmente a imagem, demonstra um esbanjamento jubilat-
rio de energia que assinala o triunfo (Lacan, 1938/2003 p. 36). Atitude que,
para o autor, sinaliza o reconhecimento de que aquilo que v refletido no
espelho na verdade si mesmo.
Em 1949, ao retomar a questo da experincia especular, Lacan d nfa-
se ao processo de construo do Eu. O estdio do espelho ento definido
como: [...] uma identificao, no sentido pleno que a anlise atribui a esse
termo, ou seja, a transformao produzida no sujeito quando ele assume
De_edipo_a_narciso.indd 187 25/08/2014 15:57:19
188 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
uma imagem [...] (Lacan, 1949/1992, p. 97). Nesta perspectiva, o reconhe-
cimento do reflexo no espelho como lhe sendo prprio que ordena, mesmo
que ilusoriamente, o corpo fragmentado, permitindo ao infans a conquista
de uma unidade mental e contribuindo para o nascimento do Eu. Ou seja,
a partir de uma exterioridade que o beb toma a prpria imagem como uma
Gestalt: apropriao que culminar na formao do Eu.
Se em 1949 a exterioridade responsvel por possibilitar ao infans se iden-
tificar com seu corpo era sobretudo a imagem, em 1953 Lacan relativiza seu
peso e destaca o papel primordial da palavra. Ao repensar o estdio do espe-
lho atravs dos esquemas pticos5, a exterioridade passa a estar firmemente
atrelada linguagem e, consequentemente, ao outro. Lanando mo do ex-
perimento citado, Lacan (1953/1986) chega concluso de que outros fato-
res tambm so necessrios para aquisio do corpo como prprio, tais como
a insero do beb no universo simblico dos pais, uma ligao simblica na
relao estabelecida entre eles, bem como a confirmao por parte do outro
de que aquela imagem unificada, a qual a criana reconhece no espelho, re-
presenta a si mesma (Lacan, 1953/1986).
Em resumo, o estdio do espelho de Lacan nos ensina que a linguagem
ofertada pelo outro permite ao sujeito se conectar a sua histria e ao seu
corpo. As palavras que os pais, ou quem ocupa esse lugar, dirigem ao infans
transformam a relao com o corpo. Este, antes vivido como despedaado
(Lacan, 1949/1992, p. 100), passa a ser experienciado como uma unidade,
possibilitando a apropriao de sua imagem.
Tanto as formulaes lacanianas quanto as de Freud aqui apresentadas,
consideram principalmente o campo da neurose. Neste sentido, no por
acaso que Freud, em 1914, ao tratar do papel da alteridade, pressupe de sa-
da a participao de pais afetuosos capazes de construir as bases necessrias
assuno de um sujeito. Visando abordar os percalos que podem ocorrer
neste processo de constituio narcsica, percalos com que nos defrontamos
na conduo da anlise dos sujeitos atendidos pelo NEPECC, recorreremos s
contribuies de Aulagnier (1979; 1999).
5
Um experimento clssico da fsica, concebido como O buqu invertido, retirado da obra
de H. Bouasse, utilizado por Lacan no Seminrio 1 (Lacan, 1953/1986).
De_edipo_a_narciso.indd 188 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 189
Os riscos inerentes funo da alteridade
Aulagnier (1979; 1999), motivada por questes derivadas de sua clnica jun-
to a pacientes psicticos, e sem desconsiderar as formulaes freudianas e as
contribuies de Lacan, desenvolveu uma teoria prpria a respeito da cons-
tituio do sujeito. Teoria esta que explora outras variveis, alm da imagem
e da linguagem, no processo de constituio subjetiva, como os aspectos no
verbais, os movimentos constitutivos da psique e sua relao com o corpo,
destacando o valor primordial da sensorialidade.
De acordo com a autora, o Eu s pode habitar ou investir em um corpo que
possua uma histria, na qual a primeira verso forjada pelas figuras paren-
tais necessariamente contm um Eu antecipado que, entre outras coisas,
comporta uma imagem corporal tambm antecipada e fiel s iluses narc-
sicas dos pais (Aulagnier, 1999). At aqui Aulagnier acompanha tanto Freud
(1914/1996) quanto Lacan (1953/1986). Mas a grande contribuio desta
autora se deter no papel dos genitores na constituio do corpo do infans.
Aulagnier (1999) explora a articulao entre o corpo e a histria que an-
tecede o sujeito. Nesse sentido, destaca que o fato de os pais fantasiarem
um corpo para o filho, embora inevitvel e imprescindvel, envolve um risco.
O risco em questo de se criar e pr-investir uma imagem que ainda no
existe na realidade. Sabemos que o beb idealizado nunca corresponder in-
tegralmente realidade do infans, mas o que se espera que haja pontos em
comum entre ambos. Todavia, no h qualquer garantia de que o imagina-
do e o idealizado pelos pais v minimamente coincidir com a realidade do
recm-nascido.
Para que a criana ao crescer se relacione razoavelmente bem com seu
corpo, ou seja, para que se identifique e se reconhea nele, para adquirir um
senso mnimo de unidade, para no constituir como defesa principal as ma-
nifestaes psicossomticas, o Eu antecipado pelos genitores precisa ser
flexvel. Este Eu antecipado deve estar disponvel o suficiente para se abrir
e acolher o corpo real do beb, unindo-se a ele (Aulagnier, 1999). Assim, aque-
las respostas emitidas pela me ao cuidar do infans, ao tentar interpretar as
mensagens que este lhe envia com seu choro e gestuais, precisam, pouco a
pouco, abarcar as manifestaes singulares e imprevistas do corpo do infans,
De_edipo_a_narciso.indd 189 25/08/2014 15:57:19
190 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
e no s aquilo que ela supe previamente de acordo com suas idealizaes
e fantasias.
Nessa perspectiva, a autora sublinha que somente atravs do corpo do
infans se estabelece a unio entre o representante psquico pr-forjado pela
me (referido ao Eu antecipado e criana ideal) e o beb que ali est. Dito
de outra forma: o apoio na realidade do corpo do filho que permite me
tanto preservar o investimento no representante psquico antecipado, quan-
to investir no beb real. Duplo investimento que possibilita criana perma-
necer inserida em uma histria e ter tambm sua singularidade reconhecida.
Quando isso ocorre, a criana, ao se desenvolver, apela cada vez menos para
seu corpo como transmissor privilegiado de mensagens e diversifica os des-
tinatrios e os objetos para os quais enderea seus pedidos.
Contudo, reconhecer a singularidade do infans e, ao mesmo tempo, man-
t-lo conectado com uma histria prvia no um processo fcil de ser sus-
tentado. Aulagnier (1999) tambm se dedicou a explorar as consequncias
das falhas que podem ocorrer. Ela considera que, diante de uma ancoragem
insatisfatria entre a imagem ficcional precedente e o corpo apresentado
pelo infans, a me pode desenvolver o que nomeou de idealizao parcial.
Nesta a me s capaz de validar ou decodificar os gestos e atitudes do
beb que confirmem a sua representao antecipada, excluindo todo o resto.
Dessa forma, tudo aquilo que escapa ao idealizado o imprevisto, o diferen-
te, o espontneo no considerado; ao contrrio, negado e desvalorizado.
Tal conduta materna pode gerar no sujeito uma dificuldade em relao aos
prprios testemunhos sensoriais, uma incerteza mutilante tocante confor-
midade entre si prprio e a imagem dele reenviada pelo espelho (Aulagnier,
1999, p.40). Comportamento que, segundo ela, est bastante presente nos
esquizofrnicos, os quais, como defesa, comumente constroem uma certeza
delirante relacionada a algum aspecto corporal.
Apesar de os pacientes atendidos pelo NEPECC no possurem o diag-
nstico de esquizofrenia, encontramos no processo analtico deles resso-
nncia com as descries feitas por Aulagnier. Dificuldades com relao s
sensaes corporais e imagem so caractersticas frequentemente observ-
veis em nossos analisandos, independentemente da questo estrutural e
diagnstica.
De_edipo_a_narciso.indd 190 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 191
Aulagnier (1999) aponta ainda que o encontro da me com o beb real
pode ser atravessado por algo mais drstico do que a idealizao parcial. A
me pode se sentir confrontada com um beb que em nada se relaciona com
o representante psquico por ela forjado, o que impede estabelecer qualquer
ponto de ancoragem entre eles. Essa me ter que abrir mo de todo o Eu
antecipado e construir um novo referente psquico para o filho, o qual no
comportar slidas vinculaes com a histria do desejo dela, pelo contrrio
romper com ela. Nestes termos, ser tarefa da me religar os fios passados
desta histria com o tempo presente. Ainda assim, mesmo que ela consiga
desempenhar esta costura to difcil, a criana estar marcada pela mutilao
do representante que deveria t-la acolhido, tendo que lanar mo de alguns
recursos para superar tal marca.
Diante de uma situao to radical como a descrita acima, o infans pode
tentar facilitar a tarefa decodificadora da me se aproximando do represen-
tante psquico que foi por ela pr-investido e, com isso, comprometer sua
autonomia psquica. O bigrafo [o Eu] se transformar em um copiador,
condenado a transcrever fielmente uma histria escrita por um outro (Au-
lagnier, 1999, p. 42). Nesse contexto, a psique infantil pode lanar mo de sa-
das que levam ao autismo, ou a uma forma particular e precoce de clivagem,
subjacente aos estados-limites.
Para concluir
Sem a pretenso de esgotar a questo levantada pelo artigo, as teorizaes
aqui apresentadas nos permitem tecer algumas consideraes. Para comear,
no resta dvida de que em psicanlise o corpo no est dado desde o in-
cio; trata-se de uma construo inaugurada no encontro com a alteridade.
neste encontro que o organismo se transformar em corpo pulsional que, a
princpio fragmentado, paulatinamente conquistar certa unidade.
Nesta perspectiva, em geral antes mesmo do nascimento o beb j in-
vestido libidinalmente pelos genitores e, ao nascer, medida que recebe os
cuidados fsicos, este investimento se torna ainda mais acentuado. no cui-
dado corpo-a-corpo da me, no seu ritual de decodificao dos gestos e aes
De_edipo_a_narciso.indd 191 25/08/2014 15:57:19
192 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
do infans que se instaura no corpo a dimenso pulsional. Uma vez inaugu-
rado este circuito, o autoerotismo marcar de forma inteiramente singular
o corpo do beb. O fato de a me possuir um macio investimento libidinal
sobre o filho a torna capaz de escutar, interpretar e atender os sinais por
ele enviados, respondendo e correspondendo as suas solicitaes. As respos-
tas maternas devem estar, por um lado, amparadas nos ideais preexistentes
do seu imaginrio e, por outro, na singularidade do prprio recm-nascido.
Trata-se assim, de uma via de mo dupla, na qual, embora ainda no se possa
conceber o Eu do infans apartado da me, uma relao entre me e beb se es-
tabelece culminando na constituio do corpo ergeno e do prprio sujeito.
Em paralelo fragmentao corporal caracterstica do autoerotismo, tem
incio a constituio narcsica, inaugurando a promessa de um Eu e um cor-
po minimamente unificados. O corpo, a princpio radicalmente estrangeiro,
mesmo permeado pelas pulses anrquicas do autoerotismo, se unifica em
torno de uma imagem forjada pelos pais, adquirindo uma coeso mnima.
Evento que possibilita criana assumir o seu corpo como patrimnio inse-
parvel de si mesma e objeto atravs do qual se reconhece.
Entretanto, como foi dito anteriormente, o corpo narcsico no excluir o
corpo autoertico e vice-versa; ou seja, o corpo pulsional nunca ser comple-
tamente unificado. Mesmo aps o advento do narcisismo as pulses parciais
no desaparecem, continuam agindo sobre o sujeito, o que torna impossvel
concebermos o corpo como uma unidade completamente coesa e fechada.
Ademais, partindo do entendimento de Lacan em 1949 acerca do Eu advindo
com o estdio do espelho, podemos considerar a imagem unificada do corpo
uma fico que, tal como o Eu, permanecer eternamente em discordncia
com a realidade.
O fato de o corpo no ser integral e irremediavelmente unificado no
necessariamente fonte de sofrimento psquico. Todos ns, em alguma medi-
da, somos confrontados com uma fragmentao corporal transitria capaz
de despontar em vrios momentos, mostrando que a ideia de uma totalidade
no se sustenta, e que a partir dos fragmentos que uma imagem de si pode
ser construda. O que no implica dizer que os recursos de um Eu e um corpo
unificado, mesmo que ficcionais, possam ser descartados. O problema se co-
loca quando os meios para a construo de uma autoimagem so precrios,
De_edipo_a_narciso.indd 192 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 193
predominando o registro da parcialidade, como se verifica em muitos pacien-
tes do NEPECC. Nesses casos a fragmentao deixa de ser apenas transitria,
tanto no sentido momentneo quanto no sentido de devir, resultando em
dor psquica. desta forma que se apresenta um de nossos analisandos, cujo
sentimento de vergonha de si apoia-se especialmente na imagem construda
de seu corpo. Imagem que carrega a fixidez de braos extremamente finos,
diferente de todos os outros braos (sic).
Antes de finalizar importante ressaltar que, embora no tenha sido alvo
de nossa ateno no presente artigo, a condio de analisabilidade dos pa-
cientes um ponto extremamente relevante em nossas pesquisas, dado que
representa um grande desafio clnico na atualidade. As investigaes em cur-
so at o momento indicam que trabalhar com este perfil de sujeitos apenas a
partir do referencial terico da neurose apostando no predomnio de uma
configurao corporal ergena e do recalque como defesa privilegiada no
traz uma grande contribuio para a conduo do tratamento. Assim, nesses
casos, conforme Pinheiro, Verztman e Barbosa (2006) afirmam, o manejo cl-
nico difere da anlise freudiana clssica. Enquanto esta ltima visa criar com
o analisando uma nova verso de sua histria, nos atendimentos por ns
realizados o que buscamos tentar construir, pela primeira vez como ex-
perincia inaugural uma histria de si. Nesse sentido, uma discusso sobre
a positividade do fragmentrio poder fornecer subsdios para este desafio
clnico.
Referncias bibliogrficas
Aulagnier, P. (1979). A violncia da interpretao. Trad. M. C. Pellegrino. Rio de Janei-
ro: Imago.
Aulagnier, P. (1991). Observaes sobre a estrutura psictica. In: Katz, C. S. (Org.).
Psicose uma leitura psicanaltica. 2. ed. So Paulo: Escuta.
Aulagnier, P. (1999). Nascimento de um corpo, origem de uma histria. Revista Lati-
noamericana de Psicopatologia Fundamental, II, 3, 9-45.
Birman, J. (2003). Corpos e formas de subjetivao em psicanlise. Comunicao profe-
rida no Segundo Encontro Mundial dos Estados Gerais da Psicanlise no Rio de
De_edipo_a_narciso.indd 193 25/08/2014 15:57:19
194 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Janeiro. Disponvel em: <www.estadosgerais.org/mundial_rj/port/trabalhos/3_
Birman_38020903_port.htm>.
Ferreira, C. F. (2003). O corpo e suas faces: um estudo psicanaltico. Dissertao de mes-
trado apresentada no programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica do Ins-
tituto de Psicologia da UFRJ.
Freud, S. (1893). Algumas consideraes para um estudo comparativo das paralisias
motoras orgnicas e histricas. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud, v. I. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1905). Trs ensaios sobre a teoria da sexualidade. In: Edio standard bra-
sileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. VII. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
Freud, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introduo. In: Edio standard brasileira das
obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1915). O instinto e suas vicissitudes. In: Edio standard brasileira obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud. v. XIV. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1917). Conferncia XXI O desenvolvimento da libido e as organizaes
sexuais. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund
Freud, v. XVI. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1920). Alm do princpio de prazer. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1923). O ego e o id. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas com-
pletas de Sigmund Freud, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1926). Inibies, sintomas e ansiedade. In: Edio standard brasileira das
obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XX. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
Freud, S. (1940 [1938]/1996). Esboo de psicanlise. In: Edio standard brasileira
das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XXIII. Rio de Janeiro: Imago,
1996.
Freud, S. (1950 [1895]). Projeto para uma psicologia cientfica. In: Edio standard
brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. I. Rio de Janeiro:
Imago, 1996.
Herzog, R. (2011). Os limites da representao psquica. In: Cardoso, M. R.; Garcia, C.
A. (orgs.). Limites da clnica. Clnica dos limites. Rio de Janeiro: Companhia de Freud.
Lacan, J. (1938). Complexos familiares na formao do indivduo. In: Outros escritos.
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2003.
De_edipo_a_narciso.indd 194 25/08/2014 15:57:19
O corpo em psicanlise: entre a fragmentao e a ilusria unificao 195
Lacan, J. (1949). O estdio do espelho como formador da funo do eu tal como nos
revelado na experincia psicanaltica. In: Escritos. So Paulo: Perspectiva, 1992.
Lacan, J. (1953). A tpica do imaginrio. In: O seminrio, livro 1: os escritos tcnicos de
Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1986.
Leclaire, S. (1992). Sobre a funo da me: algumas questes a respeito do corpo
ergeno. In: O corpo ergeno. So Paulo: Escuta.
Pinheiro, T. (1995). Algumas consideraes sobre o narcisismo, as instncias ideais
e a melancolia. In: Cadernos de Psicanlise, v. 12, n. 15. Rio de Janeiro: S.P.C.R.J.
Pinheiro, T.; Verztman, J. & Barbosa, M. T. (2006). Notas sobre a transferncia no
contexto de uma pesquisa clnica. In: Cadernos de Psicanlise, v. 22, n. 25. Rio de
Janeiro: SPCRJ.
Sales, J. L. (2013). Corpo e alteridade: processo de subjetivao. Dissertao de mestra-
do apresentada no programa de Ps-graduao em Teoria Psicanaltica do Insti-
tuto de Psicologia da UFRJ.
De_edipo_a_narciso.indd 195 25/08/2014 15:57:19
De_edipo_a_narciso.indd 196 25/08/2014 15:57:19
Manifestaes da agressividade no
contexto de uma pesquisa clnica:
algumas observaes e apontamentos
Rafaela Zorzanelli, Selena Caravelli, Bruno Farah & Teresa Pinheiro
Introduo
A pergunta est em um Freud tardio: Por que necessitamos de tempo to
longo para nos decidirmos a reconhecer uma pulso agressiva? (Freud,
1933/1974, p. 129). A despeito de certos discursos aucarados e ilusrios,
a descrena em uma intrnseca bondade da natureza humana (Freud,
1933/1974, p. 130) foi um esforo marcadamente empreendido e exitoso da
psicanlise.
A estratgia do sujeito para compartilhamento do mundo com o outro
tem que ser decidida a partir da solitria opo de como responder castra-
o e ao simblico. Entrar na cultura, na linguagem, renunciar s pulses,
agressividade, ao incesto e guiar-se pelos sucedneos do supereu leis, or-
dens, proibies, autoculpabilizao, destino so faturas a pagar na tarefa
humana para habitar a cultura. No entanto, a eficcia da renncia natureza
relativa, no vindo a pacificar inteiramente o sujeito e, assim, colocando em
cena o narcisismo das pequenas diferenas, que o levar a conhecer a intole-
rncia e a agressividade:
De_edipo_a_narciso.indd 197 25/08/2014 15:57:19
198 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
os homens no so criaturas gentis que desejam ser amadas e que,
no mximo, podem defender-se quando atacadas; pelo contrrio, so
criaturas entre cujos dotes instintivos deve-se levar em conta uma po-
derosa quota de agressividade [...] homo homini lupus [o homem o
lobo do homem] (Freud, 1930/1974, p. 133).
Sabe-se que no campo psicanaltico no existe uma univocidade para a
noo de agressividade. Apesar disso, sua figura emblemtica o par sadis-
mo-masoquismo. No entanto, para uma melhor definio de nosso campo
conceitual na presente discusso, para fins didticos utilizaremos o verbete
elaborado por Laplanche e Pontalis (1996, p. 11), qual seja:
Tendncia ou conjunto de tendncias que se atualizam em comporta-
mentos reais oufantassticosque visam prejudicar o outro, destru-lo,
constrang-lo, humilh-lo, etc. A agresso conhece outras modalida-
des alm da ao motora violenta e destruidora; no existe comporta-
mento, quer negativo (recusa de auxlio, por exemplo) quer positivo,
simblico (ironia, por exemplo) ou efetivamente concretizado, que
no possa funcionar como agresso [...].
Embora as pulses agressivas auto ou heterodirigidas em geral possuam
alta figurabilidade clnica, tornando-se explcitas e inequvocas caso de
muitas formas de actings out e de passagens ao ato , tambm verdade que
tais expresses podem se dar abaixo da linha do horizonte do setting e se re-
velar, por exemplo, na sutileza discursiva da ironia, do chiste, da indiferena
ou do desinteresse de um paciente. A agressividade na clnica d-se, portan-
to, in absentia ou in efigie de um dito, propsito, ato francamente manifesto,
ou pela dramaticidade da passagem ao ato.
Se abrssemos com um compasso clnico um semicrculo descritivo da pa-
toplastia agressiva, abarcando, por exemplo, como gradao primeira, as su-
tilezas chistosas de certos pacientes e, como grau cento e oitenta, o suicdio
exitoso, veramos o quo rica pode ser a polissemia agressiva dos sujeitos,
ainda passvel de mltiplos desdobramentos em cada um dos pontos conti-
dos neste intervalo fictcio.
De_edipo_a_narciso.indd 198 25/08/2014 15:57:19
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 199
Essa a riqueza da clnica da psicanlise: parte das associaes, produ-
to da relao transferencial e das manifestaes do inconsciente, e embora
nunca nos faltem marcadores, nossa tarefa de desvelamento, decodificao
e comunicao da simbologia do material produzido pelo paciente sempre
uma tarefa conduzida pela singularidade e pelas modulaes transferenciais.
Observaes sobre a questo da agressividade
Os destinos atinentes agressividade no processo analtico variam imensa-
mente, possibilitando, mais a uns do que a outros, certo questionamento da
posio subjetiva que ocupam. Tal diversidade que atravessa este cotidiano
clnico conduz os analistas a pontos de ancoragem onde impasses sobre o
manejo clnico dos contedos agressivos em diferentes casos atendidos pos-
sam ser apaziguados via discusso e reelaborao. Resulta dessas questes
um vivo debate junto aos pesquisadores/psicanalistas que participam do
NEPECC-IP-IPUB/UFRJ, cuja rotina de trabalho implica reflexes terico-
-clnicas que se tornam um auxiliar na extrao de novos enfeixamentos que
permitam o exame espectral das tonalidades e respostas afetivas surgidas no
transcurso dos atendimentos.
Apesar dos pontos que sero abaixo ressaltados, no se pretende aqui a
formulao de uma hipostasia da agressividade de forma a criar uma lei geral
de suas manifestaes. Certamente reconhecemos na variedade uma impo-
sio e uma caracterstica implcita clnica em geral. Nossa proposio visa
comentar, partindo da clnica e sempre dela, apensos ao tronco principal da
agressividade, cujos ramos se tornam heterogneos e passveis de cortes ou
recortes. A identificao de tais vertentes nos conduziu ao questionamento
de diferenciais surgidos em alguns casos atendidos pela equipe clnica que
nos levam a algumas hipteses acerca dos variados destinos que a agressivi-
dade pode assumir em um contexto analtico, dentre os quais:
1. Certos casos confirmam a funo crucial da agressividade
na constituio narcsica, tornando-a matriz identificatria
para esses sujeitos;
De_edipo_a_narciso.indd 199 25/08/2014 15:57:19
200 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
2. Em outros, o sujeito alvo da agressividade por no corres-
ponder ao projeto narcsico dos pais, reeditando-a sob outras
manifestaes;
3. Finalmente, encontramos sujeitos com inequvocos tra-
os melanclicos que se manifestam por atos de auto e
heteroagressividade.
A convergncia que nos franqueou um alinhamento e uma comparao
dos relatos na diversidade de nossa casustica foi o lugar que a agressividade
adquiriu nas vivncias cotidianas e no setting analtico, e sobretudo como
esta agressividade tornou-se um mediador nas relaes interpessoais desses
sujeitos.
Alguns pontos nos parecem plausveis em certos atendimentos da pesqui-
sa: o de que a agressividade um dos modos privilegiados, seno o principal,
de relao do sujeito com o mundo e consigo prprio, em substituio au-
sncia de alternativa de outro tnus afetivo; o de que cada uma das variaes
aqui analisadas sugere diferentes destinos para a agressividade, quais sejam:
a ironia; a oscilao entre desinvestimento e hiperinvestimento objetal; e a
oscilao entre inibio e agressividade.
Articulando as hipteses anteriormente apresentadas com os tpicos aci-
ma descritos, poderamos equacionar esses elementos da seguinte maneira:
no caso em que a agressividade tem uma funo determinante como trao
identificatrio na constituio narcsica, ela se desdobra, no setting analtico,
em manifestaes claras de ironia e sarcasmo; nos casos em que a agressi-
vidade advm da ausncia do projeto narcsico dos pais em relao a certos
sujeitos, ela se manifesta como oscilao entre desinvestimento (falta de
curiosidade, desinteresse pela realidade, abulia) e hiperinvestimento obje-
tais (contedo ideativo e verbal de dio exclusivamente endereado s figu-
ras parentais); uma terceira expresso pode ser observada pela constituio
e manifestao inequvoca de traos melanclicos acompanhados de passa-
gens ao ato, evidenciadas no vnculo clnico pela pulsao entre conteno e
desmesura agressivas.
Disso se pode inferir que a agressividade apresenta, nos casos analisados,
manifestaes diferenciadas, que vo, como em um espectro, do exerccio de
De_edipo_a_narciso.indd 200 25/08/2014 15:57:19
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 201
uma forma latente, via humor irnico e sarcstico, passando pela ideao
persistente de cenas agressivas dirigidas s figuras parentais, at alcanar
francas passagens ao ato.
Embora existam situaes em que as emoes dos pacientes apaream
fortemente representadas no discurso, no incomum a incongruncia en-
tre o inequvoco contedo agressivo do relato no setting e o esmaecimento da
colorao afetiva no discurso emitido pelo sujeito ao seu analista, como se a
meno s situaes em questo fossem meras banalidades cotidianas. Tal
ausncia de exaltao, choro ou tristeza em relatos de situaes verdadeira-
mente limite exige acuidade e alerta na escuta.
Assim, de forma resumida, teramos: a manifestao da agressividade
pelo recurso ao humor, almejando o constrangimento do outro, incluindo o
analista, o que exime o sujeito de colocar-se como agente do ato agressivo;
o aprisionamento da agressividade ao campo da fantasia, voltando todo o
trabalho psquico para o esforo de sua conteno; e ainda, a oscilao entre
a inibio e a passagem ao ato, onde relatos de situaes limite da histria
de certos pacientes so trazidos ao setting de forma desafetada e portanto
incongruente com a carga emocional do contexto narrado. Essas manifesta-
es clnicas compreenderiam, portanto, gradaes que iriam desde a verba-
lizao chistosa e irnica, passando pela ideao do dio (medo da realizao
do ato agressivo, fantasias homicidas de pessoas prximas ou no), at pas-
sagens francas ao ato, como no caso de tentativas de suicdio e homicdio.
Hiptese da agressividade como funo crucial na
constituio narcsica tornando-se trao emblemtico da
personalidade
Afirmar que a agressividade tem funo na constituio subjetiva , a princ-
pio, uma ideia genrica, j que essa relao estabelecida por variados auto-
res, desde Freud, para quem a noo de ambivalncia faz coexistir amor e dio
no mesmo plano da experincia fundamental dos sujeitos. Indo alm, o autor
reivindica ao dio o lugar primeiro em relao ao amor (Freud, 1914/1974);
o mesmo para Lacan (1966/1998, p. 119), ao tomar a agressividade como
De_edipo_a_narciso.indd 201 25/08/2014 15:57:19
202 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
tenso correlata estrutura narcsica no devir do sujeito; e para Winnicott
(1958/2000), para quem as razes da agressividade j se encontram ali no
amor primitivo, sendo a agressividade um elemento fundamental do desen-
volvimento emocional. Alm disso, Winnicott, diferentemente dos autores
citados, afirma a agressividade como um valor positivo na construo de
uma oposio ao objeto materno. Cada um desses autores, para nos deter-
mos somente em alguns nomes da histria da psicanlise, articulou a seu
modo a relao entre agressividade e constituio de si.
Mas o que queremos defender nessa hiptese um passo diferente da re-
lao acima descrita, qualificando outra manifestao de agressividade ana-
lisada entre os casos atendidos. Nela, os mltiplos formatos desta aparecem
como defesa narcsica e, sobretudo, como marca identificatria do sujeito, da
qual ele se regozija, estabelecendo com o outro a quem essa agressividade se
enderea um jogo no qual seu objetivo saber se ele capaz de suport-la.
Em certo sentido, suport-la suportar o sujeito por inteiro, aceit-lo do
modo como pode ser, j que nesse caso a agressividade se tornou uma marca
identitria com a qual esse sujeito se apresenta ao mundo e sem a qual ele se
sente desfigurado subjetivamente. A ideia da agressividade como um emble-
ma de si indicaria, ento, que esses sujeitos precisam ser reconhecidos por
meio dela, que por sua vez toma forma de um estilo de ser.
tambm nesses tipos de pacientes que observamos uma reincidente e
duradoura projeo identificatria de seu prprio mal, que aparece sempre
localizado em outras pessoas essas sim, egostas, ms, e de quem no se
pode esperar nada a no ser que permaneam humilhando-o e maldizendo-
-o. Tudo que est fora de seu mundo interno (intenes dos outros, vnculos
familiares, relaes sociais, profissionais, pessoais) ameaador e perigoso
porque pode envi-lo ao lugar de humilhao. essa a queixa que o traz a
anlise e da qual tem grande dificuldade de se desvencilhar. O vnculo com o
analista ser conquistado se e somente se esse ltimo se mostrar confivel.
Nesse caso, confivel ser capaz de suportar as constantes manifesta-
es de agressividade dirigidas ao analista sem retaliar os pacientes que as
desferem, permanecendo ali, disponvel. Partindo da premissa de que todo o
mal projetado no mundo externo, o valor de confiar no mundo (e nas pes-
soas ao redor) pode ser uma experincia desestruturante para esses sujeitos,
De_edipo_a_narciso.indd 202 25/08/2014 15:57:19
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 203
pois desorganiza toda sua engrenagem subjetivante por eles criada com mui-
to custo e na qual as nicas pessoas com boas intenes so eles prprios.
A desqualificao do outro uma das poucas garantias que esses sujeitos tm
para se sentirem existindo como pessoas com algum valor.
Se, por um lado, em alguns tipos de pacientes aqui discutidos estamos
sempre bordejando certas formas de fragilidade simblica, nesse tipo aqui
descrito a constituio da sensao de existncia feita por meio de um apelo
agressivo, a ponto de se tornarem pessoas que visam, sempre que possvel, a
produo de incmodo, de constrangimento, comoes inesperadas dos ou-
tros ao seu redor. O lugar do analista no preservado, sendo ele somente
mais um dos alvos de suas ironias, de suas cenas bem pensadas de constran-
gimento e embarao.
Agressividade como resultante de uma ausncia do
projeto narcsico dos pais
Sustentar a hiptese da agressividade como resultante de uma ausncia de
projeto narcsico dos pais adentrar ideias antpodas do que Freud formulou
como o prprio projeto de constituio da subjetividade em Introduo ao
narcisismo: os pacientes aqui discutidos nunca estiveram altura de ocupar
o trono de Sua Majestade, o beb (Freud, 1914/1973). Em vez de familiari-
dade, os pais destes pacientes encontram neles a estranheza. No conseguem
reconhecer projees narcsicas de seu eu ideal que lhes emprestariam o sen-
timento de pertencimento e confiana de existir no mundo. Nada do beb
apaixonante descrito por Freud encontrado: com um olhar esvaziado pelo
fracasso do projeto narcsico que estes pacientes so recebidos no mundo.
A maior parte destes pacientes tambm relata experincias de humilha-
o sofridas pelos pais desde a infncia. Chegam ao consultrio com a marca
da inexistncia, imiscuda em uma suspenso da temporalidade. Na perspec-
tiva do presente, parecem no saber quase nada sobre si, no possuir atri-
butos que os qualifiquem, exigindo que inicialmente o analista faa muitas
perguntas. Quanto ao futuro, eles parecem paralisados ou aterrorizados
em relao ao porvir. Afinal, no responder ao projeto idealizante dos pais
De_edipo_a_narciso.indd 203 25/08/2014 15:57:19
204 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
j implica um impasse de se projetar no futuro desfigurado como uma assus-
tadora repetio do presente em vacuidade.
A sensao de inexistncia parece ser o nico reconhecimento palpvel,
presente tanto na falta de palavras no setting analtico como na experincia
comum a muitos destes pacientes que no se sentem bem-vindos ou acolhi-
dos: em todos os lugares, as pessoas se afastam de mim, no me querem por
perto. No sei o que tenho de errado. Estou perpetuamente sozinha. Essa
vinheta esclarece que [o] que est em questo nestes pacientes o modo
como so vistos, e com frequncia a fantasia de que esto sendo mal-vistos
(Pinheiro, Verztman, Venturi & Barbosa, 2006).
Por esta via a apatia surge como um aspecto subjetivo marcante, como um
apagamento que aponta para uma morte subjetiva. A estratgia defensiva
encontrada para no despertar o ciclo infindvel das humilhaes advindas
do crculo parental o esvaziamento psquico, que pode ocorrer sob diversas
formas. Uma delas chamou a ateno da equipe de pesquisa: a supresso da
curiosidade sobre o mundo, associada a um enclausuramento em casa, na
tentativa de causar o mnimo de incmodo.
Porm, medida que se ganha confiana no processo analtico descortinam-
-se outros tons. Emerge, na surdina, o avesso deste panorama: uma srie de
fantasias parricidas cheias de imagens violentas adentram o setting. Queria ba-
ter nele at sangrar, queria jogar ela pela janela. Em alguns pacientes, este
o nico prazer que experimentam: descontar nos pais as humilhaes sofridas.
Estas fantasias violentas permanecem, todavia, no campo da ideao. Tais
sujeitos silenciam frente s humilhaes sofridas cotidianamente. Chama
a ateno essas serem to recorrentes quanto a surpresa resultante de tais
atos. Sempre me assusto, parece que nunca estou preparada. No se con-
segue sentir qualquer sinal de angstia para antecipar um prximo episdio
(Freud, 1926/1974). Assim, a questo que toma corpo e drena a curiosidade
destes pacientes : por que eles fazem isso comigo?. A este respeito, cabe
a pergunta: haveria outra forma de ter prazer em fantasiar que no ficar na
esteira da engrenagem agressiva do prprio romance familiar?
Pode-se conjecturar que a agressividade nestes casos uma forma de se
defender da no-existncia para no morrer subjetivamente. Mas, se, por um
lado, tais pacientes foram alvo de agressividade por no cumprirem a funo
De_edipo_a_narciso.indd 204 25/08/2014 15:57:19
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 205
de realizao narcsica dos pais, por outro a fantasia de ser agressivo pode
significar a nica forma de pertencimento a um grupo. Uma forma de no es-
tar perpetuamente sozinha e de possibilitar uma existncia compartilhada.
Neste permanente clima de terror, interessante o fato de o lugar do ana-
lista ser totalmente preservado por meio da seriedade com que estes pacien-
tes dedicam-se anlise. Isso talvez acontea devido singularidade deste
espao na vida destes sujeitos, encarnando um encontro indito no qual um
porvir diferente da carncia de reconhecimento simblico possa surgir no
horizonte. Um lugar que se insere numa perspectiva clnica que concebe a
experincia psicanaltica como um trabalho de inveno a dois (Andrade,
Mello & Herzog, 2012, p. 247). Um espao, sobretudo, de testemunho, capaz
de dar provas de esboos desejantes que se anunciam e da possibilidade de se
extrair prazer de outras cenas compartilhadas.
Agressividade como manifestao de traos melanclicos
por meio de passagens ao ato auto e heterolesivas
Reconhecidamente, traos clssicos da afeco melanclica trazem a marca
do desinteresse objetal, do desinvestimento, da platitude afetiva, da indife-
rena e no valorao de si e do outro, da vacuidade. O sujeito habita uma
tpica negativizada, desencarnada, incolor, aptica, marcas de uma escritura
atravs da qual a inibio psquica e o empobrecimento pulsional podem se evi-
denciar e se dar a conhecer. Enriquez liga a falta do prazer identificatrio
eleio de um corpo de sofrimento, marcado pela anedonia, desabitado, sem
afetos (Enriquez, 1999, p. 146). Tal descrio serviria muito ao corpo melan-
clico, onde encontraremos a anestesia, a identificao ao nada: no tenho
valor; sou um zero esquerda fragmentos comuns das falas melancli-
cas, cuja sensao paradoxal de um vazio lgico.
Do consistente entrelaamento em que se enodam as aes da pulso de
morte e do supereu, o tecido clnico da afecco melanclica consiste na mais
excelsa vivacidade dos imperativos da autocrueldade. O relato freudiano d
conta de que o sadismo mostrado pelo supereu vir, ao fustigar o eu, enchar-
cado pela pulso de morte: o que influencia o supereu a pura cultura da
De_edipo_a_narciso.indd 205 25/08/2014 15:57:20
206 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
pulso de morte e, de fato, a melancolia impulsiona s vezes o eu morte
(Freud, 1923/1973, p. 69). a que residir a razo da hostilidade, agressivi-
dade e crueldade superlativas do supereu, que se torna algoz do eu, acossan-
do o sujeito melanclico no sofrimento.
Noutras vezes, a negatividade melanclica ganha relevo, positivando-se e
tornando o impulso agressivo melanclico basculado e projetado, fazendo com
que o sujeito reconhea no outro a razo de sua misria psquica. Embora esta
inverso possa ocorrer apenas sob forma de contedo ideativo ou de rumina-
o acusatria, no impossvel que transborde sob forma de passagem ao ato.
Por exemplo, numa recusa de filiao a seu pai, a quem um paciente no
reconhecia como matriz identificatria: [..] Depois de tentar me matar tan-
tas vezes, achei uma soluo. Eu pensei: porque no matar a ele e no a mim?.
Com essa estratgia, o sujeito abandona a cristalizao suicida mirando em
um outro, o pai, que ser agora o alvo de sua agressividade, barganhando com
esta ltima a ideao parricida. Num drible autoagressividade traduzida em
frequentes tentativas de suicdio, comuta a prpria pena: quem deve morrer
o outro, o pai, a quem descreve como a mais ultrajante, desumana e implacvel
das criaturas. Justifica sua deciso pelas inmeras agresses, castigos e humi-
lhaes sofridos durante a infncia, experincias que considera imperdoveis.
A marca destrutiva, a vergonha por sua sujeio aos desmandos pater-
nos portam a ideia de uma herana psquica corrosiva que agora o sujeito
pretende devolver ao seu emissrio primordial: a crueldade paterna da qual
foi objeto. A acusao ao outro passa a equilibrar sua prpria sobrevivncia:
a existncia chancelada com a ideia de que matar o pai a sada para que o
prprio sujeito no se mate.
Esta vertente projetiva da agressividade melanclica a contramo do
dio ao eu para um dio declarado e cego ao objeto torna-se quase uma
urgncia de conteno simblica no trabalho analtico. Esse visa a pacificao
e metabolizao da pulso agressiva, assim como a simbolizao e a descon-
truo da ideia de que o outro permanea uma amea.
importante enfatizarmos, finalizada essa breve apresentao das trs
modalidades de agressividade que encontramos em alguns pacientes, que
no almejamos aqui estruturar uma tipologia da agressividade, mas, sim,
consideramos que esta raiz comum possui destinos e roupagens singulares
De_edipo_a_narciso.indd 206 25/08/2014 15:57:20
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 207
que, embora emerjam de forma ntida e indiscutvel em momentos crticos
do tratamento, podem ser desbastados e abrigados sob o arcabouo terico-
-clnico oferecido pelo dispositivo psicanaltico.
Consideraes finais
Sem a pretenso de elucidarmos quaisquer questes terico-clnicas que so
de grande complexidade, levantaremos alguns pontos que nos parecem rele-
vantes no sentido de apontar percepes a que o atendimento a vrios casos
nos permitiu chegar, construdas coletivamente pelo grupo de trabalho. Um
primeiro ponto geral o fato de haver uma coexistncia de nveis diferen-
ciados de agressividade no que se refere a seus objetos, como por exemplo a
agressividade heterodirigida (aos pais, ao analista, aos colegas) e a autodiri-
gida (tentativas de suicdio, atos de autodestrutividade). Certamente, esses
nveis, aqui apresentados de forma distinta, no so autoexcludentes, po-
dendo, na clnica, se apresentar sob formas mistas.
Outras observaes a que chegamos merecem um maior detalhamento:
1. A importncia do sentimento de humilhao nos matizes agressivos
notvel a experincia da vergonha, em amplas variaes, nos casos que ins-
piraram este artigo. No entanto e apesar de suas diferenas, tal experincia
parece estar mais prxima daquilo que Verztman (no prelo) denomina de ver-
gonha vivida como humilhao1, implicando o sentimento de ser rebaixado por
outrem:
O sujeito se perde no lugar de origem de seu prprio rebaixamento. O
outro, por algum motivo enigmtico ou completamente fora do campo
do sentido, ativo em retirar coercitivamente os atributos narcsicos
articulados a certos valores mantenedores da dinmica do sujeito com
1
A respeito do contraponto com a vergonha vivida como embarao confira o artigo citado.
De_edipo_a_narciso.indd 207 25/08/2014 15:57:20
208 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
seus ideais. Vergonha e humilhao coexistem quando a violncia
extrema a ponto do sujeito internalizar a imagem negativa imposta
como se fosse a sua (Verztman, no prelo).
Ainda de acordo com a proposio do autor, para que a humilhao se
transforme em vergonha preciso que haja um desequilbrio entre a natu-
reza da violncia do outro e os limites narcsicos que protegem o sujeito de
incorporar essa violncia sua identidade. o que pode nos levar a concluir,
com o autor, que construes narcsicas frgeis podem favorecer experin-
cias marcantes de humilhao consumada ou medo permanente de ser humi-
lhado. Nestas situaes ser visto pelo outro pode equivaler a ser humilhado
ou vir a ser humilhado pelo outro (Verztman, no prelo).
nesse contexto que articulamos a face humilhante da vergonha como
elemento determinante e repetido de formas variadas nos pacientes acom-
panhados, de maneira que a frgil carapaa que lhes d contorno marcada
pela expectativa da humilhao e da inteno hostil alheia para consigo. De
acordo com o debate realizado pelo autor, o sujeito humilhado toma para si
a imagem negativa imposta de fora, passando essa imagem fragmentria e
sem solidez a ser a consistncia possvel criada a partir de suas experincias.
Nesse sentido, notamos diferenas relativas aos destinos do sentimento de
vulnerabilidade (injustia do mundo, humilhao) e da prpria agressivida-
de. Nos casos aqui debatidos, a vergonha vivida como humilhao uma pre-
missa existencial, um filtro para olhar o mundo, um lugar de onde difcil
sair ou quase imobilizante para os indivduos.
2. Sobre o manejo dos casos
Em casos to diferentes, bem como seus analistas, a questo do manejo das
formas de agressividade na relao transferencial tem bvio destaque. Longe
de esgotarmos ou de nos propormos a uma tcnica clnica para os tipos de
pacientes aqui analisados, apenas indicaremos alguns elementos do manejo
da relao teraputica que pareceram importantes equipe de pesquisa du-
rante o acompanhamento desses sujeitos quanto situao transferencial.
De_edipo_a_narciso.indd 208 25/08/2014 15:57:20
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 209
Alguns elementos que podem ser destacados em relao aos casos dos pa-
cientes em que a agressividade uma forma de constituio do projeto narcsico:
H uma constante busca de comoo de seus analistas pelos
pacientes por meio de palavras, frases, chistes, falas de con-
tedo sarcstico e atos mobilizadores de afetos agressivos,
como numa tentativa de subverso do dispositivo analtico;
Na agressividade que se pretende escamoteada, aparece uma
clara expresso de jbilo e superioridade nas situaes em
que certos pacientes assumem o tom irnico e debochado pe-
rante seus analistas;
Supomos que as duas afirmaes acima digam respeito a
uma demanda ao analista de que ele sinta na pele a agres-
sividade e constrangimento dos quais tais pacientes tambm
se sentem vtimas;
Em seu crculo parental, encontramos figuras paternas fr-
geis e impotentes e figuras maternas incapazes de proteger
esses sujeitos. No sem motivo que as figuras parentais
aparecem dessacralizadas, o que se desdobra em um massa-
cre s figuras de autoridade ou figuras de saber (profissio-
nais, professores, mdicos e psicanalistas);
H uma mistura entre discurso vitimizado e discurso tirnico.
No campo da vitimizao bastante claro o lugar de humilhado
que se atribuem, chamando a ateno para sua submisso a um
mundo injusto; para a falta de considerao generalizada das
pessoas. Do lado tirnico, est seu modo de se relacionar com
as pessoas, marcado pelo deboche e contestao da autoridade.
Alguns elementos que podem ser destacados em relao aos casos dos pa-
cientes em que a agressividade aparece como resposta sua no adequao
ao projeto narcsico dos pais:
A autoridade dos analistas parece no ser contestada, muito
menos ser alvo de ironias;
De_edipo_a_narciso.indd 209 25/08/2014 15:57:20
210 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Haveria uma estratgia de desinvestimento das relaes com
os objetos (como por exemplo a ausncia de curiosidade pela
vida em geral);
Haveria uma demanda ao analista de que sinta empatica-
mente a impotncia e estagnao frente agressividade re-
correntemente sofridas por esse tipo de paciente;
A aproximao gradual na relao teraputica traz consi-
go tanto o aparecimento de assuntos relativos sexuali-
dade quanto a ampliao da capacidade associativa em pa-
cientes para quem esses temas eram esmaecidos ou quase
inexistentes;
H um deslizamento das queixas iniciais, que atribuem ao
analista um lugar parecido com o que seus pais ocupam (guia,
orientador, conselheiro) para um tipo de demanda emp-
tica: gostaria que as pessoas se colocassem no meu lugar.
Alguns elementos em destaque nos casos em que a agressividade ma-
nifesta por atos auto e heterolesivos em pacientes com traos melanclicos:
A escuta e as intervenes so dirigidas sutura das vias
abertas para a agressividade, impulsividade e passagens ao
ato dos sujeitos em questo;
H uma tentativa dos analistas em extrair da ambivalncia
afetiva vivida por tais pacientes cuidar x agredir as pos-
sveis vertentes no destrutivas, voltadas, por exemplo, ao
cuidado com o outro e consigo mesmos, proteo e ma-
nuteno de laos afetivos preexistentes, buscando a ob-
teno de nuances de afeto que no a agressividade e seus
desdobramentos;
Investe-se na ampliao do campo de acesso ao analista,
como por exemplo a opo de envio de mensagens virtuais e
outras formas de comunicao escrita nos intervalos sema-
nais das sesses estratgias constitudas para driblar e apa-
ziguar a intensa ideao de manifestaes de agressividade.
De_edipo_a_narciso.indd 210 25/08/2014 15:57:20
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 211
3. Humor, agressividade e alguns apontamentos a partir dessa relao
A acuidade da escuta analtica pode ser artificiosamente perturbada por um
material que s na aparncia ameno. A insurgncia do humor no setting
um exemplo privilegiado deste velamento, que, se suprimido, revela uma
recusa do eu de ser afligido pela realidade (Freud, 1927/1974, p. 190). Fre-
quentemente, tal aflio denota a presena de uma realidade agressiva vi-
vida pelo sujeito em suas relaes e laos afetivos.
Tal recurso de evitao e tangenciamento da angstia pelo sujeito con-
duziu Freud ao reconhecimento de um diferencial entre o humor e o chiste.
Estes ltimos careceriam de dignidade, servindo simplesmente para ob-
ter uma produo de prazer ou colocar esta produo a servio da agresso
(Freud, 1927/1974, p. 191).
Os desenvolvimentos da segunda tpica, em particular aps a proposio
do conceito de narcisismo (Freud, 1914/1974), foram demarcadores funda-
mentais para a distino entre as duas formas de humor discutidas na obra
freudiana (Freud, 1905/1974; 1927/1974).
Recuperando as teses freudianas ao longo da maturidade da obra, reco-
nhecemos a proposio diferencial segundo a qual, enquanto o humor dos
chistes (Freud, 1905/1974) est mais prximo de uma resposta agressiva, o
humor da segunda tpica, embora parta igualmente da agressividade, vincu-
la-se, acima de tudo, tentativa de proteo e invulnerabilidade do eu.
Uma pesquisa emprica impe, colateralmente, certa organizao did-
tica dos assuntos, precisando-se matizar inevitavelmente alguns pontos.
evidente que os destinos das pulses agressivas no momento da desfuso
pulsional constitutiva do narcisismo no se reduzem apenas sublimao
correlata ao humor. Num mesmo sujeito, o destino das pulses agressivas
pode ser diverso, como no recalque, e, neste sentido, a fora do supereu esta-
r em primeiro plano.
A agressividade tem inmeras roupagens, incomensurvel figurino do qual
o sujeito lana mo muitas vezes sem saber, como se se vestisse s escuras.
Retomando a citao latina de Freud, o homem lobo do homem tem suas peles
de cordeiro. Seja no setting analtico, ou no macromundo da rede socioafeti-
va estabelecida e enodada com o outro, homens lobo se vestem de homens
De_edipo_a_narciso.indd 211 25/08/2014 15:57:20
212 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
cordeiro, ou, retomando outra metfora de um Freud schopenhaueriano, ho-
mens se despem s vezes, desumanizando-se em porcos espinhos. A agressivi-
dade humana atravessa o outro de muitas maneiras. Com espadas, com pa-
lavras, com riso, com escrnio, com ironia, com a paralisia da indiferena. Ou,
s vezes, o sujeito atravessa a si mesmo, ferindo-se com a passagem ao ato.
Freud jamais foi um ingnuo crente nas boas aes e palavras como intrnse-
cas e inerentes ao sujeito. A concorrncia com o outro pelo amor, pelo amparo,
pelo reconhecimento sero os precipitados do conflito edpico e das rivalidades
na clula familiar e na fratria que iro se refletir na organizao dos laos de
parentesco e nas relaes socioculturais estabelecidas a partir deles cujas redes
iniciais tero suas malhas multiplicadas nas vivncias ulteriores do sujeito.
Embora as cicatrizes psquicas resultantes de tais desafios adquiram vi-
sibilidade na imparidade da relao transferencial analtica, certamente no
ficam restritas a ela, podendo emergir ainda que de forma enigmtica seja
sob a idiossincrasia de uma montagem sintomtica singular, seja sob forma
amplificada, na prpria cultura, colorida por mltiplas estampas.
Apesar dos esforos de pasteurizao das relaes de parentesco presen-
tes nas tentativas da cultura em negar tal mal-estar, criando para isso a ven-
da de um ideal de felicidade familiar, conjugal, social ou laboral, a realidade
de cada um desmente de forma cabal a perfeio ilusria. E a agressividade
intrnseca e inseparvel parte desse transbordamento.
O difcil reconhecimento do potencial agressivo, que de mltiplas formas
pode ser escamoteado, e a tentativa de mapeamento do que pode ser um ex-
cesso nem sempre audvel nossa escuta so dificuldades inerentes ao ofcio
da clnica. As pegadas dos destinos pulsionais nem sempre so rastreveis
a um primeiro olhar. E um analista deve estar sempre alerta s suas trilhas.
Referncias bibliogrficas
Andrade, B.; Mello, R. & Herzog, R. (2012). Associatividade na clnica psicanaltica:
sobre a tcnica. In: Vertzman, J.; Herzog, R.; Pinheiro, T & Ferreira, F. P. (Orgs.).
Sofrimentos narcsicos. Rio de Janeiro: Cia de Freud.
Enriquez, M. (1999). Nas encruzilhadas do dio. So Paulo: Escuta.
De_edipo_a_narciso.indd 212 25/08/2014 15:57:20
Manifestaes da agressividade no contexto de uma pesquisa clnica 213
Freud, S. (1905). Os chistes e sua relao com o inconsciente. In: Edio standard
brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XIV. Rio de Janeiro:
Imago, 1974.
Freud, S. (1914). Sobre o narcisismo: uma introduo. In: Edio standard brasileira
das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XIV. Rio de Janeiro: Imago,
1974.
Freud, S. (1923). O eu e o isso. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas
completas de Sigmund Freud, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1926). Inibio, sintoma e angstia. In: Edio standard brasileira das obras
psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XIX. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1927). O humor. In: Edio standard brasileira das obras psicolgicas comple-
tas de Sigmund Freud, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1930). O mal-estar na cultura. In: Edio standard brasileira das obras psico-
lgicas completas de Sigmund Freud, v. XXI. Rio de Janeiro: Imago, 1974.
Freud, S. (1933). Conferncia XXXII, Angstia e vida pulsional. In: Edio standard
brasileira das obras psicolgicas completas de Sigmund Freud, v. XXII. Rio de Janeiro:
Imago, 1974.
Lacan, J. (1966). A agressividade em psicanlise. In: Escritos. Rio de Janeiro: Zahar,
1998.
Laplanche, J. & Pontalis, J.-B. (1996). Vocabulrio de psicanlise. So Paulo: Martins
Fontes.
Lambotte, M.-C. (1997). O discurso melanclico: da fenomenologia metapsicologia. Rio
de Janeiro: Cia. de Freud.
Pinheiro, T.; Verztman, J.; Venturi, C. & Barbosa, M. (2006). Por que atendemos
fbicos sociais? Justificativa de uma pesquisa clnica. In: Bastos, A. (Org.). Psica-
nalisar hoje. Rio de Janeiro: Contra Capa.
Verztman, J. (no prelo). Embarao, humilhao e transparncia: o tmido e o olhar.
In: Revista gora.
Winnicott, D. W. (1958). A agressividade em relao ao desenvolvimento emocional. Da
pediatria psicanlise. Rio de Janeiro: Imago, 2000.
De_edipo_a_narciso.indd 213 25/08/2014 15:57:20
De_edipo_a_narciso.indd 214 25/08/2014 15:57:20
Sobre os autores
Ana Brbara Andrade
Psicanalista; Doutora pelo Programa de Ps-graduao em Teoria Psica-
naltica da UFRJ; Pesquisadora do NEPECC.
E-mail: barb_andrade@hotmail.com
Bruno Farah
Psicanalista; Doutor em Teoria Psicanaltica (UFRJ/Paris 7); Pesquisa-
dor do NEPECC; Psiclogo do quadro do Tribunal Regional Federal da 2a
Regio.
E-mail:brunofarah@yahoo.com.br
Diane Viana
Psicanalista, Doutora em Teoria Psicanaltica (PPGTP/UFRJ), Professo-
ra adjunta da Universidade Federal Fluminense (curso de Psicologia do Plo
Universitrio de Rio das Ostras), Pesquisadora do NEPECC.
E-mail: dianeviana@hotmail.com
Fernanda Pacheco Ferreira
Psicanalista; Doutora em Psicologia Clnica (PUC-Rio); Ps-doutoranda
(PRODOC-CAPES) do Programa em Teoria Psicanaltica da UFRJ (PPGTP/
UFRJ); Pesquisadora do NEPECC.
E-mail: fpachecoferreira@gmail.com
De_edipo_a_narciso.indd 215 25/08/2014 15:57:20
216 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
J Gondar
Psicanalista (CPRJ); Doutora em Psicologia Clnica (PUC-Rio). Professora
Associada da UNIRIO (Programa de Ps-Graduao em Memria Social).
E-mail:jogondar@uol.com.br
Joel Birman
Psicanalista; Professor titular do Instituto de Psicologia/UFRJ; Bolsista
de produtividade em pesquisa do CNPq; Professor e pesquisador associado
do Laboratoire de Psychanalyse, Mdicine et Socit da Universit Paris VII.
E-mail: joelbirman@uol.com.br
Jse Lane de Sales
Psicloga; Doutoranda do Programa de Ps-Graduao em Teoria Psica-
naltica da UFRJ; Pesquisadora do NEPECC.
E-mail: jose.lane@ig.com.br
Julio Verztman
Psicanalista; Psiquiatra, Professor do Programa de Ps Graduao em Te-
oria Psicanaltica (PPGTP/UFRJ); Psiquiatra do IPUB/UFRJ; Coordenador
do NEPECC.
E-mail: jverztman@globo.com
Leonardo Cmara
Psicanalista; Mestrando no Programa de Ps-Graduao em Teoria Psica-
naltica da UFRJ; Pesquisador do NEPECC.
E-mail: lcpcamara@gmail.com
Marta Rezende Cardoso
Psicanalista; Doutora em Psicopatologia Fundamental e Psicanlise Uni-
versidade de Paris Diderot-Paris 7 (Frana), Professora Associada da UFRJ
De_edipo_a_narciso.indd 216 25/08/2014 15:57:20
Sobre os autores 217
(Programa de Ps-Graduao em Teoria Psicanaltica); Membro da Associa-
o Universitria de Pesquisa em Psicopatologia Fundamental. Pesquisadora
do CNPq (bolsa de produtividade em pesquisa).
E-mail:rezendecardoso@gmail.com
Raquel Rubim del Giudice Monteiro
Psicloga; Mestre em Teoria Psicanaltica pela Universidade Federal do
Rio de Janeiro; ex-bolsista da CAPES (Mestrado).
E-mail:raquelgiudice@gmail.com
Rafaela Zorzanelli
Psicloga, Doutora em Sade Coletiva, Professora do Instituto de Medici-
na Social/UERJ; Pesquisadora do NEPECC.
E-mail:rtzorzanelli@uol.com.br
Regina Herzog
Psicanalista;Doutora em Psicologia Clnica (PUC/Rio). Professora Asso-
ciada da UFRJ (Programa de Ps-Graduao em Teoria Psicanaltica); Pes-
quisadora de produtividade em pesquisa (CNPq); Coordenadora do NEPECC;
Coordenadora do projeto PRODOC/Capes.
E-mail:rherzog@globo.com
Ren Roussillon
Psicanalista; Membro titular da Societ Psychanalytique de Paris (SPP);
Professor de psicologia clnica e psicopatologia da Universidade de Lyon 2.
Romildo do Rgo Barros
Psicanalista; Membro da Escola Brasileira de Psicanlise (EBP) e da Asso-
ciao Mundial de Psicanlise.
E-mail: romildorbarros@terra.com.br
De_edipo_a_narciso.indd 217 25/08/2014 15:57:20
218 De dipo a Narciso: a clnica e seus dispositivos
Selena Caravelli
Psicanalista; Especialista em Clnica Psicanaltica IPUB/ UFRJ; Doutora
em psicanlise pelo Programa de Ps-Graduao em Teoria Psicanaltica IP/
UFRJ; Pesquisadora do NEPPECC/IP/IPUB/UFRJ.
E mail:selenacaravelli@icloud.com
Teresa Pinheiro
Psicanalista; Doutora em Psicanlise (Paris 7), Coordenadora do NEPECC.
E-mail: teresapinh@gmail.com
Thais Klein
Psicloga; mestranda do Programa de Ps-graduao em Teoria Psicanal-
tica da UFRJ; pesquisadora do NEPECC.
E-mail:thaiskda@gmail.com
De_edipo_a_narciso.indd 218 25/08/2014 15:57:20
De_edipo_a_narciso.indd 219 25/08/2014 15:57:20
De_edipo_a_narciso.indd 220 25/08/2014 15:57:20
Você também pode gostar
- 2020 Vozes Do Supereu Na Clínica Gerez-AmbertínDocumento7 páginas2020 Vozes Do Supereu Na Clínica Gerez-AmbertínBornay Bornay100% (1)
- Teste HTP: Guia completo sobre o projetivo Casa-Árvore-PessoaDocumento28 páginasTeste HTP: Guia completo sobre o projetivo Casa-Árvore-PessoaStephane Figueiredo100% (9)
- Cap - 01 Ogden Esta Arte Da PsicanaliseDocumento22 páginasCap - 01 Ogden Esta Arte Da PsicanaliseFelipe Ferreira Nichile100% (3)
- Os Bebês e Suas Mães - Donald WinnicottDocumento102 páginasOs Bebês e Suas Mães - Donald WinnicottRaquel Rios100% (1)
- Winnicott - O Ódio Na ContratransferênciaDocumento6 páginasWinnicott - O Ódio Na ContratransferênciaJoão de CastroAinda não há avaliações
- Laplanche - Três Acepções Da Palavra InconscienteDocumento17 páginasLaplanche - Três Acepções Da Palavra InconscienteEduardo Nogueira100% (2)
- A Dinâmica da TransferênciaDocumento8 páginasA Dinâmica da TransferênciaLuanda SchusslerAinda não há avaliações
- Andre Green PDFDocumento2 páginasAndre Green PDFMira AlvesAinda não há avaliações
- Otto RankDocumento15 páginasOtto Rankliercioaraujo100% (5)
- Esta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Documento87 páginasEsta Arte Da Psicanálise - Sonhando Sonhos Não Sonhados e Gritos Interrompidos (Thomas Ogden)Adenauer SilvaAinda não há avaliações
- A Neurose Obsessiva Sob A Ótica de Melanie KleinDocumento145 páginasA Neurose Obsessiva Sob A Ótica de Melanie KleinMarcos Klipan100% (2)
- Como As Análises TerminamDocumento5 páginasComo As Análises TerminamLenira XavierAinda não há avaliações
- A Posicao Fobica Central - GreenDocumento22 páginasA Posicao Fobica Central - GreenRacheçAinda não há avaliações
- Um Paradoxo Nos Sofrimentos Narcísicos - Jô GondarDocumento21 páginasUm Paradoxo Nos Sofrimentos Narcísicos - Jô GondarBruno LagesAinda não há avaliações
- René, R. A Dependência Primitiva e A Homossexualidade PrimáriaDocumento15 páginasRené, R. A Dependência Primitiva e A Homossexualidade PrimáriaMarcus Vinicius100% (3)
- A Depressão Essencial - TraduzidaDocumento2 páginasA Depressão Essencial - TraduzidaVagner Marchezoni MedeirosAinda não há avaliações
- Kupermann - A Criança, o Infantil e o Que o Psicanalista (Não) SabeDocumento14 páginasKupermann - A Criança, o Infantil e o Que o Psicanalista (Não) SabejackferreiraAinda não há avaliações
- Criatividade e Psicanalise BollasDocumento17 páginasCriatividade e Psicanalise BollashelderchaAinda não há avaliações
- A Libido e o Álibe Do Psicanalista (Daniel Kuperman)Documento11 páginasA Libido e o Álibe Do Psicanalista (Daniel Kuperman)Marina Medeiros PomboAinda não há avaliações
- Mr79 Ana Lila LejarragaDocumento4 páginasMr79 Ana Lila LejarragaIsmara Soares RorizAinda não há avaliações
- 01 Livros Do Grupo Livros Acadêmicos para DownloadDocumento19 páginas01 Livros Do Grupo Livros Acadêmicos para DownloadLuis Vinicius Do NascimentoAinda não há avaliações
- Entrevista de Jacques Lacan À Revista Italiana PanoramaDocumento5 páginasEntrevista de Jacques Lacan À Revista Italiana PanoramadeiagmAinda não há avaliações
- CADERNOS de PSICANALISE A Via Sensivel Daniel KupermannDocumento15 páginasCADERNOS de PSICANALISE A Via Sensivel Daniel KupermannEduardo NogueiraAinda não há avaliações
- 10 - Psicogerontologia JunguianaDocumento10 páginas10 - Psicogerontologia JunguianaJamile MatosAinda não há avaliações
- Posiçao Autista Contigua OgdenDocumento12 páginasPosiçao Autista Contigua OgdenGustavo Gasparin100% (1)
- Correspondência Entre S. Freud e Anna FreudDocumento22 páginasCorrespondência Entre S. Freud e Anna FreudCaroline Perrota O Do ValleAinda não há avaliações
- LIVRO M. LITLLE Relato de Minha Analise Com WinnicottDocumento36 páginasLIVRO M. LITLLE Relato de Minha Analise Com WinnicottLarissa Garcia PonceAinda não há avaliações
- Fichamento - Simanke - A Formação Da Teoria Freudiana Das PsicosesDocumento4 páginasFichamento - Simanke - A Formação Da Teoria Freudiana Das PsicosesMaxsander Almeida de SouzaAinda não há avaliações
- Uma psicanálise da clínica contemporâneaDocumento5 páginasUma psicanálise da clínica contemporâneaVera L. NascimentoAinda não há avaliações
- Narcisismo e SubjetividadeDocumento10 páginasNarcisismo e SubjetividadeCinthiaAinda não há avaliações
- Melanie Klein 04 - 10Documento52 páginasMelanie Klein 04 - 10Rodolfo Ferronatto De SouzaAinda não há avaliações
- O não-interpretar na psicanálise segundo Balint e WinnicottDocumento15 páginasO não-interpretar na psicanálise segundo Balint e WinnicottCa KZAinda não há avaliações
- O Brincar e a Realidade: D.W. WinnicottDocumento244 páginasO Brincar e a Realidade: D.W. WinnicottFafa de belem100% (1)
- Melanie Klein Psicanalise Da Crianca 396pDocumento396 páginasMelanie Klein Psicanalise Da Crianca 396pGabriel Ferriolli MarquesAinda não há avaliações
- Thomas Ogden em Conversa Com Luca Di DonnaDocumento18 páginasThomas Ogden em Conversa Com Luca Di DonnaAline LiraAinda não há avaliações
- A Psicanálise e A Clínica Contemporânea - Luiz Claudio FigueiredoDocumento9 páginasA Psicanálise e A Clínica Contemporânea - Luiz Claudio FigueiredoRob Autre100% (1)
- A diferença entre depressão e melancoliaDocumento17 páginasA diferença entre depressão e melancoliaJulia VeigaAinda não há avaliações
- GREEN, A. Narcisismo de MorteDocumento21 páginasGREEN, A. Narcisismo de Mortemarina0% (1)
- O Que É Neurose para A Psicanálise?Documento3 páginasO Que É Neurose para A Psicanálise?Fabrício SilvaAinda não há avaliações
- 2 Três Ensaios Sobre A Teoria Da Sexualidade Autor Sigmund FreudDocumento62 páginas2 Três Ensaios Sobre A Teoria Da Sexualidade Autor Sigmund FreudTainara SilvaAinda não há avaliações
- Os valores fundamentais da psicanálise: humanidade, verdade e responsabilidadeDocumento7 páginasOs valores fundamentais da psicanálise: humanidade, verdade e responsabilidadeAline LiraAinda não há avaliações
- Junqueira - Metapsicologia Dos Limites - AmostraDocumento17 páginasJunqueira - Metapsicologia Dos Limites - AmostraLia100% (1)
- Antes Que A Primavera ChegarDocumento249 páginasAntes Que A Primavera ChegarDankpsiko100% (2)
- Masud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFDocumento24 páginasMasud Khan - PALAVRAS - DO - SILENCIO PDFJamespskAinda não há avaliações
- Fantasias inconscientes segundo KleinDocumento19 páginasFantasias inconscientes segundo KleinNathália RodriguesAinda não há avaliações
- Green - O Silêncio Do PsicanalistaDocumento27 páginasGreen - O Silêncio Do Psicanalistaplanobmassenoyahoo.com.brAinda não há avaliações
- IncestualidadeDocumento144 páginasIncestualidadeAdriana ReisAinda não há avaliações
- RessentimentoDocumento2 páginasRessentimentoFabrícia OliveiraAinda não há avaliações
- A Metapsicologia Do Cuidado - Luís Cláudio FigueiredoDocumento11 páginasA Metapsicologia Do Cuidado - Luís Cláudio FigueiredoRose CorsiAinda não há avaliações
- Aspectos Donegativo Green AndreDocumento12 páginasAspectos Donegativo Green AndreTaticris100% (4)
- Identificação e sintomas histéricosDocumento24 páginasIdentificação e sintomas histéricosLu TonatoAinda não há avaliações
- Luto em WinnicottDocumento8 páginasLuto em WinnicottPedro BarcelosAinda não há avaliações
- Clinica Do Esquecimento - Cristina RauterDocumento213 páginasClinica Do Esquecimento - Cristina RauterAlexandre Cunha100% (1)
- Caso DoraDocumento30 páginasCaso DoraLucas FreitasAinda não há avaliações
- Emoções em WinnicottDocumento256 páginasEmoções em WinnicottMaria MagalhãesAinda não há avaliações
- COELHO JUNIOR, Nelson E. (2012) - Thomas Ogden e A Alteridade em Psicanálise PDFDocumento18 páginasCOELHO JUNIOR, Nelson E. (2012) - Thomas Ogden e A Alteridade em Psicanálise PDFGabriel CunhaAinda não há avaliações
- REVERSO - 79-2020 Revista PsicanáliseDocumento102 páginasREVERSO - 79-2020 Revista PsicanáliseScheherazade PaesAinda não há avaliações
- A Variedade Da Prática - (Org) Elisa AlvarengaDocumento103 páginasA Variedade Da Prática - (Org) Elisa AlvarengaJulia Veiga100% (1)
- Angústias impensáveis na psicanálise de WinnicottDocumento7 páginasAngústias impensáveis na psicanálise de WinnicottRebeka GomesAinda não há avaliações
- Os casos-limite e a psicanálise contemporânea: do desafio clínico à complexidade teóricaDocumento6 páginasOs casos-limite e a psicanálise contemporânea: do desafio clínico à complexidade teóricarsa aAinda não há avaliações
- 21 de Out Intervencao No VIH Sida 2014fundo BrancoDocumento68 páginas21 de Out Intervencao No VIH Sida 2014fundo BrancoCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Texto 1 - Psicologia SocialDocumento17 páginasTexto 1 - Psicologia SocialFlávia Fortes100% (1)
- Mal Estar Na AtualidadeDocumento6 páginasMal Estar Na AtualidadeCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Apresentação Consultorio Na Rua PDFDocumento15 páginasApresentação Consultorio Na Rua PDFCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Artigo Livro SUAS No BrasilDocumento18 páginasArtigo Livro SUAS No BrasilCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Desafios do psicanalista contemporâneoDocumento18 páginasDesafios do psicanalista contemporâneoCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Moral sexual civilizada e doença pós-modernaDocumento8 páginasMoral sexual civilizada e doença pós-modernajoaopaulojucaAinda não há avaliações
- Projeto Consultório de RuaDocumento1 páginaProjeto Consultório de RuaCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Liderança e motivação na qualidade do atendimentoDocumento35 páginasLiderança e motivação na qualidade do atendimentoDiogo DesideratiAinda não há avaliações
- Moral sexual civilizada e doença pós-modernaDocumento8 páginasMoral sexual civilizada e doença pós-modernajoaopaulojucaAinda não há avaliações
- Projeto Consultório de RuaDocumento1 páginaProjeto Consultório de RuaCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Trab Regina e Teresa Estados GeraisDocumento7 páginasTrab Regina e Teresa Estados GeraisCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Ser psicanalista hoje: entre a multiplicidade e a criatividadeDocumento18 páginasSer psicanalista hoje: entre a multiplicidade e a criatividadeCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- Artigo MonografiaDocumento17 páginasArtigo MonografiaCarina da PaixãoAinda não há avaliações
- E-Book - Prescrições Na PráticaDocumento41 páginasE-Book - Prescrições Na Práticamushrom upAinda não há avaliações
- Efectiveness of Ivermectin in Dogs Ticks - Fábio M. C. Teixeira.2015.AngolaDocumento49 páginasEfectiveness of Ivermectin in Dogs Ticks - Fábio M. C. Teixeira.2015.AngolaFabio MiguelAinda não há avaliações
- FISPQ-AGIFACIL-AGUA SANITARIA - ARCHOTEsdgfsgDocumento8 páginasFISPQ-AGIFACIL-AGUA SANITARIA - ARCHOTEsdgfsgDaniel Paula Da RochaAinda não há avaliações
- Apostila de Língua Portuguesa emDocumento44 páginasApostila de Língua Portuguesa emBruno MaiaAinda não há avaliações
- Biografia Henri WallonDocumento2 páginasBiografia Henri WallonanthonniofbcAinda não há avaliações
- Queimaduras na infância: atendimento de emergência e cuidadosDocumento38 páginasQueimaduras na infância: atendimento de emergência e cuidadosGustavo Silveira100% (1)
- 200 Questões Estatuto Do IdosoDocumento15 páginas200 Questões Estatuto Do IdosoWiliam LopesAinda não há avaliações
- Folder-SyrSpend®-SF-Alka-Dry-1Documento4 páginasFolder-SyrSpend®-SF-Alka-Dry-1Deyvison JoséAinda não há avaliações
- Avaliação Isocinética Da Função Muscular Do Quadril eDocumento7 páginasAvaliação Isocinética Da Função Muscular Do Quadril eFilipe RibeiroAinda não há avaliações
- 6 - Neuropatias PerifericasDocumento26 páginas6 - Neuropatias PerifericasJhonatan CesarAinda não há avaliações
- POS 026 - Serviços de CopaDocumento7 páginasPOS 026 - Serviços de CoparenaldotstAinda não há avaliações
- Relatório Final Iniciação CientíficaDocumento24 páginasRelatório Final Iniciação CientíficaRoberto AlvesAinda não há avaliações
- Hapvida Diagnóstico Laboratório Resultados ExamesDocumento17 páginasHapvida Diagnóstico Laboratório Resultados ExamesAne Karoline Barbosa BrandãoAinda não há avaliações
- Uniplan-Metodos Unid - 2Documento81 páginasUniplan-Metodos Unid - 2joelma da silvaAinda não há avaliações
- Morfologia e biologia dos flebotomíneosDocumento3 páginasMorfologia e biologia dos flebotomíneosWaldman SantosAinda não há avaliações
- Sistema de Vigilância Alimentar e NutricionalDocumento2 páginasSistema de Vigilância Alimentar e NutricionalCarlos EduardoAinda não há avaliações
- (20230200-PT) Men's Health 257Documento100 páginas(20230200-PT) Men's Health 257RubenAinda não há avaliações
- MPP Geral Tabela Medicamentos PerigososDocumento17 páginasMPP Geral Tabela Medicamentos PerigososEvandro SilvaAinda não há avaliações
- Resumo Vigilância SanitáriaDocumento16 páginasResumo Vigilância Sanitária002-025384Ainda não há avaliações
- Manual de Redação Oficial - FunaiDocumento80 páginasManual de Redação Oficial - FunaiJoão de SouzaAinda não há avaliações
- Lesões Elementares e Semiologia DermatológicaDocumento7 páginasLesões Elementares e Semiologia DermatológicaLucas PessoaAinda não há avaliações
- Veterinary Focus 2017 272ptDocumento52 páginasVeterinary Focus 2017 272ptGiovanabborgesAinda não há avaliações
- DRE Demonstração Do Resultado Do Exercício: Objetivo Da Aula: Conhecer Aspectos Contábeis e A Estrutura Da DREDocumento22 páginasDRE Demonstração Do Resultado Do Exercício: Objetivo Da Aula: Conhecer Aspectos Contábeis e A Estrutura Da DREMartesonCasteloBrancoAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Citologia Cérvico-VaginalDocumento147 páginasArtigo Sobre Citologia Cérvico-VaginalFabíola Araújo Barboza CoimbraAinda não há avaliações
- Alimentação saudável e atividade físicaDocumento53 páginasAlimentação saudável e atividade físicaUdison Brito OliveiraAinda não há avaliações
- ArmadorDocumento2 páginasArmadorGenilson Almeida0% (1)
- Escoliose tratada com RPGDocumento4 páginasEscoliose tratada com RPGMarco Antonio CorreaAinda não há avaliações
- Historia de Enfermgem e EticaDocumento62 páginasHistoria de Enfermgem e EticaVanessa Barreto100% (3)
- Massagem drenagem linfática manualDocumento28 páginasMassagem drenagem linfática manualgustavogagiarAinda não há avaliações