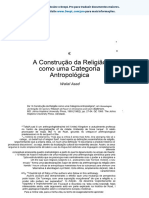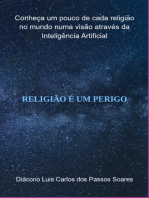Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cantwell Smith O Sentido e o Fim Da Religião PDF
Cantwell Smith O Sentido e o Fim Da Religião PDF
Enviado por
Marcelo FreitasTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Cantwell Smith O Sentido e o Fim Da Religião PDF
Cantwell Smith O Sentido e o Fim Da Religião PDF
Enviado por
Marcelo FreitasDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP) da Escola Superior de Teologia
Volume 12, jan.-abr. de 2007 – ISSN 1678 6408
Prefácio à edição brasileira de O sentido e o Fim da Religião
de Wilfred Cantwell Smith
Por Oneide Bobsin*
A análise das lentes ou da vidraça através das quais construímos um
conjunto de comunidades ideológicas contrapostas, as quais batizamos de hinduísmo,
budismo, judaísmo, cristianismo, islamismo e outras, é o objetivo de O sentido e o fim
da religião. Nesta perspectiva, Wilfred Cantwell Smith nos instiga a suspeitar dos
condicionamentos culturais de nossos olhares, pelos quais construímos o nosso
mundo e o das outras pessoas. Por essa razão, o que nomeamos “grandes religiões”
ou religio é fruto do desenvolvimento intelectual a partir do século XVII. E o
esquadrinhar teológico desses construtos revela os interesses de quem nomeia o
mundo das outras pessoas. Assim, religio passou a ser, em sentidos diversos, uma
categoria de acusação, tanto para o pesquisador quanto para o missionário.
Sua tese é sustentada por uma pesquisa que considera o desenvolvimento e a
produção de um conceito – religio, que perpassa a história do cristianismo e tangencia
outras religiões. Arriscando-se a analisar um amplo período do que há poucos
séculos passou-se a denominar de cristianismo, Cantwell Smith considera uma
diversidade de pensadores, dos Pais da Igreja até o século XVII. Dessa maneira, o
autor procura convencer-nos de que “as religiões”, tais quais as conhecemos hoje, são
frutos do desenvolvimento intelectual do Ocidente nos últimos dois séculos. Até
Agostinho, por exemplo, o conceito religio não era relevante. E, no período conhecido
* Oneide Bobsin é doutor em Ciências Sociais/Sociologia Política pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP). É professor titular da cadeira de Ciências da Religião da Escola
Superior de Teologia (EST) e do Instituto Ecumênico de Pós-Graduação (IEPG), em São Leopoldo,
RS. Bobsin é também o coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP).
Desde Janeiro de 2007, exerce o cargo de reitor da EST.
Disponível na Internet: http://www3.est.edu.br/nepp 126
Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP) da Escola Superior de Teologia
Volume 12, jan.-abr. de 2007 – ISSN 1678 6408
como Idade Média católica, ele não era usado. A palavra “fé” seria a melhor
referência para o período medieval, e o conceito religio referia-se à vida monástica.
De igual forma, esse conceito não saiu da boca dos reformadores protestantes
do século XVI. Cantwell Smith afirma que Lutero não havia se ocupado com ele. A
exemplo da Idade Média católica, Lutero fala de “fé” ou, de forma inovadora, da
redescoberta da justificação pela fé. Zwínglio, por sua vez, fala de religião para
distinguir a falsa da verdadeira no contexto de cristandade. Ele não se refere às
outras religiões como falsas. Nesse sentido, a religião falsa está no fato de definir
fidelidade à religião e não a Deus. A falsidade da religião não estava sustentada por
uma categoria de acusação a respeito das outras religiões, mas se referia a uma
piedade.
Conseqüentemente, o que fora considerado pelos reformadores e humanistas
como piedade interior sofre uma grande mudança durante os séculos XVII e XVIII,
denominada por Cantwell Smith de externalização esquemática. A piedade pessoal ou a
relação com o transcendente foi reificada ou objetivada por pesquisadores científicos,
os outsiders. Cantwell Smith não renega tal empreendimento intelectual. Destaca tão-
somente que os termos da piedade pessoal e teológica como fé, obediência, adoração,
etc. são transformados num sistema de crenças ou rituais, um modelo abstrato e
impessoal de coisas observáveis. Somente o islã constitui-se numa exceção. Das grandes
tradições religiosas, é a única que se refere a si como religio em seu texto sagrado, o
Alcorão.
Mesmo reconhecendo as dificuldades de sua proposta de abandonarmos a
“religião” como um construto de acusação, ele propõe aos cientistas das religiões, os
outsiders, bem como aos teólogos que olhem, por exemplo, para aquela diversidade
interna que é o cristianismo ou a tradição cristã, reconhecendo que a fé do crente se
expressa na oração, nos cantos, nas emoções, na prática do amor, etc. Também os
credos e as teologias pertencem às tradições cumulativas e se distinguem das
Disponível na Internet: http://www3.est.edu.br/nepp 127
Revista Eletrônica do Núcleo de Estudos e Pesquisa do Protestantismo (NEPP) da Escola Superior de Teologia
Volume 12, jan.-abr. de 2007 – ISSN 1678 6408
manifestações de fé que vinculam o fiel a Deus. Fé pessoal e tradição cumulativa, no
entanto, são distintas, mas não separadas, mesmo que o autor privilegie a
contribuição da fé pessoal para uma tradição religiosa. A especificidade da fé pessoal
de milhões de crentes dá um sentido histórico a uma tradição religiosa e impede
visões monolíticas da mesma. No entanto, não é a soma de crenças pessoais que faz
uma tradição religiosa.
Como teólogo comprometido com uma das visões cristãs, o autor não
esconde o objetivo prático de seu trabalho. Para ele, o diálogo inter-religioso que
nasce da intercomunicação da diversidade de piedades pessoais das tradições
religiosas tem um forte aliado no desvelar dos condicionamentos culturais das
grandezas históricas que chamamos “religiões”.
A relativização dos condicionamentos culturais de nossas categorias
analíticas constitui-se numa condição para o diálogo entre as diferentes tradições
religiosas e entre os povos. No entanto, o reconhecimento das diferenças que tornam
porosas as fronteiras necessita vincular-se também ao compromisso intelectual com
as lutas por igualdade social.
Esperamos que as questões instigantes levantadas pela obra O sentido e o fim
da religião impulsionem novos olhares a professores/as do Ensino Religioso,
teólogos/as, cientistas das religiões e cientistas sociais das religiões, em nosso
contexto brasileiro e no de fala portuguesa em geral, a respeito do fenômeno que
Wilfred Cantwell Smith aborda e problematiza na presente obra.
Disponível na Internet: http://www3.est.edu.br/nepp 128
Você também pode gostar
- POP - Processo de Recrutamento e Seleção de PessoalDocumento3 páginasPOP - Processo de Recrutamento e Seleção de Pessoalpiadadinha100% (3)
- Nao Menospreze As Impurezas Mentais 4 Beth FariaDocumento194 páginasNao Menospreze As Impurezas Mentais 4 Beth FariaBryan DanielAinda não há avaliações
- Metaforas TerapêuticasDocumento114 páginasMetaforas TerapêuticasAngelica Sanches Donabela91% (11)
- Sergio Da Mata História Da ReligiãoDocumento5 páginasSergio Da Mata História Da ReligiãoRicardo Menezes100% (1)
- Protestantismo PDFDocumento16 páginasProtestantismo PDFMatheus CajaíbaAinda não há avaliações
- Modelo TCC 2 2Documento44 páginasModelo TCC 2 2Danilo FreeFire OficialAinda não há avaliações
- 5 Ciencia Da Religião FredDocumento7 páginas5 Ciencia Da Religião FredvitorGermanoAinda não há avaliações
- PentecostalismoDocumento21 páginasPentecostalismoAlisson LourencoAinda não há avaliações
- ReligioDocumento261 páginasReligioapi-258726166Ainda não há avaliações
- Talal Asad The Construction of ReligionDocumento25 páginasTalal Asad The Construction of Religionmariana omgAinda não há avaliações
- A Teia Da EspiritualidadeDocumento140 páginasA Teia Da EspiritualidadeRonaldo SalesAinda não há avaliações
- dEBATE aNDRE bARROSDocumento38 páginasdEBATE aNDRE bARROSHudson Pinheiro HuddyAinda não há avaliações
- 5anptecre 15590Documento25 páginas5anptecre 15590profclaudiosouza100% (1)
- 11.10.2022 Diversidade ReligiosoDocumento3 páginas11.10.2022 Diversidade ReligiosoAstor FiegenbaumAinda não há avaliações
- Embate Entre As Instituições Católica e Espírita (Autoria Desconhecida)Documento119 páginasEmbate Entre As Instituições Católica e Espírita (Autoria Desconhecida)Alex RosasAinda não há avaliações
- Ensino de História Das Religiões No CombateDocumento24 páginasEnsino de História Das Religiões No CombateESCOLA WAY EIRELEAinda não há avaliações
- 1 AmazoniaDocumento9 páginas1 AmazoniaCoach J.T.MAinda não há avaliações
- Quem Tem Medo Dos Cristãos ProgressistasDocumento5 páginasQuem Tem Medo Dos Cristãos ProgressistasVardilei RibeiroAinda não há avaliações
- Klaus Hock - História Da ReligiãoDocumento39 páginasKlaus Hock - História Da ReligiãoDavidWSAinda não há avaliações
- Conceitos de ReligiãoDocumento10 páginasConceitos de ReligiãoMárcio MunizAinda não há avaliações
- Ciências Da ReligiãoDocumento32 páginasCiências Da ReligiãoRogério MedradoAinda não há avaliações
- Religião e Magia PDFDocumento9 páginasReligião e Magia PDFMannu SouzaAinda não há avaliações
- Claude Lepine Fé e SaberDocumento14 páginasClaude Lepine Fé e SaberFábio CostaAinda não há avaliações
- 1567-Texto Do Artigo-618-1-10-20191106 PDFDocumento19 páginas1567-Texto Do Artigo-618-1-10-20191106 PDFDirlene Oliveira TonyAinda não há avaliações
- A História Da Igreja Batista No Brasil Liturgia Preceitos e Doutrina.Documento11 páginasA História Da Igreja Batista No Brasil Liturgia Preceitos e Doutrina.JORGE VINICIUS FERREIRA BRANDÃOAinda não há avaliações
- Wittgenstein e A ReligiãoDocumento16 páginasWittgenstein e A ReligiãoClaiton CogoAinda não há avaliações
- Steil e Toniol. Crise No Conceito de Religião e Sua Incidência Na AntropologiaDocumento21 páginasSteil e Toniol. Crise No Conceito de Religião e Sua Incidência Na AntropologiaRodrigo ToniolAinda não há avaliações
- AAR 004 - Aprofundamento - O Fenômeno Religioso Como Objeto Do Ensino ReligiosoDocumento13 páginasAAR 004 - Aprofundamento - O Fenômeno Religioso Como Objeto Do Ensino Religiosojnascimento.psicodesenvAinda não há avaliações
- Mobilidade religiosa: Linguagens, juventude e políticaNo EverandMobilidade religiosa: Linguagens, juventude e políticaAinda não há avaliações
- Sagrado, Devoção e ReligiosidadeDocumento9 páginasSagrado, Devoção e ReligiosidadeAminata EmbalóAinda não há avaliações
- Análise Do Diálogo Judaico-CristãoDocumento9 páginasAnálise Do Diálogo Judaico-CristãoMônica CamposAinda não há avaliações
- 6) Os Elementos - Insatisfatórios - Da Religiosidade Popular-Notas Parciais A Partir de José Comblin - Anos 60Documento19 páginas6) Os Elementos - Insatisfatórios - Da Religiosidade Popular-Notas Parciais A Partir de José Comblin - Anos 60Luis SantosAinda não há avaliações
- Teoria Da Religião Norteamericana Alguns Debates PDFDocumento16 páginasTeoria Da Religião Norteamericana Alguns Debates PDFHugo Bezerra IIIAinda não há avaliações
- O Protestantismo Calvinista Presbiteriano BrasileiroDocumento40 páginasO Protestantismo Calvinista Presbiteriano BrasileirosoncoelhoAinda não há avaliações
- Religiões de Raízes CristãsDocumento2 páginasReligiões de Raízes CristãsJuliana BrugioloAinda não há avaliações
- Identidade e A Forma Da Teologia PentecostalDocumento11 páginasIdentidade e A Forma Da Teologia PentecostalDanilo LemosAinda não há avaliações
- Ciencias Praticas Da ReligiaoDocumento32 páginasCiencias Praticas Da ReligiaoBonito Avelino MachipissaAinda não há avaliações
- José Leandro Peters - A História Das Religiões No Contexto Da História Cultural PDFDocumento18 páginasJosé Leandro Peters - A História Das Religiões No Contexto Da História Cultural PDFCristiano CastilhoAinda não há avaliações
- Dois TeologosDocumento15 páginasDois TeologosAntonio Marcos Sobrinho PalhanoAinda não há avaliações
- A Religiao Enquanto Instrumento de LiberDocumento10 páginasA Religiao Enquanto Instrumento de LiberGabi BuenoAinda não há avaliações
- O Intelecto Apaixonado, Fé Cristã e o Discipulado Da Mente Por AlisterDocumento337 páginasO Intelecto Apaixonado, Fé Cristã e o Discipulado Da Mente Por Alisterrubenssohn25100% (1)
- 28300-Texto Do Artigo-105404-2-10-20220502Documento7 páginas28300-Texto Do Artigo-105404-2-10-20220502Pamella CaféAinda não há avaliações
- Bernardo Lewgoy - Representacoes de Ciencia e Religiao No Espiritismo KardecistaDocumento17 páginasBernardo Lewgoy - Representacoes de Ciencia e Religiao No Espiritismo KardecistaRinaldo PaulinoAinda não há avaliações
- Interfaces Entre Religião e Política No Brasil - Refletindo Sobre Políticas Públicas para o Fortalecimento Dos Direitos Humanos - Cadernos Do CampoDocumento10 páginasInterfaces Entre Religião e Política No Brasil - Refletindo Sobre Políticas Públicas para o Fortalecimento Dos Direitos Humanos - Cadernos Do CampovitorguidottiAinda não há avaliações
- Trabalho de SociologiaDocumento6 páginasTrabalho de SociologiaJúlia NolascoAinda não há avaliações
- Testemunhas de Jeová e Vida UrbanaDocumento14 páginasTestemunhas de Jeová e Vida UrbanaSemana Lixo Zero PortugalAinda não há avaliações
- Apostila FILOSOFIA DA RELIGIÃODocumento31 páginasApostila FILOSOFIA DA RELIGIÃOSamuel de CastroAinda não há avaliações
- Resenha de Rastros Do Sagrado: o Cristianismo e A Des - Ado Sacralização Do Sagrado.Documento6 páginasResenha de Rastros Do Sagrado: o Cristianismo e A Des - Ado Sacralização Do Sagrado.Na Sala Do PastorAinda não há avaliações
- Ciencia e ReligiãoDocumento14 páginasCiencia e ReligiãoRita de Cássia BarbosaAinda não há avaliações
- Reencantando As Quadras - Basquete e EspiritualidadeDocumento14 páginasReencantando As Quadras - Basquete e EspiritualidadeIgor DoiAinda não há avaliações
- Metodologia Doutrinaria CristaDocumento22 páginasMetodologia Doutrinaria CristaLindinaldo M ConceiçãoAinda não há avaliações
- HOCK - Klaus - Introducao A Ciencia Religiao - 13 - 30Documento12 páginasHOCK - Klaus - Introducao A Ciencia Religiao - 13 - 30Fabiane Ferreira da Costa100% (1)
- Cristianismo Antigo para Tempos Novos: Amor à Bíblia, vida intelectual e fé públicaNo EverandCristianismo Antigo para Tempos Novos: Amor à Bíblia, vida intelectual e fé públicaAinda não há avaliações
- Trabalho de FilosofiaDocumento5 páginasTrabalho de FilosofiakamillypedrosoAinda não há avaliações
- Bispo S/A: A Igreja Universal do Reino de Deus e o exercício do poderNo EverandBispo S/A: A Igreja Universal do Reino de Deus e o exercício do poderNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- História Da Teologia e Do CristianismoDocumento14 páginasHistória Da Teologia e Do CristianismoFelo André IdrisseAinda não há avaliações
- Observatório v.1, n.2Documento119 páginasObservatório v.1, n.2Paulo Gabriel LopesAinda não há avaliações
- 02 - Ciência e ReligiãoDocumento37 páginas02 - Ciência e ReligiãoWellington HenriqueAinda não há avaliações
- 2° Tese P% K TCCDocumento15 páginas2° Tese P% K TCCRenilsonAinda não há avaliações
- A Construção Da Religião Como Uma Categoria AntropológicaDocumento22 páginasA Construção Da Religião Como Uma Categoria AntropológicaJean Marcus BrianteAinda não há avaliações
- O impacto do pluralismo religioso na Igreja brasileira: um estudo de casoNo EverandO impacto do pluralismo religioso na Igreja brasileira: um estudo de casoAinda não há avaliações
- Comunicado Material Realizacao Prova Desempenho Didatico 198 2022 IffDocumento1 páginaComunicado Material Realizacao Prova Desempenho Didatico 198 2022 IffluizfilipetrAinda não há avaliações
- Termo Retificacao Data Horario Realizacao Prova Desempenho Didatico 198 2022 IffDocumento11 páginasTermo Retificacao Data Horario Realizacao Prova Desempenho Didatico 198 2022 IffluizfilipetrAinda não há avaliações
- FRANK, Manfred. Autoconsciencia e Autoconhecimento: Sobre Algumas Dificuldades Na Redução Da SubjetividadeDocumento29 páginasFRANK, Manfred. Autoconsciencia e Autoconhecimento: Sobre Algumas Dificuldades Na Redução Da SubjetividadeluizfilipetrAinda não há avaliações
- Resumo Um Estadista No ImpérioDocumento3 páginasResumo Um Estadista No ImpérioluizfilipetrAinda não há avaliações
- Natasha MarjanovicDocumento1 páginaNatasha Marjanovicsusie222Ainda não há avaliações
- Estudando Sobre A IgrejaDocumento270 páginasEstudando Sobre A IgrejaFernando HalaburaAinda não há avaliações
- A Tessitura Do Conhecimento Via Mídias Digitais e Redes SociaisDocumento229 páginasA Tessitura Do Conhecimento Via Mídias Digitais e Redes SociaisIsaac James ChiarattiAinda não há avaliações
- Auto Barca Inferno - Fidalgo Esquema-Resumo (Blog9 15-16)Documento2 páginasAuto Barca Inferno - Fidalgo Esquema-Resumo (Blog9 15-16)João Calado0% (1)
- @ligaliteraria Maycon - Livro 2 - Meu Vicio - Kell TeixeiraDocumento288 páginas@ligaliteraria Maycon - Livro 2 - Meu Vicio - Kell TeixeiraAna Beatriz OliveiraAinda não há avaliações
- 79 - Entorno Da Anima e Animus - Do Machismo As Possibilidades PDFDocumento8 páginas79 - Entorno Da Anima e Animus - Do Machismo As Possibilidades PDFFabrício Fonseca MoraesAinda não há avaliações
- 357121-Exercícios Sobre Pré Modernismo Com GabaritoDocumento4 páginas357121-Exercícios Sobre Pré Modernismo Com GabaritoMarcos ViníciusAinda não há avaliações
- A Essência Da PoesiaDocumento40 páginasA Essência Da PoesiaDenis Moura de QuadrosAinda não há avaliações
- Matriz Curricular TSI - NovaDocumento1 páginaMatriz Curricular TSI - NovaMichael SommerAinda não há avaliações
- AATR - No Rastro Da Grilagem Bahia - 2017Documento64 páginasAATR - No Rastro Da Grilagem Bahia - 2017Renata Lacerda100% (1)
- (2020) Biblioterapia - Breve Manual de AutoaplicaçãoDocumento26 páginas(2020) Biblioterapia - Breve Manual de AutoaplicaçãoBarbara Figueiredo100% (3)
- Entenda o Modelo ADDIE para Desenho Instrucional - Clarity SolutionsDocumento8 páginasEntenda o Modelo ADDIE para Desenho Instrucional - Clarity SolutionsJoão MarquesAinda não há avaliações
- Noções Básicas de Fotogrametria e FotointerpretaçãoDocumento27 páginasNoções Básicas de Fotogrametria e FotointerpretaçãobruninguitAinda não há avaliações
- Tutorial SISPATRI - Agente PúblicoDocumento40 páginasTutorial SISPATRI - Agente PúblicoRobson Ana Paula BertoldoAinda não há avaliações
- Teste de InteligenciaDocumento5 páginasTeste de InteligenciaEmirAinda não há avaliações
- Código Ética Ipaf - 2002Documento9 páginasCódigo Ética Ipaf - 2002FRosariopsiAinda não há avaliações
- A Formação Da Sociologia BrasileiraDocumento11 páginasA Formação Da Sociologia BrasileirajrbongAinda não há avaliações
- Filosofia, As Ciências e A Questão AntropológicaDocumento36 páginasFilosofia, As Ciências e A Questão AntropológicajairpopperAinda não há avaliações
- UMA REVISÃO SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES - A Review On Interdisciplinarity in Education and Teacher TrainingDocumento27 páginasUMA REVISÃO SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES - A Review On Interdisciplinarity in Education and Teacher TraininggiseleshawAinda não há avaliações
- REGULAÇÃO EMOCIONAL SemaforoDocumento7 páginasREGULAÇÃO EMOCIONAL SemaforoLejota Soluções100% (1)
- Cap 13 e 14Documento4 páginasCap 13 e 14Michael AlmeidaAinda não há avaliações
- Angela Correia Ama A Importancia de Um Nome V2Documento424 páginasAngela Correia Ama A Importancia de Um Nome V2Rodrigues PedroAinda não há avaliações
- 1 - Diferentes Concepções Da Infância e Adolescência PDFDocumento10 páginas1 - Diferentes Concepções Da Infância e Adolescência PDFLuan GaloAinda não há avaliações
- Peter Eisenemann Visões Que Se DesdobramDocumento9 páginasPeter Eisenemann Visões Que Se DesdobramDiogo AlbanezAinda não há avaliações
- Cinemática, Dinâmica e Equilibrio de MotoresDocumento68 páginasCinemática, Dinâmica e Equilibrio de MotoresAnonymous MqPr4iAinda não há avaliações