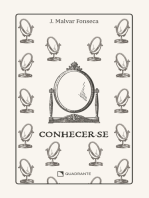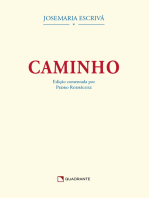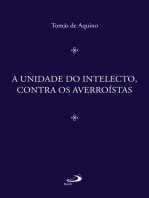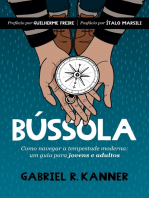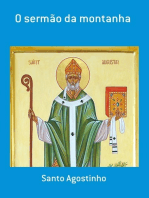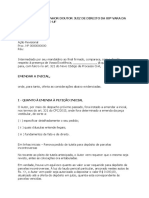Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Livro Digital PDF
Enviado por
Tiago AmorimDescrição original:
Título original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Livro Digital PDF
Enviado por
Tiago AmorimDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Prólogo
U ma das coisas mais importantes que reconheci nestes anos de estudos
e ensino foi a irrevogabilidade do eu. Só posso viver respondendo ou
negando seus anseios; ratificando ou preterindo suas inclinações. Aquele que
sou intimamente quer decidir, intervir e propor: meu dever é posicionar-me,
como súdito que atende ou não à Sua Majestade.
Este princípio de vida – considerar a todo tempo o desejo mais sincero
do eu – é indispensável a qualquer um que escolha a vida e não a morte;
a abundância e não a falta; o consolo e não o alívio; o movimento e não a
paralisia; a plenitude e não a ausência. A felicidade é uma espécie de encontro
dos sonhos íntimos com a concretude dos dias, e ela não seria possível sem
que houvesse esta relação de proximidade entre aquela instância pessoal, que
decide e se altera no mundo, e aquela que é. Aquela que sempre é.
Escutar a própria voz que ressuma desde a mais profunda realidade interior
é o desafio dos homens de agora, atormentados pelo barulho das ruas, das falsas
convivências e dos movimentos das massas. São os gritos da mediocridade,
da passividade e da fantasmagoria: sons externos, superficiais e mágicos que
encantam os personagens desse faz-de-conta a que chamamos inferno. Toda
vida verdadeira, substancial, resiste às forças aviltantes; e são apenas estes
resistentes os capazes de sobrepor-se, percebendo o gemido que nasce no
coração.
Por isso nada é mais urgente nestes tempos de homogeneização: resgatar a
si mesmo, numa ascese dolorosa – como tem de ser. Ninguém pode fazê-la em
meu lugar. Aliás, “ninguém” é pronome indefinido. Apenas eu, radicalmente
eu, posso tomar a direção deste movimento que me livrará dos abstracionismos
violentos com que uma parte da humanidade se lança no abismo da indistinção.
Marcados pela repetição, esses homens e mulheres conferem novos significados
Por Que Não Somos Felizes? | 05
Prólogo
à expressão “vida de gado”.
A espécie literalmente cai. Perde graus, como diria Ortega y Gasset. E
nenhum medicamento no mundo pode solucionar o hiato entre as duas
dimensões pessoais que de alguma forma nos definem. Toda e qualquer
ação bioquímica servirá apenas para sufocar os gemidos que martelam sua
existência quase ininterruptamente: o homem atual talvez seja o primeiro a
odiar a consciência.
E talvez também seja o primeiro a sucumbir, no sentido de preferir a carne
ao espírito. “Primeiro meu estômago”, dizem a si mesmos. Depois, aquelas
realidades estranhas a que denominam sentido, vocação, destino, amor,
felicidade. E o mais paradoxal – para não dizer estúpido – é o espanto confessado
depois de anos de barriga cheia e alma pobre: “por que não sou feliz?”.
Fazer o que lhe agrada, não coibir nenhum desejo e atender a todas as
demandas externas não se mostraram suficientes. A partir daí, desta constatação
que pode acontecer aos trinta, quarenta, cinqüenta ou cem anos, resta-lhe a
admissão do fracasso, a resignação e a adoção de novos meios.
Meios de quê?
De possuir a felicidade, principalmente. E este livro não é outra coisa
senão meu testemunho a respeito dessa realidade que também é minha e que,
portanto, também me dói. São tantas as trajetórias vividas até aqui, tantos os
lamentos acolhidos em privado, tantas as percepções de vida inferior, que eu
não poderia fazer outra coisa agora, sob pena de tentar revogar minha própria
história: comunicar aos que têm ouvidos o que me parece ser uma existência
feliz.
Como sou declaradamente um inimigo dos abstracionismos intelectuais,
dos conselhos pedantes e dos interesses diletantes, não ofereço receita genérica.
Serei o mais infeliz dos professores se isto for acolhido como auto-ajuda, aliás.
Ofereço os traços de uma forma possível apenas se preenchida de pessoalidade
enquanto absorvida por aquele que lê. Você não encontrará mandamentos,
mas tentativas de expressão da realidade. É este o ofício do filósofo, e a isto me
proponho.
A felicidade é uma posse: fugidia, incompleta e insegura. Por isso também
Por Que Não Somos Felizes? | 6
Prólogo
é um movimento de sentido determinado, ao encontro do eu; um trânsito entre
o que se sabe e o que não se sabe. Não do “mundo”, dos livros ou das coisas
que os outros sabem, mas da própria realidade radical, a partir da qual toco o
mundo, os livros e os outros.
A felicidade é posse de si.
Por Que Não Somos Felizes? | 7
1
Realidade Única
H á anos digo que uma vida não examinada não merece ser vivida. São
inúmeras aulas, cursos e palestras nos quais repito esta afirmação
atribuída a Sócrates. Creio firmemente que não podemos viver – não uma vida
verdadeira – sem um tipo de autoanálise sucessiva e seus consequentes balanços
existenciais. Aliás, com mais ou menos consciência, é isto que precisamente
fazemos: olhamos de modo intermitente para nós mesmos, nossa realidade
radical, e concluímos algumas coisas a respeito de quem estamos sendo e de
como estamos vivendo. Quando o resultado parcial – e até o encontro da morte
ele é sempre parcial – é aparentemente ruim, sentimos aquele desgosto, aquela
insatisfação com a própria existência. Angustiados por não estarmos “à altura”
de nós mesmos, ou do que imaginamos ser nossa forma de vida ideal, caímos
em uma série de armadilhas neuróticas que nos desinstalam da verdadeira
gravidade e nos lançam no redemoinho das falsidades. É o começo da tentativa
de substituição dos termos do problema pelo simulacro de solução, que se traduz
em mentiras biográficas, desvios vocacionais e tédio (o algoz dos homens sem
sentido).
O exame da própria vida acontece necessariamente porque a natureza
humana é assim. Somos chamados à perfeição, à realização, à plenitude. Estamos,
desde nossa criação, informados intimamente desta inclinação para o Bem que
nos impele ao movimento de vida. E é esta informação – íntima, porque dada na
substância pessoal – que nos “atormenta” de alguma forma. O paradoxo, como
esclarecido por Gustavo Coração em O Desconcerto do Mundo, é justamente
este: nós sofremos porque sabemos (ou, estamos intimamente informados) de
nossa grandeza e pretensão, nossa origem e destino. Portanto, a natural avaliação
da própria vida é feita sobre um fundo insubornável – a centelha divina,
poderíamos dizer – que revivifica dentro de nós a imagem do melhor destino a
Por Que Não Somos Felizes? | 8
Realidade Única
que fomos confiados. Em outras palavras: é realmente duro viver humanamente
porque, mesmo que não o conscientizemos, nosso coração insiste em denunciar
nossa verdadeira constituição. Esta informação íntima é a que nos faz sentir
quando estamos devendo a nós mesmos, aceitando ou não podendo reverter
um estado inferior de vida, indigno da espécie a que pretendemos pertencer
radicalmente.
A felicidade é assunto humano, radicalmente humano. Isto é, pessoal. Não
se pode falar em “felicidade animal” pelo simples fato de que animais não estão
em débito com sua própria natureza, pois já realizam de forma plena a espécie
a que pertencem. Diferentemente do homem, eles não têm um dever-ser, uma
pretensão de existência e realização a ser alcançada. Nenhum cachorro sente-se
angustiado porque não foi um bom cachorro naquele dia. Nenhum urso dorme
triste porque terá que alterar seus projetos futuros em virtude de mudanças
climáticas. Animais ou plantas não estão intimamente informados como nós.
Como bem disse Xavier Zubiri, eles sentem frio, ao passo que o homem sabe
que está frio. Portanto, somente para a nossa consciência é que a gravidade da
vida se revela e, também somente para nós, existe a angústia por não ser, a
necessidade de realização pessoal e o perigo do fracasso biográfico.
Felicidade é assunto pessoal porque somos esta realidade diferente de todas
as outras realidades criadas. Se no caso dos animais e plantas suas realidades são
“fechadas”, uma vez que não há exigência interior por um ser que ainda não são,
no nosso caso é evidente o contrário: somos realidades em aberto. Nascemos
com uma série de possibilidades que se tornam atos conforme as eleições que
fazemos; as decisões consequentes da liberdade com que deliberamos em nossas
vidas. Quando tomamos um recém-nascido nos braços, temos a sensação
de que ele poderá vir a ser qualquer coisa. Poderá ser médico como o pai,
professor como a mãe, artista ou delinquente. Sem dúvida, este mesmo bebê é
uma realidade em aberto, nascida com algumas determinações (família, sexo,
raça etc.) e potente para uma série de trajetórias possíveis. Tudo dependerá de
uma combinação complexa de fatores, da intersecção dramática entre natureza,
inclinações pessoais, meio social e causas autorais.
Portanto, somos uma realidade feita de irrealidades. Nascemos com algumas
Por Que Não Somos Felizes? | 9
Realidade Única
determinações, inerentes a qualquer vida humana, e temos a liberdade de
“preencher” pessoalmente a estrutura da vida que recebemos no nascimento. Eu
tenho uma língua-mãe, portuguesa, que herdei de meus pais e convivas. Isto tem
de ser assim, porque ter uma língua é estrutural no homem. Porém, aproprio-me
desta língua de maneira pessoal, com minhas aptidões e dificuldades, e dou a ela
uma expressão única que, embora não deva prescindir das regras gramaticais,
é desejável que seja reveladora de minha individualidade. Ainda, se depois de
internalizar minha língua-mãe eu quiser aprender outra (como o francês, por
exemplo), isto será uma aquisição pessoal que, no momento em que decido
por realizar, ainda não a conquistei. Neste sentido, agirei em direção a uma
realidade que ainda não é minha, pois não domino a língua francesa no instante
em que decido estudá-la.
Quero reforçar a idéia de realidade única que nós somos. Apenas os seres
humanos são feitos também de irrealidades – como a língua francesa que ainda
não falo – e que devem ser levadas em conta na compreensão da minha vida. Eu
sou aquele que tem todas estas realidades atualizadas agora – como a língua que
já falo, o sexo que recebi, a raça e a nacionalidade – e quer ter muitas outras que
ainda são imagens ou antecipações dentro de mim. São, em última instância,
irrealidades que corroboram a afirmação de que somos diferentes das “coisas”.
Somos mesmo pessoas, realidades únicas por sua abertura e tensão entre o real
e o irreal; as potências e os atos.
Uma verdadeira antropologia filosófica deve levar isso em conta. Em relação
ao homem não se pode aplicar conceitos estáticos como se faz com as coisas,
realidades fechadas. É preciso elaborarmos métodos apropriados de manejo da
realidade humana, adaptando as categorias aristotélicas para aquilo que somos.
Sim, somos substâncias, mas de um tipo bem peculiar e que deve ser tratada por
seu nome próprio: pessoa.
Deixe-me elucidar essa questão da pessoalidade como real substância
humana.
Por Que Não Somos Felizes? | 10
Realidade Única
Tudo o que existe no mundo tem substância: a palavra latina “substantia” é a
tradução da palavra grega “hipóstases”, que significa o que está embaixo – se nos
perguntamos qual é a substância de algo, perguntamos o que é que está debaixo
de todas as qualidades e acidentes que o compõem, o que é que os sustenta
(como diz Aristóteles, que foi, talvez, quem melhor tratou do assunto).
Algo possuir determinada cor, comprimento, formato, e não outro é acidental;
o que sustenta todos esses acidentes? A que eles se referem? À “substância”
daquilo. Tomemos os gatos, por exemplo – o que são acidentes, neles? Um gato
pode ser preto; pode ser manhoso; pode gostar disso ou daquilo; ter pêlo curto
ou longo. Esses aspectos todos são acidentais. Mas é a substância do gato – o
seu “quê”, que está por baixo de todas as suas camadas de qualidades, acidentes
e vícios, perceptíveis ou não – que permite todos esses acidentes; eles existem
sobre ela, estão nela.
Da mesma forma, quando falamos de “substância humana”, referimo-
nos ao núcleo sobre o qual estão depositadas todas as qualidades e acidentes
que percebemos em alguém (“Ela é mulher, eu sou homem”; “Ela tem cabelo
comprido, eu não”; “Ele tem sobrancelha fina, eu tenho grossa”; “Ele gosta de
futebol, eu de vôlei”), e que nos permite defini-lo, diferenciando-o das coisas e
dos animais, como pessoa.
Julián Marías nos adverte que, na história da filosofia, depois de Aristóteles,
ninguém deu a devida atenção à particularidade da realidade humana, ao fato de
que a substância do homem é diferente de todas as outras coisas – o homem não
é uma coisa, é uma pessoa que se elege a si mesma. Quando dizemos que o ser
humano é co-criador, queremos dizer que o homem recebe, de Deus, uma parte
da sua realidade, mas que a outra parte é ele quem faz. Portanto, ao tratarmos
da pessoa, é possível falarmos de uma “perda de substância”, no sentido de que
o homem pode deixar de realizar a si mesmo e as potências humanas que o
instalam devida e dignamente no mundo como exemplar desta espécie a que
pertence.
Outras realidades não têm como perder sua substância; mas nós
podemos, durante a vida, perder nossa pessoalidade: todos corremos o risco
da “despersonalização”, como a chama Julián Marías. Como nossa substância
Por Que Não Somos Felizes? | 11
Realidade Única
é radicalmente diferente de todo o resto da realidade, ela se define por uma
dimensão irreal – tudo aquilo que está por ser feito e eleito (caminhos a trilhar,
trajetórias a assumir...), a parte a ser escolhida e vivida – nós somos os únicos
que correm o risco de não ser: só o ser humano pode ficar deprimido, porque
nenhum outro ente da realidade pode estar em dívida consigo mesmo. E, dado
que todos nos movemos nessa faixa de irrealidade, podemos dizer que alguém
pode ser “mais pessoa” ou “menos pessoa”. Há quem atualize a dimensão do seu
núcleo, de sua substância, mais do que outros. Há pessoas com uma riqueza
de substância impressionante, e há outras substancialmente pobres – por quê?
Porque elegeram errado, não escolheram, não realizaram.
Não se trata, portanto, do que somos, mas de quem. Pessoa é o nome da
substância que você é, criatura feita à imagem e semelhança da Pessoa Divina.
São as categorias de conhecimento desta substância em especial que nos interessa
sobremaneira e, mais do que qualquer questão, a necessidade de felicidade que
cada um tem como pessoa irrepetível. Não é por acaso que no cristianismo
temos uma fé baseada na relação com três pessoas (Pai, Filho e Espírito).
Quando quero conhecer a alguém ou a mim mesmo, não devo me dirigir
a esta realidade como quem tem interesse em zoologia ou geografia. Veja bem,
leitor: não é “algo” que quero saber; é alguém que quero conhecer. Esta afinação
da perspectiva como sujeito cognoscente, interessado em outras pessoas ou em
si mesmo, tem suas consequências nas relações, inclusive.
Amar alguém é um bom exemplo daquilo que estamos falando. O amor
é uma decisão radical por alguém a ponto de alterar a substância do amante
em virtude do amado. Jamais amou aquele que não foi alterado pela presença
do outro. E tal alteração só é possível pelo fato de sermos uma realidade em
aberto, permeada de irrealidades. Ao nos apaixonarmos por alguém, “criamos”
dentro de nós uma história, imaginamos a vida a dois e partimos em busca de
sua conquista. Só fazemos isso porque não estamos “prontos” e queremos ser
alterados pela presença do outro em nossa história. Transformamos aquele que
amamos em projeto pessoal e, a partir deste momento, vivemos como quem já
não é o mesmo.
A felicidade é assunto pessoal porque diz respeito à substância única que
Por Que Não Somos Felizes? | 12
Realidade Única
somos, informada intimamente da vontade divina (de uma Pessoa) e inclinada
existencialmente à realização do ser em aberto. A realidade feita de irrealidades
tem um ideal de vida; uma imagem de plenitude biográfica que funciona como
força motriz ou chamamento. É o que precisamos para pôr em movimento nossas
vidas. Ninguém pode ir a lugar nenhum. Todos os homens que estão fazendo
algo de suas vidas – e por isso despertam admiração – têm um movimento
direcionado a uma imagem, mais ou menos autoral, de um eu futuro, irreal
por ora. Veja se não é isto que está por trás de um empresário de sucesso ou
um intelectual reconhecido. Ambos estão indo em direção a um ser idealizado,
pensado como “melhor” e que atrai o eu presente para seu alcance. Sem imagem
ideal – forte, detalhada e possível – não há como sentir disposição para sair do
estado atual de vida. Uma imagem pessoal de felicidade, portanto, é condição
sine qua non.
A sensação de “vida parada” é comum naqueles que carecem de projeção. Sua
vida está como um lago, quando deveria ser um rio. O descontentamento surge
justamente da paralisia biográfica, na qual, paradoxalmente, os dias passam, mas
tudo parece continuar igual. Meu conselho para quem vive algo semelhante é
quase sempre o mesmo: alguma abertura tem de ser feita; algum desvio de água
para que entre em movimento. Se nunca fez algo que teve sempre em mente,
quem sabe seja a hora de fazê-lo. E toda alteração será uma “violência” contra
o estado presente, pois nenhuma mudança acontece sem algum deslocamento
pessoal, sem algum movimento em direção a outra trajetória possível. Portanto,
o lago tem de sofrer novas interferências e a melhor delas é, sem dúvida, a imagem
de uma nova forma biográfica. Mais plena, realizada e contente. A imagem de
uma vida de feliz tem de ser melhorada, enriquecida.
Quando você consegue reconhecer que seu estado de vida atual é pobre –
ou medíocre – e, em linhas gerais, não está à altura da vida em abundância, em
seguida precisará de uma nova imagem de eu realizado. Terá de mergulhar em
si mesmo, ao encontro da substância pessoal, e descobrir, afinal, quem você foi
chamado a ser e o que falta para sê-lo. Passará a perscrutar a própria realidade
radical – sua vida – e recolherá elementos bastantes para formar a nova imagem,
o ideal de realização que daria todo sentido à sua existência. E assim, num novo
Por Que Não Somos Felizes? | 13
Realidade Única
movimento em direção a um eu ideal reconhecido como propriamente seu,
sairá do estado de paralisia e gozará do dramatismo que nos define e que não
exclui sofrimento ou morte.
Então qual é a vantagem, já que sofrimento e morte permanecerão?
Será a de poder viver de forma única e irrepetível, com a certeza de
que você não poderia estar fazendo outra coisa, nem de modo diferente
do que estará fazendo. Morrer não será mais um perigo, e sofrer se tornará
mais uma circunstância a ser reabsorvida em prol da gravidade de uma vida
verdadeiramente pessoal e intransferível.
Por isso, não se trata de usufruir da vida. Ela é um bem arredio a esse tipo de
apropriação indébita. Trata-se de gozá-la em sua profundidade, como quem se
instala humanamente e preenche a estrutura dada no nascimento com a própria
substância. Não estamos à passeio, leitor. Dentre muitas mentiras implantadas
com o advento da modernidade, esta é das mais perigosas: feliz é quem aproveita
a vida sem grandes preocupações, mantendo um jeitinho suave de sambar sobre
os problemas e de ignorar as realidades importantes. Pela lógica moderna, é
feliz quem nega a estrutura humana e fecha-se para o dramatismo inerente a
ela. Quem pode sorrir todos os dias e ter acesso a prazeres sem limite, viajando
para onde quiser, comendo o que quiser, comprando o que for de seu desejo?
Entretanto, a receita de felicidade que combina com letra de música barata
(Deixa a vida me levar, vida leva eu) não tem salvado homens e mulheres de
carne e osso do desconcerto do mundo. Logo após um show do seu pagodeiro
preferido, o sujeito imerso em tal lógica falsa sente – vindo daquele insistente e
informado coração – que lhe falta algo. A depender do caso, bebe, joga, compra,
acessa pornografia até dormir: tudo para abafar, de alguma maneira, a voz
interior que persiste em lembrá-lo que felicidade não é isto.
Outros, mais burgueses e menos afeitos a multidões reunidas para dançar e
cantar estrofes ridículas, compram livros de autoajuda, daqueles que afirmam
que a vida é colorida como um desenho dos Ursinhos Carinhosos. “Você é
especial”, “você nasceu para brilhar”: uma mentira após a outra, em doses cada
vez mais fortes para que o eu narrativo (presencial) do sujeito acredite, ainda que
por alguns dias ou meses, que é disto que se trata viver bem. “Qualidade de vida”
Por Que Não Somos Felizes? | 14
Realidade Única
é das piores expressões já inventadas e serve para neurotizar uma infinidade de
homens e mulheres que passam a se cobrar pelo que não têm, modernamente
falando.
A realidade que são, a substância pessoal, continua intocada pelo eu
narrativo, que é o ego – o registro histórico do que sabemos e experimentamos
a nosso respeito e como contamos isto a nós mesmos. Separados pelas neuroses
modernas, fragmentados interiormente em uma série de pedaços vividos
apenas como personagens sociais, os mesmos homens e mulheres vivem sob a
égide da mentira oficial do dia, incapacitados de uma intimidade real com suas
substâncias, origem das vidas sem sentido e da sensação de descontentamento
com a própria vida. Por isso é urgente a coagulação, uma reunião da realidade
pessoal em que a substância informe seu mais profundo desejo de ser e restaure,
pelo movimento orientado a um ideal antecipado imaginativamente, a forma
biográfica feliz.
Por Que Não Somos Felizes? | 15
2
Viver é Trabalho Poético
O tédio pode ser compreendido com aquela imagem do lago: é a antítese
do movimento. Quem está entediado sente a paralisia existencial
que o fixa e o enrijece na vida. Não há abertura para o novo, nem atração
pelo movimento. Em poucas palavras, o tédio é o sentimento decorrente da
inatividade interior; em muitos casos, ganha expressão exterior também, como
acontece com o indivíduo que está desempregado e passa o dia deitado no sofá,
sem energia para romper com a inércia biográfica.
Mas os entediados devem ser vistos sob outra perspectiva, ainda mais grave:
a da ausência de projeção. Uma das coisas que mais distingue o ser humano
é justamente sua capacidade de futurição, de antecipação da vida pretendida.
Quando imaginamos nossas vidas daqui a cinco ou dez anos e criamos com
detalhes quem queremos ser, estamos projetando. Esta é a base para o movimento
de alma que nos define, inspirado na imagem de eu ideal de que falamos no
capítulo anterior. Ter um eu ideal claro, bem imaginado e com o maior número
de detalhes possível é imprescindível. As projeções do eu narrativo – presente
aqui e agora, pensando sobre a própria vida e fazendo planos para si – são
afetadas e configuradas pela imagem do ideal de eu que se tem, a forma plena
de realização pessoal, o bem máximo que seria a própria vida.
Portanto, projetar é uma das atividades humanas por excelência – e
precisamente esta é negligenciada ou tolhida pelo entediado. Querendo
ou não, sua paralisia impede que sonhe com alguma realidade para além da
imediata que o toca. Se está sozinho há anos, e se os relacionamentos nos quais
se envolveu foram marcados por fracassos, sente que não “dará certo” com
nenhuma pessoa e por isto mesmo nem vale a pena se iludir a respeito. Deixa
de projetar amorosamente, e tal atitude dá forma à sua vida que, neste ponto
especificamente, será diminuída em sua capacidade de futurição.
Por Que Não Somos Felizes? | 14
Viver é Trabalho Poético
Sem projeto, sem movimento. Não há outra imagem senão a da paralisia.
E toda aquela realidade feita de irrealidades, capaz de configurar a si mesma a
partir das escolhas livres que faz ao longo das trajetórias pessoais, não será mais
que uma repetição desarmônica. Corremos o risco de sermos iguais por toda
a vida – o que, no nosso caso, é praticamente um inferno. Ao contrário do que
acreditam alguns, passar vários anos sendo “o mesmo” não é um mérito, mas
uma acomodação biográfica; imprópria para homens e mulheres, chamados
a encarnar a novidade da Criação: somos nós, imagem e semelhança, quem
testemunhamos o movimento do Ser que faz novas todas as coisas. Não podemos
– sob pena de não realizarmos nossos destinos humanamente – renunciar a este
grave elemento constitutivo.
Pergunto àqueles que identificam o sentimento de paralisia e insatisfação
com a “mesmice” biográfica em que se encontram: quem você quer ser e onde
quer estar daqui a dez anos? Você admite como possibilidade legítima para si
mesmo continuar neste lugar, instalado neste mesmo ponto da sua trajetória
e, portanto, dizendo as mesmas coisas que diz hoje? Num geral, a resposta à
última pergunta é “não”. Por mais biograficamente doentes que estejam, as
pessoas sabem o que não querem para elas mesmas. Ninguém deseja o inferno,
a não ser por uma ignorância a respeito do que ele seja (foi o que aprendi com
Sócrates, que afirmava que a opção pelo mal é uma questão de ignorância).
Mas, se qualquer pessoa pode admitir que a vida que leva no presente não
pode permanecer por muito tempo, por que ela não muda? Por que confessa seu
estado de vida inferior, repugna um futuro de repetições do que vive e, ainda
assim, continua fazendo as mesmas coisas e incorrendo nos mesmos desvios
que só confirmarão o lugar de origem, ou seja, o lago de água parada?
Porque ela não projeta verdadeiramente. Não antecipa, com detalhes, suas
formas vitais. Quando faz algum projeto, é cheio dos vícios históricos em que
caem repetidas vezes e dos quais, ironicamente, reclama por não ter atingido
resultados diferentes. Exemplo: amou o dinheiro a vida toda e hoje lamenta não
ter nada além de dinheiro. Tenta refazer algum projeto de vida e – lá está ele! –
não consegue deixar de incluir o dinheiro na composição imaginária do futuro.
Anda em círculos e isto obviamente a desgasta. Em algum momento, o tédio
Por Que Não Somos Felizes? | 15
Viver é Trabalho Poético
se torna depressão porque dificilmente alguém suporta caminhar mil dias no
mesmo lugar. Toda a aparente atividade de nada adiantou, constata.
Mas é preciso mais. Os projetos devem ser sinceros e ressumar a trajetória
pessoal. O paradoxo é que, quanto mais recuarmos no passado, melhor
anteciparemos o futuro. Quanto maior nossa compreensão sobre a história que
já vivemos, maior nossa segurança sobre as apostas de futuro. Portanto, mais do
que nunca, comprovamos a premissa do capítulo anterior: a realidade humana
é única e transita especialmente na dimensão temporal. É o mesmo que dizer
que eu e você estamos em tempos diferentes, a todo tempo. Por alguns segundos
vamos para o passado e recordamos uma cena feliz de nossas vidas; no instante
seguinte, imaginamos aquilo se repetindo na próxima vez que formos visitar
nossos pais. E assim, em questão de segundos, transitamos do passado para
o futuro, sem a rigidez ao presente comum às outras realidades. Para nós, o
presente é conexão fugidia: instante sucessivamente perdido no qual passado
e futuro se tocam. Forçando as palavras – pois é muito difícil falar sobre isso
–, o presente é “onde” nos reunimos (toda a trajetória percorrida e a sonhada).
Assim, a projeção é mais radical e íntima quanto mais rica e sincera a narrativa
biográfica, a vida passada conhecida por aquele que projeta neste instante
fugidio.
De modo prático, quem não investiga a si mesmo não pode projetar a si
mesmo. Não passará de ilusão aquilo que for sonhado sem respaldo material
que, no nosso caso, é a história. Foi Ortega y Gasset quem disse que o homem
não tem natureza, e sim história. Somos o que temos sido desde o nascimento e
poderemos ser aquilo que tiver ressonância (sentido) em tudo isso. Simplesmente
não podemos projetar um eu totalmente estranho a nós mesmos e a quem
historicamente temos escolhido ser. O indivíduo que a vida toda deu ordens
a subordinados na empresa que chefiava não pode simplesmente se tornar um
obediente passivo. Se é de seu temperamento e personalidade mandar e dirigir,
ele pode dar outra configuração para esta mesma habilidade, renovando a forma
biográfica a partir daquilo que ele já é, já fez, já configurou para si mesmo. Esta
é a matéria de vida sobre o qual o eu narrativo (histórico) deve se inclinar para
compor a vida futura, planejando o quem ainda não realizado. O mesmo Ortega
Por Que Não Somos Felizes? | 16
Viver é Trabalho Poético
ensinou que viver é um trabalho poético: cada um compõe a própria vida com
aquilo que dela recebe e nela formata através das escolhas. Começar do zero,
biograficamente, é impossível; e a única mudança radical que existe se chama
morte.
Assim, podemos dizer que a futurição – espécie de modo de vida intrínseco
ao humano – é realizada toda vez que o eu narrativo permite-se projetar,
antecipando realidades ainda irreais no momento presente. Ainda, esta mesma
capacidade de projetar que identifica a pessoa humana não se faz sem tensão.
Dramaticamente, é permeada de imagens históricas (aquelas gravadas pelo
ego e da forma que foram gravadas) e ideais (baseadas no eu sumamente
realizado que cada um imagina para si). Ou seja: o tempo, para nós, é matéria
de composição da própria vida; passado e futuro são lugares suspensos nos
quais pisamos, por mais ou menos tempo, com maior ou menor intensidade,
quando movimentamos nosso eu (que sempre está olhando para o que já passou
ou sonhando com o que pode vir a ser). O presente é a conexão, instantânea
e perdida seguidamente, das imagens formuladas com a visitação contínua
dos tempos referidos. A complexidade disso me permite apenas dizer que –
simplificando ao máximo – a vida pessoal e intransferível é possuída por uma
espécie de viagem no tempo interior, na qual passado e futuro são absorvidos e
reabsorvidos como imagens a cada nova tomada de posse da própria substância.
O eu narrativo inclina-se sobre o passado, adquire novas imagens e conecta com
as que já tinha de si. A cada “reintegração” do eu feita no presente são lançados
outros projetos inspirados no novo eu que nasce em referência à mesma pessoa
que se é. A pessoa, ou substância, é aquilo que não passa, mas permanece como
realidade criada e prometida; o eu, aquilo que sabemos a nosso próprio respeito
e que muda, ou é acrescido de novas informações, a cada reintegração resultado
do movimento que é viver (para trás e para frente).
Sem a transitoriedade entre passado e futuro, experiência e projeção, sem
vida humana plenamente falando. E num capítulo vindouro falarei sobre a
narrativa pessoal e os meios de realizar esta viagem interior de que tratei nestes
tortuosos parágrafos.
Agora, seria interessante falar da “realidade prometida” a que aludi acima.
Por Que Não Somos Felizes? | 17
Viver é Trabalho Poético
O que entendo por isso?
Em meus cursos – especialmente o Vida Humana – tenho dito que o
homem é uma promessa; um bebê pode vir a ser um advogado ou um professor,
casado ou celibatário, de esquerda ou de direita. O fato é que quando nasce,
nenhum ser humano está determinado biograficamente; sendo realidade em
aberto, como expusemos no primeiro capítulo, tem a liberdade de escolha ou,
nas palavras de Ortega y Gasset, de eleição. Para o filósofo espanhol, viver é ter
que eleger. Conforme crescemos, absorvemos e desenvolvemos nossa razão e
consciência, somos impelidos a eleger entre este ou aquele caminho, esta ou
aquela universidade, esta ou aquela pessoa, este ou aquele trabalho. E por isso a
vida humana é marcada pelo gerundismo: estamos vivendo, sendo, compondo,
amando, projetando. Oposta à rigidez e às realidades estáticas, a realidade do
homem é este ir sendo, através das escolhas que vão formando suas trajetórias
pessoais e que, quanto mais vocacionadas e autorais, mais livres e felizes.
Conta-se que, certa vez, uma admiradora de José Ortega y Gasset desejava
muito conhecê-lo pessoalmente. Foi até a cidade em que ele estaria dando
uma conferência. Chegando lá, aproximou-se do aglomerado de gente que
suspeitou ser devido à presença do estimado filósofo. Passando pelo grande
grupo, conseguiu se aproximar daquele que parecia ser o conferencista que fora
encontrar. Olhou para o homem e perguntou:
— O senhor é José Ortega y Gasset?
— Tenho sido — disse.
A resposta de Ortega não poderia ser mais expressiva de sua filosofia e
perspectiva da realidade humana: cada um está sendo alguém e este alguém
constantemente eleito pode estar mais ou menos próximo do eu ideal que temos
como imagem atrativa.
De tal perspectiva orteguiana extraio uma conclusão e uma idéia. Concluo
que se cada um de nós é uma realidade dramática, feita no tempo e por meio
de eleições, configurada pelo gerundismo próprio das trajetórias pessoais,
então ninguém está isento de falhar nestas mesmas eleições e, portanto, não
estar sendo quem deveria ser. Creio se tratar disto: por ter ampla liberdade de
escolha, por não estar inteiramente determinado e poder ser o advogado ou o
Por Que Não Somos Felizes? | 18
Viver é Trabalho Poético
professor, o esposo fiel ou o infiel, o grande soldado ou o desertor, cada homem
corre o risco de não ser. Se Ortega respondeu àquela mulher com um “tenho
sido” é porque, no balanço que diariamente fizera de suas decisões e eleições até
aquele momento, parecia-lhe estar muito próximo da realidade vital a que fora
chamado. Em outras palavras, José Ortega y Gasset estava sendo quem devia
ser: José Ortega y Gasset e ninguém mais.
O perigo de não ser, esta iminente ameaça, só ocorre a nós, homens e
mulheres. Como já deve ter ficado claro até aqui, às outras criaturas ele não existe
porque lhes falta a liberdade e a irrealidade, características da realidade pessoal.
E a infelicidade, que trataremos em capítulo específico, seria uma constatação
do indivíduo de que ele não tem sido.
Mas vamos à minha idéia a partir da perspectiva de Ortega a respeito da
realidade humana. Se para o pensador espanhol o homem era (feito de) história
e viver era eleger, a ponto de cada um poder fazer a si mesmo dando forma à
própria biografia através das trajetórias pessoais, para mim isto só faz sentido
se houver uma primeira imagem, quer dizer, uma origem pessoal. Apesar do
autor das Meditações do Quixote levar em conta as circunstâncias impostas no
nascimento, e depois dele, a todo homem que nasce, não me parece suficiente
para eleger uma vida. Talvez para o precursor da Escola de Madri o homem
fosse livre a ponto de determinar suas trajetórias sem uma predeterminação
pessoal, mas apenas algumas inclinações subjetivas e os elementos herdados e
adquiridos ao longo da vida. Para mim, novamente, isso não basta.
A composição que faço da minha vida tem uma origem, um chamado íntimo
de dever-ser. Não posso ser qualquer coisa, nem tenho todos os caminhos
abertos para mim. E não porque é impossível a qualquer ser humano ter
potência para todo tipo de ação, mas porque a maioria delas não me diz respeito
pessoalmente. Eu estou, desde o meu nascimento, chamado a ser alguém e não
qualquer alguém que eu venha a eleger com as circunstâncias que me forem
dadas. Como um código genético, mas anterior a qualquer genética, cada um de
nós tem inscrito na sua constituição quem deve ser – e não consigo ver de outra
forma senão espiritualmente: a criatura que eu sou, irredutível e única, não se
confunde com nenhuma outra porque eu devo ser o Tiago e ninguém mais. Por
Por Que Não Somos Felizes? | 19
Viver é Trabalho Poético
isso, no meu nascimento, Deus me confiou certas habilidades, aquela família,
esta nacionalidade, raça etc.: porque eu devo ser aquela pessoa e nenhuma outra.
Sou, como todos os homens, uma realidade-promessa.
Não apenas uma realidade em aberto, à qual tudo pode acontecer e tudo ser.
Deus, a meu ver, não cria genericamente. Sou uma promessa também, porque
feito para ser esta pessoa, desde que conquiste meu próprio ser, no sentido de
escolhas e trajetórias assumidas em consonância com meu eu substancial, ou
seja, quem eu sou verdadeiramente. Portanto, minha liberdade reside na forma
com que chegarei a tal realização pessoal, indo pelo caminho A ou B ou C, mas
tendo que responder a este chamado dado na criação e inscrito em meu coração
como promessa. Talvez seja por isto que Deus não tenha nos criado e posto
diretamente no Paraíso: como diz Julián Marías em diversos livros, era preciso
que realizássemos a nós mesmos, ou seríamos outra coisa e não homens.
Somos postos no mundo para que nele façamos nossas vidas sem que
prescindamos da origem, do chamado ou da promessa que somos. Quando
eu ou você passamos a existir, Deus estava “prometendo” para o mundo uma
realidade que depende muito de seu portador: eu e você – tão diferentes dos
animais e plantas –, feitos de irrealidades, futurição e gerundismo, somos as
únicas criaturas que podem cumprir ou não com a vontade divina. É isto uma
promessa ou não?
Não são apenas as heranças familiares e culturais; os fatos indesejáveis e as
determinações estruturais são o motor e a matéria para fabulação de uma vida
humana: a imagem íntima de quem sou chamado a ser, ou, a promessa que
carrego dentro da substância pessoal que sou, também é circunstância a ser
reabsorvida e não posso negligenciá-la, sob pena de não ser. Antes de qualquer
determinação existencial, existe aquela que se imiscui com a própria pessoa,
dada na criação, e que inclina, inspira e ressuma por toda a biografia como um
relógio que sempre diz a hora exata: a ela se deve atender, admitir e confessar.
Eu nasci para isto, como disse o Cristo.
Por isso temos de onde partir. E este lugar é ontológico, não existencial,
biográfico ou psíquico. Na medida em que é vivido e assumido, torna-se
também existencial, biográfico e psíquico, mas vem antes de tais dimensões. É
Por Que Não Somos Felizes? | 20
Viver é Trabalho Poético
literalmente meu quem, a realidade que pode ser conhecida conforme encarnada
e projetada nas trajetórias pessoais. Assim, temos que a vida de cada, a vida de
homens e mulheres de carne e osso, é uma constante perseguição de si – não
como errante, sem qualquer mapa que o valha –, mas como destinados a ser
exatamente aqueles que Deus sonhou que fôssemos e que não pode ser sem
nossa anuência. A realidade-promessa que pode dizer, a cada altura da vida
e com base na ciência de si e de sua origem, se “tem sido” quem deve ser e
ninguém mais.
Se não usamos muito a palavra felicidade até aqui, foi porque não se deve
aplicar conceitos isolados, estanques à realidade humana. É dever perscrutarmos
nossa realidade no máximo de nossas forças e rejeitar qualquer visão abstrata e
descarnada do homem. A antropologia dos cientistas contemporâneos talvez seja
absolutamente lógica e, ao mesmo tempo, falsa. Isso porque falam do humano
como quem trata da chuva, dos números e das “determinações” pulsionais, por
exemplo. Não aceitamos esta perspectiva da vida humana. Eu, particularmente,
abomino todo e qualquer abstracionismo, erro comum aos gênios vazios que
leem muito e sabem pouco.
Felicidade, como já disse, é assunto pessoal e por isto mesmo diz respeito a
uma realidade que deve ser conhecida como a única capaz de possuir tal bem. E,
antes que mergulhemos na filosofia da felicidade, é preciso que apontemos para
aquilo que tenho chamado “almas de algodão”: as vidas humanas que perdem
suas substâncias e dificultam qualquer meio de felicidade.
Por Que Não Somos Felizes? | 21
3
Existências Fantasmais
T alvez este seja o capítulo mais deprimente deste livro. Peço desculpas
ao leitor, mas faz-se necessário. Um pouco de sociologia, ao estilo de
Gilberto Freyre ou do próprio Ortega y Gasset, não faz mal a ninguém. Ajuda-
nos a compreender o estado de coisas e a tatear com maior intimidade o objeto
que nos importa: a felicidade.
Sempre fui um tipo de homem mundano: gosto de estar entre as pessoas, seja
de que estilo forem, e conhecer o que faz parte de suas realidades, seus gostos
e opções. Nunca me senti tentado a uma vida isolada, fosse num mosteiro ou
dentro de um apartamento, rodeado de livros. Sem excluir minha perspectiva
cristã da realidade, deixei que ao longo dos anos as presenças do mundo fossem-
me apresentadas pelos seus maiores defensores.
Escutei todo tipo de música, de debate, de porcaria. Assisti a algumas novelas,
filmes americanos, europeus e japoneses; propaganda política, jogos olímpicos,
programas de culinária e reality shows. Tenho gasto, acima disso tudo, parte
da minha vida para assistir a pessoas de carne e osso; que trabalharam comigo,
que são próximas a mim, que são amigos ou, ainda, aqueles que me procuram
para realizar atendimentos individuais, nos quais falamos sinceramente
sobre biografia, sentido de vida, mentiras e vícios. Enfim, esta minha falta de
preconceito com o mundo – que nunca enxerguei como inimigo, mas como
realidade a ser absorvida – me permitiu acessos e conhecimentos que servem,
hoje, de matéria para minhas aulas, cursos, livros e, por que não?, alargamento
da minha própria vida. Um sujeito que cresceu numa cidade de 70 mil habitantes
e passou a morar na capital do estado com dezessete anos, sem conhecimento
literário algum (ou de arte, em geral), foi “salvo” em alguma medida justamente
por tal interesse na vida humana, fosse ela apresentada na televisão, na festa
paroquial ou na convivência escolar.
Por Que Não Somos Felizes? | 22
Existências Fantasmais
Baseado no que “assisto” diariamente posso afirmar que vivemos um tempo
de crise pessoal: perderam-se as substâncias. O que vemos é uma Babilônia sem
precedentes, na qual “ninguém” tenta falar com “todo mundo” e “todo mundo”
não quer saber de “ninguém”. As redes sociais, por exemplo, deram ainda mais
visibilidade ao quadro real: é incrivelmente deprimente a ausência das pessoas, as
formas farsescas, vulgares ou massificadas de vida que substituíram a realidade-
promessa. É esta ausência que permite que grande parte das pessoas assuma
algum personagem. Por que permitimos que tantas vozes falem numa mesma
vida que, por origem e vocação, deveria ressumar por todo sempre a própria
substância? Por que aceitamos que a multidão tome forma e crie morada dentro
de nós?
Para mim, uma das conquistas mais admiráveis da filosofia grega, corroborada
e aprofundada pelo cristianismo, foi a consciência da individualidade. Há, pelo
menos desde Sócrates, uma instância na qual todas as outras vozes se calam
porque são deixadas para fora no umbral da intimidade – reduto radical
“conquistado” ao longo do tempo. Apenas em posse deste reduto um homem
pode falar em próprio nome, sendo o autor verdadeiro da própria vida.
Falar em nome dos outros, do partido, da instituição, da classe profissional
ou do professor é o arremedo de conversação que nos restou, depois de sucessivas
investidas contra a realidade da intimidade e a inviolabilidade ontológica da
substância humana: a pessoa criada, irrepetível. Por maiores que sejam os gritos
de toda parte, de todos os cantos da sociedade, continua a resistir a realidade
pessoal – ainda que por baixo de tantas camadas de mentiras, generalizações,
abstrações, lugares-comuns e falsas instalações existenciais que legitimam os
mais diversos personagens que encarnamos para conviver neste circo moderno.
E se levarmos em conta a teoria de Nassim Taleb em Antifrágil, devemos lembrar
que resistir não basta: para sobreviver ao estado farsesco de coisas é preciso agir
sobre ele, atuar com a força da personalidade que só pode ser forjada no fogo do
próprio mundo – entendido como toda a realidade que toca a vida individual.
Mas a multidão invadiu o foro privilegiado em que devemos habitar como
indivíduos (e desde “onde” conquista-se uma personalidade). A dignidade,
altura e profundidade a que somos chamados deu lugar ao esvaziamento, à falta
Por Que Não Somos Felizes? | 23
Existências Fantasmais
de elegância, ao superficialismo e aos mais abjetos modos de vida assumidos.
Isto me faz lembrar minha professora, Luciane Amato, comentando a notícia
que lera sobre uma profissão japonesa: babá de tamagotchi (aquele brinquedo
em que se “cuida” de um bicho virtual). Rindo, ela me dizia: que vida é esta e
que destino é este o de um babá de tamagotchi? Tente imaginar o sujeito que
passou uma vida cuidando dos “bichinhos virtuais” dos outros — para que eles
não morressem, of course — chegando diante de Deus depois ter morrido.
— E você, meu filho, que fizeste?
— Cuidei de tamagotchi, Senhor.
Tragicômico, no mínimo. A leitura das obras de Theodore Dalrymple
dá uma idéia atualizada do que se passa com as pessoas nestes tempos de
mediocridade admitida como possibilidade legítima. Livros como A Vida na
Sarjeta são uma fotografia nua e crua de nossa realidade tamagotchi. O autor
fala do vitimismo imperante, da falta de compromisso, da ausência de valores
verdadeiros na vida das pessoas; da falta de amor, sacrifício e do mínimo decoro
existencial. Uma baixeza só, um grande horror. José Ingenieros também fez seu
diagnóstico no célebre O Homem Medíocre. Bibliografia da “queda” ou perda
da substância pessoal é o que não falta. Muito menos literária: em meu livro
de estreia, Abertura da Alma, analiso O Vermelho e o Negro, de Stendhal. Na
história, o romancista francês trata do alpinista social, dando uma imagem,
talvez a primeira da literatura, das possibilidades mais baixas da vida humana a
que alguém pôde aspirar e querer ser respeitado por isso.
O que foi que nos aconteceu? Como permitimos que Bruna Surfistinha fosse
biografia, Romero Britto artista, pedofilia uma idéia defensável?
Os exemplos pululam; uma verdadeira miríade, presente na televisão, no
cinema, na conversação diária, na convivência familiar, no trabalho e na política:
se prestarmos atenção, tudo parece falar de uma mesma ausência. As pessoas
não estão lá, na TV ou no trabalho; estão ausentes de si, fragmentadas em
tantos pedaços que não é possível mais contar. Tornaram-se personagens falsos,
impotentes e incapazes de suportar a própria promessa. Em outras palavras,
existências fantasmais: por elas atravessamos sem qualquer resistência e nelas
não reconhecemos qualquer substância que dê peso às suas vidas. É o ideal
Por Que Não Somos Felizes? | 24
Existências Fantasmais
do homem-massa, diria Ortega y Gasset: querer ser idêntico a “todo mundo”,
encontrando paz na unanimidade. Vozes dissonantes são um perigo; é preferível
acompanhar o bando, desejando o que todos desejam – como descrevera René
Girard em sua teoria mimética. A cada dez pessoas que conheço, oito querem
as mesmas coisas; usam os mesmos chavões, recorrem aos mesmos lugares-
comuns e defendem-se com o mesmo tipo de falsa certeza que alimentam a
fim de não sucumbirem. Entre uma fala e outra, soltam uma frase de algum
livro de auto-ajuda ou pérolas do tipo “acho superimportante se aprofundar nas
coisas”. Eu, do outro lado da mesa, penso secretamente: acho superimportante
conversar com gente de verdade. Torço para que aquele outro diga algo que não
espero e já não presumo de seu reduzido repertório. Posso afirmar que espero
ser surpreendido e, graças a Deus, uma vez ou outra sou.
No curso que gravei durante o ano de 2015 – A Vida Humana – usei de
quatro aulas para falar da substância pessoal e sobre a importância desta intensa
presença no mundo. Justamente queria confrontar os ouvintes, ameaçados pelos
modelos falsos de vida, fantasmais, com o que sabemos ser nosso ideal desejável.
Tratando do mapa do mundo pessoal, disse, tentando alertá-los (e demovê-los)
de que existem pessoas insubstanciais. O que é uma “pessoa insubstancial”? É
aquela que não possui a própria realidade, que tem um repertório de vida muito
pobre. As pessoas com mais substância, na concepção de Julián Marías (de quem
empresto o conceito), são aquelas com grau máximo de realidade – e é nelas que,
como ele diz, podemos habitar: na convivência, somos convidados a habitar a
substância do outro, a fazer parte dela. A convivência amorosa e radical com
alguém altera nossa realidade, nossa imagem da vida, nossa cartografia; quanto
maior a realidade do outro, mais podemos habitar nela e sofrer sua influência. É
por isso que qualquer grande personagem da história determina o rumo coletivo:
o seu grau de realidade biográfica é tão grande que toda uma sociedade pode
habitar na sua substância e ser alterada por ela – como a sociedade francesa foi
alterada por Napoleão, por exemplo.
Isso também acontece nas relações amorosas: sempre vale a pena
perguntarmos se queremos ser alterados por uma relação, se vale a pena conviver
com aquela pessoa e habitar sua realidade, permitir que ela altere nossa cartografia
Por Que Não Somos Felizes? | 25
Existências Fantasmais
e nossa imagem de vida; e devemos ter total liberdade para decidir, porque esse
questionamento é justo, plenamente legítimo. Podemos mesmo dizer que uma
das propriedades da substância humana é sua intensidade: há pessoas intensas
e pessoas insubstanciais. No ser humano maduro, a intensidade se revela na
gravidade da sua vida, no peso da sua existência. Sabemos que estamos diante
de alguém mais intenso quando, por meio da sua presença, mais da gravidade
do mundo se revela; e que estamos diante de uma pessoa mais insubstancial
quando, na convivência com ela, menos da vida se revela.
Voltemos à realidade do nosso tempo, tendo viva a imagem da pessoa
intensa: hoje, homens comportam-se como meninos; mulheres, como massa
falida. Naqueles não vemos gravidade e nestas a graça já não se mostra. O vulgar
foi admitido em nosso meio, assim como o feio passou a ser ovacionado e a
mentira ganhou ares de bem desejável. Estou firmemente convicto de que não
há precedentes na história (ou existiu um Lula antes de Lula? Funk? Reality
Show?). Não, são invenções de nosso tempo e a desolação não vem do fato de
apenas existirem, mas de serem convidadas a partilhar da mesa de nossas vidas.
A família reunida para almoçar divide-se entre a atenção à comida e à TV ou
ao telefone celular. A conversa de salão de beleza que a mulher tinha com a sua
manicure agora é digna do tempo do terapeuta ou da discussão com o marido. O
homem, por sua vez, prefere o ócio à atividade, o que resulta numa impotência
pessoal e que muitas vezes gera sintomas sexuais.
Fantasmas não têm vida e por isso mesmo só lhes resta cobiçar a dos outros.
Qual não seria a explicação para tanta projeção em relação aos personagens
de telenovela ou cinema? Toda aquela multidão de gente assistindo àquelas
histórias bregas, românticas e indignas de nossa realidade, iludindo-se a respeito?
Exigindo do companheiro um comportamento semelhante ao do mocinho sem
testosterona da telinha? Ou imaginando a mesma “boa vida” do personagem que
não trabalha, não estuda e tem tudo que quer, causando inveja a qualquer um? São
fantasmas e infelizes porque perderam suas vidas; condenados a uma existência
sem sentido, degradante e insuficiente. Contentam-se momentaneamente com o
alívio da projeção no faz-de-conta pueril ofertado pelos meios de comunicação
de massa. É tanta falta de intimidade consigo, tanta distância em relação a si
Por Que Não Somos Felizes? | 26
Existências Fantasmais
mesmo e ao umbral da pessoalidade que os distingue essencialmente do “resto”,
que a vida realmente já não é mais aquele “sentimento trágico” de Unamuno.
A existência fantasmal é uma não-existência: mentirosamente leve, passa pelo
mundo sem deixar qualquer marca. Atravessa e é atravessada. Não resiste. Não
impõe. Não confronta. Não morre, porque já está morta.
Flutua, perdendo o contato com o mundo. Era Ortega y Gasset quem dizia que
com o mundo eu tropeço, e este encontro mais ou menos desajeitado determina
muitas coisas na minha vida. Uma delas, inclusive, o modo como nele me instalo.
Posso tentar fazer desta realidade um passeio, como talvez desejasse Tim Maia
e sua filosofia do sossego; posso transformá-la numa constante revolução, como
um marxista que odeia o lugar em que está; posso, também, absorver o tropeço
e torná-lo um encontro.
Não devo amar o mundo, nem odiá-lo. Preciso admiti-lo e saber que sem
os pés neste mesmo mundo tudo perderá a gravidade e o peso. Aliás, peso e
gravidade são condições para o Paraíso, onde não existem fantasmas – vultos
insubstanciais –, mas realidades já desprovidas de ilusão. Iludidos, os fantasmas
que vemos por aí acreditam que a solução é menos peso, menos força, menos
problema, menos resistência, menos gravidade. Por isso, não conseguem
deixar de lamentar o que não têm, não são, não podem comprar ou viver. Se
você seguiu meu raciocínio até aqui não terá dificuldade de chegar à mesma
conclusão: desfazer-se das ilusões sobre o “menos” é antecipar o Céu. Ou seja:
a cura da existência fantasmal só pode vir de uma sincera confissão da própria
irrealidade e a consequente reabsorção da substancialidade pessoal. É preciso
que quem esteja vagando pelo mundo sem nele tocar admita-o e movimente-se
em direção ao que é. Queira sobre os ombros, novamente, toda a tensão da vida
humana, sua responsabilidade e destino últimos.
Como disse acima, há quem sonhe com uma vida sem resistências, plena
de alegrias e realizações. Pois é preciso perder as ilusões: apenas depois da
morte tudo será “mais”. Aqui também o Paraíso funciona como promessa, só
alcançada com a execução do próprio argumento biográfico de forma radical.
Esta intransigência com a vida individual, com as trajetórias que mais lhe dizem
respeito, é o que pode lhe proteger de uma existência fantasmal fundada nas
Por Que Não Somos Felizes? | 27
Existências Fantasmais
ilusões sobre este mundo e que são perpetuadas por todos aqueles que não
sabem esperar, não querem suportar e não têm sensibilidade para neste mesmo
mundo enxergar as delícias da promessa. Quem de nós pode negar a presença
da beleza, bondade e verdade no mundo? Quem não reconhece que o que é feio
e sujo é imundo, portanto, diferente do mundo?
Essa confusão a respeito da “densidade” da vida humana, de sua
substancialidade e tragicidade, leva um grande número de homens e mulheres
a confundir felicidade com bem-estar, qualidade de vida ou prazeres sem
medida. A perspectiva, nestes casos, é a do refém existencial, que vive à espera
da benevolência de seu opressor, torcendo passivamente para que nada pior lhe
aconteça.
Reféns têm poucos meios de ação e dependem das concessões para poder
fazer qualquer coisa. Um sequestrado, por exemplo, precisa da permissão de seu
sequestrador para ir ao banheiro. É uma condição impotente, de quem conta um
pouco com a sorte, um pouco com o engenho, um pouco com o cumprimento
das promessas pelo algoz.
Num outro módulo de aulas do curso A Vida Humana, em que abordei a
realidade do “homem-massa”, falei dessa crença terrível que cultivamos desde
as revoluções dos séculos XVII e XVIII e que infundiram a noção «errônea» de
vida confortável.
Desde que o homem não reconhece mais a gravidade, hierarquia e pressões
normais da vida, passou a enxergar a existência como um passeio: todo
impedimento a uma biografia preenchida de prazeres e alegrias é uma afronta
da realidade. O homem-massa sente-se desrespeitado quando não pode viver
como deseja. Mas a verdade, o fato mais incontestável, é que a vida é dura. A
dignidade da vida humana reside, também, em suportar as forças contrárias,
sacrificar, sofrer, superar, absorver circunstância. Tudo, para o homem real, é
matéria de realização pessoal. As crenças de hoje só corroboram as existências
mimadas, assim definidas por não terem obstáculo à miríade de desejos que
as define. O homem nobre é um homem especial: junta obstáculos para si,
estabelecendo leis que o transcendam e exijam uma vida de esforço e superação.
Diferente da massa, ele não se compraz na homogeneização.
Por Que Não Somos Felizes? | 28
Existências Fantasmais
Infelizmente, muitos vivem torcendo de modo passivo para que a realidade
não lhes teste nem resista, e com isto possam seguir usufruindo da vida como
quem passeia pelas calçadas dos anos. Notícias de dor, sofrimento e dificuldades
soam como terríveis choques de uma realidade que parece não lhes dizer respeito.
Por isso, quando questionados sobre o sentido da vida ou o que seria uma vida
feliz, respondem coisas do gênero “ter saúde e viver sem preocupações”. Eles
não estão inteiramente errados no que aspiram para serem felizes; mas erram
na proporção e horizonte vislumbrados. Entendem que “tendo aquilo, o resto
dá-se um jeito”. Têm uma medíocre consciência do destino que lhes foi ofertado,
ou de todas as responsabilidades humanas que lhe são confiadas no nascimento.
Padecem de um horizonte tão curto que qualquer outra informação a respeito da
gravidade e peso da vida pode ser fatal em suas pretensões biográficas. Por isso,
costumo dizer que são almas de algodão: o menor contratempo, a mais mínima
resistência da realidade a seus pobres planos, já é suficiente para desfazê-los.
Alguém que viva um drama existencial sério e ainda cumpra com seus deveres,
assuma suas responsabilidades civis, políticas, familiares etc., soa como um
super-herói, alguém invejável.
Por quê? Estas almas de algodão, reféns das benesses da realidade – que, para
elas, deixa de ser boa no instante em que não oferece mais o presente, o gozo, o
prazer, a fruição irrestrita – formataram suas vidas em torno de algumas crenças
modernas (e ridículas) como a da qualidade de vida. Bem-estar tornou-se lugar
comum e já não sabemos muito bem o que isto quer dizer. Seria ausência de
dor? Garantia de prazer? Falta de incômodos físicos e emocionais? Afinal, o que
significa “qualidade de vida”? Conta bancária recheada, comida bem temperada,
acesso à piscina, conforto em casa? É esta a “vantagem que Maria leva”?
A noção de felicidade não pode prescindir da apurada noção de prazer. Este,
que as almas de algodão buscam como dependentes, é um instante agradável em
meio às tensões da existência. Serve para nos manter de pé; ajuda a suportar os
dias mais duros, as fases da vida mais complicadas. Mas, não, prazer não é um
direito do homem nem indispensável à felicidade. A crença de que nascemos para
usufruir das coisas e de que nosso destino é configurado pelo aproveitamento
agradável da vida é, no fundo, uma das grandes mentiras contadas e recontadas
Por Que Não Somos Felizes? | 29
Existências Fantasmais
desde a Modernidade. Serve, como eu já disse, para criar sociedades neuróticas,
cheias de indivíduos insatisfeitos, “podres de mimados”, para aludir a Dalrymple.
A busca frenética pelo prazer é um dos elementos que nos desinstalam da
vida, aproximando-nos da fantasmagoria, tornando-nos reféns existenciais.
Pense no seguinte: quem suportaria viver uma vida inteira de prazeres? A
todo momento, em toda intensidade, apenas prazer, prazer, prazer? Gozo sem
limites? Eu respondo: ninguém aguentaria isso. Sexo pode proporcionar prazer,
e por isso gostamos de praticá-lo. Entretanto, tente imaginar a prática sexual
constante, quase ininterrupta por dias. Ainda seria prazeroso? Existe ou não um
“limite” desde o qual o prazer pode se tornar dor? Isto se aplica a comer, viajar,
conversar com gente boa etc.: todas essas atividades prazerosas, se levadas às
últimas consequências e praticadas desmedidamente terão consequências
contrárias das desejadas, causarão desconforto, incômodo, dor ou problema.
O que precisa ficar claro é que o prazer é um componente importante da vida
humana e pode aliviar as tensões da existência que, estruturalmente falando,
é condicionada pela imperfeição, incompletude, insatisfação, esforço. Não
precisamos concordar com Kierkegaard ou Nietzsche, que por motivos diferentes
afirmavam que a vida era desespero e fim. Não estou aqui concordando com eles
ou subscrevendo suas defesas da vida após a morte como única aprazível, ou do
super-homem como único tipo suficientemente forte para seguir vivendo no
mundo. Não, eu não vejo o mundo como vale de lágrimas – não neste sentido.
Pelo contrário, vejo-o como criação Divina, desejado por Deus e única fonte
material com a qual ajo para salvar minha vida. Sim, é contingente, limitado e
sem a plenitude dos céus. Mas é o mundo que me foi dado para realizar minha
promessa e conquistar a eternidade.
Nossa condição, para falar de modo cristão, é a de mendigos (“O homem é o
mendigo de Deus”, afirmou Santo Agostinho): como tal, confiamos na promessa
de que nos basta Sua graça. Temos o que precisamos para, tropeçando neste
mundo e dele extraindo as matérias da vida, escrever nossas histórias pessoais
de modo a merecer a plenitude. Isso é bem diferente da posição passiva dos
reféns que esperam gratuitamente que apenas o agradável lhes aconteça. O
mesmo José Ortega y Gasset disse que “a vida é feita do que eu faço e do que
Por Que Não Somos Felizes? | 30
Existências Fantasmais
me acontece”; portanto, há uma dimensão ativa, inquisidora e producente
que nos impele a fazer, eleger, decidir e antecipar nossas trajetórias. Outra
dimensão passiva, sim, mas apenas naquilo que não lhe compete decidir, eleger
ou antecipar: naquilo que se lhe impõe pedir para receber, como a figura do
mendigo. É uma passividade, no caso, não estática: mesmo em aparente repouso
está em movimento. O mendigo inclina-se em direção ao senhor e vai ao seu
encontro, reclamando seus direitos legítimos herdados na promessa.
Pedi e recebereis.
É o que precisamos recuperar, a fim de salvarmos nossas substâncias pessoais
e podermos arguir existencialmente a favor de nossa felicidade: o mundo tem de
ser absorvido de modo ativo, virtuoso e autoral, ao mesmo tempo em que toda
a alegria, bem e graças possivelmente dispensadas a cada um sejam recebidos
como cumprimento de uma grande promessa. É a delicada tensão entre força e
suavidade, atividade e docilidade: elas não se excluem, mas só andam juntas numa
alma que sabe de sua própria condição e deposita as esperanças mendicantes
num Promissor verdadeiro.
Ou isto, ou antidepressivos.
Por Que Não Somos Felizes? | 31
4
Felicidade Segundo
Aristóteles e Julián Marías
D ificilmente você encontrará um livro sobre felicidade que não trate da
concepção aristotélica desta ânsia humana. O Estagirita, como também
ficou conhecido o discípulo de Platão, deixou uma profunda e genial abordagem
sobre o tema, encontrada especialmente em sua obra Ética a Nicômaco. O que
farei aqui é uma espécie de resumo comentado às principais idéias do filósofo
a respeito, sem a pretensão de esgotar qualquer explicação, mas sim de situar o
leitor, ajudando-o na compreensão da “tese central” deste livro que apresento.
Tenho absoluto respeito por este filósofo e digo, de antemão, que nenhuma
explanação (a mais didática possível) substitui a leitura atenta e repetitiva da
sua obra original. Também indico, para quem deseja conhecer melhor a visão de
Aristóteles sobre este e outros temas, um estudo introdutório interessante, feito
pelo grande professor Mortimer J. Adler: Aristóteles para Todos.
Aristóteles começa sua Ética afirmando que toda arte, investigação, ação ou
eleição parecem tender para algum bem. Isto é decisivo para compreender seu
pensamento sobre felicidade: ela não está desconectada da ação, nem do bem.
Não pode haver um homem feliz sem que para isso ele tenha praticado algumas
ações boas, verdadeiramente virtuosas, e que o seu acúmulo momentâneo seja
justamente o estado feliz em que possa se encontrar. Trocando em miúdos: feliz
é quem possui bens. Por isso a ética aristotélica é também chamada de material.
Está intimamente ligada à noção de posse (de onde tirei a proposição central
deste pequeno livro) que oferece àquele que possui o prêmio da virtude, ou seja,
a felicidade.
Mas, que bens são estes que podem trazer a felicidade a alguém?
Já sabemos que os homens agem tendendo para o bem. Parecem constantemente
buscá-lo e tê-lo consigo. No primeiro capítulo eu falei da inclinação natural do
ser humano, que tem em seu coração inscrita a lei da perfeição, o motor de seu
Por Que Não Somos Felizes? | 32
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
movimento no mundo. Não gostamos – salvo exceções doentias ou de pura
ignorância – do que é ruim, mau, pernicioso e aviltante. O “normal” é que todos
nós queiramos, pretendamos e busquemos o que consideramos bom. Por isso,
felicidade consiste também numa finalidade: é uma espécie de destino imposto
ou, nas palavras de Julián Marías, o impossível necessário que impele a viver e
querer mais bens, mais vida, mais posse.
Portanto, segundo Aristóteles e Julián Marías (de quem falarei mais em
seguida), buscar a felicidade é uma tendência natural. É a finalidade da vida
humana: ser feliz. Nas palavras de Santo Agostinho, “a posse (fruição) de Deus”.
Quem não quer algo assim? Quem, em sã consciência, pode afirmar que a
felicidade não lhe interessa, ou que sua vida é boa por ser infeliz? Obviamente
isto é impensável. Novamente, a normalidade nos permite dizer que os homens
querem ser felizes porque este é o seu destino, e que não podem sê-lo sem tomar
posse de bens verdadeiros.
Mas o leitor pode estar se perguntando: o que é um bem? Respondo: é a
função de uma realidade. Por exemplo: a visão é a função do olho. Portanto, este
é o bem: a visão. Quem não quer ver?
Mas assim como existem bens do tipo da visão, existem outros: dinheiro,
honra, força, sabedoria etc. Aristóteles percebeu que tão natural quanto a
inclinação do homem para os bens são as diferenças entre os bens que existem
na realidade. Não podemos colocar em pé de igualdade a saúde e a riqueza.
Ambos são bens, mas de magnitudes diferentes. Existe, assim, uma hierarquia
dos bens, sendo que os mais altos (ou nobres) são aqueles que satisfazem
desejos inerentes à natureza humana. É o que ele chama de bens desejáveis, pois
deveríamos desejá-los sempre, para nossa felicidade.
É a diferença básica entre o que eu preciso e o que eu quero. Roupas boas,
eu quero; comida, eu preciso. O primeiro tipo de bem está ligado a um apetite
adquirido ao longo da minha vida (aprendi a gostar de me vestir bem, com
roupas elegantes, caras etc.). Já do segundo eu necessito.
E dos bens que necessito, nem todos são indispensáveis à manutenção física
da vida. Assim como existe a necessidade de comida, existe a de conhecer. Este
é um bem, do tipo verdadeiro e necessário, a que nenhum ser humano pode
Por Que Não Somos Felizes? | 33
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
dar as costas. Por natureza o homem deseja conhecer, disse Aristóteles. É tão
natural quanto comer, e percebemos isso num bebê, ainda no ventre da mãe,
que absorve todas as coisas que lhe acontecem por intermédio do corpo da
genitora. Depois que nasce, desde o primeiro dia até o último, não consegue
“não conhecer”, seja pelos livros, pela experiência acumulada, pela conversação,
convivência, imaginação etc. Não há como um homem não conhecer, por mais
limitado que ele seja cognitivamente ou mesmo em alguns dos seus sentidos
(visão ou audição, por exemplo). Em outras palavras, quer dizer que nós sempre
nos adaptaremos ao mundo conhecendo-o.
Recapitulando: felicidade é uma busca natural no homem, que por meio
das ações que pratica no mundo aspira aos bens dispostos na realidade. Estes
bens são necessários ou não, e por isto existe uma hierarquia, à qual todo sábio
presta atenção a fim de não buscar com maior intensidade os bens de menor
importância.
É o que precisa ficar claro agora: se existem tantos seres humanos no mundo,
não haveria tantas formas de felicidade?
Não, responde Aristóteles.
Os bens existem de forma heterogênea e são buscados pelos indivíduos
segundo seus apetites (desejos) adquiridos e consentidos. Entretanto, bens
necessários são bens necessários e valem para todo e qualquer ser humano,
em qualquer tempo ou espaço. Significa dizer que por mais que possamos nos
diferenciar quanto aos bens que desejamos individualmente – como viajar para
Paris, no meu caso, e ir a um congresso de Medicina Legal, no seu –, os bens
naturais e necessariamente desejáveis são os mesmos para nós dois (como comer
e conhecer). É por isso que Aristóteles é taxativo ao afirmar que um mesmo fim
percorre todos os homens e que a felicidade é a posse das coisas realmente boas
(para qualquer um).
Se somos diferentes nos apetites (o querer), somos iguais nas necessidades.
E a felicidade seria, segundo ele, uma realização completa das necessidades
humanas, a começar pela biológica, mas jamais terminando nela. É preciso
comer, respirar, crescer, mas também ter amigos, ser amado etc. O “pulo-do-
gato” está justamente no fato de que os bens necessários precisam continuamente
Por Que Não Somos Felizes? | 34
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
ser tomados, conquistados e reconquistados pela prática virtuosa, ou seja, pelos
bons hábitos adquiridos pelo indivíduo ao longo do tempo.
Hábito é uma predisposição adquirida. Exemplo: ano passado comecei a
fazer musculação. No começo era difícil, porque eu não estava habituado. Tinha
preguiça, achava desculpas para não ir, pensava que não teria grande efeito sobre
meu corpo. Vencendo a mim mesmo e às disposições instaladas, passei a repetir
esta ação de ir à academia com mais frequência até que ela se tornasse habitual
e, a partir de então, a inclinação interior passasse a ser maior pela atividade
criada do que pelo retorno ao estado de origem.
Assim criamos um hábito. E existem os bons e os maus. Um hábito
moralmente bom (virtuoso, portanto) é aquele que me ajuda na correta busca
dos bens. Ele dá a medida certa para que o alcance daquele bem seja excelente.
Para Aristóteles – e nisso os gregos em geral concordavam, como se vê no
teatro – não existem homens virtuosos que não tenham aspirado à excelência
(arethé). Das muitas maneiras que eu posso estudar, deve haver uma ideal e
possível. Qual seria? Encontrá-la é um desafio, sem dúvida, que só pode ser
vencido com auxílio dos bons hábitos e da vontade de excelência, máxima
perfeição que nos é concedida. E a justa medida – este é o ponto em Aristóteles
expõe a teoria do justo meio – é uma brilhante estratégia aristotélica: o bem está
entre os extremos, exatamente no meio entre o excesso e a falta.
Comer é um bem, já sabemos. Não comer (falta) trará danos ao meu corpo
e, possivelmente, a morte. Comer muito, sem controle, também poderá me
fazer mal e, em casos extremos, me levar à morte. Onde está a excelência nesta
ação que é comer, e da qual extraio o bem que é nutrir-me? No justo meio, na
alimentação sem excessos nem faltas.
Para mim, a genial concepção aristotélica da felicidade e sua busca pode ser
coroada com uma breve reflexão a respeito das atividades humanas. Eu e você
queremos ser felizes, e nós dois reconhecemos que há pessoas aparentemente
mais felizes do que outras. O que aprendi com Aristóteles foi o motivo,
genericamente falando: os mais felizes realizaram as atividades mais perfeitas,
e de modo mais excelente, enquanto os outros gastaram muito tempo de suas
vidas desejando o que não é desejável em si mesmo, possuindo os bens que não
Por Que Não Somos Felizes? | 35
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
podem oferecer felicidade.
A felicidade é o Sumo Bem, diria o filósofo. É a soma destas melhores
atividades, realizadas virtuosamente por aqueles que empregam com ordem e
harmonia sua capacidade de decisão, eleição, ação etc. Simplesmente não pode
ser feliz quem ama os objetos errados, as realidades pouco ou nada amáveis.
Não pode haver, da parte deste indivíduo, uma revolta em relação ao mundo
porque este lhe foi cruel e lhe impôs uma vida miserável e infeliz, por exemplo.
O “mundo” não impõe infelicidade a ninguém. Se você juntar os últimos
parágrafos com o capítulo anterior, verá que felicidade é busca pessoal daqueles
que amam o que é amável, e por isso são capazes de sustentar suas vidas sem ter
a visão nublada pelos apetites desnecessários.
Antes de qualquer exposição resumida do pensamento de Julián Marías
acerca da felicidade, é preciso que eu deixe bem claro o quanto este filósofo
me influenciou (e continua influenciando). A idéia deste livro, por exemplo,
surgiu após sucessivas leituras e reflexões sobre os temas tratados no curso A
Vida Humana, gravado durante o ano de 2015, e no qual me utilizei de diversas
obras do pensador espanhol. Uma, em especial, interessa aqui: A Felicidade
Humana. Li anos atrás e desde então assumi uma perspectiva sobre o assunto
– muito próxima daquela contida no livro em que Marías trata da felicidade
como impossível necessário. Seus escritos, sua vida e sua forma de filosofar
foram realmente determinantes em minha vida e nas trajetórias que segui a
partir do mundo que ele me abriu. Também por isso indico duas obras que
servirão àqueles que desejarem conhecer melhor este autor que é, sem sombra
de dúvidas, meu modelo de filósofo: Uma Vida Presente (Memórias) e Julián
Marías, Retrato de um Filósofo Enamorado (de Rafael Hidalgo Navarro).
(Voltando às dívidas impagáveis que tenho com ele). Por exemplo: esta
visão responsável e inédita sobre a vida humana e tudo que faz parte dela.
Não é simplesmente um existencialismo, nem uma psicologia pueril, mas uma
Por Que Não Somos Felizes? | 36
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
investigação verdadeiramente interessada e radical desta realidade que é, ao
mesmo tempo, a mais imediata e a mais transparente para cada um de nós.
Imediata por ser a primeira, a que me toca desde o nascimento e de forma
incessante (pois eu sou homem e tenho uma vida humana). Transparente
porque, justamente sendo tão “minha” e natural, falta-lhe a estranheza do objeto
desconhecido, a distância que me desperta o olhar interessado e que me faz
enxergar o conhecimento pretendido. Por ser tão minha e sempre minha, a vida
humana se torna transparente – difícil de ver.
É o que Julián Marías diz em seu livro sobre a felicidade também. Este tema, ou
realidade humana, assim como todos os temas da nossa vida, tem sido renegado
pela filosofia ao longo do tempo, em virtude de sua dificuldade e transparência.
Os filósofos – uma grande parte, pele menos – efetivamente fugiram dos
assuntos pouco domesticáveis. Por isso, diz o autor de A Felicidade Humana,
vida humana, amor ou felicidade “sumiram” dos dicionários e enciclopédias
filosóficos. É preciso, assim, remediar tais ausências.
É o que faz Julián Marías e é o que tento fazer com meu trabalho sobre a vida
humana. Tornar patente, vencer parcialmente a transparência, aquilo que nos
toca de imediato e sem o qual não há vida humana.
Toda a minha gratidão ao grande pensador espanhol por ter-me aberto a
esta perspectiva, por ter despertado em mim uma necessidade consciente de
resgate dos temas propriamente humanos.
E o que diz Julián Marías sobre a felicidade?
Primeiro, aponta um paradoxo: parece que estamos de acordo – todos nós,
homens e mulheres – de que a felicidade, neste mundo, resulte impossível.
Entretanto, nenhum de nós abre mão de buscá-la. Ou seja: o Sumo Bem
aristotélico funciona como uma realidade atraente que move a cada um de nós
e que não pode ser plenamente alcançada antes da morte.
Este seria um dos motivos do homem ser descontente por natureza. Enquanto
os animais, pelas razões já expostas em capítulos anteriores, estão satisfeitos com
suas vidas, nós somos marcados pelo descontentamento, pois sabemos que há
um mundo a ser conquistado (interior e exteriormente) e que nossa realidade
em aberto permite este trânsito dramático entre o que somos e o que queremos
Por Que Não Somos Felizes? | 37
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
ser. Como escreve Marías, “o homem consiste em tentar ser o que não pode ser,
e isto é o que chamamos viver”. Nós nos movemos no elemento do contento,
mas nos pertence (inevitavelmente) o descontento.
Ainda: a realidade dramática e sucessiva que somos impõe que a posse da
própria vida seja imperfeita. Além do descontentamento com o que já se é,
existem os limites quanto ao que se sabe de si e ao se possui de si. Como nossas
vidas acontecem no tempo, dia após dia, e são feitas de tempo, de história,
e o que sei a meu respeito hoje mudará amanhã com o passar do tempo, de
mais um dia, de mais algumas experiências que virão e me alterarão enquanto
realidade radical. Não sou o mesmo de ontem, apesar de uma série de realidades
continuarem sendo dentro de mim. A discussão sobre a substância humana nos
remeteria às proposições aristotélicas, platônicas, tomistas e por aí afora. Por ora,
basta dizer que, segundo os pensadores espanhóis, o que somos é alterado pela
história que vivemos; nossa substância é “plástica” no sentido de que a realidade
pessoal muda conforme as decisões, trajetórias, experiências e conhecimentos
adquiridos ao longo do tempo. Sendo assim, a posse de si é sempre provisória
– como o presente, que chamo de conexão fugidia – e me entrega uma forma
instantânea, pronta para ser outra no futuro breve. Mas, então, se não podemos
alcançar a felicidade plena, se somos marcados pelo descontentamento, se nem
sequer possuímos inteiramente a nós mesmos e sofremos alterações pessoais
conforme as histórias vividas, o que nos resta? Qual a felicidade humana possível,
segundo Julián Marías?
Uma vida feliz, diria o filósofo espanhol, é aquela da qual podemos dizer
o melhor que pode ser dito. De todas as formas biográficas que uma pessoa
poderia assumir segundo suas escolhas e reabsorções das circunstâncias, aquela
(exatamente) que ela assumiu e está realizando neste momento é a melhor.
Portanto, ela é feliz.
E só pode ser assim, feliz porque está sendo a melhor que pode ser, porque
possui a si mesma de alguma forma e goza desta possessão. Sua felicidade está
intimamente ligada à realização das suas mais radicais pretensões – aquelas
que mais identificam seu ser e dão o caráter autoral da vida. Está instalada na
vida de modo a compreender os elementos em jogo e que compõem o estado
Por Que Não Somos Felizes? | 38
Felicidade Segundo Aristóteles e Julián Marías
(e não sentimento) de felicidade; consegue equilibrar as tensões normais que
envolvem vocação, inquietude, pretensões, insuficiência, destino e percebe que
a felicidade afeta a ela mesma, sua pessoalidade inteira, e não apenas uma parte
de si. Felicidade não é conteúdo da vida, mas um constitutivo da vida mesma,
em sua fundamentação e razão de ser.
Por fim, Marías afirma que enquanto o prazer afeta mais o passado (pela
repetição do gozo que tivemos e estamos tentando repetir no instante), a felicidade
afeta mais o futuro: está ligada à imagem de eu que temos e às pretensões de ser
que cada um estabelece para si segundo a matéria da vida que tem nas mãos, a
posse intermitente da própria realidade e o que imagina a respeito do destino
que projeta. Felicidade é “molde” da futurição e da antecipação de si. Está feliz
aquele que, julgando seu estado atual, reconhece que ele inclina-se na direção
do projeto que persegue pessoalmente; o balanço existencial, neste sentido,
aparentemente é positivo por aproximar esta mesma pessoa do ideal de biografia
que conserva dentro de si.
Em resumo, e usando das palavras do próprio Julián Marías, a felicidade é
uma resultante: “Quando isto acontece, se produz o preenchimento da própria
realidade programática, projetiva; os vetores que integram nossa vida, ao menos
o vetor ‘resultante’ que é nossa radical vocação, alcançam seu ponto; então a
felicidade acontece, nos toca ou afeta, nos enche... o tempo parece deter-se, e
sentimos o gosto de eternidade, precisamente porque o tempo segue correndo
sem estancar-se, como a água no remanso de um rio”.
Por Que Não Somos Felizes? | 39
5
Tese Central: A Posse de Si
É preciso, leitor, fazer uma cartografia do mundo pessoal. Neste ponto do
livro já deve ter ficado claro que a felicidade – ainda que eu não tenha
exposto a tese que justifica esta obra – é um processo análogo ao descobrimento
de um território: uma espécie de exploração que parte daquilo que melhor se
conhece e se dirige ao que é parcial ou inteiramente ignorado pelo explorador.
Fazer uma cartografia da existência é tentar desenhar para si mesmo quem
você é, onde está, o que quer; o que é realmente importante para você, e o
que não é. Aqui o perspectivismo de Ortega y Gasset nos ajuda grandemente:
é preciso aquilo que se vê e se conhece do mundo desde o único ponto em
que se é plenamente fiel testemunha: a própria vida. Por isso um verdadeiro
mapeamento pessoal exige sinceridade e a prática da confissão: “é isto que sou,
é isto que estou vendo, é exatamente esta a parte que me cabe deste latifúndio”.
Posso lhe adiantar uma coisa: não há gozo maior para alguém do que estar
instalado em seu devido lugar, expressando com a própria vida aquilo que é
realmente pessoal e intransferível. Há tantos homens e mulheres equivocados
quanto ao próprio destino que não é exagero dizer que carecemos de perspectivas
pessoais que deem conta – ao menos em algum sentido – da complexidade
e riqueza do mundo e, mais especificamente, da vida humana. É justamente
pela falta de posse de si, pela adesão a uma perspectiva genérica da vida e a
participação cega na imaginação moral da coletividade a que se pertence, que
os mesmos homens e mulheres sacrificam biografias inteiras em holocaustos
que ninguém (muito menos Deus) pediu. Religião, relações humanas, moral,
convivência, arte: quase tudo é passível de homogeneização, do qual o resultado
só pode ser o simplismo com que a maioria “explica” a vida humana, pontifica
sobre os mais espinhosos temas e fala com o farsesco tom dos professores
inseguros sobre reprodução das baleias e origem dos anjos. Nesta Babilônia
Por Que Não Somos Felizes? | 40
Tese Central: A Posse de Si
– alimentada também pelas redes sociais – é difícil encontrar alguém que
confesse radicalmente; que seja sincero a ponto de dizer as coisas exatamente
como está vendo, e não como gostaria de ver. Por isso um pouco do labor dos
poetas – mestres em expressar a impressão pessoal do momento – não faria mal
à sociedade dos reprodutores que suportamos.
No fim das contas, como já disse em algumas aulas dos cursos que profiro,
se trata de encontrar o sofá da vida (que significa a plena instalação pessoal e
a consequente felicidade por reconhecer seu mundo através do mapa traçado
conscientemente). Não podemos falar de felicidade sem uma verdadeira
investigação da própria vida, um mergulho na realidade radical. Afinal, é deste
mergulho que resulta um retorno substancial à superfície, como quem descobre
algo no fundo e emerge em posse do tesouro encontrado.
“Estou um pouco perdido.”
Esta é uma das frases que mais escuto dos alunos que atendo particularmente.
Eu me pergunto: em relação a quê? Todo aquele que se considera perdido está
se referindo a algum caminho que não encontra mais, um lugar que reconheça
como familiar. Quando estive em Paris pela primeira vez, por exemplo, resolvi
sair com minha esposa para caminhar. Era noite e nosso segundo dia na capital
francesa. Depois de um jantar, decidimos voltar caminhando para o hotel, que
“sabíamos” estar próximo. Porém, nos perdemos. Demos voltas e mais voltas e
as horas passaram. Nossa sensação era a de que não conseguíamos voltar para
o hotel, nosso lugar de origem e previamente conhecido. Por isso afirmo que
quem está perdido, o está em relação a algum lugar que conhece; é-lhe familiar
e ao qual sente a necessidade de voltar.
Há uma referência, neste sentido. Um “ponto no mapa” conhecido. E a
geografia pessoal nos auxilia agora: quando homens e mulheres dizem estar
perdidos, estão confusos em relação ao lugar de origem, à substância que lhes
Por Que Não Somos Felizes? | 41
Tese Central: A Posse de Si
define e se impõe como verdadeiro descanso. Como eu e minha esposa, ansiosos
por reencontrar o hotel que garantiria uma noite de sono, quem está perdido
existencialmente precisa revisitar a si mesmo, encontrando os caminhos mais
familiares que lhe reconduzirão à origem.
De onde, enfim, poderá sentar-se em sofá próprio.
É preciso que empreguemos outra metáfora – acréscimo à anterior. Imagine
que sua realidade pessoal é como um lugar, ao qual podemos chamar de reino.
Todas as suas dimensões – psicológica, social e substancial (anímica) – estão
dadas ali, conforme sua abrangência e determinação. No limiar do reino, fazendo
fronteira com o reino do outro, está sua dimensão social, que contém as crenças
e personagens assumidos socialmente, para fins de convivência e experiência
coletiva. Nesta dimensão – ou terreno do seu reino – ficam os conhecimentos
mais transitórios e menos pessoais; são, justamente, a borda que é influenciada
pelas expansões e alterações dos reinos dos outros. As relações estabelecidas
nesta parte do espaço são as menos comprometedoras. Um exemplo é o que
acontece entre você e um atendente de loja que serve a uma função – que poderia
ser desempenhada por qualquer outro.
Adentrando mais o seu terreno, começa a ser reconhecido um espaço mais
propriamente seu, mais íntimo e conhecido conforme o afastamento da entrada
ou limite do reino. É o que chamamos dimensão psicológica (ou narrativa) da
pessoa. Ali, nesta rica e complexa parte da sua realidade, estão seus conhecimentos
historicamente adquiridos, sobre você e o mundo, e as consequentes conclusões
existenciais (a respeito de si e do mundo). Seus sentimentos mais frequentes, suas
inclinações, suas projeções, suas frustrações e fracassos, seus medos e conquistas,
suas relações de amizade etc.: tudo está posto ali, pela narrativa que você fez de
cada uma destas experiências e que ficou guardada no terreno da memória. Um
exemplo desta dimensão psicológica, que é muito mais “individual” que a social,
Por Que Não Somos Felizes? | 42
Tese Central: A Posse de Si
são os gostos pessoais: você nunca gostou de rock, por isso tende a recusar um
convite para um show do tipo.
Por fim, onde fica o castelo – a morada interior, diria Santa Teresa – habita
sua substância propriamente dita; quem você é, radicalmente falando, e que
podemos identificar como sua alma. É o que Olavo de Carvalho chamou de eu
substancial, a porção mais verdadeira, inigualável e irrepetível da pessoa. De
alguma forma, imutável, por ser imagem e semelhança divina. Toda referência a
ele é uma diminuição de sua realidade, pelo simples fato de que o eu que refere
não é o mesmo eu referido. Quando você afirma algo a seu próprio respeito – e
tem “certeza” de que é assim – está tornando patente, pela ação do eu narrativo,
um conteúdo íntimo e misterioso que subjaz a toda ação individual e permanece
essencialmente indizível.
Ou seja: sua realidade pessoal é como um reino que se conhece das fronteiras
ao interior, sabendo que há muito mais estradas e terras conhecidas por entre
os espaços costumeiramente percorridos. O castelo é o lugar de mais difícil
acesso e, ao mesmo tempo, a única morada do rei. É desde seu quarto mais
alto e incorruptível que se governa toda a terra, e sua consulta frequente pelos
emissários (eu psicológico e eu social) é a maior garantia de que o reino será
preservado em sua identidade.
Para esclarecer nossa metáfora, podemos dizer que a felicidade pessoal
depende da profunda intimidade entre as dimensões mais superficiais do ser e
a radical substância que cada um de nós é. A subida até o quarto mais alto do
castelo interior é o caminho que deve ser percorrido exaustiva e habitualmente
por todo aquele que pretende falar em próprio nome, decidir de forma autoral e
reconhecer a realidade representada em seu mapa pessoal.
O que acontece muitas vezes é que agimos como reis perdidos em seus
próprios reinos. Andamos, errantes, como à procura dos caminhos que nos
levem a Roma e nos permitam sentar ao trono; desde lá governar toda esta
realidade que é radicalmente pessoal e intransferível. Por algum motivo fomos
expulsos da verdadeira morada – como Adão e Eva – e agora percorremos nossas
terras a fim de reconhecer as estradas que nos ofereçam retorno: eis o sentido da
nostalgia grega; ou, da ânsia de Odisseu em retornar a Ítaca.
Por Que Não Somos Felizes? | 43
Tese Central: A Posse de Si
Felicidade é reconquista do reino perdido.
No capítulo sobre Aristóteles e Julián Marías expliquei que, para o primeiro,
a felicidade (eudaimonia) está intimamente ligada à posse de certos bens.
Também mencionei o fato de que o filósofo antigo divide os bens em dois tipos:
adquiridos e necessários. Os primeiros são aqueles que nossas eleições e aptidões
criam, no sentido de propor um bem que não é indispensável à vida humana. Já
dos outros bens todos os homens precisam para viver e possivelmente ser feliz.
Respirar, ter amigos ou conhecer são bens necessários. Não há vida humana
sem eles. E o que pretendo expor aqui – e que fundamenta este livro – é justamente
o fato (claro para mim) de que a posse de si é um bem sem o qual não se pode
alcançar felicidade. Ou seja: tal como comer ou aprender, possuir a si mesmo
é necessário a quem deseje o Sumo Bem, a vida plena de sentido e a água que
verdadeiramente sacia qualquer sede.
Mas não é só isso. Para mim, a posse de si não é apenas um dos bens
necessários à manutenção da vida (biológica, psíquica e existencialmente). Ela
é, usando da hierarquia dos bens, a posse mais necessária e mais fundamental ao
homem. Se a felicidade – falando aristotelicamente – é a posse das coisas boas e
realmente boas para qualquer pessoa, a tomada do próprio reino é condição e
objetivo; em outras palavras, destino sem o qual não se pode pensar em alcance
do Sumo Bem ou, de modo cristão, fruição de Deus.
Afinal, aquele que anseia ter Deus em sua vida, anseia como quem? Com
que parte do próprio ser?
Quem é aquele que diz amar a Deus sobre todas as coisas? Quem é aquele
que quer a posse do dinheiro, da comida, do amor? Sem esta posse – primeira e
determinante na posse de todo o resto – a vida se torna um drama sem sentido;
cada um de nós, um espectador da própria peça onde deveria atuar como
personagem principal e diretor. Falamos e desejamos sem saber ao certo em
Por Que Não Somos Felizes? | 44
Tese Central: A Posse de Si
nome de quem, pois justamente o “quem” nos falta.
Sem a posse de si, a infelicidade é a única instalação possível. O modo de estar
no mundo será o de um deslocado ou desentendido; uma presença insubstancial;
um cidadão vagante pelo reino que por algum tipo de esquecimento não
reconhece mais como seu. É aquela mulher que está casada há vinte anos e não
consegue dizer por que fez a escolha que fez; é aquele advogado que aos quarenta
e cinco anos diz não suportar mais a advocacia; é o jovem revolucionário de
vinte e poucos anos incapaz de amar sua própria circunstância; é a senhora
aposentada que narra a própria vida como um grande fracasso; é a secretária
que lamenta todos os dias não estudar dança ou artes cênicas.
Nenhum destes exemplos fictícios faz um “balanço positivo” da própria vida
quando lamenta decisões tomadas no passado e que, em tese, comprometeram
negativamente a configuração de suas vidas. Estão, cada um a seu modo, mal
instalados no mundo, vivendo como sofredores que suportam dores maiores do
que deveriam. Praticam holocaustos que nunca lhes fora pedido e sacrificam,
sem qualquer justificativa metafísica, suas biografias no altar da mentira repetida
– tornada falsidade.
Eu estou acostumado a testemunhar estas “quase vidas”. Por diversos motivos,
reconheço a mesma falta de conhecimento de si, que engendra as decisões
impensadas, as escolhas ignorantes com que cada um deu uma forma para a
própria vida. Resiste, porém, o fundo insubornável, uma espécie de fundamento
ontológico que ininterruptamente me informa da origem e destino pessoal.
Entretanto, este mesmo fundo que corresponde ao lugar do castelo interior onde
sou verdadeiramente senhor – e não escravo de mim mesmo – só fala quando
iluminado por aquela intermitente capacidade chamada consciência.
Quando Sócrates, ao repetir o oráculo de Delfos, propagara o conhece-te
a ti mesmo, estava legando, às gerações de pensadores seguintes, uma espécie
Por Que Não Somos Felizes? | 45
Tese Central: A Posse de Si
de missão à filosofia que dava origem: a de promover, nas palavras de Maurice
Pradines, a reunião do indivíduo. Não seria filosofia, a partir de então, a atividade
que não desenvolvesse, por trabalho e intenção do filósofo, a consciência de si.
E a consciência que temos de nós mesmos é o que somos, esclareceu Lavelle.
Portanto, a mais fundamental missão da Filosofia é devolver ao homem a posse
de si mesmo e, consequentemente, o reconhecimento do universo que carrega
nas entranhas e do qual é parte ao mesmo tempo. Em outras palavras, a técnica
filosófica serve ao propósito da reverência à Presença Total que vivifica e sustenta
tudo que é.
Desde os gregos antigos, o homem tem buscado corresponder à missão
proposta. A filosofia, desde as formas aristotélicas, passando pelas discussões
entre Santo Tomás de Aquino e Duns Scott e o advento da mônada de Leibniz,
empreendera grandes esforços intelectuais a fim de encontrar aquilo que
individualiza os seres. A arte – em especial a literatura – faz também suas
contribuições em relação ao homem: ao longo do tempo escritores foram
conquistando o que, na psicologia de Jung, pode ser chamado princípio de
individuação. Os romances do século XIX, com suas descrições sutis da psique
de cada personagem, alcançaram novos patamares com Proust ou Dostoievski,
quando estes se tornaram verdadeiros inquiridores das profundezas da alma.
Os dramas de uma pessoa justificavam um livro todo. Nuances dantes nunca
expressadas se vertem em belas páginas. Leitores passam a expressar seus conflitos
ou projetos com parágrafos de Madame Bovary ou Eugênio de Rastignac. O
mundo interior amplia-se ao mesmo tempo em que os salões testemunham
o rebaixamento da comunhão entre os homens e mulheres que, por força da
etiqueta burguesa, restringem aos diários a intimidade inconfessável a outrem.
Conflitos entre o eu substancial e o eu social passam a ser mais frequentes, fazendo
emergir, na consciência de cada um, preocupações a respeito do destino pessoal
e da comunicação pública do mesmo. Isso não quer dizer que antes o homem
não pensasse sobre sua própria vida ou vocação; isso quer dizer que o homem
nunca pensou tanto sobre o que lhe distingue ou, em palavras bem modernas, o
faz especial mesmo pertencendo à massa. A aventura do encontrar a si mesmo
foi alavancada e a prova é o crescimento impressionante da psicologia e seus
Por Que Não Somos Felizes? | 46
Tese Central: A Posse de Si
diversos modos de responder aos anseios dos homens.
Mas, se a filosofia de Sócrates era justamente a promoção deste encontro, o
que de mal há nisso tudo que a modernidade concretizou? O que foi perdido
com a literatura psicológica, as obras de Freud ou Jung, a filosofia existencialista?
Justamente, o todo. As partes sobressaíram-se (cada sentimento, cada tipo de
vida, cada complexo, cada decisão ou motivo pessoal, cada parte do reino) na
esperança de que se pudesse reunir tudo novamente por força da consciência.
Hoje, personagens como Dom Quixote já não dão conta dos meandros da alma
humana revelados pela literatura, psicologia e filosofia através dos séculos. Foi
preciso mais luz e mais detalhamento. Dr. Freud teve seus consultórios cheios
– e seus discípulos também – de ansiosos pacientes que pediam análise: que os
separassem em partes, a fim de que, anos depois, conseguissem juntar aquela
substância que ficou psicologicamente suspensa (pelo menos durante as sessões).
O abstracionismo tomou conta da vida psíquica e aviltou o homem, diria Gabriel
Marcel. Ao invés da união de estados, a exaltação dos fragmentos psíquicos,
tratados pormenorizadamente com conceitos universais. Há dois complexos
de Édipo iguais? – poderíamos perguntar. Pradines, para desespero de todos
os analistas e analisados, afirmara que o esforço de síntese – consequência do
desmembramento – é um aborto da consciência que, no momento em que é
condensada na explicação que se lhe encontra, se vê limitada.
A posse de si, segundo o pensador francês, é o resultado da consciência que
opera a fim de unificar, segundo a intenção e o desígnio do eu. A odisséia humana
moderna é reunir aquilo que por sua própria obra separou. Os personagens
sociais, a miríade de desejos e sentimentos, as porções de história pessoal: tudo
que se proporcionou ver através da lupa agora precisa ser agrupado num tipo de
oásis, com a diferença que este só nasce em virtude da tensão anímica.
O eu nasce no momento em que se interroga, disse Lavelle, afirmando
Por Que Não Somos Felizes? | 47
Tese Central: A Posse de Si
também a necessidade da tensão. Mas, que interrogação é essa? De onde ela vem?
Quais portas interiores foram paulatinamente sendo abertas desde Sócrates? E
que relação tem o eu com a consciência?
Paul Diel, o psicólogo da motivação interior, afirmara: “sem se dar conta,
cada homem faz isso, sem descanso e ao longo de sua vida, uma espécie de
observação íntima de suas motivações”. O que ele argumenta é que há uma
inclinação natural no homem de perceber-se (a consciência, de alguma forma,
é perceber que percebe). A observação – pré-consciente – é uma nota de
composição da estrutura humana; nas palavras de Aristóteles em sua ética a
tendência ontológica para o perfeito de que falamos anteriormente. A busca
da felicidade, o balanço que constantemente cada um faz da própria vida, é
resultado deste apetite de perfeição contra o qual o homem nada pode fazer, sob
pena de perder quem ele é. Diel diz que esta observação ao menos pressente as
motivações que sustentam as ações individuais, o que instala automaticamente
uma espécie de tribunal interior ao qual se presta contas. As divindades míticas
ou o Deus cristão representariam, nesse sentido, personificações do código
moral pelo qual cada pessoal julga a si mesma. Da mesma maneira, convivem
dentro do homem a inclinação para o bem e a miséria existencial. O homem
é um culpado, pois está sempre abaixo do eu-ideal (a culpa sempre invocada
pela altura nunca atingida). É como sua hamartia constante, com a qual deve
lutar heroicamente a fim de sublimar-se (aproximando-se na divindade). Não se
pode recuar, diria Diel, diante deste esforço.
Resumindo: naturalmente o homem observa-se – sua miséria e sua grandeza
– e julga-se intimamente; o conhecimento dos estados deste processo, enquanto
eles ocorrem, é o que se pode chamar consciência.
Consciência é um estado defectível de percepção do conhecimento; não é
uma luz – como a inteligência – mas uma atividade que lança o eu sobre si
mesmo (daí que o processo seja geralmente investigativo, tenso, interrogativo
a fim de reunir). Maurice Pradines, em seu Tratado Geral, complementa: “a
consciência, a vigilância, o esforço, o dinamismo mental, não são mais que
tensões”. Por oposição, inconsciência e desatenção são formas de afrouxamento
da atividade psíquica, o que significa perda da posse de si. Sendo a consciência
Por Que Não Somos Felizes? | 48
Tese Central: A Posse de Si
união, a inconsciência é fragmentação. Quanto mais fracionado o sujeito, maior
domínio têm sobre ele as partes desorganizadas que compõem sua psique – o
que remete aos estudos de Szondi e a psicologia do destino familiar; ou então
Freud e as imagens do inconsciente que teimam por dirigir o indivíduo. Para
que isso não aconteça é necessário forçar a psique, o que a amplia no mesmo
instante. Portanto, é a consciência também uma tensão, da qual nascem as únicas
possibilidades de reintegração do eu.
Partes, fragmentos, papéis: o homem moderno, ironicamente, conhece
todos os quinhões e há muito debate inflamadamente sobre eles (as escolas de
psicologia, por exemplo). Todavia, escapa-lhe ou eu capaz de sofrer ou ativar
todas as porções que o compõem. O eu é como um rei assediado por muitos
súditos – desejos, motivos etc. – e a consciência (para aludir à metáfora anterior)
uma espécie de ciência de todos os caminhos do reino. Mais do que as partes,
o eu identifica o reino. Pradines ensinou: não há várias reuniões do sujeito. A
operação de unificar é apenas uma, porém plural: a consciência, que se organiza
sempre em estados, os quais revelam uma espécie de sistema integrador. Uma
pessoa pode estar consciente de um evento marcante com seu pai, ou pode estar
consciente da relação e todos os matizes da convivência com o pai. A abrangência
do segundo tipo de consciência – e ao mesmo tempo sua profundidade –
revela a amplitude psíquica do indivíduo que se descobre a cada novo círculo
conscientizado, perfazendo o caminho pessoal do conhece-te. Torna-se cada
vez mais integrador quanto mais direcionado ao núcleo pessoal ou, nas palavras
de Olavo de Carvalho, quanto maior a vontade de consciência das experiências
fundantes (que são as mais radicais e determinantes de uma biografia).
Estar consciente é estar presente com toda a alma diante de algo. Para isso,
é preciso certa instalação na realidade e inteireza do indivíduo. Quanto menos
fragmentos, maior a presença. Cada um de nós pode relatar várias experiências
de estar diante de alguém e não o perceber. Nestes breves ou longos momentos,
esquecemo-nos, como se faz ao dormir: deitados (espalhados) sobre a terra. O
despertar é símbolo do processo de conscientização justamente por fornecer o
análogo da experiência do reunir-se ao acordar. “O próprio da vida espiritual é
produzir a intimidade mais perfeita entre os seres múltiplos que habitam nossa
Por Que Não Somos Felizes? | 49
Tese Central: A Posse de Si
consciência”, escreveu Lavelle, e intimidade é o que se conquista quando se toca
a majestade que existe no eu e que não se confunde com ele. O que era reunião se
torna reencontro, pois o homem revive sua gênese e adentra a porta do paraíso,
o que sempre lhe soará familiar.
O que nos interessa agora é nossa capacidade de sermos muitos, assumindo
personagens conforme a porção pessoal requisitada pelo ambiente, a massa, o
outro, e alargando a distância entre o eu substancial e as trajetórias biográficas.
Uma série de perguntas poderiam ser feitas: por que existem os personagens
biográficos? Afinal de contas, por que permitimos que tantas vozes falem numa
mesma vida que, por origem e vocação, deveria ressumar por todo sempre a
própria substância? Por que aceitamos que a multidão tome forma e crie morada
dentro de nós?
Para mim, uma das conquistas mais admiráveis da filosofia grega, corroborada
e aprofundada pelo cristianismo, foi a consciência da individualidade. Há,
pelo menos desde Sócrates, uma instância na qual todas as outras vozes se
calam porque são deixadas para fora no umbral da intimidade, reduto radical
“conquistado” ao longo do tempo. Apenas em posse deste reduto um homem
pode falar em próprio nome, sendo o autor verdadeiro da própria vida. Falar
em nome dos outros, do partido, da instituição, da classe profissional ou do
professor, é o arremedo de conversação que nos restou, depois de sucessivas
investidas contra a realidade da intimidade e a inviolabilidade ontológica da
substância humana: a pessoa criada, irrepetível. Por maiores que sejam os gritos
Por Que Não Somos Felizes? | 50
Tese Central: A Posse de Si
de toda parte, de todos os cantos da sociedade, continua a resistir a realidade
pessoal – ainda que por baixo de tantas camadas de mentiras, generalizações,
abstrações, lugares-comuns e falsas instalações existenciais que legitimam os
mais diversos personagens que encarnamos para conviver neste circo moderno.
A complexidade e a riqueza da vida humana, pressupostas na liberdade
característica do homem, abrem as mais variadas possibilidades biográficas,
podendo existir uma Dilma Rousseff ou um Aristóteles. Além das diferenças
inatas, a liberdade chega ao limite da pessoalidade e permite que o indivíduo
escolha ser quem ele queira ser a partir da “matéria” recebida em sua entrada na
existência. Isto equivale a dizer que cada um faz-se historicamente e decide, na
instância do eu narrativo, a que trajetórias irá aderir e percorrer. É o aludido ego
que, como um rei assediado por muitos súditos (as vozes dos mais diferentes
apetites), escolhe a quem atender.
Se escolho a multidão, o todo mundo e ninguém, é disto que se tratará
meu reino interior: de uma multidão de vozes disputando caoticamente um
lugar de destaque. Abafada pelos gritos cada vez mais altos e histéricos (Fale de
política! Entra nessa polêmica! Pontifique sobre alguma coisa! Chame a atenção
de seus alunos! Escreva algo de impacto! Compre aquela coisa também! Poste
uma foto!), a pessoa que cada um é não terá condições de falar claramente. Em
resumo, todas as outras vozes darão o tom da narrativa biográfica e os milhares
de personagens farsescos assumidos de maneira instantânea e intermitente
impedirão que o personagem real ganhe o primeiro plano.
As redes sociais comprovam com nitidez assustadora: onde estão as pessoas?
Por trás de tantas caricaturas e personagens mal interpretados, onde elas moram?
O que fazem, qual sua voz, como sentem verdadeiramente o mundo? Quem
realmente reza como se dependesse do auxílio divino para não danar sua vida?
Quais, daqueles que gritam sem parar, dariam suas vidas pela realidade e não
por sua explicação?
Quem, dentre nós, está a falar em nome próprio e com o vigor peculiar
daqueles que habitam como soberanos os seus reinos interiores?
Esta pergunta deve ressumar: quem, dentre nós, fala em nome próprio? Quem
reuniu o próprio ser por um labor da consciência, incentivada pela vontade
Por Que Não Somos Felizes? | 51
Tese Central: A Posse de Si
firme de possuir a si mesmo e ser autor da própria história? Quem de nós não
está fragmentado em tantos pedaços, correspondentes a tantos personagens
vividos cotidianamente, e sendo conduzido por algum tipo de força estranha e
externa, tendo que reconhecer que a vida não é a verdadeiramente sua – a que
teria eleito se tivesse conseguido?
A felicidade, como assunto pessoal que atinge o núcleo pessoal e configura
nossa instalação no mundo, não se dá a fragmentos de eu. Não pode haver
felicidade – posse unitária – para quem viva de modo múltiplo, como quem
tenha dezenas de vozes, de destinos, de programas vitais etc. A felicidade é
uma busca e conquista autoral, impossível de ser parcialmente desejada. Ou
é todo o ser da pessoa que se inclina em sua direção – ainda que saiba ser a
felicidade o impossível necessário – ou são apenas partes conflitantes, ora uma
sobressaindo-se, ora outra. Por isso o grau de insatisfação aumenta: por que
cada um dos personagens que permitimos dentro e fora de nós quer ter a vez
de atuar como protagonista e impor suas pretensões de felicidade. Atendendo
a cada um parcialmente, o eu não contenta a ninguém e as vozes dobram suas
reclamações ao eu do castelo.
É daí que vem a ansiedade, formam-se neuroses, espalham-se os medos
de fracasso existencial: da intuição de que nunca será possível ao rei atender
a todos, em todas as suas requisições. E este mesmo rei, mais soberano quanto
mais instalado no fundo insubornável, precisa aprender a escolher uma coisa
só: reunir, reunir, reunir até que o Uno divino se torne análogo e possa nele
reconhecer-se imagem e semelhança.
Ao invés de todas as vozes terem direito de falar, apenas uma: a mais íntima,
a mais verdadeira; a única capaz de ordenar todas as outras.
Possuir a si mesmo é ter os meios mais poderosos de ação no mundo. E poder,
ao contrário do que muitos pensam, é ótimo e jamais deveríamos recusá-lo. Em
Por Que Não Somos Felizes? | 52
Tese Central: A Posse de Si
que sentido? Naquele que aprendi com Olavo de Carvalho: ter meios de ação.
Os homens e mulheres poderosos são aqueles capazes de agir e de desencadear
no mundo consequências desejadas.
Isso não é simples, pois a impotência é um sentimento comum entre
nós. Há quem lamente nunca conseguir o que almeja; estar sempre iludido a
respeito de si e da vida; não concretizar os sonhos mais importantes; não fazer
substancialmente nada com a própria biografia. Enfim, é infelizmente fácil
perceber que a maioria das pessoas à nossa volta não faz o que dizem querer
fazer.
Para mim, sempre foi provocante e modelar a frase de Quixote: Eu sei quem
sou. Revela a verdadeira consciência de si – metaforicamente traduzida como
conhecimento do reino pessoal. A ninguém pode ser mais clara minha existência
que a mim mesmo. Sou eu o único com possibilidade real de intimidade comigo;
todas as outras pessoas ou forças (como o Estado) estão limitados no acesso
à minha pessoalidade pelas portas que eu já adentrei e pelos terrenos que eu
mesmo já pisei de alguma forma. A nenhum observador externo é possível
conhecer em mim o que eu mesmo não conheço.
Por isso o gozo do mundo – das relações, da vocação, do amor, da bondade
divina etc. – está condicionado por este primeiro prazer incorrupto que
desfrutamos a partir da posse de si. O conceito de sentido íntimo nos ajuda:
é aquilo que eu toquei da minha própria realidade sendo parte desta mesma
realidade e conhecendo-a desde dentro. Minha miséria, por exemplo, pode ser
tocada por alguém que me ame. Mas esta mesma miséria será sentida de modo
diferente por mim, que a conheço como parte imbricada. Para o outro, minha
miséria é objeto externo; para mim, é porção radical e subjetiva.
Por isso que um dos frutos da posse de si é justamente uma grande
intimidade pessoal que abre para as relações com as outras pessoas e com Deus.
Ser alguém e precisamente este alguém, conhecedor de seus próprios limites,
meios, circunstâncias, aptidões, vícios e virtudes: tomar verdadeira posse da
realidade pessoal a fim de poder comunicá-la a outrem.
Um segundo fruto chama-se personalidade: a forma autoral e irrepetível de
estarmos no mundo e dizermos nossa presença. Conquistar uma personalidade
Por Que Não Somos Felizes? | 53
Tese Central: A Posse de Si
é conquistar seu próprio modus operandi; sua voz inigualável que anuncia um
ser que não existira antes e que não se confunde com nenhum outro. Quem tem
personalidade deixa uma marca em tudo que faz e funda uma espécie da qual é
o único exemplar.
Finalmente, possuir a si mesmo proporciona uma vida humana digna. E
isso não exclui sofrimento, dor ou problemas; apenas salva da fragmentação
e falseamento que despersonalizam o homem e o tornam mais suscetível às
tribulações. A dignidade da vida humana, sua altura e profundidade, só pode
ser acessada por quem paulatinamente a conquista, chama para si as realidades
e as acomoda em seu mundo pessoal. Quem de repente se vê num sofrimento
tem o dever de absorvê-lo e acrescentá-lo ao repertório de humanidades que
conhece. Torna sua, em outras palavras, aquela realidade experimentada – ainda
que indesejadamente.
É disto que se trata viver humanamente e aspirar a bens que proporcionem
felicidade: movimentar-se inteiro e unicamente em direção àquilo capaz de
inflar a vida, alargando-a de forma autoral. É porque sei quem sou que quero
isso, mais aquilo e aquilo outro da vida; e mesmo aquilo que não quero, se vier
a me acontecer, terei de absorver e encontrar morada dentro de mim para que
também seja eu a partir de então.
É inevitável, para mim, terminar dizendo isto: a palavra autor (auctor) é latina
e significa aquele que expande. Era usada pelos romanos para se referir a grandes
generais que conquistavam novas terras para o Império. Eram verdadeiros autores.
Ou seja: ter a posse de si é descobrir novas terras dentro da realidade pessoal,
expandindo a própria vida, revivendo o espanto platônico diante do novo que se
avista. É um movimento dirigido, consciente e intenso de mais vida, mais vida,
mais vida.
E como fazer isso?
Por Que Não Somos Felizes? | 54
6
Narrativa Pessoal
E u gostaria de começar este capítulo fazendo uma citação. Não qualquer
uma, mas a que considero o melhor “início” de um romance que já
tenha lido. Trata-se do prólogo de Demian, do escritor alemão Hermann Hesse.
A história nos apresenta os anos de formação de um rapaz (acompanhamos
sua vida dos onze aos dezoito anos). Para justificar a narrativa – e por isso este
prólogo me interessa aqui –, o autor começa o livro assim:
Para relatar a história de minha vida, devo recuar alguns anos. Se me fosse
possível, deveria retroceder ainda mais, à primeira infância, ou mais ainda, aos
primórdios de minha ascendência.
Os poetas, quando escrevem suas obras, costumam proceder como se
fossem Deus e pudessem abranger com o olhar toda a história de uma vida
humana, compreendendo-a e expondo-a como se o próprio Deus a relatasse,
sem nenhum véu, revelando a cada instante sua essência mais íntima.
Não posso agir assim, e os próprios poetas não o conseguem. Minha história
é, no entanto, para mim, mais importante do que a de qualquer outro autor,
pois é a minha própria história, e a história de um homem — não a de um
personagem inventado, possível ou inexistente em qualquer outra forma, mas
a de um homem real, único e vivo. Hoje sabe-se cada vez menos o que isso
significa, o que seja um homem realmente vivo, e se entregam à morte sob o
fogo da metralha a milhares de homens, cada um dos quais constitui um ensaio
único e precioso da Natureza. Se não passássemos de indivíduos isolados, se
cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria
sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo; é
também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual
Por Que Não Somos Felizes? | 55
Narrativa Pessoal
os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma uma só vez e nunca mais.
Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada homem, ao
viver em alguma parte e cumprir os ditames da Natureza, é algo maravilhoso
e digno de toda a atenção. Em cada um dos seres humanos o espírito adquiriu
forma, em cada um deles a criatura padece, em cada qual é crucificado um
Redentor.
Poucos são hoje os que sabem o que seja um homem. Muitos o sentem e,
por senti-lo, morrem mais aliviados, como eu próprio, se conseguir terminar
este relato.
Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que
busca, mas já agora não busco mais nas estrelas e nos livros: começo a ouvir
os ensinamentos que meu sangue murmura em mim. Não é agradável a minha
história, não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas; sabe a insensatez
e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todos os homens que já não
querem mais mentir a si mesmos. A vida de todo ser humano é um caminho em
direção a si mesmo, a tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro.
Homem algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram a sê-
lo, obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual como pode. Todos
levam consigo, até o fim, viscosidades e cascas de ovo de um mundo primitivo.
Há os que não chegam jamais a ser homens, e continuam sendo rãs, esquilos
ou formigas. Outros que são homens da cintura para cima e peixes da cintura
para baixo. Mas, cada um deles é um impulso em direção ao ser. Todos temos
origens comuns: as mães; todos proviemos do mesmo abismo, mas cada um —
resultado de uma tentativa ou de um impulso inicial — tende a seu próprio fim.
Assim é que podemos entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo
pode cada um interpretar-se.
De alguma forma, quero neste capítulo esclarecer por que Ortega afirmou
que o homem é “o romancista de si mesmo, original ou plagiário”. O que tentarei
fazer em seguida é demonstrar porque somos os grandes historiadores da
própria vida e como fazer para interpretar a si mesmo de maneira a entender o
Por Que Não Somos Felizes? | 56
Narrativa Pessoal
argumento biográfico – sem o qual na há posse nem frutos.
Quando encontramos alguém e desejamos conhecê-lo, pedimos que nos
conte sua história. É assim, sabendo o que lhe aconteceu, o que já fez, por onde
andou e com quem se relacionou que vamos formando uma imagem do outro,
enriquecida a cada novo dado narrado. É notória a diferença para com as outras
realidades do mundo: ninguém precisa conhecer a história de um quadrado ou
a de um lhasa apso para dizer que os conhece. Sendo realidades de outra ordem
– como já demonstramos anteriormente – nossa apreensão se baseia na forma
dada, aristotelicamente falando: forma de quadrado (que é sempre quadrado e
serve para todas as figuras quadriláteras de lados iguais) ou forma de lhasa apso
(que é a forma daquela espécie de cão desde que a raça existe no mundo).
A discussão sobre a forma humana nos levaria longe. Para Aristóteles, sim,
existe a forma de homem; assim como para Platão existe a idéia de homem. Eu,
particularmente, acredito que esta forma existe e que um de seus componentes
– pensando na forma como “fórmula” – é justamente a alteração: aquilo que
permite a conjugação de realidade atual e irrealidades, tão comentadas aqui neste
livro. A diferença do pensamento dos filósofos gregos para Ortega y Gasset está na
questão da substância (aquilo que é captado na forma da coisa): para o espanhol,
o homem não tem substância, mas história. Seríamos definidos justamente pela
sucessão e mutabilidade.
Não tenho a menor pretensão de resolver isso, ou apontar quem esteja certo
quanto à definição de homem, forma ou substância. Como aprendi com Heidegger
(em Ser e Tempo), apreende-se o ser pela sua presença. É como dizer que a forma
de presença dele é sendo. Isto faz com que olhemos para os entes com grande
interesse e observação de seu sentido (e modos de ser no mundo). É isto que
aplico à minha compreensão da realidade humana: ainda que defini-la seja difícil
ou discutível, como as diferenças entre Aristóteles e Ortega, por exemplo, não
Por Que Não Somos Felizes? | 57
Narrativa Pessoal
posso me eximir de responder ao modo como esta mesma realidade se apresenta
e vai sendo no mundo. Por ser uma realidade humana e por testemunhá-la a todo
o momento, posso afirmar que este ser apresenta-se historicamente e na história
revela a si mesmo. Não se trata de um historicismo radical – há grande contribuição
para o tema nas obras de Dilthey, vale lembrar –, mas de um reconhecimento
da constituição mesma das coisas: a vida humana tem dimensão histórica. Mais:
só o ser humano tem esta relação com o tempo – de consciência e posse – e a
necessidade de narrar para apreender sua forma individual. Exatamente como uma
peça de teatro, cada um de nós acontece, ato após ato, na iminência de realização
de um argumento, que só será revelado inteiramente ao final do último ato. É por
ter de possuir esta “peça”, que é a própria vida, que contamos e recontamos nossas
trajetórias e emitimos pequenas conclusões – certezas narrativas e quase sempre
de caráter provisório – a fim de tentar antecipar o desfecho e conseguir viver com
um mínimo grau de conhecimento do arco biográfico.
Quando li Fausto, de Goethe, pensei bastante na analogia entre as duas
realidades: a do teatro e a da vida humana individual. Tomando aquela obra como
mote, poderíamos estabelecer alguns paralelos interessantes, acrescentando à
análise da referida história alguns insights que considero pertinentes e ajudam na
compreensão do que estamos tratando agora.
Por exemplo: a experiência ilusória com a própria vida é o que se pode chamar
liberdade de criação biográfica. Lidamos de forma dinâmica com elementos
permanentes e transitórios de nossas vidas, tentando entender – no sentido
historicista de Dilthey – o sentido que isso possa ter. Mais liberdade tem aquele
que consegue admitir maior número de imagens e elementos na composição da
própria forma e configuração do próprio destino. Se viver é acolher um sentido
dado pela vida, também é manejar de maneira autoral os conteúdos pessoais que
tornarão isto possível. É justamente a tensão que existe entre a ilusão da projeção
e o que de fato acontece na biografia – por intervenção das mudanças, acasos,
circunstâncias sociais etc. – que torna a vida pessoal um drama que só adquire
pleno sentido no ato final.
Por esta razão – e sustentando a aproximação entre uma biografia e uma peça,
como a de Goethe –, o teatro desempenha um papel educativo na imaginação.
Por Que Não Somos Felizes? | 58
Narrativa Pessoal
Na peça está dada uma estrutura total de atos; o espectador sabe que, desde o
primeiro ato encenado no palco, há uma forma sendo desenvolvida e que revelará
sua inteireza no final. Assim como na vida real, cada ato dirige-se ao seguinte,
num encadeamento que, no caso do drama, é claro e consciente (premeditado pelo
autor, diretor etc.). O tempo histórico que domina o teatro é o futuro, justamente
por ele ser uma expectativa de um convite ao próximo ato. Enquanto a literatura
– em romances, contos, novelas – cria um passado virtual, tendo na memória seu
modo de ação, no drama é criado um futuro. Seu modo de realização é um destino.
Por isso saímos do teatro com o destino de Hamlet, de Fedra, de Agamenon nas
mãos.
A unidade de uma peça é a ilusão de um destino. Sua qualidade dramática,
diria Susanne Langer, estaria na capacidade do autor em expressar, desde a
primeira cena, a tensão que se desenvolverá ao longo da peça. Sentamos num
teatro porque desejamos uma experiência de unidade, dada na conexão passado-
futuro que cada ato dramático possui e que, na vida humana real, nos escapa. Não
somos conscientes, na maior parte do tempo, da relação intrínseca que existe entre
o que fizemos e que estamos fazendo agora com nossas vidas. No teatro, porém,
este senso de destino assume o primeiro plano. Citando novamente Langer, no
drama uma “forma está sendo preenchida”. Em oposição ao aparente “caos” em
que homens reais se movem, numa peça conhece-se cada ato em suas motivações
e consequências. Daí seu caráter pedagógico.
É assim que nos relacionamos com o tempo: na expectativa de fazer, realizar,
alcançar, compor algo em nossas biografias. A diferença com o teatro é a apontada
no trecho de Hesse: a história fictícia está pronta. Tem um final já pré-determinado
e por isso os espectadores aguardam apenas sua conclusão para ir embora em
posse da forma final.
Na vida individual concreta não é assim. Ninguém pode determinar quando
será o ato final. Por isso, cada momento presente é um convite à “reunião de si”,
à integração de passado – experiências acumuladas e interpretadas – e futuro –
antecipações e projeções – no que chamei de conexão fugidia. A cada “presente”,
automaticamente reunimos nossas partes, passadas e futuras, e projetamos com
base na imagem de eu tomada como certa provisoriamente. Provisória, pois no
Por Que Não Somos Felizes? | 59
Narrativa Pessoal
instante seguinte vivemos outra coisa, que chega ao fundo da memória como
experiência interpretada e que, narrada, passa a atuar na composição do novo
autorretrato formado no novo presente (conexão fugidia) que servirá ao novo
projeto pessoal.
É assim, de sucessivas e alteradas imagens de si que vivemos dramaticamente,
como uma peça de teatro que se apresenta diante do eu substancial e de toda a
comunidade de homens e mulheres que assistem à nossa vida. É por isso que Julián
Marías diz que viver é dramático: porque leva em conta esta tensão temporal –
passado e futuro – e a necessidade de compreensão desta mesma sucessão que só
será plena no fim do tempo pessoal (na morte). A partir de então uma biografia
pode ser julgada: o drama chegou ao fim e já não há possibilidade de novos atos
que possam mudar seu argumento. A eternidade nos acolherá e imporá uma
forma ao que vivemos e como vivemos.
A vida humana acontece no tempo e do tempo vivido extrai seu argumento
que, no nosso caso, é o mesmo que forma biográfica individual. Por isso é preciso
saber como cada um acolhe esse tempo, relaciona-se com ele e narra-o na intenção
de compreensão do drama pessoal que acontece historicamente, como uma peça.
É como dizer que a história é a matéria da vida humana.
Possuí-la é bem indispensável.
É conhecida a razão dialética de Hegel, filósofo alemão do século XIX. Sua
obra Fenomenologia do Espírito é a apresentação de um complexo sistema que
visa dar a conhecer o processo pelo qual o Espírito (realidade em seu Sentido
último) se revela no tempo e é apreendido racionalmente. “Tudo que é real é
racional”, e vice-versa.
O que podemos fazer neste espaço é uma aplicação antropológica dos conceitos
hegelianos. Estou convicto de que eles corroboram minha perspectiva sobre a
necessidade da narrativa biográfica e a consequente posse (ou reunião) de si.
Por Que Não Somos Felizes? | 60
Narrativa Pessoal
Hegel afirma que a realidade é devir (se o leitor lembrar do primeiro capítulo
desta obra poderá já fazer as associações esperadas). A realidade é movimento
(história) e tende para um fim – e o que seria a vida humana senão um devir,
apresentado anteriormente como aquele drama pessoal que se faz e conhece no
tempo?
Cada um de nós é também uma substância que se altera na vivência da história
e, por isso mesmo, é marcado pelo dever-ser – este ímpeto de movimento contínuo
que nos obriga a continuar sendo, fazendo escolhas, atendendo à promessa de
nosso nascimento. Se não somos realidades estáticas, somos (analogamente)
como Espírito e seu processo descrito por Hegel: revelamo-nos por etapas ou,
mais propriamente, trajetórias.
E de uma forma geral, o objetivo do filósofo alemão é esclarecer este processo
da humanidade – que, de certa forma, é ordenado e contraditório: é isto que
significa a fenomenologia do espírito (o conhecimento do próprio movimento
que percorre a realização de um fim).
Para tornar um pouco mais claro o hegelianismo (e sua aplicabilidade dentro
dos parâmetros desta proposta de antropologia filosófica) permita-me o leitor
transitar mais um pouco pelo seu pensamento.
A dialética é o movimento de engendramento da realidade: ou seja, faz-se
por meio de negações e novas afirmações. Exemplo: X não é Y, mas sim Z. Por
meio das negações (e, portanto, do reconhecimento das contradições inerentes no
processo do Espírito) capta-se a lógica do movimento que é a realidade. Esta lógica,
concordaria Ortega y Gasset, é a História. Em outras palavras: narrar a história é
apreender os frutos do processo de contradições e afirmações do espírito, daquilo
que os homens não foram e daquilo que eles passaram a ser. Por não ter desejado
ficar ao relento, o homem inventou o abrigo para morar.
São estas oposições, diria Hegel, constitutivas da realidade. Se assim não fosse,
toda a história humana seria um fluxo afirmativo de única mão (seríamos sempre
os mesmos, pela ausência da dialética das contradições). Porém, como sabemos,
toda contradição exige solução, chamada na Fenomenologia do Espírito de
“reconciliação”: quando o espírito reconhece a si mesmo, mais esclarecido depois
da passagem pela negação e oposição de realidade que configura a contradição.
Por Que Não Somos Felizes? | 61
Narrativa Pessoal
Outro exemplo (sempre no nível antropológico): a fim de aceitar sua vocação
como pessoa, você considerou uma série de opções que eram contrárias; ou,
simplesmente, “não eram você”. Depois de resolvido o conflito, feita a reconciliação
ou reunião de si mesmo, você escolheu aquilo que parecia ser você, guardada a cota
de dúvida normal. Assim, sua identidade se desvela mais um pouco justamente
na etapa seguinte à contradição, quando superada momentaneamente uma (ou
várias) oposições de “não-eu”. Eu e você vamos sendo à medida que reconhecemos
contradições e negações do eu e nos reconciliamos com o eu substancial que fica
mais claro a cada nova solução íntima.
Portanto, o pleno autoconhecimento de que fala Hegel, ao tratar do Espírito
(que ao longo da história torna-se cada vez mais “concreto” e menos abstrato) é,
no reino da individualidade humana, a conclusão de uma reconciliação com o eu
substancial: a cada nova superação de contradição, um novo aspecto da identidade
pessoal é revelado neste processo contínuo a que chamamos viver.
Também, assim com o Espírito de Hegel determina-se com o passar do tempo,
porque se esclarece a si mesmo, eu e você nos determinamos (aquela substância
pessoal que cada um de nós é, feita de escolhas etc.) e compreendemos, ao longo da
história, o sentido da biografia que temos reunida neste presente. Se a consciência
é a terra natal da verdade, ela nada mais é que a conexão fugidia interior: saber algo
a próprio respeito é saber naquele exato momento de reunião de si, de integração
ou posse. O resultado é um esclarecimento da realidade pessoal, que se torna mais
e mais concreta à medida que vivida conscientemente (da mesma maneira que
ocorre, segundo Hegel, na dimensão do Espírito).
O presente é a síntese do processo. E no instante em que você narra sua
história, faz necessariamente uma síntese, legando a seu ouvinte (Deus, um amigo
ou você mesmo) um sentido para todas aquelas contradições vividas e de alguma
forma passadas. A História, para Hegel, é a manifestação do Absoluto; para mim
e para você, a única maneira de compreender aquilo que somos, pelo simples
fato dela supor a gênese e conexão dos fatos que compõem nossas vidas. Deus
é onisciente e tem a conexão de todos os fatos – por isso Ele me conhece como
nem eu mesmo posso conhecer. De minha, minha reunião é sempre deficiente
e em perspectiva (pessoal, intransferível), e a passagem da história não perdida
Por Que Não Somos Felizes? | 62
Narrativa Pessoal
pelo registro consciente é o instrumento de que disponho para juntar elementos,
conectar os fatos biográficos e, por que não, aproximar meu conhecimento pessoal
do de Deus.
Se o Espírito é compreendido pelas transformações, nós também somos
inteligidos no modo do “vir a ser” (Torna-te aquilo que és, dissera Píndaro).
Nossa vida, como drama, é este movimento marcado pelo gerundismo já aludido
do escolhendo, tendo, trabalhando, sendo. Cada presente, cada conexão fugidia, é
uma conclusão temporária e imediatamente refeita do sentido da própria história.
Quanto mais fatos, mais conexões, mais conclusões e determinações.
A dialética ajuda a lidar com tudo aquilo que existe junto, opondo-se de
alguma forma um ao outro. Na narrativa biográfica, é dialeticamente que
escrevemos: tomamos nas mãos “tudo aquilo que vivemos e que parece caótico
ou desconectado” dando ordem, forma, sentido.
Na verdade, diria Hegel, simplesmente reconhecemos o sentido que na
História mesma se revela por reconciliação das partes.
Se o homem é história, e se sua realidade aberta é conhecida através do que já
experimentou, fez, escolheu ou absorveu, então é evidente que a narrativa pessoal
seja seu modo de investigação: todos nós somos historiadores do próprio reino.
Contamos e recontamos o que fizemos e o que nos aconteceu. E assim, debruçados
sobre o passado, provocamos a emersão dos próprios cadáveres – “eus” já vividos
em trajetórias já assumidas e que de alguma maneira inclinam ou influenciam o
eu atual.
Em posse dessas imagens resgatadas pela narrativa, juntamos as partes e
tentamos dar um sentido (esta é outra necessidade humana: a de sentido). Quanto
mais investigamos, mais colhemos de nós mesmos naquele imenso lago que
guarda nossas experiências interpretadas.
Quem não narra, não tem muito material com o qual possa dizer-se. É o
Por Que Não Somos Felizes? | 63
Narrativa Pessoal
famoso homem sem história – o mais insubstancial e irritante tipo humano de
todos (e talvez por isso a maioria dos adolescentes seja pouco atraente).
Infelizmente é comum, em minhas conversas privadas com alunos em
atendimento, perguntar sobre sua infância e ouvir um “não sei muita coisa”. Fico
espantado com o desconhecimento generalizado da primeira – e talvez mais
importante – idade: são adultos desgovernados, em sua maioria; reféns de um
passado que não conhecem, não têm como seu e por isso mesmo estão ali, diante
de mim, pedindo ajuda no mergulho que precisam fazer de forma dirigida a fim
de buscar sua própria história (“quem” já foram, desde a infância).
Há um filme, aliás, que indico veementemente a estes alunos. Chama-se
Inverno da Alma. Nele, uma jovem precisa descobrir o que aconteceu com seu pai
que sumiu. Ela desconfia que esteja morto e precisa prová-lo a fim de conseguir
o seguro que irá saldar as dívidas da casa e impedir que ela, irmãos pequenos e
mãe doente, durmam na rua. Numa espécie de heroísmo admirável, a menina de
dezessete anos provoca todas as forças envolvidas no sumiço do pai até encontrá-
lo: morto, jogado num lago. Ela precisa pegar os pedaços do cadáver do pai para
provar a morte e enfim recomeçar sua vida.
Pergunto ao aluno, depois de assistido o filme: até onde você quer ir em sua
investigação pessoal? O que está disposto a encontrar neste lago e de lá tirar com
as próprias mãos? Você quer mesmo possuir a si mesmo e a história que lhe diz
respeito, “salvando sua casa”?
Obviamente que a maioria diz “sim”. Qual de nós não quer salvar a própria
casa, no sentido de vida biográfica e destino pessoal? O problema está no processo
de investigação que deve, inexoravelmente, conduzir aos mais escuros espaços
do reino individual. Narrar a própria história é o único modo de revisitar a si
mesmo e resgatar conteúdos históricos capazes de iluminar a própria existência,
enriquecendo a imagem que se tem de si e que serve para as projeções e antecipações
que necessariamente fazemos enquanto vivos. Planejar a vida é imaginar com
base na realidade pessoal possuída: quanto maior o continente conhecido, maior
e mais íntimo o eu projetado e desejado no presente.
Narrar é voltar a si mesmo. É perscrutar a própria história e deixar que os fatos
falem; em seguida, usar da inteligência e da vontade de sentido para encadeá-los,
Por Que Não Somos Felizes? | 64
Narrativa Pessoal
dando uma “forma” para a vida pessoal. Na conexão fugidia, estar cada vez mais
próximo – pela posse que expande o reino conhecido – da única verdade capaz
de nos libertar e que ressuma através da voz interior que suplicará autenticamente
por um lugar no Paraíso. Não há salvação para fragmentos de eu, personagens
ou partes: só a pessoa pode arguir em seu favor e entregar sua realidade como
depósito fiel. A graça, o bem ou a felicidade são gozos pessoais.
Quem eu sou? Por que quero o que digo querer? Por que gasto minhas energias
em tais atividades? Por que amo quem amo? Por que sofro pelo que sofro? Por
que sinto as coisas desse modo? Todas estas questões só podem ser respondidas
historicamente. Para cada uma delas há um refúgio que guarda um motivo da
vida que já vivi, escrita no tempo que já absorvi como circunstância e matéria
da minha realidade. Eu sou este homem porque já fui aquele, também aquele e
aquele outro. Amo o que amo porque amei isso e mais isso na minha história;
aprendi aquilo; valorizei tais coisas.
Sou, quando narro e me debruço sobre minha história pessoal, verdadeiro autor.
Não apenas “reconto” os fatos; organizo, dou sentido, forma, destino. Também
por isso viver é um trabalho poético: porque necessariamente componho com o
que tenho, quem já fui, o que já escolhi e as trajetórias que já percorri ao longo
da vida. Cada uma das realidades já tocadas, ou das possibilidades individuais já
assumidas, torna-se eu realizado; se bem dirigido, encadeado e justificado diante
da minha mais profunda promessa de ser, encontro-me feliz. O bem é resultado
da posse que só pode ser histórica.
A recusa ou a diminuição da própria realidade histórica – por meio de
esquemas reduzidos e imagens incompletas de si – impedem a felicidade. A
indisposição com a própria vida, neste sentido, é um suicídio biográfico: ao invés
de abertura, ressignificação e expansão do horizonte vital, o fechamento. Homens
e mulheres tomam a mais perniciosa decisão de ser um conto já conhecido, de
desenvolvimento e final previsível porque ausente de lirismo, força e autoria. Nestes
mesmos homens e mulheres, o tempo visto desde dentro é apenas repetição: viver
torna-se uma longa espera e a morte uma questão de perspectiva.
Por Que Não Somos Felizes? | 65
7
Balanço, Cenário
e Princípio de Seleção
D esde a Logoterapia – a escola de análise existencial fundada por Viktor
Frankl –, já sabemos qual a verdadeira causa do tédio: a crise de sentido.
E só vive uma crise alguém concreto, um homem de carne e osso que, mesmo
com todas as vantagens e circunstâncias socialmente favoráveis, muitas vezes
continua a questionar-se pelo que mais? Um amontoado de células não tem crise;
o homem duplo, de Durkheim, também não. Só quem sofre crises desse tipo são
homens de verdade, ontologicamente identificados por um fundo insubornável.
Animais não têm essa mesma identidade por lhes faltar a liberdade; só o homem
pode perverter e só o homem pode aceitar a graça.
Sendo assim, a afirmação de que cada um de nós tem um fundo insubornável
a que prestar contas é o mesmo que dizer que é da nossa constituição mesma uma
centelha de divindade: uma porção criada, transcendente ao mundo, mas que
está no mundo, traduzida na religião ou filosofia por alma. O fundo insubornável
é a instância mais nobre e substancial daquilo que por atrevimento chamamos
eu. Nosso tribunal interior é uma espécie de departamento de conferência entre
quem realmente somos e o que estamos fazendo. As grandes culpas não vêm
da sociedade de que faço parte: vêm de mim mesmo, dos atos sem testemunha
que realizo e que se confrontam com o fundo insubornável da minha alma. Só
assim podemos entender o filósofo que mente, sem que ninguém o saiba, e por
isso busca incansavelmente a redenção de sua vocação. Esta conferência – do
eu com suas pretensões, do eu com sua imagem substancial, do eu com os mais
sinceros projetos e promessas – é feita narrativamente, naquele movimento
de inclinação sobre si mesmo. O balanço existencial é necessariamente um
processo narrativo: volto-me sobre meus atos, quem tenho sido, e confronto
com as imagens, idealizações e pretensões. Se considero que o “saldo” é positivo
– estou vivendo muito próximo daquilo que sonho –, sinto-me bem. Se não,
Por Que Não Somos Felizes? | 66
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
considero-me infeliz, distante de quem eu gostaria e deveria ser.
A felicidade, portanto, está ligada à avaliação que cada um faz de sua presença
no mundo, pois estar no mundo tem uma tonalidade, uma qualidade para o
homem. Esta avaliação é uma equação existencial, essencialmente baseada no
fundo insubornável do sujeito. Sendo este fundo uma centelha divina, têm por
analogia os mesmos atributos do Ser: verdade, beleza e bondade.
E o que é felicidade para Aristóteles, senão ir em direção ao Sumo Bem? A
eudaimonia, como é exposta na Ética a Nicômaco, é a posse do bem. “O bem
é aquilo a que todas as coisas tendem”, esclarece o filósofo. Até que se chegue
ao Sumo Bem (o que não acontecerá no cosmos), cada um de nós abranda, ao
longo da vida, o apetite de perfeição com bens menores (honra, riqueza, prazer,
amor etc.). O Sumo Bem é a plenitude, o gozo de toda a bem-aventurança, e
por isso Julian Marías chamou de “impossível necessário” o afã por felicidade. É
necessário buscar, ainda que a plenitude seja uma esperança.
E buscamos porque somos futuriços: todos tendemos para o que ainda
está por vir. Somos, basicamente, antecipação de um projeto que nós mesmos
engendramos (realidade-promessa). Pensamos em quem queremos ser, onde,
com que pessoas, em que circunstâncias. Somos mônadas – conceito leibniziano
– imbuídas de uma força de possibilidades. A felicidade, como tantos outros
vetores pelos quais minha vida acontece, é um dos instrumentos de instalação
projetiva de que disponho: vem de um passado que orienta para escolhas futuras;
escolhas, eleições de um eu-amanhã. É a felicidade uma nota de referência para
o julgamento do que fui e da pessoa que imagino ser.
Maior é a referência quanto maior for a fome de vida (o que Ortega chamaria
de vitalismo). O fundo insubornável exige que a vida seja cheia. Naquilo que
compete ao tempo, alguma antevisão da eternidade. Quanto maior o horizonte
do indivíduo, mais poderosas são suas imagens antevistas; para os que
consideram apenas a dimensão utilitária das coisas, tudo pode ser resumido a um
evanescente bem-estar. O homem moderno confunde os bens e tudo lhe escapa:
não verte sua vida para aquilo que não tenha utilidade. Aprisionado no agora,
não admite tudo o que reverbera de uma biografia. Arte, por exemplo, virou
sinônimo de crítica social, de provocação. Assim ela mantém sua utilidade no
Por Que Não Somos Felizes? | 67
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
mundo da superficialidade, da negação da condição contemplativa do homem.
Mais inseguro do que nunca, o homem age desenfreadamente, confundindo
critérios sociais com realização do ser, tentando fecundar no cosmos o que só
pode nascer do espírito.
E assim podemos incluir a noção de cenário. Cada um de nós, ao fazer o
balanço da vida até aqui vivida, parte de dois cenários previamente postos:
temporal e eterno. Eu, Tiago, tenho uma história dentro de uma família,
país, circunstância humana. A soma deste conjunto de imagens, vigências,
experiências e usos com os quais eu tenho vivido é o aspecto temporal do meu
cenário de felicidade. Nunca esquecerei a descrição que Julian Marías fez de
seu lar e primeiros anos da infância em suas Memórias. Por vezes, ele parece
estar falando de um conto de fadas; de fato, é a amorosa convivência familiar na
qual cresceu. A primeira palavra que o marcou, para ilustrar este ambiente em
que crescera, foi “amante” (que era a forma pela qual sua avó o chamava). Este
cenário, sem dúvida, contribuiu enormemente no estabelecimento dos critérios
pessoais de Julian Marías quanto à sua felicidade. Porém, o autor da Perspectiva
Cristã e da Idéia de Metafísica nunca deixou de considerar, na atualização de
seu cenário, a realidade da eternidade. O conhecimento da história da salvação
(Santo Agostinho) e do último sentido da narrativa humana é o componente
indispensável para aqueles que anseiam um cenário de perfeição e esperança.
O homem maduro é aquele que articula, de maneira íntima e intransferível, os
elementos dos dois cenários herdados, configurando de maneira autoral o seu
mundo, lugar também de felicidade.
Tentarei ser mais claro com um exemplo: uma grande parte das pessoas
que conheço não teve uma infância como a do Julián Marías (repleta de amor
e carinho). Alguns, inclusive, cresceram em ambientes hostis, testemunharam
brigas, violências, desprezo. Para estas pessoas, o cenário temporal da
felicidade é doloroso: na verdade, é uma incógnita. É uma imagem esburacada,
desesperadamente preenchida com noções, exemplos e experiências alheias de
felicidade, apreendidas culturalmente, na convivência com outras crianças, nos
sonhos íntimos. Exatamente porque temos necessidade de felicidade, e faltando
uma experiência mais duradoura e histórica dela, completamos o cenário onde
Por Que Não Somos Felizes? | 68
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
vivemos nossos dramas com aquilo que imaginamos promovê-la. O cenário
temporal, assim, é fruto de uma composição limitada e ajuda a compreender os
destinos de milhões de homens e mulheres que vivem indignamente, abaixo de
si mesmos ou iludidos a respeito da felicidade.
Os efeitos psicológicos, existenciais e históricos na vida de alguém que
preencha erroneamente as ausências de felicidade são facilmente percebidos. O
próprio sujeito, quando decide debruçar-se sobre si mesmo numa investigação
consciente das trajetórias pessoais, confessa seus problemas de composição
e admite o cenário incompleto. É como a menina que cresceu numa casa
de alcoólatras e procurou um rapaz que não bebesse para casar; mais: por
testemunhar a condição da mãe, subjugada e infeliz pela maneira com que o
pai a tratava, decide “ser diferente”, procurando um noivo que permitisse ser
determinado por ela; que fosse “obediente”, “bonzinho”, passivo. Passados
alguns anos, reconhece-se infeliz como mulher. Não casou com um homem
que a atraísse verdadeiramente e que fizesse por ela o que apenas um varão
pode fazer. Casou-se com alguém que não oferecia confronto ou tensão, o que
permitiu um cenário contrário ao que vivera familiarmente.
Onde ela realmente errou? Na forma como absorveu a própria história e na
falta da referência eterna do cenário que desenhou para si mesma. Foi, de alguma
maneira, determinada pela narrativa que contou e pelo modo que “resolveu” seu
destino, fugindo ao verdadeiro mapa do seu reino e às consequentes decisões e
escolhas substanciais que a instalariam de forma mais feliz no mundo.
Em outras palavras, refém da própria história. A falta de articulação entre
o cenário vivido e o prometido pela presença da eternidade é o que permite a
acomodação existencial infeliz. É o que dizíamos sobre a imagem de eu ideal,
que deve levar em conta esta dimensão do homem, este destino a que é chamado
e ao qual não pode negligenciar. Se a história pessoal não foi rica em conteúdos
amorosos, felizes e consoladores, é preciso preencher o cenário com promessas,
atualizando as possibilidades mais nobres e reveladoras do espírito humano. O
verdadeiro cenário onde a vida pode acontecer de maneira feliz é determinado,
em suas linhas gerais, pelo que podemos desejar intimamente e que é a confissão
da substância pessoal – origem e fim. Um exemplo? Maksim Górki, escritor
Por Que Não Somos Felizes? | 69
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
russo, viveu tempos difíceis quando criança (o leitor pode tentar imaginar o
que era ser um filho de estofador na pobre Rússia da segunda metade do século
XIX). Tendo passado vários anos na casa dos avós, longe da mãe e sofrendo
muito, Górki poderia lamentar por toda a vida a falta do lar feliz que toda criança
deseja. Entretanto, ele escreveu Infância, obra de fundo autobiográfico na qual
imortalizou a figura de sua avó, a contadora de história que o socorria após as
surras que, quando menino, gratuitamente levava do avô. É impressionante a
beleza da história – e justamente pela composição que o autor faz: salva suas
circunstâncias e preenche o famigerado cenário com o enaltecimento da avó,
seu ponto biográfico de consolo.
A narrativa, de Górki, minha ou sua, tem um aspecto vertical: dos infernos
pessoais às delícias divinas. A subida e descida constante, pela própria ação
de contar e projetar, e assim conquistar as alturas e profundidades do cenário
autoral.
O que estamos tentando fazer aqui é expor os elementos narrativos que
ajudam na posse de si. Por acreditarmos que não há outro meio de fazê-lo –
e consequentemente alcançar este primeiro e fundamental bem da felicidade
– vimos que o olhar interessado e sincero sobre a própria história, a conexão
temporal continuamente feita, o reconhecimento do argumento biográfico
e do seu sentido, a consciência do cenário individual e a necessidade do
balanço existencial são elementos indispensáveis aos que se propõem viver
verdadeiramente felizes.
Mas há um elemento neste processo narrativo fundamental que não podemos
esquecer: o princípio de seleção adotado por quem narra. Isto é condição da
história: todo aquele que conta faz uma seleção de fatos. É notória a diferença
entre livros de historiadores brasileiros marxistas, como Caio Prado ou Florestan
Fernandes, e livros de Gilberto Freyre: naqueles, o princípio de seleção do que
Por Que Não Somos Felizes? | 70
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
será contado é econômico; neste, cultural (num sentido amplo, incluindo, como
em Casa-Grande e Senzala, receitas culinárias das negras do período colonial).
É uma longa discussão da ciência histórica: em que medida é possível
objetividade e análise “nua e crua” dos fatos. Considero impossível. Todo
historiador debruça-se sobre um passado – não qualquer passado –, aquele que
lhe chama a atenção e desperta, por motivos pessoais, interesse de compreensão.
Como não pode explicar tudo, contar tudo, demonstrar o passado como numa
tela impressionista, resta ao cientista fazer recortes – sempre pessoais, no
sentido de frutos do seu modo de fazer História. Isto não é mesmo que dizer
que existam mil “períodos coloniais brasileiros”, ao gosto do historiador; isto
é apenas afirmar que a riqueza da história, sua complexidade e dramatismo é
captada diferentemente, respeitando as perspectivas de cada um que narra e
explica o passado. A soma destas perspectivas é o que se aproxima dos fatos
objetivamente, os quais não são humanamente apreendidos sem alguma
interpretação.
Somos todos historiadores de nós mesmos. Se somos feitos de história, é pela
narrativa que nos conhecemos. E como nos impõe o processo mesmo de narrar,
fazemos naturalmente uma seleção conforme o princípio escolhido determina.
O homem adulto que odeia ao próprio pai tem motivos históricos para isso:
ao debruçar-se sobre seu passado, recolhe dados (fatos) que confirmam esta
postura e narra-os com a certeza de quem vive conforme aquela seleção. Temos
que admitir que nenhum pai, por pior que seja, é a encarnação do demônio.
Mesmo os pais mais ausentes, rígidos ou violentos tiveram seus momentos
de paternidade afetiva ou, pelo menos, de provedor preocupado com sua
família. O ódio corrosivo que sente pelo pai poderia ser suavizado – para a
melhora existencial do sujeito, inclusive – se na narrativa que faz da infância e
adolescência ele também selecionasse os fatos em que o pai foi mais carinhoso,
atento e disponível. Porque, salvo raras exceções, certamente estes momentos
existiram e devem ser levados em conta na formação das imagens históricas que
se tem.
O que faz este hipotético homem adulto do exemplo acima – e o que fazemos
todos, sem exceção – é contar nossas vidas desde uma perspectiva ou princípio
Por Que Não Somos Felizes? | 71
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
de seleção. Dado que não podemos narrar absolutamente tudo – nem James
Joyce conseguira em seu monumental Ulisses – é necessário escolher. O que
narrar? Por que aquilo não pode ficar de fora quando conto minha infância?
A verdade que estou tentando dizer aqui tem duas consequências: a
primeira, explícita, de que só podemos contar fazendo uma seleção que se apoia
no princípio previamente eleito pelo sujeito. A segunda, decorrente da primeira,
é que uma vida tal como é narrada é vivida. Se, na seleção histórica, destaco
os fatos que testemunham minha impotência diante da vida, meus fracassos
e perdas, é assim que viverei no presente: como um perdedor. O que atualizo
através das sucessivas conexões fugidias é o que apresento a mim mesmo e ao
mundo. Eu sou, neste exato momento, o que acredito já ter sido por meio da
composição narrativa.
Se estou acostumado a dizer a mim mesmo que sempre fui cruel com os
outros – e atesto isto através do passado selecionado –, é cruelmente que sigo
vivendo. A mulher que diz não servir para tal tipo de atividade faz esta afirmação
com base na história pessoal. Por isso a posse de si mesmo não existe sem um
alargamento do passado, no sentido de conquista de novos e novos conteúdos
frutos de perspectivas diferentes, princípios seletivos cada vez mais maduros e
abrangentes. Quem narra desde um único ponto, possui um único aspecto de si,
e isto impede a conquista do bem que estamos nos esforçando em tornar claro
como indispensável à felicidade.
Santo Agostinho, em sua Cidade de Deus, legou-nos uma forte imagem do
princípio de seleção que deveria ser encarnado por cada um de nós em relação às
narrativas biográficas: o da eternidade. Este é o princípio que vigora em sua obra
sobre a queda de Roma e a permanência do que é eterno. Se vista desde a sucessão
temporal, pura e simplesmente, a história humana não tem sentido algum.
Contá-la é apenas encadear fatos arbitrariamente. Se vistos – os personagens,
os fatos, os pequenos e grandes acontecimentos – desde a perspectiva eterna,
tudo muda de figura: ganham sentido, força, vitalidade, matiz. Aplicar isto na
narrativa pessoal ajuda na apreensão significativa do passado e na compreensão
do que chamamos destino.
Por Que Não Somos Felizes? | 72
Balanço, Cenário e Princípio de Seleção
É feliz quem sabe. Não qualquer saber, mas antes de tudo, o que se refere
a si mesmo. Novamente pergunto: quem quer aquilo que diz querer? Quem
está dizendo que foi infeliz na infância? Quem está afirmando não servir para
relações amorosas duradouras e fiéis? Quem está lendo este livro? Quem está
interessado em sua história pessoal?
É tudo radicalmente pessoal – ou ao menos deveria ser.
Não existe felicidade genérica.
Por Que Não Somos Felizes? | 73
8
A Felicidade do Encontro
A afirmação de Julián Marías – “a felicidade é assunto pessoal” – cada vez
fica mais clara e podemos fazer um adendo ao já exposto: se é a pessoa
quem pode ser feliz, também é nas pessoas (ou com elas) que encontramos
felicidade. As coisas nos oferecem prazeres e quando não sabemos desfrutá-las
sentimos o fastio dos entediados. Com as coisas precisamos operar, fazer nossas
vidas; mas não é nas coisas que encontramos o bem de que falava Aristóteles.
Se tivermos o mínimo de ansiedade pelo Sumo Bem, é com outras pessoas
que poderemos provar, à maneira íntima que a convivência permite, um gozo
limitado da infinitude.
Miguel de Unamuno foi um dos primeiros a reconhecer a necessidade deste
encontro: “uma pessoa isolada deixa de sê-lo; pois, a quem amaria?”. Ou seja: se
é pessoa, de maneira mais atualizada e perfeita, frente à outra pessoa. Ou ainda:
amando. Daí que nos soe no mínimo desesperador conscientizar que muitas
das nossas relações sejam baseadas no utilitarismo que intensifica o processo
de despersonalização que vivemos (no qual, paulatinamente, “perdemos” nossa
substancialidade e nos afastamos do foro íntimo que nos define como pessoas).
Sob nossas relações ocorre a diminuição, por um autoengano do sujeito, da
realidade ontológica do outro. Não o vejo como pessoa, mas como algo –
portanto, não tenho como amá-lo. É o que acontece, por exemplo, quando
tratamos por telefone com alguma atendente de telemarketing e, ignorando
quem está do outro lado da linha, requisitamos uma relação funcional, não
nos importando se A, B ou C resolverão nosso problema ou escutarão nossas
reclamações. Nenhum de nós pensa que tem alguém falando conosco – alguém
de carne e osso, dimensão pessoal, realidade radical. Uma máquina programada
para atender pode servir aos mesmos propósitos.
O que se destaca aqui é uma das consequências da complicação do processo
Por Que Não Somos Felizes? | 74
A Felicidade do Encontro
de divisão social por meio de novas funções, cada vez mais específicas e, ao
mesmo tempo, mais impessoais (como a de telemarketing). Num tempo em
que uma vila tinha apenas um médico, que cuidava de gerações e gerações de
concidadãos, a relação entre paciente e doutor era muito mais pessoal (como
se tenta fazer atualmente com a figura do “médico da família”). Hoje, nossas
relações são técnicas, impessoais e distantes: dirigimo-nos uns aos outros
em busca de soluções e realização (a contento) de funções que mantenham a
engenharia social que inventamos.
A coisificação do outro – aspecto do processo de despersonalização – tem
consequência imediata na pretensão de amar, característica de todos os homens.
Se existe uma diferença crucial entre desejar algo e desejar amorosamente
alguém, é esta: no primeiro, vivemos um movimento centrípeto, que pretende
trazer a “coisa” desejada para nosso espaço vital. Quero aquele carro significa: ele
em minha posse, dentro dos meus domínios. No desejo amoroso, na pretensão
de verdadeiramente amar alguém especificamente, acontece um movimento
centrífugo: “saio de mim”, em direção ao outro. A inclinação é para fora, no
sentido de ir ao encontro, querer a intimidade e, por isso mesmo, ser alterado
pela presença do amado.
Minha preocupação, neste sentido, é evidenciar a radicalidade (e
singularidade) do encontro a dois. Estar em face do outro é ver-se quase sem
saída ou subterfúgios: ou provo da intimidade – que toca a pessoalidade – ou
fujo. Uma das coisas mais emblemáticas da vida humana é estar cara a cara com
alguém. Apenas você e o outro. Sem terceiros. Sem grupo. Sem aglomerações.
Em todas as outras formas de convivência existem mil maneiras de fugir da
intimidade. O olhar pode se perder na multidão, o diálogo pode ser dissolvido
numa roda, a mentira pode passar despercebida. Três pessoas reunidas num bar
ou numa sala de estar já têm a possibilidade de desviar as respectivas atenções.
Encontro, radicalmente falando, só é possível entre duas pessoas. Expostas,
impedidas de fuga e de negligência com a presença do outro, cada uma é impelida
a ver e ser vista. A distração é menor – não há outros com quem dividir – e a
inclinação da intimidade tem apenas um vetor a ser percorrido: ou vai-se em
direção àquele Tu que está à frente do Eu, ou foge-se. Ou expõe-se, ou fecha-se.
Por Que Não Somos Felizes? | 75
A Felicidade do Encontro
Ou interessa-se ou despreza-se. Em face do outro atualizamos nossos graus de
humanidade ou recusamos o chamado a ser.
E assim como a presença, a fala humana é sempre dirigida. Quando falamos
a um grupo, literalmente “espalhamos” a mensagem: diluímos a fim de que
todos possam captá-la. Olhamos em volta e distribuímos as palavras e intenções
entre os ouvintes no intuito de fazê-las chegar a todos (ou à maioria). Estando
a dois, a capacidade de comunicar só pode ter um sentido e por isso mesmo
sai do emissário com muito mais força; no receptor, tem maiores chances de
achar terreno fecundo. Uma conversa pessoal é uma conversa a dois. Sempre.
Sem exceção. Os melhores livros e os melhores discursos são aqueles que
aparentemente falam comigo: o autor queria que eu soubesse daquilo. A ilusão
de intimidade, nestes casos, é intenção de quem escreve justamente por saber
que diálogo verdadeiro dá-se entre dois. Os vetores – direções de mensagens –
vão de um para um.
E toda a comunhão entre os homens, todo o gozo da convivência,
solidariedade e efetivo consolo entre nós é possível apenas a partir dos encontros
íntimos entre as pessoas. É isto que sustenta nossa comunidade. Amizade, amor,
discipulado: dois a dois, verdadeiramente interessados um no outro e confessos
de suas misérias, vergonhas e centelha divina. Todos estes elementos devem
naturalmente estar presentes num encontro e nenhum deles é conquistado na
homogeneidade das massas, na identidade de grupo ou no exibicionismo das
redes sociais.
É preciso voltar a percorrer o longo caminho que extrai da minha realidade
radical e leva à do outro. É preciso recuperar aquele atrevimento que me faz tocar
alguém com a mesma intensidade de quem não deseja a solidão infernal. Sim,
porque existe uma solidão paradisíaca: é a que sentiremos na hora da morte e no
derradeiro encontro entre nosso eu e o Tu absoluto, como diria Gabriel Marcel.
Para que este encontro derradeiro aconteça – e para que eu esteja preparado
para tal – é necessário que eu prove muitas vezes da insegura e transcendente
relação a dois. Sem armas, estratégias ou falseamentos, devo me inclinar a pessoas
de carne e osso; procurá-las e identificá-las individualmente, respondendo com
minha própria vida o lugar que nela ocupam, o continente biográfico em que
Por Que Não Somos Felizes? | 76
A Felicidade do Encontro
habitam. Cada uma das minhas relações tem uma história e nenhuma delas
deve ser tomada em abstrato (o que, praticamente, seria traí-la).
Contudo, é emblemático e doloroso, no mínimo. Todo aquele que
experimenta a intimidade a dois sai alterado (do processo centrífugo) e nenhuma
alteração é absolutamente indolor. Por isso muitos fogem dos encontros pessoais
como quem foge do fogo do Inferno. Não percebem que, agindo assim, dele
se aproximam, pois nada acelera mais a descida ao inferno do que a solidão
neurótica e ilusória; a impostura que confunde individualidade com suficiência.
A solidão e o grupo têm seus motivos de ser. Mas só a comunhão a dois tem
a possibilidade de salvar.
Despersonalizar alguém é não reconhecer sua substância. Este processo
acontece em relação a si mesmo, quando temos dificuldades de confessar nossa
realidade criada, e em relação ao outro, quando não posso amá-lo simplesmente
porque não o vejo como objeto de amor – no caso dos homens, um amante.
Voltando a Unamuno: o isolamento impede que eu seja pessoa pelo fato
de que não posso amar ninguém. Ou seja: o amor atualiza a pessoalidade. É
a única relação que nos devolve ao mistério e infla em cada um dos amantes
a realidade transcendente. Quando amo, saio em direção ao outro, como um
vetor direcionado que tem destino certo – e sempre fora de si. A conclusão,
no que toca a felicidade, é clara: não pode ser feliz aquele que não ama, pois
aquele que não ama deixa de ser pessoa. Um coração solitário não é um coração,
escreveu Antonio Machado.
Felicidade é assunto pessoal. E cada um de nós ama a coisas e pessoas
diferentes. E isso “radicaliza” ainda mais a posse do Bem: não existe felicidade
genérica, nem Paraíso genérico, nem caminho único (apesar de reconhecermos,
com Aristóteles, os bens em si mesmos, desejáveis por todos os homens). Mas
a pessoalidade impele a alcançar estes mesmos bens de forma única, autoral,
Por Que Não Somos Felizes? | 77
A Felicidade do Encontro
irrepetível. “Minha casa tem muitas moradas”: antes que no seio de nossas mães
fôssemos formados Ele nos chamou pelo nome.
Encontrar, etimologicamente, é topar com um homem. Dado que me
encontro com alguém, nossas realidades se chocam: já não posso ocupar aquele
espaço em que ele está; já não sou ilimitado como pensava, pois a própria
presença dele limita-me. Estou fadado a esta resistência: o outro também é
real. Para a existência e meu drama tornarem-se viáveis é preciso transcender:
suavizar o choque.
Filósofos auxiliam nossa compreensão: Xavier Zubiri falou sobre a sintaxis,
a disposição coordenada. No mesmo sentido, Santo Tomás de Aquino ensinou
sobre o pressuposto metafísico do encontro entre os seres: a relação. Disse ele:
“Convém que nas mesmas coisas haja certas relações segundo as quais uma está
ordenada à outra”. Pedro Laín Entralgo acrescenta que a própria limitação dos
seres criados os faz dirigirem-se ao que não são eles, portanto, a relacionarem-
se.
Lendo estes e tantos outros, pude entender que meu drama como homem,
a relação e sua necessidade, nada mais reflete do que a própria estrutura da
realidade: as coisas (e mais propriamente, as pessoas) estão ordenadas umas
às outras. No caso do ser humano, ser é ser com (Zubiri). Com isto descobri a
ambiguidade das relações humanas: podem causar dor, mas também podem me
revelar os mecanismos da ordem real. Já não me disponho de forma pessimista e
supero as resistências cultivadas pela solidão infernal. (É no mínimo triste o fato
de tantos homens e mulheres passarem suas vidas sozinhos por não conseguir
vencer o medo ou insegurança do encontro com o outro que, ao fim e ao cabo,
nada mais é que estrutura mesma das coisas, feitas para ser com.)
Mas é possível, sim, suavizar o choque: fazer do encontro uma verdadeira
interpenetração dos seres. Mais uma vez, é adequar-me à estrutura da realidade
Por Que Não Somos Felizes? | 78
A Felicidade do Encontro
e abrir-me: ao outro, à relação, ao amor. Saber invocar o ser do outro é um dos
elementos indispensáveis à felicidade; pois existir, humanamente, é existir para.
Isto é verdadeiramente coexistir. São nestes atos em que me dou ao outro que mais
paradoxalmente me crio. Por isso podemos afirmar que toda a dramaticidade de
uma vida humana deve conduzir a pessoa a uma busca de sentido que, no caso,
não encerra o sujeito em si mesmo (como no centrípeto). Nosso sentido estaria
no encontro com os seres que me conduzem, como num ensaio, à relação com
o Tu eterno e absoluto.
E o ensaio criativo respeita a complementaridade.
Não existem seres em geral. O mesmo Julián Marías disse nunca ter
encontrado um ser humano, mas apenas um homem ou uma mulher. No mundo,
a espécie apresenta-se de duas formas bem distintas e referentes uma à outra: é
uma das instalações, chamada condição sexuada. Muito além da sexualidade, é
um dos configuradores da forma concreta de alguém. Estar no mundo é estar
como varão ou como mulher e não há terceira opção.
Portanto, a felicidade – assunto pessoal – também deve assumir matiz
específico. Deve haver um desdobramento do programa vital masculino, outro
do feminino; do contrário, aceitaríamos a homogeneização da criação, o que
nos parece inverossímil. Comecemos pela instalação, ou condição sexuada, do
varão.
Há uma cobrança pela virilidade no varão: ele exige de si mesmo as virtudes
que considera indispensáveis a um homem. Contudo, esta exigência seria
injustificada se prescindisse da mulher. A condição sexuada do varão atualiza-se
quando em oposição à da mulher (e vice-versa). Assim, a busca pela virilidade
deve acontecer em razão da mulher, pelo entusiasmo que a mesma provoca no
varão. Também na oposição – ou disjunção polar – entre varão e mulher é que
surge a necessidade de segurança: do varão, apesar de toda insegurança que
Por Que Não Somos Felizes? | 79
A Felicidade do Encontro
compõe a vida humana, espera-se decisão, saber, certezas, recursos. O varão é
aquele que aspira à fortaleza. Este é o vetor a que tende seu ser e sobre o qual
avalia sua instalação sexuada. Mas é preciso esclarecer que esta fortaleza não se
possui (pois a condição é a insegurança); entretanto, tem que possuir. Este é o
requisito programático que orienta o varão: ter de ser forte.
A forma de instalação masculina também cobra, no que toca a felicidade,
a vivência da profissão. Um varão pode estar insatisfeito com a sua situação
profissional, mas nunca com sua condição. A profissão é um dos meios
de expressão da condição sexuada à qual pertence e o grande perigo é a
proletarização deste vetor. Quando um homem não consegue inventar a sua
profissão e adere a um esquema vital pronto, tem-se o elemento necessário à sua
infelicidade. O varão é aquele que empreende, que tem iniciativa. Aqui, autoria
ganha uma dimensão profunda e de consequências biográficas seríssimas. A
isso se acrescente o lugar da ambição do varão em sua realização; e que o mesmo
saiba concretamente responder a que ambiciona.
Vivemos, de fato, uma crise de virilidade. Recordo da obra História
da Virilidade, organizada por Georges Vigarello. Logo no início, o autor e
organizador define a realidade a que me refiro estar em falta:
“O termo andreía já diz o que o termo latino vir estabelecerá por longo
tempo em inúmeras línguas ocidentais, virilita, virilidade, virility: princípios de
comportamentos de ações designando, no Ocidente, as qualidades do homem
concluído, dito outramente, o mais ‘perfeito’ do masculino”.
Primeiramente ligada à guerra e às conquistas, passando pela dominação
sexual, o termo de origem grega designa, mais do que qualquer coisa, a excelência
masculina. Viril é aquele que atualiza a condição sexuada de varão e está à altura
do chamamento que isto traz. Por isso, a crise de virilidade (não consigo apagar
da memória uma propaganda de lingerie masculina que vi numa rede social)
é uma crise de condição e instalação do varão: não estando em posse de sua
identidade viril, não pode opor-se à mulher, que se reconhece cada vez menos
“diferente”, engendrando um processo vicioso de aproximação ilusória dos sexos
que termina na ideologia de gênero. Um homem feliz é diferente de uma mulher
feliz.
Por Que Não Somos Felizes? | 80
A Felicidade do Encontro
Antes de expor a felicidade na perspectiva feminina, é preciso que eu
confesse um ponto marcante da minha história: sempre gostei das mulheres
e sempre fui atraído por elas. Contudo, apenas depois de ler Julián Marías (A
Mulher no Século XX, A Mulher e sua Sombra, Antropologia Metafísica) é que
passei a enxergá-las de maneira pessoal, inclinado interessada e ingenuamente
a seus mistérios. Hoje tenho uma postura quase de reverência à mulher; atrai-
me seu mundo, projetos e infinitude. Sua beleza e dimensões que se opõem às
minhas e, ao mesmo tempo, confirmam-me. Posso dizer que o olhar daquele
filósofo espanhol tem purificado o meu desde então: é sempre um gozo maior
reconhecer o ser feminino e não o objeto prazeroso apenas. Tanto é verdade
que proferi um curso, em onze aulas, no ano de 2014: Filosofia da Mulher.
Consciente de todas as potências que ainda tenho que alcançar como varão,
afirmo que aquele mergulho na condição feminina me tornou mais homem e
produz efeitos até hoje, nas relações com minha esposa, amigas, alunas etc. (por
alguma obra do destino, a grande maioria das pessoas que acompanham meu
trabalho são mulheres). Qualquer resquício de “desprezo” ou de superioridade
machista que eu tivesse foi sendo substituído por um interesse verdadeiro,
expresso nas relações e também nas aulas e textos que tenho feito desde então.
Sigamos com a felicidade em sua forma feminina. Outros requisitos tem a
mulher para viver seu programa vital. Primeiro, é preciso destacar a dificuldade
em se falar de felicidade feminina: a mulher, diz Julian Marías, é particularmente
secreta. Não expressa descontentamento como o varão o faz. Consegue maquiar,
ocultar o que lhe passa. É mister que se preste atenção em suas expressões que
se alternam com grande frequência, deixando sempre uma espécie de nesga
misteriosa entre um laivo de revelação e outro.
É a capacidade de transfiguração que nos espanta na mulher. Até mesmo
sua beleza muda. E isto tem uma explicação: ela pouco se interessa pelos
acontecimentos externos, sociais. À mulher parece não lhe dizer grande respeito
o que passa, mas o que fica ou permanece em seu ser. Nas palavras de Ortega,
a mulher tem maior contato consigo mesma, experimentando em níveis bem
mais profundos o que o filósofo chamou intra-corpo. Há o corpo e há uma
vivência do corpo. É nesta vivência que a mulher se detém, prestando atenção
Por Que Não Somos Felizes? | 81
A Felicidade do Encontro
aos detalhes que indicam quem ela é. Percebemos isso quando ela se compara
a outra mulher: nunca o faz sob a clave de um papel ou aspecto; compara o seu
ser com o ser da outra. É o quem que lhe interessa sobremaneira. Em outras
palavras, a mulher precisa estar contente de si mesma. Se para o varão importam
seus afazeres e o que acontece, à mulher é imprescindível sua realização interior.
O homem tem um grau superior de transcendência; a mulher, de imanência.
Por isso ela busca ser atraente: para que se olhe para ela, para quem ela está
tentando ser. E quando encontra alguém que nela lança seu olhar, entrega-se.
Da mulher, podemos dizer que a felicidade é uma espécie de oferta. Dando-se a
outrem ela encontra felicidade; é a generosidade da condição feminina, evocada
por Antonio Machado como hospitalidade (desde a gestação, a mulher é aquela
que hospeda, que acolhe).
Jane Austen é uma de minhas autoras prediletas. Quando falo da realidade
da mulher, dificilmente deixo de citá-la. Algumas de suas obras, porventura,
me ajudaram (e ainda ajudam) a compreender as mulheres. É o que acontece
com a leitura de seu último romance: Persuasão. Faço essa referência específica
– indicando veementemente a leitura desta e de outras obras da autora inglesa –
porque acredito que, ao falar desta história, é possível expor com maior clareza
a necessidade do encontro amoroso entre homem e mulher e a felicidade
decorrente disso (aspecto que nos interessa sobremaneira neste ponto do livro).
Em Persuasão, Austen retrata novamente a sociedade inglesa de início do
século XIX, seus valores e algumas hipocrisias, tendo como argumento principal
uma história de amor que sobreviveu a um hiato de oito anos e meio. Anne
Elliot e Frederick Wentworth foram noivos no passado, mas romperam devido
às exigências sociais da casta a que pertencia a jovem filha de Sir Walter, um
nobre endividado que não aceitava as pretensões matrimoniais de um jovem
oficial da marinha. Lady Russel, amiga da família e muito próxima a Anne, foi
Por Que Não Somos Felizes? | 82
A Felicidade do Encontro
quem a persuadiu a romper com Frederick.
Por algumas peripécias do destino, o belo oficial reaparece em Kellynch
Hall oito anos depois, rico e cobiçado por muitas solteiras. Anne, que nunca
esquecera Frederick, é abalada por sua presença e tem renovado o amor que
sentia. A história transita entre o incômodo inicial sentido pelos amantes há
tanto separados, e a persuasão interior de que aquele amor ainda poderia ser
vivido.
É o que podemos chamar de uma clássica história de amor, com suas idas e
vindas, liberdades e circunstâncias; erros e arrependimentos. Há na relação de
Anne e Frederick todos os elementos que compõem uma dramática e inspiradora
história de amor, como se vê em Romeu e Julieta, Amor de Perdição ou Os
Noivos. Separação e reencontro, dificuldades e enfrentamentos, permanência e
constância.
Aliás, um dos mais belos parágrafos do livro fala justamente disso: a
constância ou fidelidade do amor quando devotado por uma mulher. Anne se
dirige ao capitão Harville, com quem conversa durante um jantar, e diz: “Não,
eu acredito que vocês (homens) são capazes de tudo que é grandioso e bom em
nossa vida matrimonial. Acredito que são capazes de fazer qualquer esforço
importante e qualquer sacrifício pessoal desde que... se me permite a expressão,
desde que tenham um objetivo. Quero dizer, enquanto a mulher que amarem
estiver viva e viva para vocês. O privilégio que reclamo para o meu sexo... não
é muito invejável, não precisa cobiçá-lo... É o de amar mais tempo, quando a
existência ou a esperança já desapareceram”.
Eis uma descrição perfeita da oferta feminina; da substância que distingue a
mulher do homem: sua conexão íntima com a eternidade e a realidade unívoca
e uníssona, desde a qual não há partes, porções ou aspectos do amor. Ama-se
integralmente, idealmente. A fidelidade é um componente feminino da vida,
justamente porque é a expressão máxima do indivisível que, na existência
humana, se traduz como escolha irrevogável, amor sem medidas, permanência
sem hesitações. A mulher, assim como demonstrado por Anne, é chamada à
oferta de si mesma, e oito anos pouco significam para quem quer que se tenha
decidido verdadeiramente.
Por Que Não Somos Felizes? | 83
A Felicidade do Encontro
Mas, não esqueçamos, Frederick também foi fiel. Sem jamais esquecer sua
amada, ele luta contra seus próprios desejos e percepções até que não suporta
mais. É persuadido pelo amor que sente e que, no caso dos varões, se expressa
com identidade diferente do das mulheres: “vê-la, exclamou ele, no meio daqueles
que não podiam desejar-me felicidade, ver o seu primo próximo de você,
conversando e sorrindo, e sentir todas as horríveis vantagens e conveniências
desse casamento! Considerá-lo como desejo certo de todas as pessoas com
possibilidades de lhe influenciar! Pensar que poderosos apoios ele tinha, mesmo
que os seus sentimentos fossem de relutância ou indiferença! Como podia olhar
ao redor sem angústia? A amiga sentada atrás de você, a recordação do que
acontecera, o conhecimento da sua influência, o efeito indelével e permanente
de que a persuasão tinha sido feita... não estava tudo isso contra mim?”.
A emoção posta em suas palavras, claramente percebida pelas exclamações
pontuadas pela autora, forma a imagem do movimento interior do oficial. Sua
angústia e até desespero em não perder a amada para qualquer primo que o
valha. A resposta de Anne não poderia ser mais radical e fiel: “você deveria ter
notado a diferença... não deveria ter duvidado de mim agora”.
Numa relação amorosa, a oposição disjuntiva existente entre a mulher
e o varão – e assim desejada pela realidade, de forma estrutural – condensa
simbolicamente as duas formas de estar no mundo do ser humano, como diria
Julián Marías. A mulher é aquela que enxerga longe, nos desdobramentos
da relação em que está, os efeitos na eternidade do amor que mutuamente
oferecem. Ela é como o vaso depositário das esperanças do homem, culminando
na fecundação de seu útero toda a nova possibilidade característica do amor.
Esterilidade é oposto ao amor. Por isso a mulher não deve aceitar posição inferior
que a desinstale deste lugar de privilégio no qual o velho encontra o novo e a
face da terra se renova.
Do mesmo modo, o homem é aquele que luta para realizar, exigindo de si
mesmo a força necessária para fecundar a vida. É regido por um sol interior
que o impele a cumprir, construir, prover no mundo que é inexoravelmente
masculino. A eternidade, para o varão, é uma morada atraente. A mulher,
neste sentido, é o sinal sensível da eternidade que precisa ser conquistada e não
Por Que Não Somos Felizes? | 84
A Felicidade do Encontro
perdida. É por isso que, no século XIX e em outros tempos, é o homem quem
vai em direção à mulher; corteja-a como quem ensaia um pedido de casamento
com a divindade, uma entrada para o Paraíso que sempre teme não ser mais seu.
Que a realidade tenha feito as coisas desse modo creio ser indiscutível.
Mesmo nas relações homossexuais, será necessário que os dois envolvidos
exerçam papéis diferentes na hora do sexo. Portanto, a complementaridade é
irrevogável. As grandes histórias de amor da literatura, como as de Jane Austen,
são símbolos desta tensão existente entre os opostos que, quando felizmente
vencem as descontinuidades e infidelidades, dão nascimento a um tipo de
encontro – o mais radical e frutífero entre os seres humanos. Nenhum amor
é mais radical que aquele existente entre um homem e uma mulher e, por isso
mesmo, todas as histórias de amor da literatura ainda são poucas para falar de
tal realidade. As repetições deste grande argumento ao longo do cânone literário
é apenas uma das provas do princípio vivente que escondem, revelado não aos
bons leitores pura e simplesmente, mas aos grandes amantes.
“A medida do amor é não ter medida”, ensinou Santo Agostinho. Repito:
nenhum amor é mais radical que aquele entre um homem e uma mulher. Se a
pessoa “faz-se” amando, e se aquela é sua forma mais radical, então podemos
tirar nossas conclusões. O homem, diria José Ortega y Gasset, é criatura amorosa
(isto o define muito mais do que “animal racional”).
Responda, pois, leitor: existe algo mais concreto, real, prático e projetivo ao
mesmo tempo, do que a realidade “personalizante” de dois amantes?
Por Que Não Somos Felizes? | 85
9
Pretensões Coletivas
T odo homem tem um conjunto de perguntas radicais que motivam seus
processos de intelecção. Aliás, conhecer um homem é saber distinguir
este conjunto que fornece ao observador sua tendência existencial, inclinações
biográficas e disposições vocacionais. Cada um de nós tem algumas questões
realmente pessoais que deseja responder ao longo da vida. Nem sempre
respondemos, mas isso não importa: o movimento, no sentido de compreender
aquelas realidades anunciadas nas grandes perguntas antes de qualquer outra
coisa, já configura (em parte) a trajetória individual.
O que você quer saber da vida? Com o que você gasta tempo, energia e
dinheiro para conhecer? O inventário das próprias questões é um dos meios
de posse de si: reconhecer as perguntas mais radicais – aquelas que despertam
intimamente a faculdade da inteligência – é requisito para o alcance da felicidade.
De certa forma, uma pessoa é também aquilo a que ela tende interessadamente e
que ela não abre mão de saber (sob pena de não realizar o próprio ser).
Uma das minhas perguntas é esta: qual é a relação que existe efetivamente
entre a sociedade e o indivíduo? Não sob o ponto de vista da sociologia, mas,
primeira e radicalmente, da antropologia filosófica. Em que medida minha
realidade altera-se, comunica-se, expande-se e limita-se na complexa interação
com a “realidade” coletiva? Por exemplo: o “quanto” da história colonial
brasileira, ou das leis estaduais, ou da música nordestina faz parte do meu
mundo, estabelecendo conteúdos e continentes sobre os quais transcorre minha
vida?
A relação entre história pessoal e coletiva, para tomar um dos exemplos, já
me proporcionou muitas horas de leituras, reflexões e escrita. Para mim, não
há resposta fácil ou pronta: com base no princípio de autoria, é preciso dar
alguma resposta aos anseios, fatos e pretensões coletivas históricas que chegam
Por Que Não Somos Felizes? | 86
Pretensões Coletivas
até minha realidade individual, como a instauração da República, em 1889:
eu não estava lá, nem conheço tantos detalhes do processo. Entretanto, estou
aqui, vivendo sob o regime republicano iniciado há mais de cem anos, tendo
de absorver um conteúdo da narrativa social que também é meu, mas que não
tenho certeza do “quanto” é meu.
Foi Olavo de Carvalho quem afirmou: só entendemos a história desde nossa
própria história. O que fora anunciado como um princípio evidente precisa ser
desdobrado analiticamente, pois, no meu caso, trata-se de uma pergunta que
precisa ser respondida.
Acontece, no mundo das coisas, a vida humana. Desde os primeiros
hominídeos impera o estranhamento que aparta esta realidade de todas as
outras. O tempo é nossa substância e o mistério, constituído em segredo de
ser, a experiência mais fundante: somos feitos do que não podemos dizer
e por isso esforçamo-nos em possuir aquilo que faça de nós uma espécie de
revelação. Deixados à intencionalidade da memória, somos como forma e
matéria fugidias. Não nos encontramos simplesmente nos fatos isolados que
integram nossas histórias. Mas, por obra da consciência, compreendemo-nos
na estrutura subjacente ao que se recorda, na linha que conduz e dá o matiz do
que chamamos biografia.
A atividade reminiscente é, portanto, o primeiro passo: entre evocações e
lembranças nos damos conta dos elementos que compõem o espetáculo de que
somos razão e o qual, ainda que sobejado de emersões, não nos confia uma
história. Esta se engendra na narrativa, em nossa qualidade ao eleger os fatos
que imaginamos ser o argumento unificador de nossas vidas.
E por isso o drama é expressivo de nossa realidade: feita de atos consecutivos,
a vida humana tem como fórmula algo como um acontecer após acontecer. Dito
Por Que Não Somos Felizes? | 87
Pretensões Coletivas
de outro modo, as experiências e fazeres de um indivíduo o instalam no presente
sempre com o sinal indelével do passado; este é responsável pela ininterrupta
confirmação de que aquele ser atual, ao qual testemunho agora, já estava sendo.
O horizonte histórico – conscientização do acontecer humano – é
indissociável da amplitude narrativa do indivíduo: seu conhecimento dos fatos
passa necessariamente pelo conhecimento de si, numa espécie de gnose íntima
capaz de manifestar a porção mais essencial e que, por reciprocidade do real,
torna manifesto aquilo que ultrapassa sua subjetividade. Deste modo, dá-se o
diálogo entre o homem singular e o coletivo: as tramas da experiência humana,
encadeadas no momento em que se requer a história, encontram o eu concreto
capaz de capturá-las e protraí-las desde seu centro. A história contada restitui,
assim, a comunicação da humanidade com seu sentido e abre novamente a nesga
pela qual almeja ouvir a voz da Providência.
E almejamos porque toda história tem estrutura: desde o primeiro homem,
todas as escolhas feitas no decorrer do tempo partiram de um rol de possibilidades.
É o mesmo que dizer que a aventura humana é impossível sem um script, um
argumento que permita a escolha. O destino passa a ser aquilo que o indivíduo
conscientiza sobre o universo de possibilidades existentes para ele e disto resulta
o acontecer humano no tempo e a participação pessoal na eternidade.
Tal participação se dá, especialmente, na atividade criadora reservada ao
homem: a história do acontecer humano não só fala de fatos como gera novos
fatos. Se Deus cria do nada, nós criamos a partir do que já fizemos. É um
paradoxo de nossos dias que as pessoas tenham desejo de “originalidade” ao
mesmo tempo em que teimam na ignorância do passado. A vista cuidadosa
do acontecer é o que mantém fecundo o solo onde semeamos o novo. A obra
humana, neste sentido, é sempre um convite à atualização: cada um de nós deve
possuí-la para acrescê-la.
Quando se trata da própria vida, o homem cria a si mesmo: suas eleições
nunca nascem de uma vacuidade, mas de escolhas pregressas com as quais
ele sabe ter feito sua trajetória até aquele momento. Ninguém pode negar que
existimos numa espécie de tensão: voltamos nossos olhos para o que seremos
ao mesmo tempo em que precisamos estar conscientes do que já fomos. A
Por Que Não Somos Felizes? | 88
Pretensões Coletivas
sabedoria da causalidade humana, do destino pessoalmente eleito, reside na
maneira como lidamos com essa tensão que nos constitui: imprudente é a
definição daquele que vive como se não lhe dissesse respeito tal movimento.
A presença humana, assim, é a presença de um movimento: de um acontecer
para outro, de um ser para outro (o acerto de Hegel com seu vir a ser). Há certo
gerundismo na experiência dos homens: estamos sempre vivendo, caminhando,
amando, odiando, escolhendo, matando, possuindo. Diante de sua existência, o
indivíduo reconhece sua indeterminação que só será resolvida na eternidade:
em seu necrológio, alguém dirá que viveu, que amou, que escolheu.
Sobre a história – ainda – é inevitável perguntarmos pelo fim. Testemunhamos,
nos livros e na vida, histórias que terminam: o império acabado, o povo
exterminado, o amigo morto. Começar um romance, por exemplo, é desejar
o seu fim. Quem quer que tenha lido Crime e Castigo até a metade usufruiu
do estilo, do talento, da capacidade de expressão de Dostoievski; conheceu
personagens e tateou uma narrativa. Mas só quem chegou ao final do livro
apreendeu a redenção vivificadora de Raskolnikov: no ponto encerra-se a forma.
Na vida humana o ponto final pode ser invocado pelo indivíduo: a
consciência da própria morte ressignifica a existência, a escala das decisões e a
forma almejada. É o tipo de produto da consciência que tem o valor inestimável
de restabelecer no homem sua dignidade: seu tamanho e lugar no cosmos. A luz
da morte, antecipada por uma imaginação refinada pela atividade consciente é
a pedra de toque com a qual nos instalamos verdadeiramente na História sob a
égide de sua forçosa magnitude.
Se me fiz entender no trecho acima, agora é um pouco mais clara a relação
entre história coletiva e história pessoal: como já falamos antes, o passado trata-
se também de uma promessa em forma de legado. É preciso que o homem atual
o possua a fim de que possua a si mesmo, pois nenhum de nós entra na História
Por Que Não Somos Felizes? | 89
Pretensões Coletivas
desprovido de herança. E como um nobre da nova geração deve responder à
altura do destino conquistado e prometido pelos antecessores.
Por isso, o conjunto de realizações passadas feitas, construídas e determinadas
por homens de carne e osso como eu me dizem respeito. Sua intensidade e nível
de interação com minha realidade radical variam conforme a posição geográfica,
cultural, histórica e existencial dos fatos: alguns são mais próximos a mim,
outros menos. De qualquer forma, não há realidade coletiva absolutamente
externa e indiferente, como também não há fato absolutamente interno, sem
qualquer consequência fora do indivíduo. O mundo e sua reabsorção contínua
é um encontro, na própria pessoa, destas duas dimensões chamadas “externa”
e “interna” apenas para fins didáticos. A história, as pressões, as vigências
coletivas atuam sobre mim, e meus sentimentos, crenças, projeções vertem-se
para além de mim. Cada um de nós é uma espécie de ponto de cruzamento entre
todos fatos, períodos e trajetórias da História: por isso, de alguma maneira, uma
biografia é também um resumo (muito condensado) da marcha humana sobre
a Terra.
Portanto, é forçoso reconhecer que existe uma soma de cruzamentos ou
“corpo coletivo” – conjunto de outros “eus” com que convivo ou simplesmente
divido espaço social – que não só me diz respeito, mas também atua sobre
minha realidade radical e vice-versa. Como é formada por indivíduos, podemos
afirmar que a sociedade tem suas pretensões, valores e projetos (que são a
soma das pretensões, valores e projetos dos que fazem parte dela). Em outras
palavras – e todo este capítulo tinha a intenção de trazer o leitor até este ponto
– minha felicidade depende, em parte, da idéia de felicidade compartilhada pela
sociedade onde estou e atuo.
Pelo fato de nenhum de nós podermos prescindir da história humana, e
ainda ter o dever de assumi-la e atualizá-la com a própria vida, é incontestável
a relação íntima que existe entre as pretensões individuais e as coletivas. Toda
pessoa, por mais “independente” que seja, está numa teia complexa de relações,
sendo forjada existencialmente pelas pressões e projeções coletivas do universo
social a que pertence. Mesmo que para negá-los, qualquer indivíduo precisa
reconhecer os padrões e valores presentes no meio em que vive.
Por Que Não Somos Felizes? | 90
Pretensões Coletivas
Desta forma, gostemos ou não, a felicidade pessoal não ignora as pretensões
sociais. Deve absorvê-las, antes de qualquer coisa, assim como faz o historiador
com o passado escrito pelos homens de outrora.
A posse de si passa necessariamente pela posse do ethos social – algo a que
me refiro constantemente em meus cursos. Toda sociedade tem uma forma de
ser que significa o modo como realiza a condição humana, a explica, transmite e
acresce. Em outras palavras, é o que todo professor de História tenta transmitir
na comparação que faz entre a sociedade ateniense e a sociedade espartana,
ambas da Grécia Antiga. O que sobressai dos livros é justamente o ethos de cada
um daqueles corpos coletivos: uma cultural; a outra, militar.
Como o indivíduo, analogamente a sociedade também quer algo. Também
aspira. Também projeta um corpo ideal e persegue aquilo de alguma forma. É a
isso que chamo pretensões, sempre no plural (pois numa sociedade se desejam
muitas coisas, em diferentes intensidades). A pergunta que deve nortear o leitor
agora é: o que pretende minha sociedade? Aonde quer chegar esta realidade
coletiva de que faço parte?
Escrevo estas linhas após ter lido uma série de reportagens sobre o
cenário artístico e político brasileiro. Qualquer um diria que é “desanimador”
o conjunto da obra. Piora, e muito, quando lembro o maravilhoso ensaio do
Ângelo Monteiro (Tratado da Lavação da Burra) ou dos diagnósticos de Paulo
Prado e Sergio Buarque de Holanda. Sou levado a crer que minha sociedade
quer uma rede para deitar e um latifúndio para chamar de seu. Esforço, nobreza,
desprendimento e elegância parecem faltar. Caem o número de livros vendidos;
pioram os índices educacionais; abundam os casos de corrupção; destroem a
memória nacional com o desprezo aos centros culturais, museus e monumentos
ainda resistentes. Sem falar na língua, aviltada pela cultura do “quanto menos,
melhor”: menos palavras, menos regras gramaticais etc.
Por Que Não Somos Felizes? | 91
Pretensões Coletivas
Assim como é preciso reconhecer estes fatos é preciso distinguir as pretensões
por entre os fatos. Uma coisa é admitir a preguiça do brasileiro – como bem
descreveu Gilberto Freyre em Casa-grande e Senzala, ao tratar dos senhores de
engenho. Outra coisa é admitir a pretensão de paraíso, de vida familiar, de gozo
e alegria: parece que há muito erramos no modo, mas talvez as pretensões não
sejam necessariamente ruins ou pobres.
O que estou sugerindo não deve ser confundido com uma interpretação
conclusiva: não estou afirmando que nossas pretensões são excelentes, nem
que são desprezíveis. Estou apenas tentando aplicar uma fórmula que aprendi
com Igor Caruso, da psicologia: nas mesmas “patologias” descritas por Freud
é possível encontrar, se tomados simbolicamente, movimentos ascendentes
da psique – positivos e reveladores dos bons apetites do sujeito, neste sentido.
Caruso aponta uma “fome de Deus” no Complexo de Édipo: um desejo íntimo
de reencontro da verdadeira paternidade.
Este olhar menos viciado é o que noto nas obras do próprio Freyre, que com
maturidade ímpar lida com as realidades brasileiras sem pender necessariamente
para o esculacho ou para o ufanismo ilusório. É o mesmo sociólogo que visitava
tribos africanas, ascendentes dos negros brasileiros, e com eles dançava e comia,
reconhecendo a beleza que ali pudesse estar. Não fosse este olhar compassivo e
reverencial à complexa imaginação moral do povo, jamais as receitas das negras
da Casa-Grande poderiam ter-lhe ajudado na compreensão da história e dos
modos coloniais.
Enfim, convido o leitor – seja brasileiro ou não – a uma investigação deste
tipo sobre as pretensões do corpo social a que pertence. No caso brasileiro,
eu mesmo teria várias características a enaltecer do ethos, e que devem ser
sopesadas, absorvidas complexa e dialeticamente com todas as outras que nos
causam vergonha, por exemplo.
O que não podemos é ignorar estas pretensões sociais que, em maior ou
menor medida, também são nossas e atuam sobre a imagem de felicidade que
carregamos como motivo de vida.
Por Que Não Somos Felizes? | 92
10
Vocação e Sentido
D izer que uma vida tem sentido é enunciar o óbvio: sendo uma estrutura
dinâmica, (a que chamamos pessoa), tende a um determinando
fim – para aludir novamente a Aristóteles. Nossa forma de estar no mundo,
instalados e em projeções dramáticas, assume a imagem de um movimento
(jamais retilíneo) que se dirige a algum lugar. O lugar de chegada é alterado
conforme a consciência de si, as circunstâncias individuais e sociais, o conjunto
de aspirações, etc. O fato é que, justamente por sermos uma realidade dinâmica
e jamais estática, temos no gerundismo a que se referia Ortega y Gasset nosso
modo de ser: escolhendo, compondo, concretizando, projetando, vamos fazendo
a nós mesmos. Todo esse movimento – ou vir a ser de Hegel – é necessariamente
com sentido: ao sairmos de casa almejamos um determinado sítio. Ao vivermos,
miramos algum ponto no futuro em que pretendemos nos encontrar e que,
somado aos outros pontos biográficos pretendidos, resulta num destino. Viver é
partir e chegar sucessivamente.
Sendo assim, a “crise de sentido” que muitos vivem não é bem uma crise de
sentido – já que ele existe independentemente de qualquer contentamento com
a própria vida: a crise é de consciência de sentido, ou, para sermos ainda mais
fiéis ao que propomos neste livro, da posse dele. O que urge não é encontrar um
sentido, mas tomar posse do movimento que naturalmente define a vida pessoal
e que será mais intenso e significante quanto mais consciente e autonomamente
conduzido. É como uma ressignificação do mito de Faetonte: cada um é
chamado a dirigir a própria carruagem; nem seguir pela trajetória que não lhe
diz respeito – por estar acima ou abaixo –, nem tomar a do outro. Os grandes
erros advêm justamente dessa desconformidade entre o movimento próprio e a
sua consciente condução.
Sentido de vida, como diria Viktor Frankl, é dado pela vida. Na imagem
Por Que Não Somos Felizes? | 93
Vocação e Sentido
mítica, o caminho e carruagem recebidos no nascimento. O que cabe ao sujeito?
Dirigir. Empreender a realização do destino, percorrendo a própria trajetória
por meio das escolhas que todo cocheiro tem de fazer estando na sua posição
natural. Assim, toda angústia, sofrimento e incômodos existenciais que as
pessoas têm em relação aos seus sentidos de vida não passa de uma resistência ao
que foi dado e que pode ser possuído se houver a confissão da própria realidade.
Em outras palavras, a admissão de algumas determinações substanciais que se
tornam patentes segundo a vontade de ser quem se nasceu para ser.
Determinação não está na moda; vivemos um tempo em que a grande
maioria quer manter uma infinidade de possibilidades abertas, independente
da idade, sexo, raça e todos os demais meios de instalação humana no mundo.
Quanto mais determinações, menos livres sentem-se atualmente. E na
loucura de fazer prosseguir este “destino irresoluto”, sem amarras ou limitações,
homens e mulheres deixam de realizar o mínimo da espécie: por ter possibilidades
demais, concretizam de menos – paradoxo do nosso tempo.
Mas sentido de vida é uma determinação da vida e o leitor pode “conferir”
meditando sobre a própria realidade radical. Há inclinações, disposições e
movimentos interiores que são tão naturais que só podem ser da criação. Assim
como existe uma psicologia do destino familiar, traduzida por Szondi em suas
análises das pulsões herdadas, deve haver também uma psicologia do destino
natural: uma investigação do conjunto de realidades pessoais, intransferíveis e
únicas que prometem a cada homem ou mulher uma vida naturalmente feliz.
Ou seja: um mapeamento daquilo que de mais pessoal existe em nós e que, se
respeitado e perseguido existencialmente, tornará a vida mais plena de sentido
porque, enfim, se aceita o que se é. Torna-te o que és, disse Píndaro.
Esta ciência possível a que estou chamando psicologia do destino natural é,
na verdade, uma grande possessão de si; porém, no que de mais radical somos
e que dá razão à estrutura pessoal que comporta a psique, o eu social e o eu
substancial; as heranças familiares, as influências culturais, etc. Com isto estou
tentando dizer que nenhum homem criado é posto na existência sem um fim
que o limita unicamente; que dê à sua vida um caráter distinto e irrepetível.
É a posse desta inclinação essencial – ou, do movimento natural a que toda a
Por Que Não Somos Felizes? | 94
Vocação e Sentido
minha realidade pessoal tende – que estou afirmando ser necessária. E é a esta
promessa de destino feliz que devemos tomar por vocação.
Assumir a própria vocação é assumir um limite: serei este, precisamente este,
e nenhum outro mais. Muitos de nós passam a vida aspirando a este limite que, ao
invés de causar angústia, dá sentido ao restabelecer a origem e o destino daquilo
que cada um toma por realidade radical. Limite, genericamente falando, não
tem sido bem uma aspiração atualmente; é justamente o contrário daquilo que
desejamos. Queremos ultrapassar os limites, ser mais do que saciados, gozar sem
consequência. Aquilo que define, impede, restringe, é tachado negativamente
– e por isso é comum lamentarmos a “falta de espaço” existencial. Ansiosos
por toda a vida que está aí – aparentemente disponível e aparentemente para
todos – não concordamos com a impossibilidade. Ela nos ofende na imaginação
farsesca e histérica que cultivamos.
Mas não existe vida humana sem limite. Quando nascemos, somos
apresentados individualmente ao mundo porque temos um corpo: os limites
de nossos dedos são o “até onde” vamos. Também um copo é um copo porque
materialmente está definido (nem é preciso lembrar de Aristóteles e da filosofia
da forma – está subentendida). Minha primeira noção de individualidade e
identidade vem da apreensão física da minha realidade radical: “sou este aqui”,
penso quando bebê, “separado de minha mãe e irmãos; meus pés, mãos, boca”. O
corpo, dizem alguns dos filósofos espanhóis, é o primeiro fato de individuação
existencial. Por definição, corpo é um limite – e mesmo na eternidade teremos
um (não sabemos bem qual ou como, mas teremos).
Se avançamos na estrutura da vida humana e nas dimensões da pessoa,
percebemos que o limite é elemento continuamente presente: ao me apaixonar
por mulheres, determinei um novo limite; ao estudar mais assiduamente a
Escola de Madri, outro; ao ser professor, mais um, etc. Viver é eleger, dizia
Ortega y Gasset. De todas as possibilidades do universo, nem todas são para
mim; das que são para mim, algumas serão assumidas, escolhidas; outras não.
E a vocação, entendida como determinação admitida, é o limite que expande:
tal como o coração (que funciona pelo movimento de contração e extensão)
ela impele à contração existencial – escolho uma coisa só: ser eu. E esta escolha
Por Que Não Somos Felizes? | 95
Vocação e Sentido
ou contração é capaz de gerar expansão, o que, no caso humano, chamamos de
autoria ou felicidade.
Sentido de vida é o movimento da vida, que sempre vai de um lugar a outro.
Vocação é a inclinação mais radicalmente natural que sopra o movimento
existencial. Se consciente, o processo é dirigido pelo eu e os ventos não cessam: a
vida torna-se a trajetória do descanso, pois nada é mais paradisíaco do que estar
onde se deve estar, como revela a bela alma a Dante. O cansaço que percebemos
nos homens e mulheres de hoje é o sintoma de um hiato: a distância entre o
chamado primordial e o movimento sucessivo que é viver, que passa a acontecer
sem a impressão das formas da promessa que cada um é. O balanço negativo feito
ao fim do dia apenas revela ao eu narrativo que ele ainda não está se tornando
quem é.
Viver é uma contínua tentativa de absorção desta circunstância primeira:
quem eu sou. E nenhuma posse de si, nenhum bem será possível sem que a
pessoa diga, com razoável segurança, o que apenas ela pode fazer. Imagino que
esta experiência fundante tenha acontecido a Balzac, depois de anos de tentativas
frustradas em romances medianos. Conta-se que ao imaginar sua Comédia da
Vida Humana correra até a casa da irmã. Ao entrar, teria dito: saudai-me; estou
na iminência de tornar-me um gênio.
É um tipo de certeza que se conquista com o esforço narrativo, a tentativa,
a sinceridade de intenções, a radicalidade das trajetórias: verdadeiramente, o
consolo dos vivos. De todos aqueles que não admitem viver uma vida que não
seja a própria; ainda: que não realizem o destino a que foram chamados na
criação a realizar.
Um poema brasileiro – Pneumotórax, de Manuel Bandeira –, sempre me
despertou tais pensamentos temerosos:
Por Que Não Somos Felizes? | 96
Vocação e Sentido
Febre, hemoptise, dispnéia e suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.
Mandou chamar o médico:
— Diga trinta e três.
— Trinta e Três… trinta e três… trinta e três…
— Respire.
— O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito
infiltrado.
— Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
— Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.
“A vida inteira que podia ter sido e que não foi.” Este é o verso mais terrível.
E comprovo-o, infelizmente, em meu trabalho: ouço todo tipo de lamentações
e, inclusive, algo do tipo. As pessoas me dizem que não são quem elas queriam
ser; que não fazem o que deveriam fazer; que não cumprem com seus destinos.
Estando diante delas, escutando atentamente seus testemunhos, penso: está aí;
uma vida inteira que podia ter sido e que não foi. A depender da idade do aluno,
o verso torna-se literal.
Lembro-me da primeira vez que li O Retrato do Brasil, de Paulo Prado.
Num ensaio sobre a formação da sociedade brasileira e suas características mais
impressionantes e talvez deprimentes, a primeira frase foi a que me impactou (e
que jamais esqueci): numa terra radiante vive um povo triste. Para mim, era uma
espécie de diagnóstico do meu povo. Prado dá as indicações de que tínhamos
tudo para “dar certo” como país. E, por obra das características que ele aponta
(como cobiça e inveja), não realizamos. Tornamo-nos outra coisa. Ao invés de
felicidade pela posse do que verdadeiramente somos, a tristeza do não-ser. Tão
desanimador quanto o diagnóstico é a solução dada pelo historiador: pôr tudo
abaixo. Começar tudo de novo. Apagar a trajetória coletiva até então.
Sabemos que isso não é possível. Muito menos na dimensão pessoal: nenhum
de nós pode passar a borracha na própria história ou voltar no tempo e editá-la.
Por Que Não Somos Felizes? | 97
Vocação e Sentido
A tristeza que acomete muitos atualmente é sintomática: nasce da angústia da
irrealização. A vida tomou um sentido – como inexoravelmente sempre fará –
que não era o seu natural. A vocação foi preterida e sua voz abafada. Mesmo que
todos os recursos tenham sido dados no nascimento, aquele que não se torna
quem é precisa admitir que lhe faltara força, coragem ou vontade. Em outras
palavras, posse de si. O contentamento dos homens e mulheres felizes não é
propriamente um direito, mas um dever: o de só poder ser aquele, ninguém
mais.
Vale neste ponto distinguir a noção de nobreza. Ela nos interessa porque,
a princípio, nobre é aquele que é senhor de si. Distingue-se da massa humana
por reunir as qualidades que o tornam “especial”. Estas mesmas qualidades são
conquistadas, não sem algum esforço e, mais importante, devoção a algum
princípio, valor ou modelo que o transcenda. Pois bem: na China imperial,
quando alguém conquistava um título de nobreza, não o garantia para as
gerações seguintes. Na verdade, enobrecia seus antecessores; seus antepassados
eram premiados com o título conquistado.
A prática chinesa me parece de acordo: o senhorio precisa ser reconquistado
pelas novas gerações, que devem empreender esforços no intuito de garantir a
si próprias a “excelência” alcançada pelo antecedente. É uma atividade de vigília
sobre o passado, a tradição e as conquistas familiares. Se aplicado ao nosso
objeto – vocação e sentido –, podemos dizer que ninguém se torna senhor de
si sem esforço e uma devoção a algo que esteja além dos limites da existência
individual. E exatamente isto é o que estou querendo dizer com “o sentido de
vida é dado pela vida”.
Porque ele é algo anterior a mim e posto como elemento insuperável na
promessa que eu sou. Como alerta Viktor Frankl, claramente maior do que.
O sentido da vida é uma realidade que me impele a crescer, crescer, crescer:
sair de mim para realizar a mim mesmo. E toda forma pura deste movimento
de extrusão é a vocação. Conhecê-la, ou, intuí-la, é permitir que sua voz
inconfundível seja guia das decisões e escolhas pessoais; é a possibilidade de
conduzir aquela carruagem de forma a jamais perder-se existencialmente, senão
apenas equivocar-se quanto a atalhos e desvios.
Por Que Não Somos Felizes? | 98
Vocação e Sentido
Pois a intuição da vocação não é garantia de destino certo, mas apenas a
promessa de felicidade, que será o gozo dos fiéis. É possível errar e tomar outros
caminhos biográficos: o eu, mesmo consciente da voz íntima que ouve, tem
a liberdade de ignorá-la. Por isso o sentido de vida vocacionalmente dirigido
depende do cocheiro da carruagem que usamos como imagem. É ele quem, no
fim das contas, vai levar a vida para lá ou para cá.
Mas o leitor pode ainda estar perguntando: e como tomo posse do meu
sentido de vida? Como percebo a inclinação essencial que destina toda a minha
pessoalidade? Quer dizer: como realizo o destino natural?
Já foi respondido: contando a própria história e chegando ao limite das
origens. A narrativa contínua, praticada com sinceridade, dará a matéria e os
conteúdos necessários a esta posse mais radical de si. Só a partir dos dados da
memória bem ordenados no argumento biográfico que mais se esclarece quanto
mais é acrescido, será possível meditar: rastrear os movimentos repetidos da
alma até sua origem. Então, tocar o núcleo donde reverbera a voz insistente da
vocação.
Se viver é chegar e partir sucessivamente, a felicidade é retornar ao ponto
donde partimos primeira e originalmente.
Por Que Não Somos Felizes? | 99
11
A Morte, Graças a Deus
F oi através da literatura que me encontrei com a realidade da morte.
Parece estranho, eu sei. Afinal, todos morreremos e não é preciso uma
grande obra de arte para saber disto. Entretanto, saber da existência de uma
realidade não é absorvê-la como circunstância. Apenas quando as coisas estão
“ao meu redor” elas circundam-me; tudo que de alguma maneira toca minha
vida, com maior ou menor distância, é circunstância. Começa, por exemplo, com
o próprio corpo, circunstância imediata, e pode chegar até as vigências sociais
ou a história do meu país. Absorvê-las é torná-las minhas conscientemente; é
levá-las em conta na hora de viver e escolher; em última instância, ampliar o
horizonte vital e tornar-se mais livre porque assim nos assenhoreamos da vida.
Por isso, ainda que a morte seja um elemento constitutivo da vida, absorvê-
la como circunstância requer vontade individual. Pensar sobre sua realidade,
captar seu sentido, antecipá-la imaginativamente: é disso que se trata transpor
a idéia de morte para o reino das minhas coisas, com as quais conto para viver
autônoma e livremente. E no meu caso, fora a Literatura o meio de contato com
a minha morte; nas histórias de ficção vi-me ensaiando meu encontro final –
chamado assim porque necessariamente dará a forma final da minha biografia.
A Morte de Ivan Ilich, Nó de Víboras, alguns dramas de Shakespeare,
A Fera na Selva, Morte e Vida Severina: estes e outros títulos me levaram a
considerar sinceramente a possibilidade da minha morte e o tipo de preparo
que é necessário ter para vivê-la dignamente. Também o cinema, outra forma
de arte, me proporcionou este mesmo tipo de ensaio: Morangos Silvestres, O
Escafandro e a Borboleta, As Horas, A Estrada, O Sétimo Selo, Os Últimos
Passos de um Homem. Com perspectivas diferentes – e apenas para citar os
mais marcantes a que assisti –, cada uma destas obras ajudou-me na necessária
“filosofia da própria morte”.
Por Que Não Somos Felizes? | 100
A Morte, Graças a Deus
Aliás, e falando em filosofia, é longa sua abordagem da morte. Cícero,
Epicuro e Platão, para aludir a três nomes antigos, falaram da importância de
pensar sobre a morte (ou de suavizá-la, no caso do segundo, a fim de alcançar
felicidade). Ao longo dos séculos o tema surgiu aqui e acolá, como podemos ver
no pensamento de Montaigne, Nietzsche ou Schopenhauer. O próprio Sócrates,
como atestam alguns diálogos de Platão, dedicara algum tempo para refletir
sobre a morte e a vida possível depois dela. Para mim, é memorável o que está
dito no Fédon, especialmente o que se refere à imortalidade da alma.
Mas a pergunta que o leitor pode estar fazendo agora é: o que a morte, tema
tão desgostoso, tem a ver com a felicidade? É o que tentarei responder a seguir.
Afinal, o que é a morte? É uma realidade, sem dúvidas. Mas, que tipo de
realidade? A mais horrenda, dolorosa e inevitável? Ou há algo de belo e desejável
neste derradeiro encontro que todo homem está sujeito a viver?
Julián Marías, homem que viveu o bastante para poder escrever um grande
e emocionante livro de memórias, pensara constantemente sobre a morte. Por
isso foi possível a Rafael Hidalgo Navarro compilar os escritos de Marías que
tratavam deste tema específico. O trabalho de Navarro veio a público sob o
título Julian Marías y la Muerte, em homenagem ao filósofo espanhol de quem
me considero, atrevidamente, um discípulo.
No livro de compilações encontram-se parágrafos profundos, e percebe-se
que ao longo de toda a sua trajetória intelectual Julian Marías não se furtou ao
dever de todo filósofo, segundo Platão ou Montaigne: pensar sobre a própria
morte. A perspectiva de Marías sobre esta realidade é a mesma empregada em
suas decisivas obras: se necessariamente terei que morrer, quem serei quando isto
vier a acontecer? A que estarei me dedicando? Em que estarei comprometido,
respondendo fielmente?
A máxima pergunta: quais projetos seguirão sendo meus após a morte? De
Por Que Não Somos Felizes? | 101
A Morte, Graças a Deus
que, portanto, não abro mão – sob pena de não ser eu mesmo?
Desta perspectiva de Julián Marías – a mais radical, acredito – me ocuparei
um pouco adiante. Agora, a fim de responder à pergunta “que é a morte?”,
recorrerei a outro filósofo: Martin Heidegger.
Foi este pensador alemão do século XX que encontrou na morte o princípio
de individuação. Ou seja, aquilo que torna cada homem único no mundo;
irrepetível. Um.
E por quê?
É preciso lembrar que Heidegger era um existencialista: a vida humana
torna-se autêntica no exercício da liberdade que se prova ao existir. Segundo ele,
é na existência que se compreende o homem e as possibilidades que cada um
tem de ser ou não ser ele mesmo. A natureza humana, portanto, é a existência.
Sendo assim, dos elementos estruturais da existência devemos retirar os meios
de compreensão do ser humano. Seriam os “traços fundamentais”, segundo ele.
E justamente a morte faz parte do traço existencial da temporalidade: passado,
presente e futuro são modos de ser, desde os quais o homem faz a si mesmo
de maneira autêntica ou não. A morte, como estrutura fundamental, está
constantemente presente entre as possibilidades do homem, que vive à espreita
do próprio do ser, tomando sua existência prévia como referência e fazendo
os cálculos da vida que pretende ter depois, elaborando os projetos de eu que
pode idealizar segundo as possibilidades que lhe foram concedidas. Todas as
possibilidades tomadas como meio de existência, efetivadas por decisão do
sujeito, serão finalmente jogadas no cumprimento da possibilidade estrutural
e constante que é a morte: ela é o princípio de individuação porque estabelece
a necessidade da vida própria, intransferível e autêntica. Nela cada um poderá
dizer se foi ou não; se realizou seu ser ou não.
A morte é a conquista da totalidade: antes dela, nenhum de nós pode dizer que
chegou. A vida encerra-se naquele encontro determinado. Portanto, nenhuma
possibilidade é mais radical do que esta: a própria morte, presente no nascimento
e em toda a vida biográfica. Por isso a morte tem essa característica finalista: a
possibilidade radical e permanente torna-se ato e partir dele nenhuma outra
possibilidade biográfica poderá ser assumida. Isto não quer dizer que não haja
Por Que Não Somos Felizes? | 102
A Morte, Graças a Deus
vida após a morte, mas apenas que esta é outra vida, não mais o acontecimento
dramático de que falamos neste livro até aqui.
É porque a morte existe como possibilidade radical que a vida adquire
limite. Sem ele, jamais uma vida humana poderia ser completa. Sempre haveria
a abertura para algo que ainda não se tem ou, mais verdadeiramente, ainda
não se é. Por isso a morte é a realidade necessária que dá à existência humana
a forma passível de conhecimento e realização: podemos avaliá-la e possuí-la
porque ela tem começo, meio e fim. Porque, assim como uma obra de arte, tem
argumento, inteligível em sua plenitude apenas a partir do ponto final. “Se não
morrêssemos seríamos outra coisa”, disse Julián Marías.
Nada é mais individualizante do que a morte, porque nenhum ato é mais
solitário do que o ato de morrer: é absolutamente impossível alguém morrer em
meu lugar. Por isso, filosofar sobre a própria morte é simplesmente pensar sobre
tudo aquilo que eu, somente eu, posso fazer.
Felicidade, por exemplo, é algo que ninguém pode alcançar em meu lugar.
A morte física encerra o drama humano. A partir de então, nenhuma
realidade cósmica poderá alterar aquele que morreu. Não importa em que idade,
nem em que circunstância: a morte física é o fim de uma ilusão sobre o mundo
e a inauguração de uma ausência. É marcada pela presença que não pode mais
ser, e por isso restam aos entes queridos os registros da memória.
A morte física, para mim, sempre foi a mais compreensível. Afinal, trata-se
da falência de um organismo e, neste sentido, existem poucas diferenças entre a
de um homem e a de um cachorro. O que me incomoda mais são as outras mortes
– estas sim, estritamente humanas –, que podem funcionar como princípio de
individuação. É o que podemos chamar de morte biográfica e morte pessoal.
A primeira é fruto de um enrijecimento existencial: acontece com quem
decide parar de viver. Sendo a vida humana uma trajetória – ou um conjunto de
Por Que Não Somos Felizes? | 103
A Morte, Graças a Deus
trajetórias –, a morte biográfica é uma ausência de movimento e consequente
alteração; sua característica e sintoma mais evidente é a mesmice: passam-se os
anos e a pessoa continua igual, com os mesmos dilemas psicológicos, as mesmas
dúvidas a respeito de si, as mesmas lamentações e, em casos extremos, o mesmo
corte de cabelo!
Faço alusão ao movimento porque dele depende nossa vitalidade. Viver é o
ato de partir e chegar sucessivamente. A realidade aberta que somos impele que
seja assim e, portanto, atualizar nossa espécie é responder a esta necessidade
de movimentação, que engendra mudanças pelo simples fato de que a sucessão
de atos é acrescida aos atos anteriores: quanto mais “novos” estes atos são,
maiores as alterações na realidade já corporificada. Quem escolhe repetir as
ações, seguindo as mesmas trajetórias sem qualquer criação – abdicando de
uma liberdade divina –, sentenciou a si mesmo à morte. Creio firmemente que
uma das piores coisas que se pode dizer a alguém que não víamos há anos é isto:
“você não mudou nada”.
Diferente da morte física (excluindo-se o suicídio), a morte biográfica é
uma escolha. A imagem que uso com meus alunos é de um lago parado: sem
uma intervenção enérgica – e às vezes violenta – nada passará ao sujeito que
estiver morto e andando por aí, na rotina aviltante que marca a vida de quem
literalmente parou.
E uma morte leva à outra. Da ausência de movimento biográfico, de escrita
inovadora do eu, chega-se à morte pessoal. Esta contém a morte física e a
biográfica e não se resume a elas.
Quando alguém morre – integralmente –, é uma realidade que desaparece
do mundo; neste sentido, o mundo não é o mesmo e as pessoas com as quais
aquele que morrera se relacionava também não. Uma pessoa não está mais ali
e, portanto, o mundo já não segue com a mesma composição. Some a isso o
fato de alguém ter nascido no mesmo instante e perceberá que o cenário onde
transcorre a vida humana é marcado por um movimento contínuo e irrepetível
de alteração: eis que faço novas todas as coisas, disse o Senhor.
A pessoa é uma substância única, já sabemos. E ao se relacionar com outras
pessoas desencadeia movimentos únicos: todos são alterados pela relação e a
Por Que Não Somos Felizes? | 104
A Morte, Graças a Deus
morte de um é a mudança radical que ausência produz. Mas esta ausência é
física. A pessoa, e seus efeitos nos que a amam, permanecerá de alguma forma,
pois a realidade do falecido não é extinta com a morte. Diferentemente do que
acontece com a morte física ou a biográfica, a pessoa não deixa de ser; ela já não
é um organismo, nem tem biografia, mas resiste como ser, que continua a agir
sobre o mundo especialmente pelas profundas marcas que deixa nos amantes.
Por isso, quando se trata da morte de alguém, não penso no último suspiro
ou batida do coração; penso e imagino qual terá sido o último diálogo interior
e a última realidade alterada por aquela presença, reveladora de um ser que não
é aniquilado pela metanoia da morte.
“Deus me livre morrer como idiota”, confessou Georges Bernanos. Entendo
a apreensão do escritor francês: é preciso ser alguém no dia da própria morte. É
preciso ter realizado aquelas coisas que ninguém poderia realizar em meu lugar
e assim ter vivido de maneira autoral e livre.
Já escrevi muitas vezes que aqueles versos de Manuel Bandeira – “a vida
inteira que podia ter sido e que não foi” – são os mais frustrantes da poesia
brasileira. E, infelizmente, aplicam-se a uma multidão de pessoas que chegam à
“última idade” sem ter escolhido a si mesmos e por isso o gosto de insatisfação
e incompletude comuns.
A frustração existencial por não realizar um destino ganhou uma clara
imagem na novela de Henry James, A Fera na Selva. Ali, o autor narra a história
de John Marcher, um sujeito que conheceu uma bela mulher e que passou a vida
inteira sem tomar uma atitude em relação a ela e sem perceber a oportunidade
feliz que a presença dela oferecia. Acompanhamos o personagem por décadas
e nos angustiamos com sua passividade diante de uma mulher claramente
apaixonada e que o amava tal como era.
Se a vida humana é definida também pelo acontecer, um destino que não
Por Que Não Somos Felizes? | 105
A Morte, Graças a Deus
aconteça é um dos mais terríveis fracassos a que estamos sujeitos. Viver é uma
tarefa difícil justamente porque é tênue a linha entra a espera e a paralisia. Foi com
Julián Marías que aprendi que a antecipação é uma forma de instalação humana.
Estamos sempre em projeção, agindo com vistas ao futuro pretendido – seja o
imediato, seja o do horizonte longínquo. Não há vida verdadeiramente falando
para aquele que abdica da expectativa e deixa de antecipar imaginativamente os
acontecimentos pessoais. Não é exagero afirmar que passamos a maior parte do
tempo ensaiando nossos destinos, compondo trajetórias ainda não percorridas
e projetando novos “eus”. Também por isso necessitamos da literatura: para
enriquecer o imaginário, a fim de contar com mais possibilidades na sucessiva
ação de fazer de conta. São essas imagens de vida ainda não concretizada que
legitimam as trajetórias, mantendo-nos esperançosos de que um dia elas serão.
A fera na selva é o destino inexorável que nos espreita: é aquela necessidade
de realizar e fazer a si mesmo da melhor forma que pudermos. É o desejo íntimo
de felicidade, que quando negligenciado, põe a perder a vida. Henry James
escreve linhas primorosas sobre isso, na novela em questão:
“Quando as próprias possibilidades se tornaram consequentemente
esgotadas, quando o segredo dos deuses se tornou tênue, quase mesmo se
evaporou, isto, e isto somente, era o fracasso. Não teria sido fracasso ter falido,
ter sido desonrado, exposto à execração pública, enforcado; o fracasso era não
acontecer nada”.
A sensação que temos ao terminar de ler a história é justamente esta: nada
aconteceu, por obra do personagem, que escolhera a paralisia diante de uma
falsa noção de destino. Escapara-lhe a possibilidade de um amor verdadeiro e,
em virtude de uma mentirosa espera por “algo maravilhoso” que lhe aconteceria,
nada fez. Teve, John Marcher, a morte biográfica decretada muito antes da morte
física. Nos parágrafos finais da novela de James, a “fera” o engole: o destino dá
seu bote e ele tem de prestar contas.
Por Que Não Somos Felizes? | 106
A Morte, Graças a Deus
Muitas vezes dizemos que chegamos ao nosso limite. Haverá um dia que
a frase será verdade. O limite será intransponível e a isso chamamos morte.
Por isso, todas as sentenças emitidas antes dela não podem ser encaradas como
absolutamente irrevogáveis. Por mais decididos e certos que estejamos a respeito
de algo, é a morte que trará a intransigência radical: a partir de então não
haverá mais qualquer possibilidade de trânsito biográfico. A substância pessoal,
acolhida na eternidade, será a soma e a simultaneidade de tudo que fizemos e,
acima disso, tudo o que fomos.
Informados deste caráter final da vida, ensaiamos desfechos possíveis para
nossas trajetórias pessoais.
Qualquer um de nós faz balanços da própria existência e antecipa
imaginativamente seu fim, e o “estado de felicidade” é uma espécie de
contentamento com as escolhas feitas e o destino assumido até então.
Por isso, falar de felicidade inclui necessariamente a realidade da morte.
Afinal, como seria possível aspirar ao Sumo Bem de outra maneira? Se o
destino individual não tivesse um fim, como saberíamos haver chegado? Sendo
a vida humana dramática, feita de história (tempo), aberta quanto à sua forma
e movida pelas inclinações naturais ao bom, belo e verdadeiro, só pode ser
inteligida verdadeiramente no seu fim. Todo julgamento anterior, feito durante
as trajetórias e as conclusões biográficas parciais, é marcado pela revogabilidade.
O ladrão crucificado ao lado de Jesus e que pediu o perdão antes da morte
ressignificou a própria vida; foi absorvido pela eternidade como o “bom ladrão”
e apenas a sua morte nos garante o julgamento irrevogável. Sabemos que ele já
não pode ser outro.
Pois a eternidade tem esta força: a de admitir em seu seio a realidade inteira
da pessoa, dando forma final àquela vida individual. Todos os “eus” vividos,
assumidos livremente ou não, são tomados na hora da morte, e aquilo que era o
passado de um eu narrativo presente já não pertence ao tempo e, por esta razão,
não se sujeita às suas categorias. Não há mais “eu fui” nem “eu serei”; mas por
uma analogia com Deus infundida desde a criação, apenas “eu sou”.
Talvez seja isto que nos amedronte em relação à morte e ao nosso desejo
natural de felicidade: no dia em que todas as ilusões do mundo acabarem para
Por Que Não Somos Felizes? | 107
A Morte, Graças a Deus
mim, quem eu estarei sendo? A morte não me deixará mais aberta qualquer
possibilidade de alteração; definitivamente ela me tomará por feliz ou não.
Para mim, a imaginação da própria morte é um ensaio para a salvação. Eu
posso fazer isso agora mesmo, projetando a possibilidade de morrer amanhã,
em meio a uma série de trajetórias inacabadas. Pior: em meio a uma série de
trajetórias começadas e, mais grave ainda, a outras tantas sequer assumidas. E
assim, toda a urgência e necessidade de felicidade emergem do meu eu substancial
e requerem a atenção consciente que apenas um homem verdadeiramente
instalado na realidade pode dar.
E isto, a noção exata da gravidade do que estamos falando agora, foi-me
demonstrado por um filósofo – não qualquer um, mas aquele que elegi como
modelo: Julián Marías. São muitas as obras nas quais ele aborda o tema,
tratando-o com a seriedade e elegância de costume. “A imaginação da própria
morte como fase da vida, como ação do sujeito, é uma das formas mais íntimas
e intensas de possessão da realidade, da afirmação de um eu como pessoa. E essa
antecipação reflete retrospectivamente sobre o conjunto transcorrido da vida e
a põe sob uma luz pessoal”, escrevera certa vez.
Mas é em seu livro autobiográfico, Uma Vida Presente, que encontrei a
questão mais perturbadora, desde a qual as exposições intelectuais sobre a morte
assumiram o matiz radical que lhe confere a importância que tentei ressaltar
nestas páginas.
Pois é assim que ele abre o último capítulo de suas memórias:
Amanhã; haverá amanhã?
A pessoa – aquela substância única que faz a si mesmo – tem um destino;
não é aniquilada pela morte. Mais: é chamada à vitória sobre a morte, como uma
espécie de prova de si mesmo, de uma fiel e correta absorção da própria promessa
que é e da trajetória posterior que pressente. Uma vida humana verdadeiramente
Por Que Não Somos Felizes? | 108
A Morte, Graças a Deus
vivida, radicalmente sentida, é aquela que projeta sobre a morte; tem no destino
último a esperança de sua instalação derradeira – já que no paraíso ninguém é
estrangeiro.
Mas como projetar sobre a morte? Como desejá-la? Como torná-la pessoal,
atraente a ponto de mover a existência em sua direção? Pois ninguém pode ir a
um lugar sem forma, cor ou chão. Todos somos atraídos por imagens que nos
são oferecidas desde fora ou, pelo poder da imaginação, criadas internamente.
Eu só desejo ir a Paris porque a conheço e retive, no fundo prazeroso de minha
memória, uma imagem da cidade luz. É esta imagem que evoco quando falo
sobre a cidade: por isso gostaria de voltar.
Portanto, é preciso ter algum conhecimento do objeto para desejá-lo. Alguma
imagem é necessária para que a alma, num processo de abertura e inclinação,
movimente-se em direção ao objeto antes de conquistar sua posse efetiva. Em
outras palavras, ter alguma idéia do que é Paris para só então propor à vontade
(junto a tantos outros elementos a serem considerados) seu conhecimento
concreto. Por isso pergunto outra vez: como desejar o Paraíso, que não conheço?
Confiamos que após a morte seguiremos sendo quem somos. Eu, Tiago, serei
uma pessoa na outra vida. Não haverá uma mudança de realidade neste sentido,
mas de circunstância. Minha vida continuará sendo humana; entretanto, na
eternidade. Por essa razão, argumenta Julián Marías, não é outra coisa que tenho
que conhecer quando se trata do paraíso: é a vida humana em sua plenitude.
Requer-se, então, imaginação; minha vida sem as privações da terra. Amor,
bondade, força, júbilo, paz: tudo o que é possível provar e sentir aqui, agora,
como homem de carne e osso que sou, em máxima potência, desprovido dos
limites que conhecemos nesta vida. Eu serei eu mesmo e a comunhão entre as
almas uma verdadeira experiência de consolo. A realidade será vista sem os
véus que a nublam hoje.
É necessário, portanto, que eu conheça a vida humana – esta de que faço
parte, que me toca intimamente e pela presença dos outros homens – para que
eu conheça a vida humana na eternidade. Desejarei o Paraíso porque, com
auxílio da imaginação, anteverei a mesma vida em seu esplendor.
Disto resulta a seguinte conclusão: aos que não conhecem a vida humana
Por Que Não Somos Felizes? | 109
A Morte, Graças a Deus
aqui – de história, sofrimento, limite, dor, paixão, miséria, suor e sentido – não
é possível uma imagem rica da imortalidade. Como projetar o amor eterno se
minha experiência e conhecimento deste sentimento é pautado pelas letras de
pagode e sertanejo ou uma abstração tirada de algum livro?
“O caminho para cima e para baixo é um só”, disse Heráclito. Tomar
consciência disso é propor a si mesmo uma trajetória que leve ao Paraíso pelas
escadas que se dirigem para baixo, para dentro – para a verdadeira posse de si.
Por Que Não Somos Felizes? | 1
Uma Última Palavra
P aciência, leitor. Tenho uma última coisa a dizer e peço que acompanhe
atentamente meu raciocínio. Talvez estas palavras tragam as reflexões
faltantes para que tudo que foi dito até aqui ganhe verdadeiro – e claro – sentido
para você.
É do período pré-socrático grego que vem uma das discussões mais
conhecidas dos professores e historiadores da filosofia: aquela entre a perspectiva
de Heráclito e a de Parmênides a respeito do Devir e do Ser. O primeiro dizia
que a realidade era fruto da harmonia dos opostos: o devir constante, pois no
universo tudo muda o tempo todo; tudo flui e “não nos banhamos duas vezes no
mesmo rio”. A mutabilidade é a constante, diria Heráclito.
Já Parmênides defendia a idéia do Ser como única realidade, sem qualquer
contradição: imutável, fixo, imóvel. Esta noção foi assumida pela Escolástica,
que aprofundou o conceito de Deus como Ato Puro, pensamento de si mesmo e
acessível pela razão humana.
De forma simples e resumida, esta antiga diferença de perspectivas entre
Heráclito e Parmênides pode ser assim compreendida. E para nós, que estamos
mirando a felicidade, ela pode servir como última imagem: um análogo do que
nos acontece.
Heráclito representaria nossas trajetórias, a história vivida e de alguma
forma narrada (aquele processo de negações e soluções hegeliano). Não é preciso
se esforçar muito para perceber que, por mais entediantes que sejam, nossos
dias jamais são iguais. A mutabilidade é sua marca. Da mesma forma, viver
é transitar de uma realidade à outra, sendo alterado a todo o momento pelas
circunstâncias absorvidas ou pelos atos empreendidos. O que marca nossa ação
temporal é o que Heráclito chamou de devir: a única constante é efetivamente a
mutabilidade. Se tivéssemos que fazer um gráfico, a dimensão narrativa da vida
Por Que Não Somos Felizes? | 2
Uma Última Palavra
humana seria assim:
Ou seja: altos e baixos, irrepetibilidade, erros e acertos, movimento. Em uma
palavra: drama. Ato após ato, sucessivo e sem retorno. Nenhum de nós pode
voltar ao dia de ontem, muito menos repeti-lo hoje. Eu não sou o mesmo de um
minuto atrás e a dimensão de Heráclito tem a marca da constante mudança.
Mas também existe a dimensão reconhecida por Parmênides. Pois, a quem
acontecem todas aquelas coisas da primeira figura? Quem é aquele que olha
para toda aquela tortuosa e irrepetível linha e se reconhece mesmo em meio às
mudanças constantes?
De fato, temos um ser. A este ser chamamos de eu substancial durante todo
este livro. E se tivéssemos que representá-lo figurativamente também, seria
assim:
Qualquer mudança só pode ser percebida se algo permanece imutável.
Se sofrêssemos alterações radicais, que compreendessem a totalidade do ser,
não teríamos condições de dizer eu. Esta invocação é possível porque subjaz
– debaixo da transitoriedade dos dias e dos fatos – uma presença imutável: a
Por Que Não Somos Felizes? | 3
Uma Última Palavra
permanência de uma identidade, que clama ao eu narrativo ser conhecida (o
Espírito que é o mesmo e pouco a pouco, na História, determina-se). Seria esta,
portanto, a representação de nossa complexa realidade, de transitoriedade e
identidade:
Quando contamos nossa história, estamos tentando “somar” o máximo
de elementos transitórios que, ordenados, insinuam “permanências” – que
ingenuamente chamamos de repetições. “Ah, isto sempre me aconteceu”; “é
comum eu fazer tal coisa”. “Desde minha infância assumo este papel”, etc.
Começa como um caminho horizontal – que dramaticamente vai do passado
ao futuro – e em seguida se torna vertical: da superfície dos fatos à substância
individual. Quer dizer: a posse de si é resultado de um contínuo esforço em tocar
a própria constituição, imagem e semelhança do Ser, por meio da confissão das
permanências percebidas no processo narrativo (o acesso vertical, em direção
ao fundo idêntico, pela “soma” da linha sinuosa).
O homem contemporâneo, por mais que tente, não tem como fugir a isso: é
constitutivo do ser humano. Suas resistências, sua diminuição ontológica pela
ação das massas e ideologias, sua aniquilação ilusória do eu, não podem fazer
nada frente à necessidade de reconciliação entre as linhas que o compõem. Isto
não quer dizer que o homem atual não tenha história; é pior: significa que ele
a tem, pela realidade inexorável do tempo, mas não sabe o que fazer a respeito.
Por Que Não Somos Felizes? | 4
Uma Última Palavra
Tem a biografia nas mãos, mas não se investe das premissas para escrevê-la. Por
isso permite-se ser símbolo da dispersão, da falta de integração.
Em virtude deste bem que não experimenta – o da posse de si – tudo acaba
por perder o sentido. Mal-acostumado às concessões irrestritas do mundo
moderno, sofre ao perceber que a felicidade impõe condições, e a mais radical
de todas é ter de responder quem é aquele que anseia ser feliz.
Por Que Não Somos Felizes? | 5
Você também pode gostar
- PQ Nao Somos FelizesDocumento87 páginasPQ Nao Somos FelizesMarcelo Bizurado100% (1)
- A Maturidade AfetivaDocumento3 páginasA Maturidade Afetivalotus83171Ainda não há avaliações
- Elogio da vida imperfeita: O caminho da fragilidadeNo EverandElogio da vida imperfeita: O caminho da fragilidadeNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Distributismo: Economia para Além do Capitalismo e do SocialismoNo EverandDistributismo: Economia para Além do Capitalismo e do SocialismoAinda não há avaliações
- OLAVO DE CARVALHO, MENTE BRILHANTE: DIREITA BRASILEIRANo EverandOLAVO DE CARVALHO, MENTE BRILHANTE: DIREITA BRASILEIRAAinda não há avaliações
- Caminho - Edição Comentada por Pedro RodriguezNo EverandCaminho - Edição Comentada por Pedro RodriguezAinda não há avaliações
- As Mãos de Deus: Matrimónio e Família nos ensinamentos de São JosémariaNo EverandAs Mãos de Deus: Matrimónio e Família nos ensinamentos de São JosémariaAinda não há avaliações
- Olavodecarvalho Considerações Sobre o Seminário de FilosofiaDocumento10 páginasOlavodecarvalho Considerações Sobre o Seminário de FilosofiaMarcelo S. DiasAinda não há avaliações
- Conferencia - A Mulher - Julián MaríasDocumento16 páginasConferencia - A Mulher - Julián MaríasLincoln Haas HeinAinda não há avaliações
- Bússola: Como navegar a tempestade moderna: um guia para jovens e adultosNo EverandBússola: Como navegar a tempestade moderna: um guia para jovens e adultosAinda não há avaliações
- Olavo de Carvalho e A Formação Da PersonalidadeDocumento4 páginasOlavo de Carvalho e A Formação Da PersonalidadeGeópolisAinda não há avaliações
- Transcrição Princípio Da Felicidade Aula 01 Revisão FinalDocumento26 páginasTranscrição Princípio Da Felicidade Aula 01 Revisão FinalDr Jorge RodriguesAinda não há avaliações
- As 6 Causas Do Sofrimento HumanoDocumento3 páginasAs 6 Causas Do Sofrimento HumanoSimone FranciscaAinda não há avaliações
- Transcrição - Segundo Encontro Europeu de Alunos Do COFDocumento18 páginasTranscrição - Segundo Encontro Europeu de Alunos Do COFGuilherme mmdwAinda não há avaliações
- Meditação e Consciência - Olavo de Carvalho PDFDocumento2 páginasMeditação e Consciência - Olavo de Carvalho PDFElinho GalvãoAinda não há avaliações
- OrdemDocumento52 páginasOrdemLeonardoAinda não há avaliações
- As 12 Camadas Da Personalidade Humana (Olavo de Carvalho)Documento25 páginasAs 12 Camadas Da Personalidade Humana (Olavo de Carvalho)RodrigoAinda não há avaliações
- Os Santos Que Abalaram o Mundo - Santo AgostinhoDocumento14 páginasOs Santos Que Abalaram o Mundo - Santo AgostinhoBrendha AndradeAinda não há avaliações
- Transcrição - Oração, Jejum e Esmola (Revisada)Documento32 páginasTranscrição - Oração, Jejum e Esmola (Revisada)Ari AndradeAinda não há avaliações
- Rudolf Allers - Formas Fundamentais de PsicoterapiaDocumento24 páginasRudolf Allers - Formas Fundamentais de PsicoterapiaLucas Sonego RodriguesAinda não há avaliações
- Curso de Integração Pessoal - Primeira ParteDocumento126 páginasCurso de Integração Pessoal - Primeira Partespoudaios777100% (1)
- Amor Divino Por Olavo de CarvalhoDocumento2 páginasAmor Divino Por Olavo de CarvalhoAdriano S. JaquesAinda não há avaliações
- Dicas de Estudo Olavo de CarvalhoDocumento3 páginasDicas de Estudo Olavo de CarvalhoGustavo HenriqueAinda não há avaliações
- 1 Dificuldades Gerais Da Psicologia Contemporânea para Compreender A Natureza Do Amor1Documento2 páginas1 Dificuldades Gerais Da Psicologia Contemporânea para Compreender A Natureza Do Amor1Miguel SorianiAinda não há avaliações
- A Aula Da VontadeDocumento40 páginasA Aula Da VontadeAndréa Martins100% (1)
- Sobre Clarice LispectorDocumento3 páginasSobre Clarice LispectorTiago AmorimAinda não há avaliações
- ISCTE IUL NormasHamonizacaoGrafica ECSHDocumento17 páginasISCTE IUL NormasHamonizacaoGrafica ECSHTiago AmorimAinda não há avaliações
- Artigo Tiago Amorim, Estado Da ArteDocumento4 páginasArtigo Tiago Amorim, Estado Da ArteTiago AmorimAinda não há avaliações
- Um Contro Sobre o MarDocumento6 páginasUm Contro Sobre o MarTiago AmorimAinda não há avaliações
- 2011 RosemarEuricoCoengaDocumento172 páginas2011 RosemarEuricoCoengaTiago AmorimAinda não há avaliações
- Atividade Livro Alô PapaiDocumento3 páginasAtividade Livro Alô PapaiMônica SouzaAinda não há avaliações
- Questões 100Documento208 páginasQuestões 100Advocacia InterdisciplinarAinda não há avaliações
- SLIDE 1 (Apresentação e Introdução) - 2023Documento31 páginasSLIDE 1 (Apresentação e Introdução) - 2023Maxwell Carlo's100% (1)
- Constituição IIDocumento5 páginasConstituição IIRita Sales BaptistaAinda não há avaliações
- Quem É o Vilão? A Estabilidade Ou A Instabilidade Do Trabalho?Documento11 páginasQuem É o Vilão? A Estabilidade Ou A Instabilidade Do Trabalho?Isabelle SenaAinda não há avaliações
- Acórdão Do Tribunal Da Relação de ÉvoraDocumento40 páginasAcórdão Do Tribunal Da Relação de ÉvoraMarcolino OliveiraAinda não há avaliações
- Apostila - Contabilidade Geral e Avançada - Egbert - 2018 PDFDocumento127 páginasApostila - Contabilidade Geral e Avançada - Egbert - 2018 PDFAdriano MoraisAinda não há avaliações
- Hospitalidade ApostilaDocumento56 páginasHospitalidade ApostilaDiego Uliano RochaAinda não há avaliações
- PARECER 011 - 13 de Março de 2023 - Manifestação Pela Progressão de Regime Semiaberto para o AbertoDocumento3 páginasPARECER 011 - 13 de Março de 2023 - Manifestação Pela Progressão de Regime Semiaberto para o AbertoLaura BeatrizAinda não há avaliações
- Trabalho Da EletivaDocumento2 páginasTrabalho Da EletivaMaria Eduarda Da Cruz SantosAinda não há avaliações
- Meditação Dinâmica de OshoDocumento10 páginasMeditação Dinâmica de OshoLeonardo MendesAinda não há avaliações
- BNCC 4º AnoDocumento30 páginasBNCC 4º AnovighmixAinda não há avaliações
- Declaração de Política: Nome Da Empresa AquiDocumento4 páginasDeclaração de Política: Nome Da Empresa Aquiernane SilvaAinda não há avaliações
- A Nuvem Scythe 2 Neal ShustermanDocumento487 páginasA Nuvem Scythe 2 Neal ShustermanHelen Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Modelo de Emenda A Inicial em Sede de Acao RevisionalDocumento3 páginasModelo de Emenda A Inicial em Sede de Acao RevisionalclemilsonAinda não há avaliações
- Sociologia Conteudo ProgramaticoDocumento6 páginasSociologia Conteudo ProgramaticojoebarduzziAinda não há avaliações
- Ginead: Licitações, Contratos E ConvêniosDocumento27 páginasGinead: Licitações, Contratos E ConvêniosCésar Santos SilvaAinda não há avaliações
- Carta de Encaminhamento - RDLC 26 09 2023 00 00Documento1 páginaCarta de Encaminhamento - RDLC 26 09 2023 00 00Samuel FurtadoAinda não há avaliações
- ProcessoDocumento11 páginasProcessoRafael SalgueiroAinda não há avaliações
- Prova de Direito TributárioDocumento3 páginasProva de Direito TributárioIsabela StephanieAinda não há avaliações
- Praetorium OAB Segunda Fase Casos Práticos Resposta Escrita À AcusaçãoDocumento3 páginasPraetorium OAB Segunda Fase Casos Práticos Resposta Escrita À AcusaçãodudamarianoAinda não há avaliações
- Nunca Te Esqueci - Josiane VeigaDocumento177 páginasNunca Te Esqueci - Josiane VeiganascimentoisaAinda não há avaliações
- Sumario 13 - DIP - UAN - Marcos Ngola - Ano 2020 - Temas para Trabalho IndividualDocumento3 páginasSumario 13 - DIP - UAN - Marcos Ngola - Ano 2020 - Temas para Trabalho IndividualNATANIEL J MANUELAinda não há avaliações
- Caderno Fap Novo Web1Documento44 páginasCaderno Fap Novo Web1Aparecido BernardoAinda não há avaliações
- ESTEGDocumento63 páginasESTEGnarciso jorgeAinda não há avaliações
- Tutorial Matricula Online-04.04.2023Documento20 páginasTutorial Matricula Online-04.04.2023Leonardo FadulAinda não há avaliações
- Ficha Da JucespDocumento4 páginasFicha Da JucespGabriel Oliveira da SilvaAinda não há avaliações
- A Inquisicao - Historia de Uma I - Padre Jose BernardDocumento80 páginasA Inquisicao - Historia de Uma I - Padre Jose BernardGuilherme Lima100% (2)
- Indicadores de Programa - Guia MetodológicoDocumento132 páginasIndicadores de Programa - Guia MetodológicoGabriel Martins De Araújo FilhoAinda não há avaliações
- Angela Moreira Historia Do Brasil 3Documento7 páginasAngela Moreira Historia Do Brasil 3Thiago MarquesAinda não há avaliações