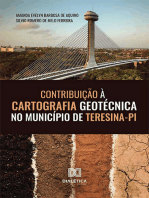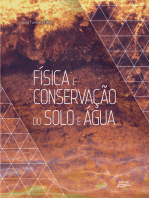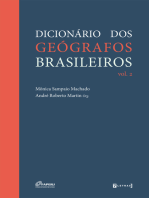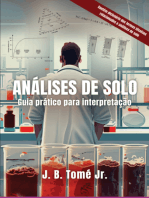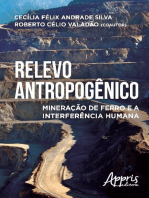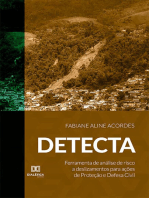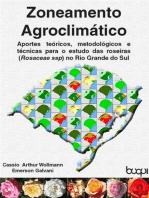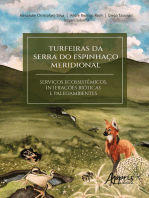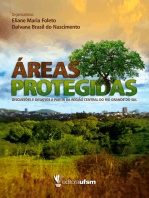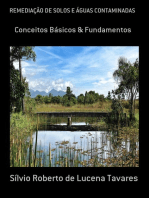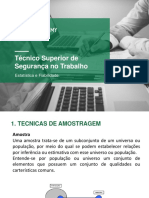Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Pedologia Base para Distinção - Capítulo 5
Enviado por
Marlon RodriguesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pedologia Base para Distinção - Capítulo 5
Enviado por
Marlon RodriguesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
capa_GRAFICA
quarta-feira, 23 de abril de 2014 17:58:12
PEDOLOGIA
BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Livro_Pedologia.indd 1 08/12/2017 10:55:59
Mauro Resende
Nilton Curi
Sérvulo Batista de Rezende
Gilberto Fernandes Corrêa
João Carlos Ker
PEDOLOGIA
BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
6ª Edição - Revisada e Ampliada
1ª Reimpressão - 2018
Lavras - MG
2014
Livro_Pedologia.indd 3 08/12/2017 10:55:59
© 2014 by Mauro Resende, Nilton Curi, Sérvulo Batista de Rezende, Gilberto Fernandes
Corrêa, João Carlos Ker
1995: 1ª Edição
1997: 2ª Edição (Revisada e Ampliada)
1999: 3ª Edição (Revisada e Ampliada)
2002: 4ª Edição
2007: 5ª Edição (Revisada) - 2009: 1ª Reimpressão
2014: 6ª Edição (Revisada e Ampliada) - 2018: 1ª Reimpressão
Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, por qualquer meio ou forma, sem a
autorização escrita e prévia dos detentores do copyright.
Direitos de publicação reservados à Editora UFLA.
Impresso no Brasil – ISBN: 978-85-8127-032-6
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
Reitor: José Roberto Soares Scolforo
Vice-Reitora: Édila Vilela de Resende Von Pinho
Editora UFLA
Campus UFLA - Pavilhão 5
Caixa Postal 3037 – 37200-000 – Lavras – MG
Tel: (35) 3829-1532 – Fax: (35) 3829-1551
E-mail: editora@editora.ufla.br
Homepage: www.editora.ufla.br
Diretoria Executiva: Renato Paiva (Diretor) e Nilton Curi (Vice-Diretor)
Conselho Editorial: Renato Paiva (Presidente), Brígida de Souza, Joelma Pereira, Francisval
de Melo Carvalho e Nilton Curi
Administração: Flávio Monteiro de Oliveira
Secretária: Késia Portela de Assis
Comercial/Financeiro: Damiana Joana Geraldo, Emanuelle Roberta Silva de Castro,
Mariana Coelho Alonso
Revisão de Texto: Marília Messias Resende
Referências bibliográficas: Editora UFLA
Editoração Eletrônica: Renata de Lima Rezende, Patrícia Carvalho de Morais, Aline
Fernandes Melo (Bolsista)
Capa: Helder Tobias
Ficha Catalográfica Elaborada pela Coordenadoria de
Produtos e Serviços da Biblioteca Universitária da UFLA
Pedologia : base para distinção de ambientes / autores, Mauro
Resende... [et al.]. – 6. ed. rev., amp. – Lavras : Editora UFLA, 2014.
378 p. : il.
Inclui bibliografia e índice.
ISBN 978-85-8127-032-6
1. Meio ambiente. 2. Geografia do solo. 3. Ecossistema –
Classificação. I. Resende, Mauro. II. Curi, Nilton. III. Rezende,
Sérvulo Batista de. IV. Corrêa, Gilberto Fernandes. V. Ker, João
Carlos. VI. Universidade Federal de Lavras. VI. Título.
CDD – 631.4
Livro_Pedologia.indd 4 08/12/2017 10:55:59
AUTORES
MAURO RESENDE, Engo Agro, Ph.D.
Professor Aposentado do Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais
NILTON CURI, Engo Agro, Ph.D.
Professor e Bolsista do CNPq
Departamento de Ciência do Solo
Universidade Federal de Lavras
Lavras, Minas Gerais
SÉRVULO BATISTA DE REZENDE, Engo Agro, Ph.D.
Professor Aposentado do Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais
GILBERTO FERNANDES CORRÊA, Engo Agro, D.Sc.
Professor do Departamento de Agronomia
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Minas Gerais
JOÃO CARLOS KER, Engo Agro, D.Sc.
Professor e Bolsista do CNPq
Departamento de Solos
Universidade Federal de Viçosa
Viçosa, Minas Gerais
Livro_Pedologia.indd 5 08/12/2017 10:55:59
SUMÁRIO
1. INTRODUÇÃO.........................................................................................1
1.1. Solo como Fator Ecológico..................................................................3
1.2. Variação Tridimensional dos Solos.......................................................5
1.3. Análise do Solo.....................................................................................7
1.4. Experimentação e Extensão..................................................................8
1.5. Bibliografia...........................................................................................9
2. PROPRIEDADES DO SOLO E INTERPRETAÇÃO.........................11
2.1. Propriedades.......................................................................................11
2.2. Propriedades e Inferências..................................................................14
2.2.1. Constituição..............................................................................14
2.2.2. Cor.............................................................................................34
2.2.3. Textura.......................................................................................41
2.2.4. Estrutura....................................................................................47
2.2.5. Cerosidade.................................................................................51
2.2.6. Porosidade.................................................................................52
2.2.7. Consistência..............................................................................56
2.2.8. Cimentação...............................................................................60
2.2.9. Pedoclima..................................................................................61
2.2.10. Pedoforma...............................................................................66
2.3. Bibliografia.........................................................................................70
3. MATÉRIA ORGÂNICA E SEUS COMPONENTES..........................77
3.1. Composição e Estrutura do Húmus....................................................77
3.2. Dinâmica e Acúmulo de Matéria Orgânica........................................79
3.3. Bibliografia.........................................................................................82
4. ORGANISMOS DO SOLO....................................................................85
4.1. Aspectos Gerais..................................................................................85
4.2. Murundus das Áreas de Cerrados e Campos Tropicais Brasileiros.....91
ix
Livro_Pedologia.indd 9 08/12/2017 10:55:59
4.2.1. Descrição Morfológica..............................................................93
4.2.2. Origem dos Murundus: Hipóteses............................................94
4.2.3. Ciclo Evolutivo: Gênese e Senescência..................................102
4.3. Bibliografia.......................................................................................105
5. GÊNESE - ASPECTOS GERAIS........................................................109
5.1. Processos...........................................................................................110
5.1.1. Podzolização...........................................................................112
5.1.2. Latolização..............................................................................113
5.1.3. Calcificação.............................................................................114
5.1.4. Hidromorfismo........................................................................115
5.1.5. Halomorfismo..........................................................................115
5.1.6. Tiomorfismo – Sulfurização....................................................116
5.1.7. Ferrólise...................................................................................116
5.2. Horizontes Diagnósticos...................................................................117
5.3. Sequências Gerais.............................................................................119
5.3.1. Sequência Cronológica............................................................119
5.3.2. Sequência Litológica...............................................................124
5.4. Pedogeomorfologia...........................................................................129
5.4.1. Acidentamento e aplainamento...............................................129
5.4.2. Solos profundos e acidentados................................................132
5.4.3. Nutrientes................................................................................136
5.4.4. A evolução das formas............................................................138
5.4.5. Rocha, intemperismo e erosão................................................139
5.4.6. Aplainamento..........................................................................143
5.4.7. Tempo de exposição da partícula............................................146
5.5. Bibliografia.......................................................................................147
6. SOLO E PAISAGEM............................................................................151
6.1. Relevo...............................................................................................152
6.2. Vegetação e Clima............................................................................154
6.3. Aspectos Socioeconômicos...............................................................156
6.3.1 Em busca das terras férteis.......................................................156
Livro_Pedologia.indd 10 08/12/2017 10:55:59
6.3.2. Povoamento............................................................................158
6.4. Bibliografia.......................................................................................160
7. CLASSIFICAÇÃO E GEOGRAFIA DE SOLOS..............................161
7.1. O Problema da Transferência de Conhecimentos.............................161
7.1.1. Avaliação da Terra...................................................................161
7.1.2. Classificação para Alguns Tipos de Transferência de Conhe-
cimentos........................................................................162
7.1.3. A Necessidade de Estratificação..............................................164
7.2. Sistemas de Classificação de Aptidão Agrícola das Terras..............165
7.2.1. Sistema de Classificação da Capacidade de Uso....................166
7.2.2. Sistema FAO/Brasileiro..........................................................168
7.3. Solos com Problemas........................................................................183
7.3.1. Redução...................................................................................184
7.3.2. Práticas de Redução versus Convivência...............................187
7.3.3. Práticas de Convivência..........................................................189
7.4. Geografia de Solos............................................................................189
7.4.1. Domínio Pedobioclimático da Amazônia...............................189
7.4.2. Domínio do Subárido Nordestino...........................................191
7.4.3. Domínio dos Mares de Morros Florestados............................192
7.4.4. Domínio do Cerrado................................................................193
7.4.5. Domínio do Planalto das Araucárias.......................................195
7.4.6. Domínio das Pradarias Mistas................................................196
7.4.7. Mais sobre os Domínios Pedobioclimáticos...........................197
7.4.8. Lições de Geografia de Solos..................................................199
7.5. Classificação de Solos.......................................................................201
7.5.1. Propósitos da Classificação.....................................................202
7.5.2. Sistema Americano de Classificação de Solos (Soil Taxonomy)....202
7.5.2.1. Alguns Problemas na Aplicação da Soil Taxonomy
no Brasil.....................................................................203
7.5.3. Classificação Brasileira de Solos............................................204
7.5.3.1. Esquema das Principais Classes de Solos do Brasil....207
7.5.3.2. Solos com horizonte B latossólico.............................210
xi
Livro_Pedologia.indd 11 08/12/2017 10:56:00
7.5.3.3. Solos com horizonte B Textural – Não Hidromór-
ficos.............................................................................211
7.5.3.4. Solos com horizonte B Textural ou Plânico – Hidro-
mórficos......................................................................213
7.5.3.5. Solos Hidromórficos sem horizonte B Textural (com
ou sem horizonte Plíntico)..........................................214
7.5.3.6. Cambissolos................................................................216
7.5.3.7. Neossolos Litólicos, Flúvicos, Regolíticos e Quartza-
rênicos.........................................................................216
7.5.3.8. Chernossolos Rêndzicos (MD) e Vertissolos (V).......217
7.5.4. Principais Tipos de Horizonte A.............................................218
7.5.5. Atividade das Argilas e Saturação do Complexo de Troca.....219
7.5.6. Relações com a Soil Taxonomy...............................................221
7.6. Bibliografia.......................................................................................222
8. LEVANTAMENTO DE SOLOS..........................................................227
8.1. Tipos de Levantamento de Solos......................................................230
8.1.1. Autênticos ou Originais...........................................................230
8.1.2. Compilados.............................................................................230
8.2. Interpretação para Finalidades Não Agrícolas..................................232
8.2.1. Para Estradas...........................................................................232
8.2.2. Para Localização de Cidades..................................................233
8.2.3. Para Auxiliar Trabalhos de Geologia......................................233
8.2.4. Para Lazer e Turismo..............................................................233
8.3. Bibliografia.......................................................................................234
9. MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS................................................235
9.1. Unidade de Estudo e Planejamento..................................................235
9.2. A Interação Solo-Água-Vegetação....................................................236
9.3. Bibliografia.......................................................................................249
10. MICROMORFOLOGIA DO SOLO.................................................251
10.1. O Problema da Amostragem..........................................................251
xii
Livro_Pedologia.indd 12 08/12/2017 10:56:00
10.2. Alguns Conceitos Básicos em Micromorfologia............................253
10.2.1. Intemperismo e Minerais Índices..........................................253
10.2.2. Estrutura, Trama e Pedalidade..............................................254
10.2.3. Níveis de Organização..........................................................255
10.3. Terminologia Descritiva.................................................................256
10.3.1. Constituintes do Solo............................................................256
10.3.2. Organização do Plasma ou Tessitura Plásmica.....................257
10.3.3. Distribuição Relativa do Esqueleto e do Plasma..................258
10.3.4. Estruturas Associadas (Feições Pedológicas).......................258
10.4. Apresentação Sinótica das Descrições e Avaliações Micromorfo-
lógicas: Exemplo.............................................................................260
10.5. Considerações Finais......................................................................262
10.6. Bibliografia.....................................................................................262
11. POLUIÇÃO AMBIENTAL................................................................265
11.1. Metais Pesados................................................................................265
11.2. Pesticidas........................................................................................268
11.3. Resíduos Orgânicos........................................................................269
11.4. Outros Processos Relacionados......................................................269
11.4.1. Movimento de Nitrato para Cursos D’água..........................269
11.4.2. Efeito Estufa..........................................................................270
11.5. Considerações Finais......................................................................271
11.6. Bibliografia.....................................................................................271
12. CLASSIFICAÇÃO DE ECOSSISTEMAS.......................................273
12.1. Análise Sob Várias Escalas............................................................273
12.2. Hierarquia dos Ecossistemas..........................................................274
12.3. Solos, horizontes e camadas...........................................................278
12.4. Horizontes diagnósticos..................................................................283
12.5. Chaves de identificação: ordem......................................................290
12.6. Os critérios de identificação...........................................................293
12.7. Ordem, subordem, grande grupo e subgrupo.................................312
12.7.1. Organossolos.........................................................................318
xiii
Livro_Pedologia.indd 13 08/12/2017 10:56:00
12.7.2. Neossolos..............................................................................318
12.7.3. Vertissolos.............................................................................320
12.7.4. Espodossolos.........................................................................321
12.7.5. Planossolos............................................................................321
12.7.6. Gleissolos..............................................................................322
12.7.7. Latossolos.............................................................................324
12.7.8. Chernossolos.........................................................................325
12.7.9. Cambissolos..........................................................................326
12.7.10. Plintossolos.........................................................................327
12.7.11. Luvissolos...........................................................................328
12.7.12. Nitossolos............................................................................328
12.7.13. Argissolos............................................................................329
12.8. Classificação nova, mapa antigo.....................................................331
12.9. Bibliografia.....................................................................................340
ÍNDICE REMISSIVO...............................................................................343
FOTOS........................................................................................................353
Livro_Pedologia.indd 14 08/12/2017 10:56:00
5
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
A gênese de cada propriedade foi abordada no Capítulo 2. Aqui a ideia é dar
uma visão global, sem se ater a uma propriedade específica.
Sabe-se que os solos variam de um lugar para outro e que são muitas as suas
características. Desse modo, é difícil para nossa mente manejá-las todas. É necessário,
então, que se recorra à classificação dos solos127 para que se possa entender melhor
as semelhanças e as relações entre eles. Mutatis mutandis, isso acontece com outras
ciências, por exemplo, Botânica, Zoologia etc.
Os conhecimentos de gênese favorecem muito a compreensão do solo na
paisagem, suas propriedades e classificação.
As propriedades que foram discutidas (constituição, cor, textura, estrutura etc.)
são função dos fatores de formação do solo, dos quais o relevo, que aparece na maioria
das publicações, não é aqui incluído pelo simples argumento de que sendo o solo um
corpo tridimensional, ele tem uma forma externa que vem a ser a sua topografia. Em
outras palavras, o relevo faz parte do solo e, sendo assim, não tem sentido incluí-lo
entre os fatores de sua formação. Ele, por exemplo, depende do fluxo superficial
(enxurrada); e essa, além das condições bioclimáticas, vai depender do próprio solo,
(profundidade, maior ou menor taxa de infiltração da água). As características do solo
vão contribuir no determinar a sua configuração externa.
Solo = f (clima, organismos, material de origem e tempo)
Clima e organismos atuam sobre o material de origem (rocha) e, com o correr
do tempo, transformam esse substrato inicial em solo (Figura 5.A). Estudando a Figura
5.A, pode-se observar:
1. os fatores ativos (clima e organismos) atuam de cima para baixo, isto é, os
solos são mais intemperizados (velhos)128 à superfície do que em camadas
127
A classificação, por grupar elementos afins (no caso solos), permite a identificação de relações mais
consistentes entre as variáveis, por manter dentro de uma faixa relativamente estreita a amplitude de
variação de muitos atributos. Pode-se dizer muito mais sobre os Latossolos, que variam em cor, teor de
argila e estrutura, do que se poderia dizer sobre todos os solos. Em outras palavras, a classificação ajuda
a limitar a aplicabilidade das relações.
128
Solos velhos, embora o uso dessa expressão com sentido de solo maturo ou muito intemperizado possa
ser criticado, é comum falar-se em solos jovens e solos velhos. A idade do solo, contada em número
de anos, é, em geral, menos importante do que o grau de maturidade: se o solo tem muitos ou poucos
minerais primários facilmente intemperizáveis. Os termos jovens, ou novos, e velhos são mais simples
e usuais e dificilmente deixarão de ser usados no sentido de, respectivamente, imaturos e maturos.
109
Livro_Pedologia.indd 109 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
mais profundas. Há também formação de camadas mais ou menos paralelas à
superfície. São os horizontes e/ou camadas propriamente ditas.
2. os processos de pedogênese estão ligados, é lógico, ao tempo, e esse
tempo depende, basicamente, da erosão; essa, por sua vez, vai depender
da configuração externa do solo (declive, comprimento de rampa, forma),
cobertura do solo, natureza das rochas e das chuvas.
Figura 5.A – Fatores de formação do solo e pedogênese.
5.1. Processos
Na formação dos solos ocorrem reações físicas, químicas e biológicas que
determinam os diferentes horizontes com suas características peculiares.
Há uma tendência de se expressar o desenvolvimento do solo em termos de
quatro processos primordiais (Tabela 5.A).
A atuação diferenciada desses processos primordiais, interrelacionada com as
condições bioclimáticas, com o material de origem e com a posição na paisagem,
ao longo do tempo, resulta em feições pedológicas peculiares (expressas nos
horizontes do solo). Essas feições são reconhecidas como diferenciais de processos
pedogenéticos gerais (neste texto, designadas classes de processos pedogenéticos).
Assim, tem sido generalizado o uso de expressões que indicam a dominância de
alguns processos associados com certa condição de clima e organismos, isto é,
bioclimática, ou a uma condição local de topografia e excesso de água ou de sais
(Tabela 5.B).
110
Livro_Pedologia.indd 110 08/12/2017 10:56:10
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Tabela 5.A – Tipos de processos primordiais de formação do solo e exemplos.
Processos Exemplos
Transformação Ruptura da rede cristalina dos minerais primários
Gênese dos minerais de argila
Decomposição da matéria orgânica
Remoção Lixiviação de elementos para o lençol freático
Erosão
Translocação Eluviação de matéria orgânica, argila silicatada e óxidos do horizonte A
para o B
Movimentação de material dentro do perfil em outras direções
Adição Incorporação de matéria orgânica ao solo
Sedimentação ligeira
Fonte: Simonson (1959).
Tabela 5.B – Condições bioclimáticas e locais associadas às classes de processos de formação
do solo (tendências).
Condição Bioclimática Condição Local
Frio e Frio e
Excesso de água Excesso de sais
seco úmido
Pradaria
Floresta
(gramínea)
Podzolização
Podzolização
Calcificação e Hidromorfismo Halomorfismo
Latolização
Latolização
Quente e Quente e
seco úmido
Examinando o esquema da Tabela 5.B, pode-se observar e inferir que:
1. os solos que sofreram calcificação devem ser mais ricos em nutrientes que
os outros, pois a precipitação não é suficiente para lixiviar os nutrientes nem
para manter uma floresta; deve ser registrado que o pH elevado destes solos
acarreta uma baixa disponibilidade de P e alguns micronutrientes;
2. os solos brasileiros estão, em grande parte, no centro inferior direito
(região quente e úmida), devendo ser, portanto, bastante lixiviados e,
consequentemente, empobrecidos em nutrientes;
111
Livro_Pedologia.indd 111 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
3. os solos que têm sua gênese ligada a uma condição local de excesso de água,
estão nas partes mais baixas da paisagem e têm, como material de origem, em
grande parte, aquele trazido pela água por erosão e escorrimento subsuperficial
das elevações da região;
4. os solos que têm sua gênese ligada ao excesso de água e de sais devem estar
em regiões onde há riqueza de sais, por deficiência de precipitação ou por
enriquecimento pela água do mar (nas regiões costeiras). São associados a
depressões onde há excesso de água, pelo menos periodicamente, e a maior
concentração de sais.
5.1.1. Podzolização
Essa classe de processos pedogenéticos consiste essencialmente na
translocação de material dos horizontes superiores (A e E), acumulando-se no
horizonte B. Pode ocorrer tanto em condições hidromórficas, quanto em condições
de drenagem livre.
Se o material translocado é matéria orgânica e óxidos de Fe e de Al de baixa
cristalinidade - o que geralmente acontece quando o material de origem é pobre
em argila (por exemplo, quartzito ou arenito pobre ou sedimentos quartzosos) - e a
drenagem é deficiente, tem-se um solo com B espódico (ou B podzol)129.
A área bioclimática típica desses solos está nas regiões frias do globo, com
vegetação de coníferas, mas algumas condições locais como, por exemplo, ao longo
das áreas de restinga, trechos de Platôs Litorâneos, no chamado Leque do Taquari
(Pantanal) e num trecho muito expressivo da bacia do Rio Negro na Amazônia (AM
e RR), podem dar origem a tais solos, mesmo em regiões mais quentes.
Se o material translocado é argila silicatada (solos de constituição não tão
arenosa) que vai se acumular no horizonte B (com frequência recobrindo a superfície
dos agregados na forma de cerosidade), resultando em gradiente textural expressivo
em profundidade no perfil, tem-se um solo com B textural (Bt).
Pelo que foi dito, pode-se inferir que:
1. os solos que sofreram o processo de podzolização têm os horizontes bem
diferenciados, em razão da translocação de material da superfície para o
horizonte B;
Assim como os Espodossolos, os Neossolos Flúvicos (solos Aluviais) também podem apresentar
129
camadas subsuperficiais ricas em matéria orgânica; mas nesse caso ela não é translocada. Os Neossolos
Flúvicos são formados de sedimentos depositados pelo rio (depósitos aluviais ou aluviões). A cada
ano, ou no intervalo de alguns anos, novas camadas cobrem as anteriores, às vezes enterrando algumas
plantas pioneiras, quando o intervalo entre deposições permite. A distribuição de matéria orgânica, em
profundidade, nesses solos tende a ser irregular, registrando esses eventos.
112
Livro_Pedologia.indd 112 08/12/2017 10:56:10
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
2. os solos com B espódico (B podzol) são bastante pobres e ácidos130, visto que
a vegetação, quando se decompõe, imprime grande acidez ao solo e o material
de origem é muito pobre;
3. os solos com B textural são mais férteis do que os com B espódico (B podzol),
apresentando mais argila no horizonte B do que no horizonte A131;
4. quando os solos com horizontes B espódico (B podzol) e B textural (Bt)
encontram-se em relevo mais movimentado, tendem a ser facilmente
erodíveis por causa do material arenoso e menos estruturado que apresentam
nos horizontes superficiais A ou E. No caso dos solos com B textural,
principalmente, a diferença de textura entre os horizontes A e B132 dificulta
a infiltração de água imediatamente abaixo do A (ou E), o que favorece o
processo de erosão.
5.1.2. Latolização
Essa classe de processos consiste basicamente na remoção acentuada de sílica
e de bases do perfil, após transformação (intemperismo) dos minerais constituintes.
Praticamente não há translocação de material para o horizonte B, como no caso da
podzolização.
Os solos formados por essa classe de processos de pedogênese são aqueles com
horizonte B latossólico (Bw). São os mais desenvolvidos (velhos) da crosta terrestre,
ocupando, portanto, as partes há muito tempo expostas da paisagem, onde o tempo
de exposição de uma partícula, desde que se desagrega da rocha fresca, transformada
(se for o caso) até ser removida pela erosão, é muito expressivo. Em geral, ocupam as
superfícies mais elevadas (planaltos) em relação à paisagem circundante.
Portanto, depreende-se que:
1. os Latossolos são solos profundos, com pouca diferenciação entre horizontes,
bastante intemperizados; como consequência, apresentam argilas de baixíssima
atividade, pouca retenção de bases e virtual ausência de minerais primários
facilmente intemperizáveis;
130
A presença de conchas calcárias, mergulhadas em alguns locais na areia das restingas, pode originar
Espodossolos até eutróficos (GOMES et al., 1998). Arenitos arcozianos, em São Paulo, também têm
originado Espodossolos eutróficos (MONIZ et al., 1995).
131
O fato de se identificar o horizonte B textural, pela sua relação com o horizonte A, ilustra a importância
do contexto - um princípio chave para o entendimento e interpretações pedológicas.
132
Os solos com B texutral, mais argilosos, e com menor gradiente textural (com B nítico), isto é, Terra
Roxa Estruturada, Terra Bruna Estruturada, Rubrozém e parte dos Podzólicos Vermelho-Escuros, grupados
atualmente como Nitossolos são também bastante erodíveis, mas menos do que os que têm mais areia
e maior gradiente textural.
113
Livro_Pedologia.indd 113 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
2. como a sílica e outros elementos vão sendo lixiviados, há um enriquecimento relativo
em óxidos de Fe e de Al. Estes, por serem agentes agregantes, principalmente a
gibbsita, dificultando que a caulinita se ajuste face a face (ver estrutura – Capítulo
2.2.4), promovem, nos estádios mais avançados de evolução, a formação de
estrutura granular muito pequena, dando à massa do solo aspecto maciço poroso
(esponjoso), aumentando a macroporosidade, com reflexo na resistência à erosão
(veja item 2.2.4.), na maciez (quando seco) e na alta friabilidade (quando úmido),
facilitando o trabalho no solo, mesmo depois das chuvas.
5.1.3. Calcificação
Essa classe de processo consiste na translocação (redistribuição) de CaCO3 no
perfil, o que provoca sua maior concentração em alguma parte do solo.
A área bioclimática típica desse processo corresponde às regiões onde a
precipitação não é suficiente para remover do solo todos os carbonatos; a vegetação
é de pradaria, havendo um grande acúmulo de matéria orgânica. Há formação de
horizonte A espesso, rico em matéria orgânica e com alta saturação por bases. Esse
é o horizonte A chernozêmico (veja item 5.2.), que, embora apresente forte relação
com solos calcimórficos, não é exclusivo deles.
Solos que sofreram o processo de calcificação podem também ocorrer sob
florestas caducifólias. Nesses casos não há tendência tão pronunciada de formação
de um horizonte A chernozêmico.
Depreende-se, então que:
1. os solos que sofreram calcificação são solos férteis, pois contêm ainda muitos
minerais primários facilmente intemperizáveis e muitos nutrientes ainda não
lixiviados;
2. a deficiência de água e, principalmente, a má distribuição de chuvas constituem
as limitações principais associadas a esses solos;
3. no território brasileiro133 tais solos tendem a ocorrer nas regiões menos
úmidas do Polígono das Secas. No entanto, mesmo aí, essa classe de processo
pedogenético não é muito expressiva geograficamente.
Os solos carbonáticos, no Brasil, não são muito comuns. Oliveira, Jacomine e Camargo (1992) registram
133
o horizonte cálcico em Chernossolos, Vertissolos, Planossolos e Neossolos Litólicos do Rio Grande do
Sul e Mato Grosso do Sul. No Norte de Minas, região de Jaíba, perto de Janaúba, foram registrados
alguns Cambissolos carbonáticos (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA - UFV, 1969). Também na
região de Italva (RJ), Cachoeira de Itapemirim (ES), Corumbá, MS; Chapada do Apodi (RN), Irecê (BA)
há registros de solos carbonáticos. Como caso curioso de calcificação cita-se a presença de carbonato de
cálcio no interior de paleotermiteiros (Veja 4.2) no Norte de Minas, em Latossolo Vermelho distrófico
(LVd). As condições pouco pluviosas atuais e conformação, encrostamento e exposição do murundu
cria uma aridez local pronunciada que protege os carbonatos de remoção.
114
Livro_Pedologia.indd 114 08/12/2017 10:56:10
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
5.1.4. Hidromorfismo
O excesso de água imprime ao solo certas características peculiares.
O arejamento deficiente condiciona uma decomposição lenta da matéria
orgânica, provocando seu acúmulo e um ambiente de redução (baixo potencial de
oxirredução), que transforma Fe e Mn em formas reduzidas (solúveis), facilitando
sua migração ou sua concentração, neste caso podendo causar toxidez para as plantas.
A ausência de Fe (III) (Fe oxidado), com ou sem a presença de Fe (II) (Fe
reduzido), faz com que o solo tenha o aspecto acinzentado, esverdeado ou azulado
(gleizado)134, abaixo do horizonte A. A coloração esverdeada ou azulada quase sempre
implica na presença de Fe (II).
Assim, pode-se inferir:
1. os solos hidromórficos estão nas depressões, isto é, nas partes mais baixas do
terreno;
2. quando são drenados, natural ou artificialmente, podem apresentar deficiência
de Fe e Mn, que são levados para fora do alcance das raízes. O Mn é reduzido
mais rapidamente do que o Fe, porém é reoxidado mais lentamente. O cobalto
comporta-se de maneira semelhante ao Fe e ao Mn, mas sua deficiência se
reflete nos animais135.
3. acúmulo de etileno136.
5.1.5. Halomorfismo
O excesso de sais também imprime ao solo certas características peculiares.
Os solos halomórficos estão em depressões onde pode ocorrer excesso de sais
e de água, temporariamente. Os sais são trazidos das elevações circunvizinhas pela
enxurrada ou pelo lençol freático. Muitas vezes o local é rico em sais por causa de
depósitos marinhos.
134
Cores gleizadas - cores cinzentas – vêm de um nome local russo - gley - massa de solo orgânico; as
camadas gleizadas situam-se abaixo do material orgânico; é conotativo de excesso de água.
135
Cobalto, necessário às leguminosas para fixação de nitrogênio; um composto específico contendo
cobalto, a vitamina B12, é essencial para os animais.
136
Etileno, hormônio vegetal (gasoso), mas pode vir também de outras fontes. É produzido pelas plantas,
em particular sob estresse; atividade enzimática (fungos e bactérias); pela queima de compostos orgânicos
(incenso, fogueiras, fumaça); senescência de tecidos vegetais. Nos solos com deficiência de drenagem
pode injuriar plantas cultivadas. O etileno pode inibir crescimento de raízes, nodulação, clorose foliar,
elongamento e espessura do caule, murcha, epinastia (folhas curvam para baixo) e até formar aerênquima
radicular. A evolução do etileno aumenta com teor de matéria orgânica, temperatura, umedecimento e
secagem. O impedimento mecânico (solo duro, por exemplo) pode estimular crescimento horizontal (até
encontrar microlocal livre para prosseguir verticalmente). Apesar de todos esses efeitos é na maturação de
frutos onde o efeito do etileno é mais conhecido e usado como prática agronômica (carbureto) (AWAD;
CASTRO, 1983; www.ebah.com.br/content/ABAAAAgC8AK/etileno-pdf-etileno, 8/3/2013).
115
Livro_Pedologia.indd 115 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Nessas depressões com excesso de água (pelo menos temporário) e de sais, são
formados os solos salinos (Gleissolos Sálicos, antigos Solonchaks).
Se o excesso de sais é removido, ficando muitos íons sódio (Na+) adsorvidos
nas argilas, tem-se um solo alcalino, Solonetz; se o Na+ é removido e substituído
pelo H+, tem-se o Solodi. Quando a remoção do Na ocorre mais completamente
no horizonte A do que no B, há, nessa fase intermediária, formação do Planossolo
Nátrico (Solonetz-Solodizado).
Com base no que foi visto, depreende-se que:
1. há melhoria de drenagem (maior lixiviação ) no sentido:
Solos Salinos ⇒ Solonetz ⇒ Solonetz-Solodizado ⇒ Solodi
2. sais e H+ são floculantes (tendem a promover agregação)137; portanto, os Solos
Salinos e o Solodi têm macroporosidade maior que o Solonetz;
3. há maior eluviação (translocação) de argila do horizonte A para o horizonte
B no Solonetz, em razão do Na+ ser dispersante;
4. o pH será máximo no Solonetz, por causa do Na+ e mínimo no Solodi, em
razão do H+. O pH dos solos salinos é alto, mas intermediário entre os outros
dois (Solonetz e Solodi);
5. os Planossolos Nátricos (Solonetz-Solodizados) apresentam valores de pH
relativamente baixos no horizonte A e altos no B.
5.1.6. Tiomorfismo – Sulfurização
Em solos de mangue drenados, áreas de mineração de carvão etc., a oxidação de
sulfetos de ferro, tais como a pirita (FeS2), expostos à aeração, produz ácido sulfúrico,
promovendo a acidificação extrema do ambiente do solo e das águas de drenagem. O
pH < 4 na zona de oxidação de sedimentos que contêm pirita libera elevados conteúdos
de Al3+ para a solução do solo, podendo ocasionar problemas de toxidez deste cátion
ácido para as plantas, principalmente aquelas mais sensíveis (KÄMPF; CURI, 2012).
5.1.7. Ferrólise
O processo de ferrólise (termo que significa “dissolução pelo Fe”) consiste
num conjunto de reações que incluem oxidação-redução, hidrólise, acidólise e
A estruturação, formando grânulos, é mais do que simples floculação: os Latossolos Amarelos
137
coesos - os menos estruturados dos Latossolos - têm floculação indistinguível, por exemplo, da de um
Latossolo Roxo (Latossolo Vermelho férrico) gibbsítico do Planalto Central; a presença, nesse caso, de
gibbsita, que dificulta o arranjo face a face da caulinita é fundamental. A consistência do solo, quando
seco, reflete esse arranjo.
116
Livro_Pedologia.indd 116 08/12/2017 10:56:10
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
dessilicação (BRINKMAN, 1979). O processo origina solos hidromórficos com
horizontes superficiais eluviais ácidos e descorados (álbicos), situados sobre horizontes
subsuperficiais mais argilosos. Este processo, possivelmente, ocorre na formação
de Planossolos e Plintossolos, sendo também favorecido em alguns Argissolos pela
presença de lençol freático suspenso que cria condições para a destruição do topo do
horizonte Bt (ALMEIDA et al., 1997), em processo de autoevolução.
5.2. Horizontes Diagnósticos
Para se classificar há necessidade de critérios. Esses critérios vão evoluindo à
medida que os conhecimentos sobre os objetos vão aumentando.
Na década de 50 os conhecimentos sobre os solos do Brasil eram bastante
incipientes. Hoje, em razão principalmente dos trabalhos orientados e conduzidos
pelos órgãos do Ministério da Agricultura, responsáveis pelos levantamentos de solos
no Brasil, que deram origem ao Serviço Nacional de Levantamento e Conservação
de Solos (atual CNPS), da EMPRAPA, e ao Radambrasil, os dados sobre os nossos
solos já aumentaram consideravelmente e, com eles, os critérios para sua classificação.
De forma semelhante a outros esquemas de classificação natural, também a
taxonomia de solos baseia-se, em grande medida, nas relações de parentesco entre
indivíduos para distinção de classes, nos diferentes níveis hierárquicos. No caso da
classificação de solos, essas relações genéticas, em nível de maior significância, são
estabelecidas pela conceituação de horizontes diagnósticos, cujas características
distintivas refletem a atuação preponderante de um ou mais processos pedogenéticos.
A par de outros atributos diagnósticos para a classificação dos solos brasileiros, os
horizontes diagnósticos são extremamente importantes, não só sob o ponto de vista
de sistematização dos nossos conhecimentos, mas também de fundamental interesse
prático.
Na Tabela 5.C encontra-se o resumo desses horizontes como delineados na
classificação de solos usada nos levantamentos pedológicos do País (EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA E AGROPECUÁRIA - EMBRAPA, 2006; 2013).
Tabela 5.C – Alguns horizontes diagnósticos (EMBRAPA, 2006; 2013), suas características,
solos onde ocorrem e processos.
Horizonte Características Solos e Processos
Presente em muitos solos,
Horizonte espesso, escuro, rico
principalmente os originados de
A Chernozêmico em matéria orgânica; saturação
rochas ricas em nutrientes, em
por bases ≥ 65 %.
regiões não muito secas.
Continua...
117
Livro_Pedologia.indd 117 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Tabela 5.C – Continuação...
Horizonte Características Solos e Processos
Horizonte espesso, rico em Presente em muitos Latossolos e
matéria orgânica, mas com baixa Cambissolos de regiões de altitude
A Húmico saturação por bases e reação (clima ameno); é comum em
ácida. Atinge, às vezes, mais de solos hidromórficos pobres em
1,5 m de espessura. nutrientes.
Presente só nos Espodossolos;
Rico em matéria orgânica e/ou originado pela translocação
óxidos de Fe e de Al, de baixa de matéria orgânica e, muitas
B Espódico cristalinidade, pobre em argilas. vezes, de óxidos de Fe e de Al
Pode ser endurecido (ortstein). É (principalmente) dos horizontes
ácido. suprajacentes para o B (processo
de podzolização).
Expressivo aumento de argila em
relação ao(s) horizonte(s) A ou
Presente nos Argissolos,
E (gradiente textural); estrutura
Luvissolos, Chernossolos
em blocos envolvidos ou não
Argilúvicos, entre outros;
B Textural por películas de argila silicatada
originado, tipicamente, pela
sob a forma de cerosidade;
translocação de argila silicatada do
em geral ainda possui algum
horizonte A para o horizonte B.
mineral primário facilmente
intemperizável.
Argiloso, sem aumento
substancial de argila em relação
B Nítico Presente nos Nitossolos.
ao(s) horizonte(s) estrutura bem
desenvolvida e cerosidade nítida.
Estrutura granular com aspecto
de maciça porosa (esponjosa)
nos solos mais oxídicos e
em blocos nos solos mais
Presente nos Latossolos; originado
caulíniticos, profundo, muito
B Latossólico pela remoção de sílica e de bases,
intemperizado e praticamente
e retenção de óxidos.
sem mineral primário facilmente
intemperizável; argilas 1:1 e
oxídicas é que formam a fração
mineral fina deste horizonte.
Estrutura prismática ou colunar, Presente nos Planossolos;
B Plânico blocos maiores, pouco poroso, de apresenta teores elevados de argila
coloração acinzentada. dispersa em água.
Continua...
118
Livro_Pedologia.indd 118 08/12/2017 10:56:10
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Tabela 5.C – Continuação...
Horizonte Características Solos e Processos
Presente nos Cambissolos, alguns
Estrutura variável (blocos,
desenvolvidos em depósitos
prismas ou maciça porosa),
aluviais mais antigos; ainda
geralmente pouco espesso e
não houve atuação marcante de
sem cerosidade e/ou gradiente
B Incipiente nenhum processo pedogenético,
textural expressivo; muito
mas houve liberação de Fe
mineral primário facilmente
e de Al dos minerais, com
intemperizável e/ou muito silte e/
desenvolvimento de cor e
ou argila mais ativa.
formação de estrutura.
Presente nos Plintossolos (antiga
Coloração acinzentada ou
Laterita Hidromórfica); é muito
amarelo-pálida com mosqueados
comum na Amazônia, ocupa
vermelhos, dos quais 15 % ou
grandes extensões do Maranhão,
mais sob a forma de plintitas ,
Plíntico no Vale do Mearim (podendo
em camada de 15 cm ou mais
ser eutrófico); ocorre também no
de espessura, que se endurecem
Pantanal, no Planalto Central e, até
quando expostos a ciclos de
mesmo, em menor proporção, sob
umedecimento e secagem.
caatinga.
5.3. Sequências Gerais
Apesar de frequentemente os fenômenos ambientais serem vistos como
discretos, isolados uns dos outros, prevalecem quase sempre variações em sequências
gradativas. Por exemplo, num mapa climático, a linha representada não existe na
realidade, isto é, não existe mudança assim tão brusca, o que não invalida a utilidade
da separação.
Neste item, serão apresentadas algumas sequências com dois propósitos:
1. resumir e recordar sequências implícitas em questões abordadas anteriormente;
2. aprimorar ideias já esboçadas, complementando-as com outras informações.
5.3.1. Sequência Cronológica
A sequência básica de solos é a sequência de idade (cronossequência). Por
exemplo, na Figura 5.B, os solos são mais novos (menos intemperizados) em a, e
mais velhos (mais intemperizados) em d.
119
Livro_Pedologia.indd 119 08/12/2017 10:56:10
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Solos com
Neossolos
Cambissolos B textural ou Latossolos
Litólicos
nítico
a b c d
Figura 5.B – Bloco-diagrama ilustrando a influência do relevo na idade dos solos (taxa
pedogênese/erosão). As setas indicam o aumento da erosão e da pedogênese.
Os Neossolos Litólicos (Solos Litólicos), Neossolos Flúvicos (Solos Aluviais)
e os solos com B incipiente são muito influenciados pelo material de origem e
frequentemente fogem às tendências apresentadas na Figura 5.C.
Se a atividade bioclimática (ação dos organismos e do clima) for menos intensa,
desde que a topografia seja a mesma, o solo será mais novo em cada uma das posições
(a, b, c, d) conforme a Tabela 5.D. Nela são exemplificadas as tendências de ocorrência
dos solos nos vários segmentos de paisagem, conforme a intensidade maior ou menor
(em relação ao bioclima de referência) dos agentes bioclimáticos.
No Nordeste brasileiro, por exemplo, onde a condição bioclimática é menos
ativa, pode inexistir Latossolo138, mesmo que, topograficamente, a paisagem seja
bem suave, favorecendo, neste aspecto, um envelhecimento maior do solo. O grau
de intemperismo ali não é pronunciado em razão da baixa intensidade dos fatores
bioclimáticos, em comparação com o intenso processo erosivo139.
138
Os Latossolos no Nordeste subárido estão relacionados com rochas psamíticas, que se alteram com
facilidade, originando solos profundos e muito intemperizados; isto é, sem muitos minerais primários
facilmente intemperizáveis. As rochas cristalinas (materiais de cobertura) só dão origem aos Latossolos
nas partes mais elevadas da paisagem (superfícies mais antigas), de clima menos seco.
139
O horizonte B, a partir de material do horizonte C, leva muitos anos para se formar. A erosão natural
vai retirando aos poucos a parte superficial, sem destruir a vegetação, enquanto a pedogênese segue
aprofundando todos os horizontes. Se a taxa de erosão diminui, o horizonte B se espessa; reduz-se até
zero - deixa de existir - expondo o horizonte C, se a erosão for suficientemente intensa. Como a erosão
no subárido brasileiro é intensa, e há solos, ainda que rasos, mesmo em áreas bastante declivosas, não
há outra conclusão: a pedogênese, mesmo no subárido, deve ser muito acentuada nos solos rasos (no
período chuvoso); caso contrário, a rocha estaria toda exposta.
120
Livro_Pedologia.indd 120 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
NEOSSOLOS SOLOS COM B SOLOS COM B SOLOS COM B
LITÓLICOS INCIPIENTE TEXTURAL OU LATOSSÓLICO
E NEOSSOLOS NÍTICO
FLÚVICOS
GIBBSITA
MICA CAULINITA HEMATITA
GOETHITA
ENVELHECIMENTO
- INTEMPERIZAÇÃO
- PROFUNDIDADE
- POROSIDADE
AUMENTO EM - RESISTÊNCIA À EROSÃO LAMINAR
- FIXAÇÃO DE P
- LIXIVIAÇÃO
- PERMEABILIDADE
- FERTILIDADE NATURAL
- ATIVIDADE DA FRAÇÃO ARGILA
(CAPACIDADE DE TROCA CATIÔNICA)
- MINERAIS PRIMÁRIOS FACILMENTE
DIMINUIÇÃO EM
INTEMPERIZÁVEIS (FORNECEDORES DE
NUTRIENTES)
- TEOR DE SILTE
- RESISTÊNCIA À EROSÃO EM SULCOS
Figura 5.C – Tendências nas relações entre idade do solo e algumas de suas características
químicas, físicas e morfológicas.
Tabela 5.D – Influência da variação da atividade bioclimática na idade relativa do solo em
conformidade com a Figura 5.B.
Segmentos da Paisagem
Bioclima
a b c d
Neossolos Solos com B
De referência Cambissolos Latossolos
Litólicos textural ou nítico
Afloramento de Neossolos Solos com B
Menos ativo Cambissolos
rochas Litólicos textural ou nítico
Latossolo Latossolo
Solos com B
Mais ativo Cambissolos caulinítico e/ou oxídico e/ou mais
textural ou nítico
menos profundo profundo
Da mesma forma que a intensidade da atividade bioclimática, os outros fatores
de formação, como material de origem e tempo, podem também modificar a idade
relativa ou o grau de intemperismo de um solo. Distinguem-se três fatores relativos
à rocha de origem que interessam de perto à intemperização. São eles:
121
Livro_Pedologia.indd 121 08/12/2017 10:56:11
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
a) composição química ou mineralógica;
b) estrutura ou fábrica;
c) granulometria.
As rochas ricas em minerais máficos (com altos teores de Fe e Mg, e
acessoriamente minerais-traço, tais como olivinas140, anfibólios141, piroxênios142 e biotita
- veja Tabela 2.C), como basalto, diabásio etc., são, em princípio, mais facilmente
intemperizáveis do que as ricas em minerais félsicos, mas, mesmo aí, a estrutura ou
fábrica pode inverter esta ordem.
Assim, no Planalto de Viçosa (MG) e em outras regiões do Brasil, os solos
originados de intrusões máficas (anfibolitos e diabásios) são mais novos (Terra Roxa
Estruturada, atual Nitossolo Vermelho férrico) - apresentando até blocos de rocha -
do que os solos desenvolvidos do gnaisse encaixante, que apresentam um profundo
manto de intemperismo, com material latossólico. A estrutura em bandas alternadas
de composição mineralógica distinta, aparentemente favorece a maior intemperização
do gnaisse, apesar de os teores de minerais ferromagnesianos serem, naturalmente,
maiores nas rochas máficas.
Outro exemplo, talvez mais interessante, é o que envolve o basalto e o tufito.
Ambos são rochas ricas em minerais máficos, mas o tufito (originado da consolidação
de cinzas vulcânicas) não apresenta o aspecto massivo143 do basalto. O tufito
intemperiza-se mais rapidamente. Para a mesma pedoforma, os solos de tufito144 são
mais intemperizados que os originados de basalto (Figura 5.D).
140
Olivina, do grego olivina, oliva ou semelhante ao verde da oliva, o fruto da oliveira (BUENO, 1967;
WEBSTER, 1989).
141
Anfibólio, do grego amphibolos, ambíguo, duvidoso, nome dado por Hauy, em virtude das muitas
variedades em que se apresenta (BUENO, 1967; BATES; JACKSON, 1987).
142
Piroxênio, do grego pyr, fogo, e xenos, estrangeiro, aparentemente referindo-se à errônea idéia inicial
de que era uma substância estranha às rochas ígneas (BUENO, 1967; WEBSTER, 1989).
143
Maciço, compacto, cheio, espesso, que não é oco. Não tem, em português, a acepção de homogêneo.
A palavra massivo, em afinidade com o inglês massive, está sendo usada com o sentido de rochas
que têm aspecto homogêneo, sem foliação, clivagem, xistosidade etc. Se em camadas, essas têm
mais de 10 cm de espessura (FERREIRA, 1975; BATES; JACKSON, 1987; WEBSTER, 1989). A
própria grafia de maciço é questionada por Bueno (1967): deveria ser massivo por se originar do
latim massa.
144
Tufito é um tufo contendo materiais piroclásticos e detríticos, com predominância de piroclásticos;
tufo é um termo geral para todas as rochas piroclásticas consolidadas; sedimento tufáceo contém até 50
% de tufos (BATES; JACKSON, 1987). O vulcanismo, que produziu os piroclásticos do tufito, na região
de Patos de Minas, há 80 Ma (milhões de anos), coincide com a abertura do Atlântico, a separação entre
Brasil e África. As agitações crustais dessa separação produziram, do final do Jurássico (190-135 Ma) até
quase o término do Cretáceo (135-65 Ma), lavas e cinzas – que se consolidaram como rochas basálticas e
tufitos - os materiais de origem das chamadas terras roxas, mas de outros solos também, inclusive alguns
com elevados teores de alumínio trocável, dependendo das condições ambientais.
122
Livro_Pedologia.indd 122 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Figura 5.D – Influência da estrutura da rocha de origem na idade145 relativa dos solos.
O Latossolo originado de basalto (Latossolo Vermelho férrico, antigo Latossolo
Roxo) tende a formar uma superfície mais suave que o Latossolo de gnaisse ou, em
outras palavras, para a mesma idade (grau de envelhecimento relativo), o solo de
gnaisse forma uma superfície mais acidentada: isto é, paradoxalmente, o gnaisse é
mais facilmente intemperizável do que o basalto.
Na Tabela 5.E estão algumas observações de interesse prático quando se
comparam solos velhos e novos, desenvolvidos da mesma rocha de origem.
A lição objetiva que pode ser tirada da Tabela 5.E, é que a adequação para uso
de um solo novo e de um solo velho vai depender da disponibilidade de insumos
colocados para melhorar as condições do solo velho. Assim, na ausência de insumos
(corretivos, fertilizantes etc.), o solo novo é mais adequado para culturas anuais. Se
houver aplicação suficiente de insumos, o solo velho passa a ser mais adequado para
essas culturas.
De maneira geral, considerando que os solos brasileiros, em sua maior parte,
são mais velhos do que novos, e que para a maioria dos agricultores brasileiros, a
possibilidade de aplicação de insumos é pequena, conclui-se: as culturas perenes
(incluindo pastagens) são mais adequadas. Evidentemente a conclusão aqui se refere
apenas às qualidades da terra. Muitos outros fatores, conforme será comentado no
capítulo 7, estão envolvidos num estudo de aptidão agrícola.
145
O solo nunca chega ao extremo de velhice. As transformações (pedogênese) - rápidas no início
- tornam-se lentas no solo já mais velho e a instabilidade tectônica (elevação do continente ou
abaixamento do mar, ou mesmo modificações locais como falhamentos), e bioclimática (mudança
de clima afetando a vegetação) aceleram a erosão, provocando um processo de rejuvenescimento.
Os solos do Brasil, em geral, assim como a paisagem brasileira como um todo, estão em processo de
rejuvenescimento.
123
Livro_Pedologia.indd 123 08/12/2017 10:56:11
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Tabela 5.E – Principais vantagens e desvantagens de solos novos e velhos para culturas
anuais e perenes.
Vantagens Desvantagens
Solo
Culturas Anuais
-maior infestação por plantas invasoras
-menor deficiência de nutrientes -maiores impedimentos à mecanização
Novo146
(maior dependência de mão-de-obra)
-maior suscetibilidade à erosão
-menor ocorrência de plantas invasoras
-maior facilidade de mecanização -pobreza em nutrientes
Velho (menor dependência de mão-de-
-maior custo da produção
obra)
-menor suscetibilidade à erosão
Culturas Perenes
-alguma restrição ao desenvolvimento
Novo -menor deficiência de nutrientes
do sistema radicular
-facilidade de desenvolvimento do -pobreza em nutrientes
Velho sistema radicular (melhor
-maior custo da produção
aproveitamento de água e nutrientes)
5.3.2. Sequência Litológica
A sequência cronológica vista anteriormente é a fundamental: é a que explica,
por exemplo, as diferenças mais gerais entre os solos dos vários continentes. A
sequência litológica vem em seguida, em escala de importância. Em escala local
ou regional a sequência litológica assume, frequentemente, importância capital.
Os arenitos e os basaltos (como no Sul do país, estendendo-se até ao sul do
Planalto Central), as ardósias, filitos e micaxistos (como nas áreas de Brasília e
da Serra da Canastra), os quartzitos (como em muitos trechos do Espinhaço e da
Chapada Diamantina), os calcários (como em Irecê (BA), Bodoquena (MS), Apodi
(RN), Arcos e Pains (MG), por exemplo) imprimem características marcantes aos
solos que originam. Para fins pedológicos, podem-se agrupar as rochas segundo
a Tabela 5.F.
Como quase sempre ocorre na natureza, há transições de uma classe para outra.
Assim, as rochas pelíticas (rochas de granulometria muito fina) com maior teor de
calcário, como nas margas, confundem-se pedologicamente com o calcário.
146
Os solos novos derivados de rochas pelíticas aluminosas já são muito pobres em nutrientes e com
altos valores de saturação por Al3+, fugindo frequentemente à vantagem correspondente na Tabela 5.E.
124
Livro_Pedologia.indd 124 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Tabela 5.F – Rochas agrupadas para fins pedológicos gerais, assim como uma ideia de sua
composição química.
Minerais
Rocha Fe P K Ca Mg Co Cu Zn B Mn Fonte(2)
principais(1)
-------------- % -------------- --------- mg kg-1 ---------
Granítica Fp, Qz, Bt 2,2 0,08 3,36 1,5 0,6 4 20 50 9 1,2 a
Máfica Ca-Fp, Py, Mt 8,7 0,11 0,83 7,6 4,6 48 87 105 5 1,5 a
Pelítica Ms, Fp, Qz 4,7 0,07 2,66 2,2 1,5 19 45 95 100 2,6 a
Psamítica Qz+ cimento 1,0 0,02 1,07 1,1 0,7 0,3 x(3) 16 35 0,2 a
Ferruginosa Hm, Mt 49 0,05 0,01 299 24 24 b
Cc, Dm, Ms, Fp,
Calcária 0,4 0,04 0,27 30,2 4,7 0,1 4 20 20 0,4 a
Qz
Gnáissica Fp, Qz, Mi, Hb 2,7 0,09 2,45 2,3 1,2 c
(1)
Símbolos: Fp - feldspato (K); Qz - quartzo (SiO2); Bt - biotita (K, Mg, Fe); Ca-Fp - feldspato calco-
sódico (Ca, Na); Py - piroxênio (Ca, Mg); Mt - magnetita (Fe2 3+ Fe2+ O4); Ms – - muscovita??, mica
branca ou malacacheta (K); o cimento das rochas psamíticas pode ser calcário, óxidos de Fe ou argila;
Hm - hematita (Fe2O3); Cc-calcita (CaCO3); Dm-dolomita (Mg, Ca); Mi - micas, incluindo biotita e
moscovita; Hb – hornblenda (Ca, Mg, K). Entre parênteses, principais elementos de interesse para as
plantas contidos no mineral ou sua composição química.
(2)
a - Turekian e Wedepohl (1962); b - concreções de solos originados de itabirito, do Quadrilátero Ferrífero
(SOARES, 1980; FONTES; RESENDE; RIBEIRO, 1985); c - dados compilados por Huang (1962).
(3)
x = ordem de magnitude de 1 dígito antes da vírgula.
A Tabela 5.F, associada aos conhecimentos gerais de pedologia, indica alguns
fenômenos muito interessantes:
1. os elementos químicos existentes nas rochas podem ser removidos com
facilidade, como Ca, Mg, Na e K, ou podem ser até concentrados residualmente,
como Fe, P e elementos-traço. Assim, os solos originados de rochas máficas
tendem a ser mais ricos em Fe, P, Co, Cu e Zn; por outro lado, tendem a ser
mais pobres em B e Mo;
2. os teores de B tendem a ser maiores nos solos de rochas pelíticas. O B é mais
concentrado nos sedimentos de origem marinha;
3. os solos originados de rochas psamíticas e graníticas tendem a ser os mais arenosos.
Essas são as rochas mais ricas em quartzo (Qz);
4. as rochas pelíticas, em relação aos macroelementos de maior interesse, são
ricas apenas em K, sendo pobres em Ca, Mg e P. Os baixos teores de bases
(exceção do K) e a presença de muito Al na estrutura da moscovita (Ms) e
do feldspato (Fp) fazem com que os solos jovens, desenvolvidos de rochas
pelíticas, tenham altos teores de Al trocável. Nos solos mais velhos de rochas
pelíticas, os teores de Al na solução tendem a ser menores, pois há a formação
125
Livro_Pedologia.indd 125 08/12/2017 10:56:11
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
de gibbsita. A vegetação natural reflete essas diferenças: na área de Brasília,
por exemplo, os solos dos topos das chapadas são ricos em gibbsita, e apesar
de a vegetação ser cerrado, ela é mais desenvolvida do que os campos cerrados
e campos sujos dos solos mais acidentados147;
5. dependendo do cimento, os arenitos (rochas psamíticas) podem dar
origem a solos muito ricos. O arenito Bauru, com cimento calcário,
origina solos com fertilidade natural elevada no Estado de São Paulo.
No entanto, existem no Brasil áreas gigantescas de solos muito pobres,
originados de arenito. O estado do Piauí, por exemplo, associa, em seu
território, grandes áreas de material psamítico, alternado com material
pelítico. Os chamados GERAIS, dos Estados de Minas e da Bahia, são
outro exemplo.
6. a associação entre classe de solo e rocha de origem pode servir de elemento
valioso para se predizer, no campo, ainda que de uma forma apenas geral, os
teores (ou níveis gerais) dos elementos que tendem a se concentrar residualmente.
Isso, na prática, tem sido verificado, por exemplo, com o Latossolo Vermelho
férrico, originado de rochas máficas, facilmente identificável no campo, por
seu material ser atraído por um magneto148. Mesmo quando sob cerrado e com
baixíssimos teores de elementos disponíveis, responde muito bem à adubação.
Tal não é o caso, por exemplo, com o Latossolo Vermelho com teor de Fe2O3
< 18 % desenvolvido de rochas pelíticas, devido os seus teores bem inferiores
de P total e micronutrientes.
NOTA – É importante observar que essas generalizações se referem
mais aos elementos que se concentram residualmente. Os elementos
mais móveis, como Ca, Mg e K, e as formas disponíveis dos que
se concentram são inferidos a partir das condições relativas à
cronossequência, isto é, o basalto pode originar um solo pobre em Ca,
no Planalto Central, enquanto no sertão do Seridó (RN), o granito,
muito mais pobre nesse nutriente (Tabela 5.F), pode originar um
147
As propriedades físicas também são melhores nos solos das chapadas (permeabilidade, facilidade de
penetração de raízes etc.).
148
A magnetização foi usada inicialmente como base para a distinção de Latossolos Vermelhos (Latossolos
Vermelho-Escuros com teor de Fe2O3 < 18 %) dos Latossolos Vermelhos férricos (Latossolos Roxos);
estes são fortemente atraídos por um magneto (ímã). Essa separação, não contemplada muito claramente
na SoilTaxonomy tampouco na Classificação Brasileira (Sistema Hierárquico), até o nível de subgrupo,
separa os Latossolos com maior teor de ferro, de fósforo total, de muitos micronutrientes e caulinita de
pior grau de cristalinidade.
126
Livro_Pedologia.indd 126 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
solo mais rico em Ca. O mesmo basalto, como ocorre no Planalto
Central, pode originar Latossolo Vermelho férrico (Latossolo Roxo)
sob cerrado (muito pobre em nutrientes, atual Latossolo Vermelho
distroférrico), e, próximo, pode-se ter o Latossolo Roxo sob floresta
(eutrófico, rico em nutrientes, atual Latossolo Vermelho eutroférrico),
ou mesmo a Terra Roxa Estruturada eutrófica, atual Nitossolo
Vermelho eutroférrico (relevo mais acidentado), um dos solos mais
férteis do Brasil.
A Tabela 5.G mostra algumas relações gerais entre rochas e atributos dos solos
de maior interesse na paisagem brasileira (nesta tabela é utilizada a atual Classificação
Brasileira de Solos).
As generalizações na Tabela 5.G possuem algumas restrições de aplicabilidade:
Pedoforma - o aplainamento pode horizontalizar a paisagem, independentemente
da rocha.
Cor - O horizonte A é escuro, com grau de desenvolvimento e espessura
variáveis. O excesso de água (falta de oxigênio) tende a favorecer a redução e retirada
de Fe do sistema. Menores teores de Fe e ambiente mais úmido (mesmo sem deficiência
de oxigênio) favorecem a formação de goethita, dando cor amarela (hematita ausente).
Textura - solos mais novos são mais siltosos que solos mais velhos.
Nutrientes - solo de praticamente qualquer rocha pode ser pobre ou rico. Os
mais velhos, tendendo aos Latossolos, são mais pobres.
127
Livro_Pedologia.indd 127 08/12/2017 10:56:11
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Tabela 5.G – Relações gerais entre rocha matriz e alguns atributos dos solos.
SÍMBOLOS: a = álicos (saturação por Al ≥ 50 %), d = distróficos (saturação por bases ≤ 50 %), e =
eutróficos (saturação por bases ≥ 50 %), RL = Neossolo Litólico associado a Neossolo Regolítico; CX =
Cambissolo Háplico; PVA = Argissolo Vermelho-Amarelo; NV = Nitossolo Vermelho; LV = Latossolo
Vermelho, LVA = Latossolo Vermelho-Amarelo; RQ = Neossolo Quartzarênico.
128
Livro_Pedologia.indd 128 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
5.4. Pedogeomorfologia
A maioria dos textos assume que paisagens planas são relacionadas com
estabilidade tectônica; as encostas declivosas entre os níveis planos, à incisão dos cursos
d’água pelo levantamento tectônico ou depressão e a agradação do vale à subsidência
da terra ou levantamento do nível do mar (GARNER; GARNER, 1974). Com a retirada
dos sedimentos pela erosão, há ajustes isostáticos, a crosta sobe, restituindo a energia
erosiva ao sistema. E começa tudo de novo. Nessa ideia, se houver tempo tudo tende
a se aplainar, mas as condições de ambiente não importam. Não há um enfoque em
processos. Isso é até certo ponto surpreendente, pois até o livro texto de Lobeck, de
1939, diz textualmente: sob condições úmidas, erosão prevalece sobre deposição; e
chega a especificar que rejuvenescimento pode advir do aumento do gradiente, por
inclinação, aumento de volume ou decréscimo de carga. E parece do senso comum que
se aumentar a carga de sedimentos em relação à água, começa a haver mais deposição.
Assim, aplainamento só na ausência de transporte eficiente.
O enfoque pedogeomorfológico lida claramente com processos, e processos variam
em efeito conforme o ambiente; mais do que apenas em grau (Penck, King). As paisagens,
e muitos solos que as compõem, resultam do efeito cumulativo dos ambientes. Assim,
de certa forma, só há um ambiente original, todos os outros herdam algo dos ambientes
anteriores: são relictos.
Um rio típico de clima úmido pode ter agradação apenas esporádica e local
(CARLSTON, 1968); isto é, não tende a aplainar, mesmo porque os canais dos rios
podem estar abaixo do nível do mar. Assim, parece não haver perfil de equilíbrio,
tampouco peneplano. Essa ideia, no entanto tem opositores. Há os que acham que
a ideia do peneplano de Davis pode explicar o que se vê, inclusive no Brasil; que
condições bioclimáticas não têm tanta importância. As ideias aqui expostas são as
que os autores acharam mais plausíveis, mas é bom sempre estar alerta para o fato
corriqueiro em ciência:
Todo modelo é provisório, descartável; está, apenas, à espera de algo melhor.
Diante das considerações anteriores, surge a pergunta: se sob clima úmido não
há aplainamento, como é que esse se dá, já que vemos grandes áreas de terras planas,
os chapadões do Planalto Central, por exemplo?
5.4.1. Acidentamento e aplainamento
O solo forma a película da Terra, é sensível tanto às alterações internas
quanto às externas. Ainda que as forças internas repousem durante muito tempo,
129
Livro_Pedologia.indd 129 08/12/2017 10:56:11
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
as forças externas agem sempre. Uma queda d´água ou uma corredeira de rio indica
a energia a atuar em direção ao aprofundamento do leito do rio. As rochas no leito
podem oferecer algum controle (nível de base local), nesse aprofundamento; mas, cedo
ou tarde, essa resistência pode se romper e o curso continua, apenas mais acelerado,
o seu processo de aprofundamento. Nisso acelera a erosão e pode tornar o solo mais
raso, aproximando a rocha fresca mais e mais da superfície. Esse processo resulta numa
redução da espessura do solo, num rejuvenescimento. Isso acontece sem interrupção
das formas de vida. A vegetação vai apenas se ajustando ao abaixamento lento do solo.
O solo pode mudar e a vegetação permanecer essencialmente a mesma.
Enquanto houver água e desnível, haverá algum transporte de material para
fora da área, acidentando o solo. Basta, no entanto, alguma alteração na relação água/
sedimentos para que isso seja total ou parcialmente interrompido. Havendo excesso
de sedimento (por exemplo, pela desproteção da vegetação) ou deficiência de água
(por chover menos) começa a haver deposição, reduz-se a remoção de sedimentos
do sistema. Essa remoção pode chegar a zero quando não há drenagem organizada,
como em alguns desertos. Mas, mesmo assim, o material saído das partes elevadas
deposita-se nas bases: há tendência ao aplainamento.
Imagine que o clima úmido e florestal continue. Nesse caso, a tendência ao
aprofundamento dos cursos d’água, de aumento do relevo, prossegue. As encostas que
poderiam ser muito convexas vão se acidentando, aumentando o raio de convexidade,
vão se linearizando da base para o topo. Isso pode continuar até o desaparecimento
dos topos: só há encostas lineares íngremes com topos agudos, é uma paisagem de
quinas e ravinas (HACK, 1960) (Figura 5.E). Essa forma permanece enquanto houver
aprofundamento dos vales. No outro extremo, clima seco, árido, sem drenagem
organizada, não há condições para remoção dos sedimentos do sistema. O que vem das
partes mais altas deposita-se nas mais baixas. Há redução do relevo: há aplainamento.
Como limite desse processo haverá um aplainamento geral (pediplano). O pediplano
seria formado pela coalescência de pedimentos que possuem perfil ligeiramente
côncavo.
Mas será que tudo está ligado às energias tectônicas e bioclimáticas?
Basta dar uma olhada na paisagem para perceber-se que pode não ser tão simples
assim. Como explicar, por exemplo, o fato de os solos desenvolvidos de quartzito
ocuparem o teto da paisagem?
Em grandes trechos do Brasil são expostas rochas muito antigas, com maior ou
menor resistência. Isso indica que houve um intenso processo erosivo. Muitas paisagens
se formaram antes da atual. Muitos aplainamentos e dissecamentos. É de se esperar
que nesses processos as rochas mais resistentes fossem pouco a pouco ocupando as
130
Livro_Pedologia.indd 130 08/12/2017 10:56:11
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
partes altas da paisagem enquanto as outras, desgastando-se mais rapidamente, iam
ocupando as partes mais baixas. Os aplainamentos ocorreram nas paisagens sustentadas
por essas rochas de diferentes resistências. Assim, áreas aplainadas podem estar em
diferentes níveis e ser correlatas entre si. Aliás, pelo fato de o nível de aplainamento
ser determinado localmente, isso é mesmo de se esperar. Os aplainamentos podem
estar isolados, mas simultâneos. Além disso, os desníveis tectônicos podem acentuar
esses desníveis, tornando muito difícil se estabelecerem correlações seguras entre as
superfícies. Esses controles litológicos e tectônicos tornam muito difícil a correlação
de superfícies de aplainamento no Quadrilátero Ferrífero, por exemplo (BARBOSA,
1980; VARAJÃO, 1991).
Figura 5.E – Paisagem numa área de regolito profundo se aproximando da condição de quinas
e ravinas (ridge and ravines).
É de se esperar que esses desníveis sejam comuns para os aplainamentos
parciais; mas, para os extensos prevê-se uma certa uniformidade de nível. As
superfícies identificadas por Lester King, cobrindo área gigantesca, são quase sempre
usadas como referência.
E como é que se sabe que se trata de uma superfície de aplainamento e não
simplesmente uma superfície plana?
Um dos critérios de superfície de aplainamento é este: a superfície corta
igualmente rochas diferentes quanto à resistência. Assim, um depósito sedimentar pode
131
Livro_Pedologia.indd 131 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
ser plano e não ter nada a ver com superfície de aplainamento. A chamada Superfície
Pratinha (ALMEIDA, 1959) apresenta quartzitos e rochas metapelíticas cortadas no
mesmo nível (Figura 5.F).
Figura 5.F – Esquema mostrando aplainamento de área de litologias contrastantes quanto à
resistência.
Mesmo nessas áreas quartzíticas não é incomum encontrarem-se trechos de
Latossolos muito velhos, capeando parcialmente essas formações, numa evidência
clara da fase erosiva atual de rejuvenescimento dos solos e substituição dos Latossolos.
Um dos problemas de interesse pedológico é como os solos se situam nesse
esquema de extremos de evolução das formas. Como entender, por exemplo, a presença
de solos profundos com relevo suave? E os solos profundos com relevo acidentado?
A evolução da paisagem atua entre esses dois extremos; ora com domínio de
uma, ora de outra tendência.
5.4.2. Solos profundos e acidentados
O paradoxo dos Latossolos de chapada, nesse modelo apresentado, é que o
relevo é de clima seco e o solo é de clima úmido. Nesse modelo o solo é poligenético:
é um paleossolo. Os fatores atuais de formação do solo não seriam suficientes para
explicar o que existe. O relevo plano vem primeiro, formado sob condições secas.
Com a mudança para clima mais úmido há, inicialmente, a formação de área com
deficiência de drenagem. Essa deficiência de drenagem retarda o aprofundamento do
132
Livro_Pedologia.indd 132 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
solo. Assim, a formação do solo profundo só pode ocorrer após o entalhamento da
linha de drenagem, ainda que ligeiro. No intervalo entre a organização da drenagem e o
processo de dissecamento, vindo da costa para o interior, há a formação dos Latossolos
profundos. Com a chegada da frente de erosão mais profunda há o acidentamento do
solo, em seguida, o intenso rejuvenescimento e a diminuição de sua espessura, com
a rocha fresca se aproximando mais e mais da superfície.
Entre o solo plano e o acidentado há um longo período e muita coisa pode
acontecer; dependendo da estabilidade e grau de flutuação do lençol freático, o
entalhamento incipiente da drenagem na superfície aplainada pode formar material
concrecionário nas bordas das chapadas, onde a água, rica em ferro reduzido, tende
a fluir e o ferro a se oxidar. Essas concreções, concentradas formam os Plintossolos
Pétricos (Solos Concrecionários) que podem resistir à erosão protegendo, até certo
ponto, a chapada.
Os solos profundos e acidentados, nesse modelo, se formam quando a frente
de erosão chega à área, mas não reduz muito o topo dos morros, abaixo do antigo
chapadão. Há ainda encostas convexas a reduzir, com o contínuo aprofundamento
dos vales; com o tempo há destruição das encostas convexas e domínio das encostas
lineares agudas; o solo ainda é profundo, mas o horizonte B vai ficando cada vez menos
espesso; o processo erosivo natural é intenso e não há tempo de transformação do
silte (comumente placas, pseudomorfos, de caulinita) em argila. Tem-se Cambissolos
com horizonte C profundo.
No profundo manto de intemperismo, herança (relicto) do que aconteceu nos
chapadões, o acidentamento, pelo aprofundamento da linha de drenagem, estimula
a instalação de ravinas, mesmo nas encostas convexo-convexas (as meias laranjas)
(Figura 5.G).
Talvez seja necessária uma explicação sobre o termo ravina. Ravina
provavelmente vem de rava, despenhadeiro, desbarrancamento, de uso na toponímia
dos Alpes (BUENO, 1967); há duas acepções: escavação provocada pela enxurrada,
barranco; ou pequena depressão estreita e profunda, menor do que um cânion e maior
do que um sulco. Ravina pode ser vista como linha de drenagem nas encostas, coberta
de vegetação, em contraste com as voçorocas, sem vegetação. Essa acepção nos foi
ensinada pelo saudoso Prof. Getúlio Vargas Barbosa quando, em 1967, esteve em
Viçosa ministrando aulas de Geomorfologia. Nesse sentido foi também usado pelo
RADAMBRASIL nas folhas Rio de Janeiro/Vitória. Essa diferenciação entre ravina e
voçoroca não é claramente feita nos dicionários, confusão provavelmente intermediada
pela expressão torrente de montanha. Seja como for, a ravina vegetada é diferente
da voçoroca na gênese e processos: não podem ser tratadas como sinônimos (veja
Voçoroca). O processo de ravinamento (na acepção de com vegetação sempre - nada
133
Livro_Pedologia.indd 133 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
a ver com voçoroca) é comum nos mares de morros do sudeste do Brasil, como um
processo de esculturação das elevações convexo-convexas, de solos profundos e
acidentados. O início consiste basicamente de um acidente fortuito - uma árvore que
cai deixa depressões onde tombou ou a escavação por um animal dão novo destino à
água que escorre pela superfície (Figura 5.H).
Figura 5.G – Paisagem do Agreste de Pernambuco mostrando duas ravinas anfiteátricas
(SILVA, 1986).
Figura 5.H – Encosta convexo-convexa (XX), meia-laranja, com início do processo de
ravinamento.
134
Livro_Pedologia.indd 134 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Em qualquer dos casos, uma vez iniciado o processo, ele continua, a
vegetação pode recolonizar o local mas a concentração da água acelera o processo
erosivo. Iniciado o processo ele se autoalimenta e forma-se como o símile de
um sistema hidrográfico: bacia de recepção, canaleta de condução e um leque
de deposição. Essa “bacia hidrográfica” modifica-se, aprofunda-se e alarga-se
bastante e forma um grande anfiteatro (Figura 5.I). É essencial para isso que
o solo seja profundo. Essas grandes ravinas anfiteátricas ocorrem também
no Nordeste (SILVA, 1986) (Figura 5.4C). Além de se aprofundar bastante,
assumindo um aspecto anfiteátrico - amplo e circular a montante, com uma
saída afunilada. Essas ravinas, ou grotas, além do aspecto anfiteátrico tem fundo
suave, recepciona sedimentos (e nutrientes) (REZENDE, 1980) (Figura 5.E),
onde o pequeno agricultor prefere plantar, e bordas ingremes com Cambissolos
Háplicos distróficos, com bastante pseudomorfos de caulinita no horizonte C.
Em alguns casos a erosão nessas paredes íngremes chega a destruir o horizonte
B, e o horizonte A assenta-se diretamente sobre o C, é um Neossolo Regolítico
(Regossolo). Nessas ravinas anfiteátricas podem se instalar voçorocas. O
horizonte B é pouco expressivo nas bordas íngreme; e, uma vez removido, o
horizonte C é facilmente erodível.
Figura 5.I – Paisagem da Zona da Mata Mineira com ravina anfiteátrica de paredes íngremes,
elevações convexo-convexas em destruição e baixadas (terraço e leito maior).
135
Livro_Pedologia.indd 135 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Mesmo na ausência de voçorocas, o processo de ravinamento chega a se
expandir bastante e, em alguns casos, o que parece alvéolo na cabeceira do vale, é
dado por um grande anfiteatro que se originou da ravina. Em Viçosa, MG, há bairros
em grande parte inseridos em grandes anfiteatros, com paredes íngremes (sujeitas a
deslizamento) e fundo suave; e, como sempre, com uma única saída, a jusante.
5.4.3. Nutrientes
Nas considerações anteriores o enfoque foi na profundidade do solo e na sua
forma externa (pedoforma). O teor de nutrientes apenas foi explicitado pela relação
entre solo profundo e pobreza de nutrientes. Como pode uma paisagem de solos pobres
e profundos transformar-se numa de solos mais rasos e mais ricos em nutrientes?
Os nutrientes dos solos vêm essencialmente do intemperismo do mineral
primário facilmente intemperizável que tende a se encontrar nas camadas mais
profundas, afastadas da superfície. Assim, partindo de uma chapada de solos profundos,
é preciso que haja primeiro a remoção do material envelhecido (solo profundo) para
que a rocha fresca fique mais próximo da superfície. O aceleramento dessa remoção
pode dar-se por um aumento da declividade, resultante do aprofundamento dos
vales e por alterações na taxa de erosão, provocada, por exemplo, pela destruição
ou enfraquecimento da cobertura vegetal por mudanças climáticas ou desníveis
tectônicos. Assim, a presença de solos eutróficos nas depressões entre chapadões ou
entre áreas acidentadas com concordância dos topos (já foi chapada) é comum na
paisagem brasileira.
A influência da temperatura – muita ênfase foi dada à umidade (clima seco,
clima úmido) nas considerações anteriores. Sob clima seco há aplainamento e sob
clima úmido há aprofundamento da rede de drenagem. Os solos profundos com
rocha fresca a grandes profundidades começam a se formar logo após a organização
da linha de drenagem, mas antes da chegada da frente de erosão mais profunda
vinda da costa para o interior. Os solos pobres e profundos tendem primeiro a se
acidentar e depois a ser removidos e substituídos por solos mais rasos e mais ricos
em nutrientes. A influência da temperatura dá-se na taxa de aprofundamento e na
de empobrecimento do solo. Sob condições de temperaturas mais baixas, a taxa
de intemperização (pedogênese) decresce muito, mas a de lixiviação (remoção de
bases) tende a aumentar. A resultante disso é que sob condições de temperaturas mais
baixas os solos tendem a ser menos profundos e mais lixiviados quando há chuvas
abundantes. Havendo ainda silicatos por decompor e sendo o ambiente ácido, as
argilas silicatadas, acidificadas, tendem a se decompor, liberando alumínio (solos
álicos). Isso explica por que Neossolos Litólicos e Cambissolos álicos originados
136
Livro_Pedologia.indd 136 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
de rochas ricas (basalto) são formados no Planalto Meridional. Tudo isso é uma
questão de intemperismo/lixiviação.
Lixiviação – intemperização – as considerações anteriores sobre a ocorrência
de solos pobres (álicos), rasos (Litólicos) originados de rochas ricas (basalto) pelas
taxas de lixiviação e intemperização, influenciadas por temperatura, podem ter validade
mais ampla. Mesmo em regiões mais quentes, sob condições favoráveis, essas taxas
podem produzir solos rasos e pobres também. Assim, não é incomum a ocorrência
de Neossolos Litólicos sobre lajedos inclinados (rochas graníticas ricas). Nesse caso
a disposição e estrutura da rocha subjacente proporcionam uma intensa lixiviação
lateral, acelerando as perdas de nutrientes em relação às taxas de intemperização,
reduzidas pelo comportamento massivo da rocha (lajedo).
Pedogênese (P) e erosão (E): um modelo geral. As considerações anteriores
basicamente consideraram as variações nas taxas de pedogênese e de erosão
na profundidade do solo. A temperatura, além de influenciar a pedogênese
(intemperismo), influencia diretamente na remoção de nutrientes. No modelo
para formação dos solos profundos das chapadas, e depois o dissecamento dessas
chapadas, formando solos profundos e pobres, até a formação de solos rasos e ricos,
haverá modificação nas taxas de pedogênese e erosão. A partir de uma superfície
plana, um pediplano formado sob bioclima seco, com a mudança climática
(umidificação) a drenagem deficiente inicial reduz a pedogênese, sendo a erosão
praticamente nula; com a organização da linha de drenagem há, ao mesmo tempo,
aumento da taxa de pedogênese e aumento ligeiro na de erosão. Inicialmente o
aumento da pedogênese é mais acelerado pelo abaixamento do lençol freático
(P/E > 1). Só quando o solo está muito profundo é que a taxa de intemperismo
torna-se tão lenta quanto à da erosão (P/E = 1). Com o aprofundamento da linha
de drenagem há um aumento da erosão, sem haver aumento correspondente da
pedogênese (P/E < 1). O solo começa a ficar menos profundo. À medida que a
rocha fresca vai se aproximando da superfície, os minerais primários facilmente
intemperizáveis ficam mais próximos da superfície e, assim, há um aumento da
taxa de intemperização (pedogênese) que pode chegar a um ponto de equilíbrio: P
= E, isto é, P/E = 1. Se a rocha fica ainda mais próxima da superfície, o aumento
de P pode ser maior do que o de E (P/E > 1) e o solo tende a se aprofundar, com
isso reduz P e tende a P/E = 1 (Figura 5.J).
Esse modelo de pedogênese/erosão tendendo à unidade tem uma importância
biológica muito grande; isso evita que haja solos demasiadamente profundos e pobres,
isto é, que P/E > 1 indefinidamente, e também que P seja, por muito tempo, menor
que E, expondo a rocha fresca. É a busca do equilíbrio, sempre.
137
Livro_Pedologia.indd 137 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Figura 5.J – Corte esquemático mostrando o chapadão e o solo profundo e acidentado
dele derivado; o solo eutrófico tem a rocha fresca mais próxima da superfície. A taxa de
pedogênese pode ser igual à de erosão, ou ambas lentas (chapadão), ou ambas aceleradas
(áreas acidentadas de solos rasos). Se desiguais, há envelhecimento ou rejuvenescimento. Se
iguais, há rebaixamento por erosão, sem mudanças no solo.
5.4.4. A evolução das formas
A evolução das formas, conforme visto, partindo de uma superfície convexo-
convexa com pequeno relevo, o aprofundamento das linhas de drenagem vai mantendo
a convexidade, apenas aumentando os desníveis. A parte inferior da encosta, com
o aprofundamento da linha de drenagem, vai se tornando cada vez mais íngreme.
Continuando assim, chega a um ponto em que a encosta começa a se linearizar nas
partes inferiores; apenas os topos convexos permanecem. Com o tempo e o continuar
do aprofundamento da linha de drenagem, até esses topos convexos desaparecem:
ficam agudos. Em princípio, continuando o processo (Figura 5.E), permaneceriam as
encostas lineares íngremes com topos agudos (quinas e ravinas).
Apesar de essa forma ser considerada por alguns como a de equilíbrio, sob
condições de umidade e florestais (HACK, 1960), quando o aprofundamento é
contínuo, a situação não é tão simples. Nessas considerações partiu-se de um solo
profundo, herança das chapadas, e as encostas foram moldadas no solo profundo
sem afloramento de rocha. À medida que a erosão continua removendo material
do solo velho, o material rochoso subjacente vai se aproximando da superfície;
os solos vão ficando mais rasos, as condições hidrológicas propiciam maior
intensidade de enxurradas. O ângulo de repouso (a inclinação de equilíbrio)
138
Livro_Pedologia.indd 138 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
vai ser diferente. Assim, com o estreitamento do solo, dificilmente as encostas
teriam a mesma inclinação e forma (já que há mais enxurrada). Isso sem falar das
implicações desse estreitamento na própria vegetação e, consequentemente, no
fluxo de água e de sedimentos.
O esquema anterior pressupõe um clima úmido o tempo todo. Em qualquer
estágio da evolução anterior, a mudança para um clima mais seco alteraria
completamente a forma das encostas. Caso o curso d’água deixe de fluir (clima seco)
não há remoção de sedimentos do sistema: há retirada das partes altas e deposição
nas baixadas, há tendência ao aplainamento. Nesse processo, o acúmulo nas partes
baixas vai provocando a presença de um perfil côncavo. Aliás, os pedimentos, de cuja
junção são formados os pediplanos sob clima seco, têm perfil côncavo.
Se a mudança de um clima úmido para um clima seco der-se quando o relevo
já for bem acidentado, há a formação de vales pedimentares embutidos entre as
superfícies mais altas. Essas depressões tendem a se expandir com a continuidade
do clima seco. Isso pode chegar a formar um pediplano abaixo do que existia
anteriormente (que virou chapadão).
Caso não haja tempo bastante para formar um pediplano ao longo dos vales,
formam-se pedimentos embutidos (BIGARELLA,1966). Se em vez de continuar o
clima seco houver uma mudança para clima mais úmido, o vale se aprofunda, a rede
de drenagem se organiza. Com a mudança para clima mais úmido a cobertura vegetal
se adensa, o solo se aprofunda e as encostas tendem à convexidade. Nesses casos é
comum o antigo pedimento ser dissecado e as encostas serem suavizadas, mas o perfil
herdado do clima seco permanecer (ombreiras).
Assim, as paisagens frequentemente apresentam morfologia de diferentes
bioclimas. São poligenéticas.
5.4.5. Rocha, intemperismo e erosão
A taxa de transformação da rocha em solo em muitos casos parece compensar
as grandes perdas pela acelerada erosão natural. Esse é, por exemplo, o caso dos solos
declivosos do semiárido nordestino com caatinga. Essa taxa de intemperização tem
interesse prático. Isso é, por exemplo, consistente com o enriquecimento trazido pelo
pousio em solos acidentados cultivados por décadas. Em regiões tropicais quentes a
taxa de intemperização, tudo indica, é elevada (Figura 5.K)
Essa tentativa de quantificar a intemperização (pedogênese), baseada em
mm de espessura do solo com anos de intemperismo, ou seja mm/a versus tempo,
mostra: há, aparentemente, uma taxa muito alta de intemperismo no solo mais raso
e decai exponencialmente nos mais profundos. É provável que esses valores, assim
139
Livro_Pedologia.indd 139 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
calculados, estejam afastados da realidade; no entanto acredita-se que espelha
uma tendência no que se refere ao decréscimo acentuado com a profundidade do
solo. Esses altos valores no solo raso e os baixos nos solos profundos devem ser
suavizados pela menor disponibilidade de água no solo mais raso e maior no solo
mais profundo. Seja como for, já foi proposta como tolerável até cerca de 20 t/ha
de erosão em solos rasos tropicais; se a densidade for de 1,2t/m3 essa perda é de
1,7 mm de espessura por ano. Assim, talvez, os valores calculados não estejam
tão afastados da realidade.
Figura 5.K – Taxa de formação de solo obtida ao plotar dados compilados de várias fontes
(JENNY, 1941; BUOL et al., 1973; HUDSON, 1981). Por esse esquema, quanto mais profundo
o solo mais lenta é a taxa de formação do solo (adaptado de RESENDE et al., 1988).
A erosão laminar dos solos declivosos, pouco permeáveis e rasos do semiárido,
parece ser intensa, pois a cobertura vegetal é rarefeita às primeiras chuvas. Assim, o
simples fato de existir solo nessas áreas declivosas e sujeitas a considerável erosão
natural mostra que há, em contrapartida, um intenso processo de intemperização.
Tanto a erosão quanto a pedogênese apresentam taxas elevadas. Se esse modelo estiver
correto, talvez se possa concluir que os solos do semiárido tendem a ser rasos pela
intensa taxa de erosão e não tanto pela baixa taxa de pedogênese, pela deficiência
d’água.
140
Livro_Pedologia.indd 140 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Substrato e intemperização – Conforme visto, a temperatura tem um importante
papel na taxa de intemperização. Sob condições de temperaturas mais baixas há
acentuada redução na intemperização e tendência de aumento na taxa de lixiviação.
Além da temperatura, da disponibilidade de água e de tempo, a natureza do substrato
tem grande importância na taxa de intemperização. As rochas massivas, sem
laminações finas nem xistosidade e tampouco bandamentos (como granitos, basalto,
diabásio etc.) tendem a ser mais resistentes ao intemperismo do que as que apresentam
esses arranjos. A ideia é que nessas disposições dos minerais há maior possibilidade
de abrir mais contatos à intemperização. Mesmo as rochas sendo essencialmente
massivas, a intensidade dos fraturamentos determina frentes de intemperismo,
acelerando o processo. Um basalto fraturado intemperiza-se muito mais rapidamente
do que aquele que, resfriando-se mais devagar na solidificação do magma, não fraturou
tanto (Figura 5.L).
Figura 5.L – Esquema mostrando: (a) solo menos espesso, maior lixiviação lateral, menor
lixiviação vertical, mais enchentes, maior flutuação de fluxo d’água dos cursos; (b) solo mais
espesso, menor lixiviação lateral, maior lixiviação vertical, menos enchentes e flutuação dos
cursos d’água.
O tamanho dos blocos rochosos passa a determinar as áreas de contato para
o intemperismo. Um grande bloco (um pontão, por exemplo) é quase inerte ao
intemperismo; um pequeno fragmento da mesma rocha é muito mais suscetível
a isso.
As rochas sedimentares, por se originarem, em geral, dos sedimentos provenientes
de antigos solos, já estão a meio caminho no processo de intemperização. Nos arenitos
e arcósios a cimentação dos grãos de quartzo (ou feldspato também, nos arcósios)
é feita por um cimento fraco (carbonatos, argilas). No processo de intemperização,
destruído esse cimento, forma-se um solo profundo. Mas aqui, também, pode-se ir
de um extremo a outro com pequenas mudanças. Se em vez de calcário ou argila
o cimento for a própria sílica (e isso exige condições de metamorfismo) podem-se
141
Livro_Pedologia.indd 141 08/12/2017 10:56:12
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
formar quartzitos, uma das rochas mais resistentes e que frequentemente marcam o
teto da paisagem em muitos lugares.
Além dessa diferença importante de natureza do cimento entre arenitos e
quartzitos, as rochas sedimentares apresentam outros aspectos importantes, como
substrato à pedogênese. As rochas pelíticas (de textura fina) comportam-se de forma
peculiar. Elas tendem a apresentar baixa permeabilidade, e isso condiciona uma
deficiência de drenagem, reduzindo a taxa de intemperização. Essa característica
da rocha pelítica é marcante. Basta uma pequena lâmina dela no pacote de rochas
psamíticas para ter substancial efeito na drenagem e, consequentemente, no
aprofundamento do solo. Se a rocha pelítica vem até próximo à superfície, ela, pela
baixa permeabilidade, induz um fluxo superficial maior, criando ravinamentos pouco
profundos.
As considerações a respeito das rochas pelíticas restringiram-se até agora ao
seu comportamento hidrológico. No entanto, a insistente presença de solos rasos
e afloramentos de fragmentos de rochas pelíticas e metapelíticas pobres sugerem
algo mais. Já foi sugerido (ALMEIDA, 1979; ERNESTO SOBRINHO, 1979 ) que
a relação K/Al nas micas (o principal mineral das rochas pelíticas e metapelíticas)
é de tal ordem que ao se decompor libera relativamente mais K que Al, refreando a
decomposição que se seguiria (Figura 5.M).
Figura 5.M – Gráfico ilustrando as possíveis perdas ou retenção de K nos sistemas calcário
e pelíticos, respectivamente. Isso acelera ou retarda a intemperização da mica. Ic = valor de
K+/(Ca++ + Mg++)1/2, abaixo do qual há perda de K (adaptado de ERNESTO SOBRINHO,
1979; ALMEIDA, 1979).
142
Livro_Pedologia.indd 142 08/12/2017 10:56:12
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Nos solos rasos e saturados de Al as espécies arbóreas têm dificuldade de se
estabelecer e isso reduz a atividade biológica que poderia acelerar a intemperização. Os
campos fracos e pobres, com baixa produtividade e que cobrem apenas parcialmente o
chão, propiciam uma acelerada erosão laminar, acentuando mais ainda o que foi dito.
Substrato e pedoforma – solo é um corpo tridimensional. As características
do perfil são indicadas pela forma. A relação entre substrato geológico e forma é
intermediada pelo solo (perfil). Os chapadões podem estar embasados em praticamente
qualquer rocha. Um solo velho (Latossolo) originado de ardósia pode ser indistinguível
de um solo também velho originado de calcário do Grupo Bambuí. O tempo converge
as características. Num solo novo as diferenças são marcantes. Já foi visto que os
solos profundos dos chapadões, com convexidade de grande raio, continuam convexos
(com menor raio) com o dissecamento que, continuado, pode linearizar as encostas,
reduzindo os divisores a picos. É o mesmo substrato sofrendo variações no tempo.
Apesar disso, se a área é de Latossolos ou Cambissolos, pode ser identificada pela
pedoforma, com ajustes locais.
Mesmo nos Latossolos há aspectos interessantes. O Latossolo Vermelho férrico
(Latossolo Roxo) originado de tufito pode ser até forte ondulado; isso ainda não foi
observado quando originado de basalto. O tufito, por não ser uma rocha massiva, tem
maior taxa de intemperização do que o basalto; o material precisa ficar mais tempo
para se latolizar, no caso do basalto.
A mesma forma pode indicar diferentes solos, em contextos diferentes. Os
Luvissolos (Brunos Não Cálcicos) do Seridó têm formas convexo-convexas afins às
de muitos solos mais velhos de regiões úmidas. Os Neossolos Litólicos e Cambissolos
com substrato pelítico parecem Latossolos em algumas situações. Assim, a forma
dá indicação da estabilidade. Sob condições de pedogênese difícil ou taxa de erosão
acelerada, a forma deve ser mais latossólica para sustentar os solos jovens da área.
Os Argissolos (Podzólicos) de algumas regiões mais secas, por exemplo, têm
formas semelhantes às de Latossolos de regiões mais úmidas.
Em resumo, no geral, não há relação clara entre o substrato, a forma e o solo. As
formas latossólicas tendem a ocorrer em solos mais jovens sob condições desfavoráveis
ao aprofundamento do solo. As formas latossólicas, convexo-convexas, são mais
acidentadas no material terroso mais profundo, decorrente de ciclos pedogenéticos
pretéritos que se desenvolveram em relevos com suficiente estabilidade.
5.4.6. Aplainamento
Há dois modelos básicos referentes ao aplainamento: aquele em que o
nível do mar funciona como um nível de base em relação ao qual as encostas, sob
condições úmidas, vão declinando até ficar um peneplano (DAVIS); o outro em que
143
Livro_Pedologia.indd 143 08/12/2017 10:56:13
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
o aplainamento dá-se sob condições secas, sem drenagem organizada, formando um
pediplano. O primeiro modelo depende do nível de base geral – o mar; o segundo é
do nível de base local, já que não tem drenagem organizada. Pelo primeiro modelo a
retomada da erosão dá-se por movimentos tectônicos, por criar desnível; pelo segundo,
seria preciso uma mudança climática com organização de drenagem. Em qualquer
dos casos o aprofundamento da linha de drenagem só se dá se houver desnível. Há
grande controvérsia sobre como as encostas evoluem; se vão declinando (DAVIS) ou
se regridem paralelamente a si mesmas (PENCK, KING) (Figura 5.N)
Figura 5.N – Tipos de evolução de encostas e principais nomes a eles associados (Adaptado
de WILSON, 1968).
Quanto ao aplainamento sob clima seco, eis o que diz William Morris Davis:
“Não há novidade na ideia de que uma região montanhosa de drenagem interior
pode ser reduzida a um plano pelo processo de desgaste das partes elevadas
e enchimento das baixadas, e que o plano assim formado, consistindo
parcialmente de rochas desgastadas e parcialmente de enchimento por
resíduos, não guardará relação alguma definida com o nível de base geral
da superfície do oceano, embora a ideia tenha sido raramente aplicada na
interpretação de levantamentos pelo método fisiográfico.” (p.304)
Ele dizia ainda, com relação ao aplainamento (pediplanação) sob clima árido,
onde o controle é o nível de base local na drenagem centrípeta:
“É desejável, onde quer que surja a questão de peneplano levantado e dissecado,
escrutinar cuidadosamente e determinar, se possível, se foi realmente a atitude
da crosta terrestre ou as condições de clima que mudaram.” (p.312)
“É extremamente improvável que o levantamento de um extenso peneplano
pudesse colocá-lo numa posição para não sofrer dissecação nem mesmo
pelos agentes do deserto; assim um plano desértico alto foi provavelmente
aplainado na posição em que está.” (p.314)
144
Livro_Pedologia.indd 144 08/12/2017 10:56:13
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
Esses velhos textos de Davis, mais conhecido pela ideia do ciclo geográfico
terminando no peneplano, parecem muito atuais; é, basicamente, a ideia de
pediplanação que pode ocorrer simultaneamente, em vários níveis altimétricos, o
nível de base é local.
A implicação dessa ideia de pediplanos em diferentes cotas, no que se refere
à formação dos solos, é a de que com a mudança climática para clima úmido
(drenagem inicial deficiente, organização da drenagem, aprofundamento do solo –
P/E > 1, aceleramento da erosão – P/E = 1, e rejuvenescimento do solo – P/E < 1, o
processo erosivo vindo da costa (nível de base geral mais baixo) vai atingir primeiro
as superfícies aplainadas mais baixas. Assim, por esse modelo os Latossolos de
cotas mais baixas tendem a ser mais novos do que os de cotas mais altas: eles ficam
menos tempo expostos. Nas considerações anteriores admitiu-se que o aplainamento
tenha sido simultâneo nos vários níveis. Na prática é provável que o comum sejam
as superfícies mais altas serem mais velhas, acentuando ainda mais as tendências
delineadas anteriormente.
Aplainamentos intermediados por dissecamentos – pelas considerações
anteriores parece que os grandes aplainamentos dão-se sob condições climáticas secas,
sem organização de drenagem. O fluxo d’água tende a ser centrípeto, desaguando na
depressão central – o nível de base. A expansão e junção dessas unidades (pedimentos)
formam os pediplanos. O dissecamento só ocorreria sob condições climáticas capazes
de manter uma drenagem organizada.
Assim, com a mudança de clima seco para clima úmido há um aprofundamento
dos vales; se o curso estiver se aprofundando sempre, a área vai ficar cada vez mais
acidentada e os topos planos vão sendo reduzidos até desaparecerem de vez. Mas,
antes, esses topos com bordas angulosas (como típico de bioclima seco) suavizam-se
sob cobertura vegetal densa. Começa a haver domínio de formas convexo-convexas;
as meias-laranjas poderiam ser uma fase intermediária delas. Mas, conforme visto,
essas convexidades, com o aprofundamento da rede de drenagem, vão pouco a pouco
cedendo lugar a encostas lineares íngremes.
Em qualquer fase do processo entre a chapada inicial e a paisagem de encostas
lineares e íngremes, pode haver alguma mudança climática, alterando as formas.
Assim que há a instalação do bioclima seco, há um grande processo erosivo – um solo
profundo fica sem cobertura vegetal eficiente. Começa o processo de aplainamento
sob clima seco, modelando inicialmente os vales, formando os vales pedimentares
sem organização de linha de drenagem. Esses vales se expandem mais ou menos,
dependendo do tempo de permanência do bioclima seco, antes do início da nova fase
úmida, organizando a drenagem, provocando dissecamento.
145
Livro_Pedologia.indd 145 08/12/2017 10:56:13
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
Esse sistema de alternações bioclimáticas parece ter criado, no Brasil, paisagens
em degraus. Esses degraus, os desníveis, podem, conforme visto, ser originados
também pelos deslocamentos tectônicos, mas a parte suavizada resulta de processos
bioclimáticos sob condições áridas, sem drenagem organizada. Além dos terraços
(T) na beira dos rios, podem existir evidências de antigos pedimentos (P) e de áreas
extensas aplainadas (pediplanos, Pd). Tanto terraços (T) quanto pedimentos (P) ou
pediplanos (Pd) podem apresentar mais de um nível. Por exemplo, T1, T2, P1, P2,
Pd1, Pd2, Pd3 etc.
5.4.7. Tempo de exposição da partícula
Tempo de exposição de uma partícula é o tempo que ela fica exposta às forças
bioclimáticas in situ, desde que é, por exemplo, desagregada da rocha fresca até
que seja removida pela erosão. Nesse intervalo de tempo, se resistir, a partícula vai
pertencer aos diferentes horizontes. Pode estar no horizonte C, no início, depois
pertencer ao horizonte B, para, finalmente, pertencer ao horizonte A, de onde, cada
vez mais próxima da superfície, é retirada pela erosão.
Se chamarmos esse tempo do início à erosão como tempo de exposição, pode-
se afirmar que esse tempo de exposição é pequeno num solo raso e maior, num solo
profundo.
O tempo de exposição para formar os vários horizontes é também variável.
Ele é relativamente curto para formar horizonte C e A, mas muito longo para formar
horizonte B. Assim, num solo muito declivoso o tempo de exposição pode ser muito
pequeno para formar horizonte B. Isso é o que acontece com os Neossolos Litólicos
(Solos Litólicos).
Apesar de ser pela erosão o principal controle no tempo de exposição, esse
tempo pode ser limitado por outros fatores.
Para que uma partícula faça parte de um horizonte B é preciso que a partícula
esteja relativamente próxima da superfície, onde pode sofrer a ação intensa das forças
bioclimáticas, para liberação de Fe dos minerais para formar hematita ou goethita e
colorir e/ou dar expansão e contração para formar estrutura.
Nos depósitos aluviais recentes, mesmo quando muito espessos, não há
formação de horizonte B porque o tempo de exposição da partícula é reduzido, não
por ser removido pela erosão, mas por soterramento. A partícula logo fica fora do
alcance mais intenso das forças bioclimáticas.
Além desses casos determinados por tempo de exposição, a presença ou não
de horizonte B pode ser determinado pela natureza do material.
O horizonte B é distinguido do horizonte C pela estrutura ou cor, indício de
influência bioclimática. Alguns materiais, por serem muito arenosos, não possuem
146
Livro_Pedologia.indd 146 08/12/2017 10:56:13
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
suficiente capacidade de expansão-contração nem argila para formar estruturas que
distingam o horizonte B. Nesses materiais tampouco há fontes de Fe para ser liberado
(na forma de goethita ou hematita), colorir e identificar o horizonte B. Isso é o que
acontece nas Areias Quartzosas (Neossolos Quartzarênicos) e Regossolos (Neossolos
Regolíticos).
Além desses aspectos do tempo de exposição e natureza do material
determinando a presença ou não de horizonte B, há outras importantes mudanças
relacionadas com o tempo.
Assim, é comum a presença de solos com duas tonalidades distintas no horizonte
B. O horizonte B pode ser amarelo na parte superior e bem vermelho na inferior. Esses
são perfis bicrômicos. E que relação têm esses perfis com o tempo?
O fato de haver perfis bicrômicos com relevo relativamente acidentado indica
que a taxa de xantização (amarelecimento) é feita numa taxa compatível com a de
erosão. Caso a taxa de erosão fosse mais acentuada do que a de xantização, o solo
ficaria só vermelho. Fosse a de xantização mais veloz do que a de erosão, o solo seria,
ao contrário, amarelo até grandes profundidades.
A taxa de xantização, já que depende da destruição da hematita, um forte
pigmento que dá a cor vermelha, sofre influência do teor de hematita. Quanto mais
hematita, mais tempo é necessário para xantizar sob condições comparáveis.
Sob condições favoráveis à xantização (clima úmido e temperaturas baixas) a
taxa do processo de xantização aumenta substancialmente.
As taxas de pedogênese e erosão variam ao longo do tempo controladas
pela drenagem, bioclima e tempo de residência da partícula. Tempo de residência
da partícula vai desde a sua liberação da rocha fresca até ser eliminada pela
erosão; quanto maior esse tempo, mais profundo vai ser o solo. No entanto a
profundidade do solo não depende só desse tempo pois, para o mesmo tempo de
residência, a profundidade será maior se a pedogênese for maior. Em princípio,
pode até ser possível solo profundo com intensa erosão natural, compensada por
forte pedogênese.
5.5. Bibliografia
ALMEIDA, F. M. Traços gerais da geomorfologia de centro-oeste brasileiro, in Planalto
centro-ocidental e pantanal matogrossense. p. 1-65, Guia excursões XVIII Cong. Inter.
Geog., 169 p., Impr. IBGE, Rio de Janeiro. 1959.
ALMEIDA, J. R. Cronocromossequência de solos originários de rochas pelíticas do Grupo
Bambuí. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1979. 150p. (Tese de Mestrado).
AWAD, M.; CASTRO, P. R. C. Introdução à fisiologia vegetal. São Paulo: Nobel, 1983. 177p.
147
Livro_Pedologia.indd 147 08/12/2017 10:56:13
PEDOLOGIA: BASE PARA DISTINÇÃO DE AMBIENTES
BARBOSA, G. V. Superfícies de erosão no Quadrilátero Ferrífero, Minas Gerais. Rev. Bras.
Gcoc., 10(l):89-10l, 1980.
BATES, R. L.; JACKSON, J. A. (eds.). Glossary of geology. 3th ed. Alexandria: American
Geological Institute, 1987. 788 p.
BIGARELLA, J.; MOUSINHO, M. Slope development in southeastern and southern Brazil.
Z. Geomorphology, 2:150-160. 1966.
BRINKMAN, R. Ferrolysis, a hydromorphic soil forming process. Geoderma, 3:199-206,1979.
BUENO, S. Grande dicionário etimológico prosódico da língua portuguesa. São Paulo:
Saraiva, 1967. 8 v.
BUOL, S.; HOLE, F.; McCRACKEN, R. Soil genesis and classification. Ames: Iowa
University Press, 1973. 360p.
CARLSTON, G. W. Slope-discharge relations for eight rivers in the United States. U. S. Geol.
Survey, Prof. Pap. 600-D. 1968. p. D45-D47.
DAVIS, W. M. Geographical essays (s.d.). 777p. Cap. 15. The geographical cycle in an arid
climate, p.296-322. Separata The Journal of Geology, v.13,n.5,p.381-407,1905. (Dover
Books on Earth Sciences, Johnson, D. W., ed.).
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa
de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos: Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006.
306p.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Centro Nacional de Pesquisa
de Solos. Sistema brasileiro de classificação de solos. 3. ed. Brasília, DF: Embrapa Produção
de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2013. 353 p.
ERNESTO SOBRINHO, F. Caracterização, gênese e interpretação para uso de solos
derivados de calcário da Região da Chapada do Apodi, Rio Grande do Nortre. Viçosa,
Universidade Federal de Viçosa, 1979. 133p. (Tese de Mestrado).
FERREIRA, A. P. H. Novo dicionário da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira,
1975. 1449 p.
FONTES, M. P. F.; RESENDE, M.; RIBEIRO, A. C. Concreções ferruginosas de alguns solos
brasileiros: I. caracterização química. Revista Brasileira de Ciências do Solo, Campinas, v.
9, p. 113-117, 1985.
GARNER, H. F; GARNER, M. C. The origin of landscapes: a synthesis of geomorphology.
New York: Oxford University Press. 1974, 734p.
GOMES, J. B. V. et al. Solos de três áreas de restinga: I. morfologia, caracterização e
classificação. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, v. 33, p. 1907-1919, 1998.
148
Livro_Pedologia.indd 148 08/12/2017 10:56:13
GÊNESE – ASPECTOS GERAIS
HACK, J. T. Interpretation of erosional topography in humid temperate regions. American
Journal of Science, v.258, n.4, p.80-97. 1960.
HUANG, W. T. Petrology. New York: McGraw-Hill Book, 1962. 480 p.
JENNY, H. Factors of soil formation. New York and London: McGraw-Hill Book Company,
1941. 281p.
KÄMPF, N.; CURI, N. Formação e evolução do solo (pedogênese). In: KER, J. C. et al. (eds).
Pedologia: Fundamentos. Viçosa, MG, SBCS, 2012. p.207-302.
MONIZ, A. C.; OLIVEIRA, J. B.; CURI, N. Mineralogia da fração argila de rochas
sedimentares e de solos da Folha de Piracicaba, SP. Revista Brasileira de Ciências do Solo,
Campinas, v. 19, p. 375-385, 1995.
OLIVEIRA, J. B.; JACOMINE, P. K. T.; CAMARGO, M. N. Classes gerais de solos do
Brasil: guia auxiliar pra seu reconhecimento. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 201 p.
REZENDE, S. B. Geomorphology, mineralogy and Genesis of four soils on gneiss in
southeastern Brazil. West Lafayette, Purdue University, 1980. 143p. (Tese de Doutorado).
SILVA, A. B. Caracterização dos principais solos do Agreste de Pernanbuco e o efeito do
manejo de um Regossolo Eutrófico sobre a erosão e produtividade de milho e feijão.
Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1986. 108p. (Tese de Mestrado).
SIMONSON, R. W. Outline of a generalized theory of soil genesis. Soil Science Society
American Proceedings, Madison, v. 23, p. 152-156, 1959.
SOARES, M. F. Caracterização química e mineralógica de concreções ferruginosas
de alguns solos brasileiros. Viçosa, Universidade Federal de Viçosa, 1980. 62p. (Tese de
Mestrado).
TUREKIAN, K. K.; WEDEPOHL, K. H. Distribution of the elements in some units of the
Earth. Geological Society of America Bulletin, Madison, v. 72, p. 175-192, 1962.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. Levantamento de reconhecimento de solos da
bacia de irrigação do Rio Gorutuba. Viçosa: UREMG, 1969. 143 p.
VARAJÃO, C. A. C. A questão da correlação das superfícies de erosão do Quadrilátero
Ferrífero, Minas Gerais. Revista Brasileira de Geociências [S.I.], v. 21, n. 2, p. 138-145, 1991.
WEBSTER’S ENCYCLOPEDIC UNABRIDGED. Dictionary of the English language.
New York: Gramercy, 1989. 2078 p.
WILSON, L. Land systems. In: FAIRBRIDGE, R. W. (Ed.). Encyclopedia of geomorphology.
New York: R. Book, 1968. p. 641-644.
149
Livro_Pedologia.indd 149 08/12/2017 10:56:13
Livro_Pedologia.indd 150 08/12/2017 10:56:13
capa_GRAFICA
quarta-feira, 23 de abril de 2014 17:58:12
Você também pode gostar
- Mapeamento Ambiental Integrado: Práticas em Ecologia da PaisagemNo EverandMapeamento Ambiental Integrado: Práticas em Ecologia da PaisagemAinda não há avaliações
- Caracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos: Aproveitamento do BiogásNo EverandCaracterização dos Resíduos Sólidos Urbanos: Aproveitamento do BiogásNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Prof. Dr. Marcelo Ricardo de LimaDocumento61 páginasProf. Dr. Marcelo Ricardo de LimaALEXANDRE ferrerAinda não há avaliações
- Fitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasNo EverandFitorremediação em Solos Contaminados com HerbicidasAinda não há avaliações
- Pedologia AplicadaDocumento147 páginasPedologia AplicadaEDIVALDO LISBOA AGROAinda não há avaliações
- Contribuição à cartografia geotécnica no município de Teresina-PINo EverandContribuição à cartografia geotécnica no município de Teresina-PIAinda não há avaliações
- Recursos Hídricos em Minas Gerais: Bacia Hidrográfica do Rio MucuriNo EverandRecursos Hídricos em Minas Gerais: Bacia Hidrográfica do Rio MucuriAinda não há avaliações
- Apostila Sensoriamento RemotoDocumento65 páginasApostila Sensoriamento RemotoGiancarlo De AngelisAinda não há avaliações
- Hidrogeomorfologia: Formas, processos e registros sedimentares fluviaisNo EverandHidrogeomorfologia: Formas, processos e registros sedimentares fluviaisAinda não há avaliações
- Sensoriamento RemotoDocumento40 páginasSensoriamento RemotoAnderson Nascimento100% (1)
- PMI3331 - Princípios Físicos Do Sensoriamento RemotoDocumento41 páginasPMI3331 - Princípios Físicos Do Sensoriamento RemotoGabriela Nolasco100% (2)
- A Extração de Areia no Rio Piancó e seus Impactos AmbientaisNo EverandA Extração de Areia no Rio Piancó e seus Impactos AmbientaisAinda não há avaliações
- Restauracao Ecologica 1 PDFDocumento91 páginasRestauracao Ecologica 1 PDFGeiza Gimenes SaraivaAinda não há avaliações
- Processos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas PDFDocumento42 páginasProcessos Erosivos e Recuperação de Áreas Degradadas PDFMaria Clenilda Silva100% (1)
- Estudos Ambientais em Território Amazônico sob a Perspectiva da Engenharia AmbientalNo EverandEstudos Ambientais em Território Amazônico sob a Perspectiva da Engenharia AmbientalAinda não há avaliações
- DETECTA: ferramenta de análise de risco a deslizamentos para ações de Proteção e Defesa CivilNo EverandDETECTA: ferramenta de análise de risco a deslizamentos para ações de Proteção e Defesa CivilAinda não há avaliações
- Sensoriamento Remoto RADARDocumento71 páginasSensoriamento Remoto RADARade.avelarAinda não há avaliações
- Estimativas de Evapotranspiracao Real Por Sensoriamento RemotoDocumento23 páginasEstimativas de Evapotranspiracao Real Por Sensoriamento RemotoÉdio DamásioAinda não há avaliações
- Apostila de ErosÃo Do SoloDocumento22 páginasApostila de ErosÃo Do Solosaulo_655242100% (3)
- Manual de Recuperacao de Areas Degradada PDFDocumento91 páginasManual de Recuperacao de Areas Degradada PDFRaphael De VeyracAinda não há avaliações
- Sistema de Classificação de Uso Da Terra e Do Revestimento Do Solo para Utilização Com Dados de Sensoriamento Remoto - ANDERSONDocumento80 páginasSistema de Classificação de Uso Da Terra e Do Revestimento Do Solo para Utilização Com Dados de Sensoriamento Remoto - ANDERSONNessa SoaresAinda não há avaliações
- Apostila de GeoestatisticaDocumento25 páginasApostila de GeoestatisticaAnonymous KbM6WrPzAinda não há avaliações
- Nº 075 - Erosão Do Solo - Práticas Mecânicas de ControleDocumento92 páginasNº 075 - Erosão Do Solo - Práticas Mecânicas de ControlePaulo SousaAinda não há avaliações
- Caracterização e modelagem geotécnica do fenômeno das terras caídas no ambiente AmazônicoNo EverandCaracterização e modelagem geotécnica do fenômeno das terras caídas no ambiente AmazônicoAinda não há avaliações
- Estruturas Geologicas BrasileirasDocumento208 páginasEstruturas Geologicas BrasileirasJucieny BarrosAinda não há avaliações
- Livro - Geoprocessamento AmbientalDocumento122 páginasLivro - Geoprocessamento AmbientalluciarAinda não há avaliações
- IMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS POR ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP: RAQUEL APARECIDA MENDES LIMANo EverandIMPACTOS AMBIENTAIS OCASIONADOS POR ATIVIDADES ANTRÓPICAS NA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – APP: RAQUEL APARECIDA MENDES LIMAAinda não há avaliações
- RISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSNo EverandRISCOS, VULNERABILIDADES E CONDICIONANTES URBANOSAinda não há avaliações
- Geotecnologias para Aplicacoes AmbientaisDocumento394 páginasGeotecnologias para Aplicacoes AmbientaisHarold Rivera100% (1)
- IBGE 2009 Manual Tecnico GeomorfologiaDocumento175 páginasIBGE 2009 Manual Tecnico Geomorfologiamartinseder100% (2)
- Reflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioNo EverandReflorestamento ciliar em diferentes modelos de plantioAinda não há avaliações
- Solos Estudo e AplicacoesDocumento128 páginasSolos Estudo e AplicacoesHygor Cesar100% (1)
- Geologia Geomorfologia e Solos Do AcreDocumento109 páginasGeologia Geomorfologia e Solos Do AcreEdson Alves de Araújo100% (5)
- Manual Técnico de Pedologia - Guia Prático de CampoDocumento130 páginasManual Técnico de Pedologia - Guia Prático de CampoJose de OliveiraAinda não há avaliações
- Fundamentos de CartografiaDocumento204 páginasFundamentos de CartografiaTatiana Peres Vanzella Schreiner100% (1)
- 19 Liçoes de PedologiaDocumento2 páginas19 Liçoes de PedologiaTristanbranca0% (1)
- Plano de Recuperação de Áreas Alteradas para o AcreDocumento43 páginasPlano de Recuperação de Áreas Alteradas para o AcreEdson Alves de Araújo100% (1)
- GeoprocessamentoDocumento51 páginasGeoprocessamentoGisaLauraAinda não há avaliações
- Turfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesNo EverandTurfeiras da Serra do Espinhaço Meridional: Serviços Ecossistêmicos Interações Bióticas e PaleoambientesAinda não há avaliações
- Microsoft PowerPoint - Introdução Ao Geoprocessamento (Modo de Compatibilidade)Documento48 páginasMicrosoft PowerPoint - Introdução Ao Geoprocessamento (Modo de Compatibilidade)docsdriverAinda não há avaliações
- Áreas Protegidas: discussões e desafios a partir da região central do Rio Grande do SulNo EverandÁreas Protegidas: discussões e desafios a partir da região central do Rio Grande do SulAinda não há avaliações
- Prova Sensoriamento RemotoDocumento24 páginasProva Sensoriamento RemotoEverton AlmeidaAinda não há avaliações
- Planejamento Ambiental Teoria e PraticaDocumento161 páginasPlanejamento Ambiental Teoria e PraticaBreno M. Fonseca100% (4)
- ErosãoDocumento14 páginasErosãoDanilo Cesar de Oliveira Bastos100% (9)
- Física de Solo - SBCSDocumento156 páginasFísica de Solo - SBCSDaianeAinda não há avaliações
- Prad - Agenor - FinalDocumento43 páginasPrad - Agenor - FinalAdemar MotaAinda não há avaliações
- Remediação De Solos E Águas ContaminadasNo EverandRemediação De Solos E Águas ContaminadasAinda não há avaliações
- Apostila de GeoestatisticaDocumento78 páginasApostila de Geoestatisticaagnobel dantas silva100% (2)
- Cartilha Licenciamento Jazidas MineralDocumento48 páginasCartilha Licenciamento Jazidas MineralRobeleno MarcioAinda não há avaliações
- Ebook - Climatologia Geográfica - 634-6. Edu - Diag - Ebook Finalizado-6584-1!10!20201207Documento386 páginasEbook - Climatologia Geográfica - 634-6. Edu - Diag - Ebook Finalizado-6584-1!10!20201207Alexandre Sabino do NascimentoAinda não há avaliações
- Aterros de Resíduos:: O Uso de Ferramentas de Avaliação como Apoio Decisório Para a Reabilitação Ambiental – Teoria e PráticaNo EverandAterros de Resíduos:: O Uso de Ferramentas de Avaliação como Apoio Decisório Para a Reabilitação Ambiental – Teoria e PráticaAinda não há avaliações
- Agricultura de Precisão - O Guia Completo para IniciantesDocumento59 páginasAgricultura de Precisão - O Guia Completo para IniciantesMarlon RodriguesAinda não há avaliações
- Centeio - Triticale - Aula 5Documento67 páginasCenteio - Triticale - Aula 5Marlon Rodrigues100% (1)
- Exercicios de Edafologia.1Documento3 páginasExercicios de Edafologia.1Marlon RodriguesAinda não há avaliações
- 18 Lei Do Estado Do Paraná Nº 20.070 de 18.12.2019Documento8 páginas18 Lei Do Estado Do Paraná Nº 20.070 de 18.12.2019Marlon RodriguesAinda não há avaliações
- 4 Lei - Estadual - 7109 - 79Documento2 páginas4 Lei - Estadual - 7109 - 79Marlon RodriguesAinda não há avaliações
- Manejo de Macro e Micronutrientes para Soja PDFDocumento16 páginasManejo de Macro e Micronutrientes para Soja PDFMarlon RodriguesAinda não há avaliações
- Solomons ResolvidoDocumento142 páginasSolomons ResolvidoAmanda Ramos87% (15)
- Resultado - Mãe - João Paulo LemosDocumento1 páginaResultado - Mãe - João Paulo LemosDavidson GuimarãesAinda não há avaliações
- Parábolas de Jesus - 2022Documento146 páginasParábolas de Jesus - 2022Hilmar CesarAinda não há avaliações
- Folder TH Da CTBCDocumento2 páginasFolder TH Da CTBCBruno da CostaAinda não há avaliações
- O Biogás Na AlemanhaDocumento2 páginasO Biogás Na AlemanhaMatheus RodriguesAinda não há avaliações
- Manual Técnico Dos Extintores Portáteis ExtinpelDocumento73 páginasManual Técnico Dos Extintores Portáteis ExtinpelNego1975Ainda não há avaliações
- Características Do Trabalho, Variáveis Sócio - Demográficas Como Determinantes Da Satisfação No Trabalho Na Marinha PortuguesaDocumento11 páginasCaracterísticas Do Trabalho, Variáveis Sócio - Demográficas Como Determinantes Da Satisfação No Trabalho Na Marinha PortuguesaPROJETO DE PESQUISA FAINORAinda não há avaliações
- RESUMO HISTOLOGIA - DentinogeneseDocumento16 páginasRESUMO HISTOLOGIA - DentinogeneseSérgio Henrique Ferreira dos ReisAinda não há avaliações
- Dodf 043 03-03-2023 IntegraDocumento62 páginasDodf 043 03-03-2023 IntegraMáscaras FaciaisAinda não há avaliações
- Classes Invariáveis ExercíciosDocumento6 páginasClasses Invariáveis Exercíciosandre luiz100% (1)
- Magias Divinas Do 4º Círculo Reais de Fato ReaisDocumento11 páginasMagias Divinas Do 4º Círculo Reais de Fato ReaisDiego Silva DrumondAinda não há avaliações
- Os Santos Que Abalaram o Mundo - Santo AgostinhoDocumento14 páginasOs Santos Que Abalaram o Mundo - Santo AgostinhoBrendha AndradeAinda não há avaliações
- Arte Abstrata 22 AgostoDocumento55 páginasArte Abstrata 22 Agostovickymsantos17Ainda não há avaliações
- Back-UPS BR - BZ1500XLBI-BRDocumento3 páginasBack-UPS BR - BZ1500XLBI-BRbruno cominAinda não há avaliações
- Anexo XIV Modelo de Termo de Confidencialidade e Nao Dvulgacao 0209Documento2 páginasAnexo XIV Modelo de Termo de Confidencialidade e Nao Dvulgacao 0209Alfredo CostaAinda não há avaliações
- Exercícios de Arranjos SimplesDocumento2 páginasExercícios de Arranjos SimplesMarcelia Lopes Azevedo de SiqueiraAinda não há avaliações
- Hipotálamo e EpitálamoDocumento31 páginasHipotálamo e EpitálamoCamila CarneiroAinda não há avaliações
- Modulo 06 - Tecnologias - BiorremediacaoDocumento73 páginasModulo 06 - Tecnologias - BiorremediacaoLuisVieiraAinda não há avaliações
- (2625) PDFDocumento384 páginas(2625) PDFFabrício SouzaAinda não há avaliações
- Proposta Comercial GtraceDocumento10 páginasProposta Comercial GtraceFernando MachadoAinda não há avaliações
- MP - Sigacom - Importador XMLDocumento10 páginasMP - Sigacom - Importador XMLThaty AnjosAinda não há avaliações
- Resolution A.960 (23) TraducaoDocumento11 páginasResolution A.960 (23) TraducaoMarco Antonio ToscanoAinda não há avaliações
- Fatura Vivo 10-2023Documento3 páginasFatura Vivo 10-2023Paulo FreitasAinda não há avaliações
- Ebook Deus e Sistemico Talita NascimentoDocumento33 páginasEbook Deus e Sistemico Talita NascimentoLidiane Araújo100% (2)
- Bibliografia 2º AnoDocumento4 páginasBibliografia 2º Ano1duartenmmf9542Ainda não há avaliações
- Estatística e FiabilidadeDocumento54 páginasEstatística e FiabilidadeAnaAinda não há avaliações
- BG 1944 v1 n11 FevDocumento123 páginasBG 1944 v1 n11 FevCae MartinsAinda não há avaliações
- Telhado Stock House - Tripper CarDocumento6 páginasTelhado Stock House - Tripper CarDavid OliveiraAinda não há avaliações
- Gileuza - Estágio Supervisionado em Farmácia ComercialDocumento15 páginasGileuza - Estágio Supervisionado em Farmácia ComercialAngelica MartinsAinda não há avaliações
- 1.2 Resumo Introdução - AracnídeosDocumento4 páginas1.2 Resumo Introdução - AracnídeosPaloma BaldisseraAinda não há avaliações