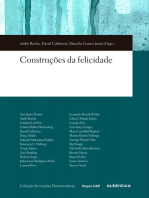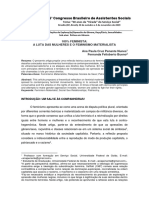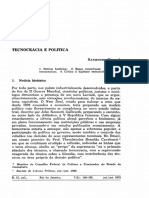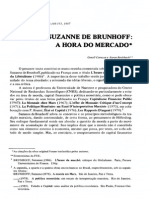Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Cap 8 - FEMINISM: RE-VISIONING THE MANMADE WORLD em Português
Enviado por
Anna Lydia Durval0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações27 páginas1) O documento discute os diferentes tipos de feminismo e as dificuldades em categorizá-los.
2) Há debates sobre se homens podem ser considerados feministas e sobre se categorizar os feminismos é uma abordagem válida.
3) A autora lista sete tipos de feminismo descritos por Rosemarie Tong: liberal, marxista, radical, psicanalítico, socialista, existencialista e pós-moderno.
Descrição original:
Tradução TESTE do Cap 8 de The Foundations of Social Research
Título original
Cap 8 - FEMINISM: RE-VISIONING THE MANMADE WORLD em português
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documento1) O documento discute os diferentes tipos de feminismo e as dificuldades em categorizá-los.
2) Há debates sobre se homens podem ser considerados feministas e sobre se categorizar os feminismos é uma abordagem válida.
3) A autora lista sete tipos de feminismo descritos por Rosemarie Tong: liberal, marxista, radical, psicanalítico, socialista, existencialista e pós-moderno.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
13 visualizações27 páginasCap 8 - FEMINISM: RE-VISIONING THE MANMADE WORLD em Português
Enviado por
Anna Lydia Durval1) O documento discute os diferentes tipos de feminismo e as dificuldades em categorizá-los.
2) Há debates sobre se homens podem ser considerados feministas e sobre se categorizar os feminismos é uma abordagem válida.
3) A autora lista sete tipos de feminismo descritos por Rosemarie Tong: liberal, marxista, radical, psicanalítico, socialista, existencialista e pós-moderno.
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 27
FEMINISMO: REVISIONANDO O MUNDO
FEITO PELO HOMEM
. e estas são as forças que eles lançaram contra nós e
estas são as forças que nós colocamos dentro de nós,
dentro de nós e contra nós, contra nós e dentro de
nós.
Adrienne Rich, ‘Poem XVII’
Como as feministas encaram o mundo humano em que habitam?
E quais são, em consequência, os pressupostos que as pesquisadoras
feministas trazem para suas várias formas de investigação humana?
Essas questões, formuladas aqui para atingir o feminismo e a
pesquisa feminista, são questões que já abordamos ao positivismo, ao
interpretativismo e à investigação crítica. Ao fazê-lo, fomos forçados
em cada caso a levar em conta o pluralismo que prevalece. Para
começar, como vimos, há muitos positivismos. O mesmo deve ser
dito do interpretativismo. Não apenas o interpretativismo emergiu
historicamente sob a forma tríplice de hermenêutica, fenomenologia
e interacionismo simbólico, mas cada um deles assume uma gama de
formas distintas que não são facilmente reconciliadas e às vezes
irreconciliáveis. A investigação crítica também tem uma longa
história. As divergências encontradas em apenas uma “escola” nessa
tradição são um alerta suficiente para que não possamos agrupar
facilmente posições teóricas cujas diferenças são tão marcantes
quanto suas semelhanças. Tampouco podemos ignorar as diferenças
de postura e procedimento de pesquisa social que essas posturas
exigem.
Seria irreal esperar que o feminismo fosse diferente. Também
aqui nos deparamos com um pluralismo amplo. As pessoas podem
falar e escrever sobre “feminismo” no singular, assim como falam e
escrevem sobre “positivismo”, “interpretativismo” e “teoria crítica”
no singular, mas há, é claro, muitos feminismos.
As feministas dão sentido ao mundo de várias maneiras e trazem
suposições diferentes, até conflitantes, para suas pesquisas. O
feminismo fala a uma só voz ao caracterizar o mundo que
experimenta como um mundo patriarcal e a cultura que herda como
uma cultura masculinista, mas essa unidade dura pouco. O que
significa patriarcado e masculinismo? Como surgem o patriarcado e
o masculinismo? Qual é, em termos sociológicos, o locus primordial
onde o patriarcado e o masculinismo são encontrados e identificados?
De onde o patriarcado e o masculinismo extraem seu apoio essencial?
E são essas, de fato, as perguntas que é mais relevante fazer? Apenas
levantar questões como essas é apontar a heterogeneidade do
pensamento feminista.
Aqui, mais uma vez, então, há lugar para alguma “ordenação”.
Para um homem presumir fazer tal classificação, mesmo quando
confiando em textos de mulheres, exige uma boa medida de coragem
ou imprudência. Provavelmente ambos. Há quem afirme sem
reservas que um homem não pode ter nada de válido ou útil a dizer
sobre feminismo ou pesquisa feminista. Enquanto a literatura traz
referências suficientes para feministas masculinas e homens
feministas, para um grande número de escritoras feministas esses
termos são oximoros.
Rejeitamos a ideia de que os homens podem ser feministas porque
argumentamos que o essencial para “ser feminista” é a posse da
“consciência feminista”. E vemos a consciência feminista enraizada
nas experiências concretas, práticas e cotidianas de ser e ser tratada
como mulher. (Stanley e Wise 1983, p. 18)
Dada a definição de Stanley e Wise de “ser feminista”, a lógica
deles é impecável. A definição não é inquestionável, é claro, e
certamente tem implicações anômalas. Com base nisso, uma mulher
emerge como uma feminista genuína se, defendendo uma forma fraca
de feminismo liberal, ela se contenta em ver ganhos escassos para as
mulheres em oportunidades de trabalho que deixam todos os sistemas
e estruturas no lugar e essencialmente intactos, embora derivados do
homem. são. Não é um homem de mentalidade muito mais radical
que insiste que o sexismo permeia o próprio tecido da sociedade e a
cultura que o sustenta e adverte que as mulheres nunca
experimentarão justiça ou alcançarão qualquer medida de igualdade
sem mudanças fundamentais nos padrões culturais de pensamento e
nas estruturas sociais. O manto do feminismo é negado a este último
porque ele é homem e, portanto, incapaz de compartilhar a
consciência feminina.
A mesma lógica negaria aos brancos a possibilidade de serem, em
qualquer sentido formal, membros do movimento negro pelos
direitos civis. Por mais anti-racistas que sejam seus sentimentos e o
que quer que façam pela causa, eles são incapazes de compartilhar a
consciência e a experiência das pessoas de cor. No entanto, o
importante papel que os brancos desempenharam nos movimentos de
emancipação e justiça racial não pode ser negado. A escritora
feminista Alison Assiter escreve sobre como os africanos revelaram o
eurocentrismo da ciência moderna. Aqueles que desempenharam esse
papel são “povos africanos que falaram a partir de um compromisso
com a emancipação dos africanos da dominação branca”. Ela
acrescenta, no entanto: “Não é preciso ser africano para ter esses
valores; potencialmente, qualquer pessoa seria capaz de se juntar à
comunidade relevante” (1996, p. 87).
Ecoando ao nosso redor, ao mesmo tempo, está a afirmação clara
de Freire,
referido no capítulo anterior, que ninguém pode libertar outra
pessoa. Na visão de Freire, ninguém pode se libertar nem a si mesmo.
Em vez disso, as pessoas juntas – sim, as pessoas em comunhão
libertam-se umas às outras. Sendo assim, não há como escapar da
necessidade de as mulheres deste mundo, solidárias umas com as
outras, se engajarem em um movimento de libertação da opressão e
da conquista da igualdade. Ninguém pode fazer isso por eles. Só
pode ser o movimento deles. As mulheres devem liderá-lo e
constituir seu núcleo.
No entanto, um “movimento” – um conceito muito mais flexível
do que, digamos, “instituição” ou “organização” – permite uma
ampla gama de filiações e diversos modos de participação e ação.
Assim como os brancos se juntaram aos negros em sua luta, para
vantagem do movimento como um todo, os homens certamente
podem se juntar às mulheres na sua – perifericamente, com certeza,
mas não menos sinceramente por isso. Tampouco esse envolvimento
deve ser visto como algum tipo de exercício de altruísmo. Os
próprios interesses dos homens estão totalmente em jogo. Eles são,
afinal, vítimas e perpetradores do patriarcado e do sexismo. A certa
altura, tornou-se um truísmo na literatura feminista, mas vale a pena
repetir: o patriarcado e o sexismo não são grilhões usados apenas por
mulheres; eles limitam severamente a possibilidade humana também
para os machos.
THE MANY FEMINISMS (OS MUITOS FEMINISMOS)
Como resolver as questões feministas? Talvez devêssemos
começar listando e descrevendo as várias formas que o feminismo
assume? Embora pareça lógico o suficiente para começar dessa
maneira, oferecer uma tipologia de feminismos acaba sendo uma
coisa complicada de se fazer. Não é apenas que um movimento de
diversidade tão intrincada resiste à categorização, mas que o próprio
ato de categorizar tem implicações próprias. Não menos importante
dessas implicações é a “masculinidade” do ato de categorizar, que
várias pensadoras feministas são rápidas em alegar. Entre eles estão
Stanley e Wise (1983, p. 40), que julgam “formas unidimensionais de
classificação” como “formas dicotômicas de construir a realidade”.
Não importa se estas são formas estabelecidas de construir a
realidade ou novas formas de construir a realidade. Em ambos os
casos, categorizações desse tipo “preocupam-se em apontar
diferenças”, “retratam ideologias políticas como claramente
demarcadas, fixas e imutáveis”, e privilegiam um lado da dicotomia
sobre o outro. Isso, Stanley e Wise concluem, é “uma maneira
essencialmente masculinista de interpretar”.
Tais dúvidas sobre a classificação por parte das feministas não
mostrou-se totalmente inibidor. Rosemarie Tong (1995), por
exemplo, nos oferece nada menos que sete formas de feminismo a
serem consideradas. Em sua tipologia muito citada, ela sugere que o
feminismo pode ser “liberal, marxista, radical, psicanalítico,
socialista, existencialista ou pós-moderno”. Como o título de sua
introdução proclama, estas são “As Variedades do Pensamento
Feminista”. Ela se refere a eles variadamente como “categorias”,
“rótulos”, “linhas”, “perspectivas” e “visões” (1995, PP. 1-9).
Liberal [o eminismo está fundamentado no humanismo do
pensamento político liberal. Tal humanismo privilegia a autonomia
da pessoa e vê a sociedade justa como um sistema de direitos
individuais que salvaguardam a autonomia pessoal e permitem a
autorrealização. Existem liberais e liberais, todos iguais. O
liberalismo clássico, ou libertário, quer que o Estado proteja os
direitos e ofereça oportunidades iguais, mas interfira o mínimo
possível. O liberalismo do bem-estar, ou igualitário, tem um olho
para a justiça social em vez das liberdades civis e exige uma
intervenção direta do Estado na causa da equidade. Tong acredita
que, em contraste com muitas feministas liberais do século XIX, que
aparecem como liberais clássicas (libertárias), a maioria das
feministas liberais do século XX se apresenta como liberais de bem-
estar (igualitários).
A própria Tong se inclina para a forma igualitária de liberalismo.
“Um igualitarismo que se preocupa com as necessidades básicas de
todas as mulheres é provavelmente mais feminista do que um
libertarianismo que se preocupa apenas com os direitos de algumas
mulheres.” dos pressupostos menos feministas do liberalismo
clássico e em direção a alguns dos pressupostos mais feministas do
liberalismo do bem-estar” (1995, p. 13). Estas são feministas
anteriores (Mary Wollstonecraft, John Stuart Mill, Harriet Taylor) e,
em nossos dias, Betty Friedan (a Betty Friedan de The Second Stage,
em vez da Betty Friedan de The Feminine Mystique).
Tal igualitarismo leva as feministas além do convite tradicional
do feminismo liberal às mulheres individuais meramente para
abandonar seu condicionamento e rejeitar os papéis sexuais
tradicionais. A “igualdade sexual”, observa Tong (1995, p. 38), “não
pode ser alcançada apenas pela força de vontade das mulheres”.
Mesmo metas modestas relacionadas à igualdade de oportunidades
tendem a exigir uma medida significativa de reorganização
econômica e redistribuição de recursos e mudanças bastante
profundas na consciência.
Ao contrário do feminismo liberal, o eminismo marxista é
revolucionário, não meramente reformista. O feminismo liberal pode
ser levado a abordar questões de estrutura, mas isso é menos uma
questão de princípio do que um meio para um fim. Não é o mesmo
com o feminismo marxista. Para este último, como seria de esperar
de nossas considerações sobre o marxismo até aqui, a mudança
estrutural é o objetivo principal. A estrutura que ele visa é,
obviamente, a estrutura de classes. Nessa perspectiva, sem mudanças
radicais na sociedade de classes, a igualdade de oportunidades
buscada pelas feministas liberais é uma quimera. A opressão das
mulheres começou com a introdução da propriedade privada e agora
deve ser vista como “o produto das estruturas políticas, sociais e
econômicas associadas ao capitalismo” (Tong 1995, p. 39). É o
capitalismo que moldou a instituição da família como a conhecemos.
É o capitalismo que leva o trabalho doméstico das mulheres a ser
descartado como trabalho não real. É o capitalismo que garante que
as mulheres geralmente recebam os trabalhos mais monótonos e a
menor remuneração. Como as mulheres podem se libertar da
opressão enquanto as estruturas do capitalismo permanecerem em
vigor?
As feministas marxistas, compreensivelmente, concentram-se em
questões relacionadas ao trabalho das mulheres – tanto seu emprego
remunerado quanto seu trabalho doméstico não remunerado. Eles
esperam que mudanças radicais em um induzam mudanças no outro.
Margaret Benston (1969) insiste que, enquanto o trabalho doméstico
continuar sendo uma questão de produção privada e responsabilidade
das mulheres, a igualdade de acesso aos empregos não proporcionará
igualdade, mas simplesmente forçará as mulheres a carregar uma
dupla carga de trabalho. O que Benston quer ver é uma socialização
do trabalho doméstico. Isso, ela acredita, mostrará a todos como o
trabalho doméstico é socialmente necessário. Mariarosa Dalla Costa
e Selma James (1972) vão mais longe, argumentando que o trabalho
doméstico não é apenas útil, mas produtivo, mesmo no sentido
marxista de criação de mais-valia. Por seu trabalho em casa, as
mulheres já estão na força de trabalho produtiva. Isso deve ser
reconhecido e as mulheres devem receber um salário pelo seu
trabalho doméstico. Embora a socialização do trabalho doméstico e a
provisão de um salário para o trabalho doméstico possam não parecer
alvos revolucionários, as feministas marxistas estão em posição de
desenvolver a consciência revolucionária das mulheres trabalhadoras
e levá-las à ação revolucionária (Tong 1995, p. 69).
For radical [eminism, a opressão das mulheres é a opressão mais
antiga, mais profunda e mais difundida de todas. É a visão de
algumas feministas radicais que a opressão das mulheres causa mais
sofrimento do que qualquer outra forma de opressão. Alguns
propõem a opressão das mulheres como modelo para a compreensão
de qualquer outra forma de opressão.
Essa consciência da profundidade e extensão da opressão das
mulheres levou algumas feministas radicais ao separatismo.
Desesperados de sempre forjar uma comunidade com homens em que
haveria igualdade, liberdade e respeito, eles direcionaram seus
esforços para desenvolver uma cultura exclusivamente feminina. A
“cultura da mulher” provavelmente compreende uma estética
especificamente feminina (arte, literatura, música, dança),
especificamente ciência feminina e especificamente religião
feminina. Também pode incluir uma sexualidade especificamente
feminina em que o lesbianismo, o autoerotismo ou o celibato
substituem as relações heterossexuais.
Embora nem todas as feministas radicais escolham o caminho
separatista, todas estão preocupadas de uma forma ou de outra com
as questões sexuais e reprodutivas das mulheres. Tong (1995, p. 51)
as lista como “contracepção, esterilização e aborto; pornografia,
prostituição, assédio sexual, estupro e espancamento de mulheres”.
Abordar tais questões revela claramente quão radicalmente
desordenada é a sociedade patriarcal e quão radicalmente ela deve,
portanto, ser transformada. Não será suficiente tornar a sociedade
humana mais libertária ou mais igualitária, como sugere o feminismo
liberal. Isso pode até piorar as coisas. Como Farganis afirma ao expor
os pontos de vista de Erikson:
As mulheres tornando-se iguais aos homens, no sentido de
tornarem-se como homens, permitem que os homens imponham suas
noções, por mais equivocadas e incorretas que sejam, do que é
humanamente desejável e humanamente possível às mulheres. Essa
imposição escraviza as mulheres, continua a aprisionar os homens e
impede qualquer dialética genuína de um ideal de ser humano. (1986,
pág. 117)
Nem será suficiente livrar a sociedade humana de suas estruturas
capitalistas, como o feminismo marxista nos convida a fazer. O
sistema patriarcal como tal, com todas as suas instituições sociais e
culturais, deve ser eliminado. As feministas radicais podem estar
longe de ser unânimes sobre como isso pode ser alcançado, mas há
uma uniformidade impressionante na força de sua convicção e na
paixão de seu compromisso.
Psychoanalytic O feminismo psicanalítico fundamenta a opressão
das mulheres nas profundezas da psique feminina. Nesta forma de
feminismo, surgindo como surge da teoria freudiana, a sexualidade
está no centro do palco. Freud, é claro, é visto por muitos como um
inimigo implacável de todo feminismo. Sua conversa sobre a inveja
do pênis e seu suposto determinismo biológico atraíram críticas
incisivas por parte de escritores como Betty Friedan (1974), Kate
Millett (1970) e, com mais qualificação, Shulamith Firestone (1970).
No entanto, há um número de feministas que identificam em Freud -
no próprio Freud, isto é, em contraste com muitos de seus seguidores
dos últimos dias - insights que provam ser mais liberadores do que
domesticadores. Isso, com certeza, exige uma ruptura com o
determinismo biológico tão rotineiramente atribuído à teoria
freudiana. Também ocasiona um desafio vigoroso à noção freudiana
de que o senso de justiça e moralidade dos homens é mais
desenvolvido do que o das mulheres. Com essa ruptura feita e esse
desafio montado, várias feministas acharam útil permanecer dentro
de uma estrutura freudiana. Alguns deles trabalham para uma
compreensão não patriarcal do complexo de Édipo, enquanto outros
preferem se concentrar no estágio pré-edipiano em que a relação
entre mãe e bebê está no auge. A influência de Jacques Lacan levou
várias dessas feministas de orientação psicanalítica a uma leitura pós-
estruturalista do feminismo.
Na lista de feminismos de Tong, o eminismo socialista é
deliberadamente colocado após o feminismo psicanalítico e não após
o feminismo marxista.
Ela acredita que o feminismo socialista representa “a confluência
das correntes marxistas, radicais e, mais provavelmente,
psicanalíticas do pensamento feminista” (1995, p. 173). Feministas
socialistas acham que o marxismo, tomado isoladamente, é
inadequado para a análise da opressão das mulheres. Hartmann
afirma (1981, pp. 10-11) que 'as categorias marxistas, como o próprio
capital[, são cegos para o sexo O feminismo radical, por outro lado,
embora ofereça uma análise de gênero mais abrangente, apresenta
uma imagem tão unívoca do patriarcado que ela obscurece distinções
importantes que precisam ser feitas. Como vários escritores
apontaram, purdah, suttee, enfaixamento de pés e clitoridectomia
podem vir a ser descartados como abominações perpetradas por um
sistema patriarcal, sem a devida consideração ao significado que cada
um deles possui em sua respectiva cultura. O feminismo psicanalítico
é igualmente limitador. Ele também é culpado de declarações gerais
sobre o patriarcado e geralmente baseia sua análise apenas em
estruturas psíquicas.
As feministas socialistas tentam superar essas limitações trazendo
esses fios juntos e aproveitando os pontos fortes de cada um
deles. Ao fazê-lo, alguns pensadores se concentram particularmente
no patriarcado e no capitalismo, acreditando que estes andam de
mãos dadas. Outros insistem que o patriarcado e o capitalismo são
bastante distintos e precisam ser tratados de forma diferente. De
qualquer forma, há uma preocupação generalizada entre as feministas
socialistas em unificar as feministas sob uma única bandeira e fazê-
las falar, na medida do possível, com uma só voz.
Existentialist [eminism Existencialista [o eminismo localiza sua
fonte na figura proeminente de Simone de Beauvoir e seu texto
principal, O Segundo Sexo (1953). Seu parceiro foi Jean-Paul Sartre,
que, junto com Maurice Merleau-Ponty, liderou o avanço da
fenomenologia existencial. Isso ocorreu na esteira de Ser e tempo de
Heidegger (1962), que, ao desenvolver sua ontologia radical, invocou
uma série de temas existencialistas tradicionais. Numerosos
comentaristas consideraram O Ser e o Nada (1956) de Sartre como,
em grande medida, um comentário sobre Ser e Tempo.
Ao contrário dos gregos antigos e dos cristãos medievais que
encontraram conforto e segurança na noção de um cosmos estável e
ordenado operando de acordo com leis imutáveis, os existencialistas
acham o mundo contingente, indiferente e até absurdo. Nessa visão
das coisas, como seres humanos conscientes e autoconscientes,
somos lançados de volta à nossa liberdade e chamados a responder à
nossa situação humana.
Ao expor sua versão do existencialismo, Sartre faz uma distinção
fundamental entre en-soi (o 'em si) e pour-soi (o 'para si). São modos
de ser. O pour-soi é um ser consciente; o en-soi é ser-como-objeto.
Fluindo dessa distinção está a distinção adicional de Sartre entre "Eu
e "Outro". Por Outro ele quer dizer outro ser pessoal. Embora o
Outro seja ele mesmo um pour-soi, dissociamo-nos dele como de um
en-soi. Esta é uma dissociação mútua: cada um de nós constitui o
Outro como um objeto e o percebemos como uma ameaça.
Simone de Beauvoir toma essa distinção sartreana entre o Eu e o
Outro (talvez fosse dela em primeiro lugar?) e a usa para iluminar a
relação entre homem e mulher. Ela interpreta o homem como Eu e a
mulher como Outro. Sendo o Outro uma ameaça ao Eu, a mulher
deve ser vista como uma ameaça ao homem e ele precisa subordiná-
la. Daí a opressão das mulheres que encontramos ao longo da
história. Relegadas ao status de Alteridade, as mulheres encontram-se
em condição de sujeição e dependência. Isso levou os homens ao
longo do tempo a construir uma série de mitos sobre a mulher para
melhor controlá-la. Na visão de Beauvoir, tais mitos expressam uma
imagem ideal da mulher que oferece aos homens tudo o que eles
carecem. Para cumprir esse propósito, a imagem deve ser
camaleônica: deve ser capaz e pronta para mudar à vontade. A
mulher pode ser um lembrete da vida ou da morte. Ela pode ser anjo
ou demônio. Esses mitos geram os papéis sociais aos quais as
mulheres são atribuídas e que desempenham um papel central em
sujeitá-las. Romper esses grilhões não é tarefa fácil para as mulheres,
mas, acredita Beauvoir, ingressar na força de trabalho, entrar nas
fileiras dos intelectuais e participar da transformação socialista da
sociedade são passos na direção certa.
Postmodern [eminism Pós-moderno [o eminismo é a categoria
final de Tong. As pensadoras feministas que ela tem em vista são
Hélene Cixous (1937— ), Luce Irigaray (1932— ) e Julia Kristeva
(1941— ). Até recentemente, observa Tong, o que ela chama de
feminismo pós-moderno era chamado de “feminismo francês”. Isso,
junto com uma ligação das feministas pós-modernas a Derrida e
Lacan, é indicação suficiente para que Tong não veja necessidade de
distinguir entre pós-estruturalismo (um fenômeno eminentemente
francês decorrente do fenômeno igualmente francês do
estruturalismo) e pós-modernismo (um fenômeno muito mais amplo
tanto geograficamente e em termos das questões que levanta e
aborda). Embora Tong não seja o único a fazer isso, será sugerido no
Capítulo 9 que a distinção entre pós-modernismo e pós-
estruturalismo continua sendo uma distinção útil a ser feita. À luz
dessa distinção, pode-se argumentar que as três feministas
mencionadas são pós-estruturalistas e não pós-modernistas.
Certamente, Kristeva, por exemplo, recusou expressamente ser
descrita como pós-modernista.
Qualquer que seja a nomenclatura, Tong liga o feminismo pós-
moderno
muito próximo da desconstrução, caracterizando-a como um
processo universal e radicalmente crítico, antiessencialista e
ferozmente comprometido com a quebra de antinomias tradicionais
como razão/emoção, belo/feio, eu/outro e as fronteiras convencionais
entre as disciplinas estabelecidas . A desconstrução faz um tema
principal do “lado positivo da Alteridade – de ser excluído, evitado,
“congelado”, desfavorecido, desprivilegiado, rejeitado, indesejado,
abandonado, deslocado, marginalizado” (Tong 1995, p. 219).
Embora a menção à desconstrução evoque para nós o personagem
de Jacques Derrida (1930- ), as feministas pós-modernas também
recorreram ao pensamento de outro Jacques-Jacques Lacan (1901-
1981). O estruturalismo de Lacan será discutido no Capítulo 9, mas
aqui podemos nos concentrar em seu uso da teoria freudiana.
A relação entre bebês e seus pais tem uma fase pré-edipiana e
uma fase edipiana. As crianças pré-edipianas (ou no que Lacan
chama de “Imaginário”) estão no início tão unidas com a mãe que
não sabem onde termina seu corpo e começa o corpo da mãe. Então,
em uma fase de 'espelho', eles se movem para uma consciência de si
mesmos. Embora isso enfraqueça sua unidade anterior e
indiscriminada com a mãe, eles permanecem firmemente ligados a
ela. Segue-se a fase edipiana. Nessa fase a criança deve internalizar a
Ordem Simbólica, ou seja, as regras linguísticas da sociedade que
precisam ser inscritas no inconsciente. Aqui o pai entra muito em
cena. A criança separa-se até certo ponto da mãe e ganha uma espécie
de renascimento — um nascimento no mundo simbólico da
linguagem. A linguagem fornece um meio para uma ligação contínua
com a mãe, mas é claro que não é a mesma coisa. Por causa de sua
anatomia, as meninas não podem fazer essa mudança tão bem quanto
os meninos. O medo da castração simbólica é o motivo principal,
mas isso dificilmente pode comover as meninas na mesma medida.
Eles não conseguem emergir totalmente do Imaginário e permanecem
presos nele. Por esta razão, as meninas são vistas como deixadas à
margem da Ordem Simbólica ou, na melhor das hipóteses, reprimidas
dentro dela.
Cixous, Irigaray e Kristeva foram todos influenciados por Lacan
idéias, mas, longe de segui-lo servilmente, cada um se baseou em
seu pensamento à sua maneira para seus próprios propósitos. Lacan
sustenta que o falo sempre dominará e as mulheres sempre estarão à
margem da Ordem Simbólica. Como eles não podem internalizar
totalmente essa ordem (‘a lei dos pais’), ela será imposta a eles
através da linguagem masculina de que são dotados. Cixous, por
exemplo, se recusa a compartilhar esse pessimismo. As mulheres
podem libertar-se dessa ordem circunscrita, que se expressa
sobretudo nas oposições binárias que herdamos –
atividade/passividade, sol/lua, cultura/natureza, dia/noite, fala/escrita,
alta, etc. 1986, pp. 63-5). Exploração do corpo, encontrando força na
'pulsão oral', 'pulsão anal', 'pulsão vocal', 'pulsão de gestação', um
'desejo de viver o eu de dentro', e um 'desejo de corpo inchado, de
linguagem, por sangue', permitirá que as mulheres escapem das
dicotomias da ordem conceitual em que se encontram (Cixous 1981,
p. 261).
Lacan vê a armadilha das mulheres no Imaginário sob uma luz
bastante negativa, mas Irigaray se recusa a seguir o exemplo. Ela
quer encontrar possibilidades para as mulheres dentro do Imaginário.
Tudo o que as mulheres ouvem sobre feminilidade e sexualidade
feminina veio de um ponto de vista masculino. Irigaray procura um
feminino não fálico, um feminino feminino, não articulado pelos
homens, e uma forma de individualidade e linguagem que não seja
mediada pelos homens. “Assim”, escreve Clough (1994, p. 50),
“Irigaray dá voz à filha pré-edipiana, uma voz já cheia de confusão,
raiva e desespero”.
Em um movimento paralelo ao ataque modernista à “lógica da
identidade” lançado por pensadores como Adorno, Irigaray
desencadeia um ataque feroz à “mesmice”. Ela acha que a mesmice é
endêmica dentro de uma história de ideias que remonta aos antigos
filósofos gregos. É a Mesmice que leva as pessoas a entender a
mulher à luz do que elas sustentam sobre o homem – por exemplo,
interpretar a mulher, no modo freudiano, como um homenzinho
privado de pênis. Para combater a Mesmice, é importante, antes de
tudo, abordar a natureza da linguagem. No entanto, apesar de todo o
sexismo que a linguagem cotidiana exibe, não é o objetivo de
Irigaray torná-la neutra em termos de gênero. Sua tática, ao contrário,
é insistir no uso da primeira pessoa e da voz ativa, o que ao mesmo
tempo coloca sua prática em desacordo com a linguagem da ciência.
Dessa forma, a ciência, a filosofia e a psicanálise são obrigadas a
assumir a responsabilidade pelo que dizem. Não podem mais se
entregar à falsa segurança da terceira pessoa anônima e da voz
passiva que distancia o sujeito do objeto.
Para combater a Mesmice, também é importante não descrever a
sexualidade feminina em termos fornecidos pela sexualidade
masculina. Os órgãos sexuais femininos não são apenas a ausência do
órgão masculino, mas são em si uma multiplicidade muito
significativa. Tampouco a compreensão gerada por um
endereçamento direto dessa multiplicidade se limitará à sexualidade.
Alcançará todas as formas de expressão humana. Pode até
transformar estruturas sociais.
Finalmente, para combater a Mesmice, Irigaray sugere
provocativamente que as mulheres imitem a própria mímica a que
foram submetidas. “Se as mulheres existem apenas nos olhos dos
homens, como imagens, as mulheres deveriam pegar essas imagens e
refleti-las de volta aos homens em proporções ampliadas” (Tong
1995, p. 228). Por seu próprio exagero, tal mimese despojará o
discurso falocêntrico de seu poder de oprimir.
Kristeva, por sua vez, não se sente à vontade para falar de
mulheres em geral ou de mulheres abstratas. Falar da mulher como
tal ou do feminino como tal é abraçar um essencialismo que Kristeva
rejeita de todo coração. Politicamente, pode-se falar nesses termos,
mas filosoficamente ela acha isso insustentável. As pessoas podem
dizer: “Somos mulheres”, enquanto lutam pela liberdade de usar
contracepção e aborto, a disponibilidade de creches ou oportunidades
iguais no local de trabalho. No entanto, em um nível mais profundo,
“Somos mulheres” é uma frase indesejada para Kristeva. Ela nem
quer ouvir as mulheres dizerem: ‘Nós somos’, pois ela acredita que
uma mulher não pode ‘ser’, mas deve estar sempre ‘se tornando’. Se
isso soa uma questão de palavras, precisamos estar atentos ao foco de
Kristeva na linguagem. Para ela, o pré-edipiano é o “semiótico” e não
o “imaginário” de Lacan. Ela contrasta a semiótica com o estágio
simbólico que se segue, conceituando os dois estágios como
envolvidos em uma interação contínua, um movimento de vai-e-vem
entre desordem e ordem.
O estágio simbólico, como vimos, ocorre como um
desenvolvimento pós-edipiano. É esse desenvolvimento pós-edipiano
que induz a repugnância, a caracterização de algo como “abjeto”
(Kristeva 1982). Identificando a opressão de judeus, minorias étnicas,
homossexuais e assim por diante, juntamente com a opressão de
mulheres, como resultado desse mesmo processo, Kristeva pede que
os discursos marginalizados de tais grupos sejam desencadeados na
linguagem para transformá-la. A revolução social, para ela, é sempre
uma revolução poética (Kristeva 1984).
FEMINIST ‘EPISTEMOLOGY’
As categorias de Tong nos levaram a uma longa jornada. Embora
esta tenha sido uma jornada rápida e nos deixe sem fôlego, nossos
vislumbres fugazes de paisagens feministas ao longo do caminho nos
trazem a riqueza e a diversidade do pensamento feminista. Podemos
muito bem nos sentir movidos a refazer nossos passos e estudar essas
vistas à vontade.
Por enquanto, no entanto, precisamos considerar algo que chamou
nossa atenção no início. Apesar de nossa gratidão às categorias de
Tong, lembramos as reservas que muitas feministas demonstram
sobre qualquer categorização do pensamento feminista – ou, nesse
caso, sobre a categorização de qualquer pensamento. A própria Tong
adverte que suas categorias podem ser limitadoras e distorcidas. O
que ela tem em mente ao dizer isso é que alguns dos teóricos que ela
apresenta são difíceis de se encaixar em um rótulo e podem precisar
ser tratados em vários. Não obstante, ela acredita que suas categorias
servem a um propósito analítico útil. Em seu próprio caso, eles a
ajudaram a se localizar no espectro do pensamento feminista e
servem para revelar inconsistências, ou pontos de crescimento, ou
ambos, em sua própria compreensão do feminismo (Tong 1995, p. 8).
Outros são muito mais céticos quanto ao desenvolvimento de
tipologias.
Como já vimos, Stanley e Wise consideram isso uma coisa
essencialmente masculina de se fazer. Esta não é a única preocupação
deles. Nas tipologias que estudam, eles encontram os tipos
apresentados em termos muito claros, cada um tão definitivamente
separado dos outros que não há sobreposição. Além disso, as várias
posições passam a ser dispostas uma após a outra, estendendo-se da
“mais correta” à “menos correta”. Stanley e Wise, com razão,
discordam dessas formas de tipologização. Tong, no entanto, teria
que ser absolvido de ambas as acusações. Por um lado, ela reconhece
explicitamente sobreposições, reconhecendo “o quão artificiais são as
fronteiras entre as várias perspectivas feministas”. Por outro lado, ela
expressa respeito e gratidão por todas as perspectivas, enfatizando
que cada uma “fez uma contribuição rica e duradoura para o
pensamento feminista” (1995, pp. 7-8).
O que dizer, então, da acusação adicional de que fazer
classificações claras desse tipo é uma coisa muito masculina de se
fazer? Não é preciso dizer que essa forma de categorização é
realizada predominantemente por homens. Atinge seu auge na
ciência empírica como a conhecemos, em si um assunto muito
masculino, e incorpora o desejo de ter o controle das coisas e saber o
que é provável que aconteça. Ela se refere ao tipo de opostos binários
que encontramos feministas, especialmente feministas pós-
modernistas, condenando tão vigorosamente – antinomias como
pensamento/linguagem, natureza/cultura, razão/emoção,
teoria/prática, branco/negro e especialmente homens/mulheres. Não
que todos os homens façam tal categorização ou criem essas
oposições hierárquicas sem questionar. Como já vimos no Capítulo 6
e veremos novamente no Capítulo 9, há muitos pensadores do sexo
masculino que argumentam, há bastante tempo e de maneira bastante
radical, contra a categorização desse tipo. Theodor Adorno, por
exemplo, nunca deixou de atacar a visão do “conceito” que está na
raiz de toda essa categorização.
Feministas argumentando contra essa categorização e essas
oposições não
assim de um ponto de vista especial, no entanto. Enquanto, para
outros envolvidos neste debate, a antinomia masculino/feminino é
um oposto binário entre muitos, para as feministas ela tende a ser o
oposto binário, servindo de sinédoque para todos os outros. Assim,
em um artigo entregue na Universidade de Leicester em 1978 e
citado por Stanley e Wise (1983, p. 29), Dale Spender afirma que
“poucos, ao que parece, questionaram nossa polarização de
razão/emoção, objetividade/subjetividade, realidade/fantasia, dados
concretos/dados leves e os examinou [ou links com nossa polarização
de [masculino/[homem]. A ênfase nesta citação é nossa, não de
Spender. Acrescenta-se porque é a vinculação da questão à questão
feminista e à crítica feminista que distingue o questionamento das
oposições binárias pelas feministas do questionamento que ocorreu
no pensamento modernista e pós-modernista em geral.
Precisando ser vista sob a mesma luz é a afirmação de Chester de
que o feminismo radical oferece “uma visão muito mais otimista e
humana de mudança do que a noção masculina de construir uma
revolução em algum ponto no futuro distante, uma vez que todos os
preparativos foram feitas” (1979, p. 15). Chester acredita que uma
das atitudes mais importantes que ela aprendeu com o feminismo
radical foi “trazer mudanças revolucionárias dentro do reino do
possível”. A noção de construir em direção a uma revolução futura é
de fato encontrada em pensadores masculinos e pode muito bem ser
vista como definida por homens. Mais uma vez, porém, é preciso
dizer que nem todos os homens pensaram dessa maneira. A
pedagogia do oprimido de Paulo Freire, considerada no último
capítulo, é uma práxis que exige que o oprimido reflita e aja agora e
ele nega que ela “poderia ser dividida em uma etapa anterior de
reflexão e uma etapa posterior de ação” (1972a,
pág. 99). Freire está sempre sublinhando que a revolução é
possível. Em sua pedagogia "problemática", como notamos, os
oprimidos passam a entender sua situação, não como "uma realidade
densa e envolvente ou um beco sem saída atormentador" (Freire
1972a, p. 81), não como "grilhão ou ... barreiras intransponíveis'
(1972a, p. 72), mas como um desafio que pode e deve ser enfrentado.
Portanto, pode ser importante qualificar afirmações como as de
Chester sobre insights especificamente feministas. Talvez haja lugar
para uma ressalva como a de Seigfried ao escrever sobre os traços
femininos que ela encontra no pragmatismo. Seigfried tem o cuidado
de notar que estes “podem ser entendidos como a expressão de um
estilo feminino sem implicar que todas as mulheres pensam assim ou
que nenhum homem pensa” (1991, p. 11). Da mesma forma,
encontramos Assiter expressando ceticismo sobre o papel atribuído
ao “desejo feminino” por Irigaray, ou seja, sua capacidade de revelar
como ilusória “a hipótese de que o reino simbólico nos dá acesso ao
conhecimento e à certeza”. Não precisamos do desejo feminino para
revelar a impossibilidade de adquirir determinado conhecimento,
insiste Assiter (1996, p. 47). 'Esta afirmação foi questionada por
filósofos masculinos 'falocêntricos' tão diversos quanto Hegel,
Wittgenstein e Feyerabend (e isso exclui Derrida e Lacan).'
Qualificar tais reivindicações feministas – ou melhor, deixar claro
o que é distinto nelas – tem importância. Se os insights feministas são
vistos como dependentes de seu ser em si mesmos, insights
exclusivamente femininos, as próprias alegações podem ser
facilmente descartadas e o valor dos insights desvalorizado se puder
ser demonstrado que poucas mulheres os compartilham ou que vários
homens o fazem. A questão real não é que as feministas obtenham
insights nunca vislumbrados por outras, especialmente não pelos
homens, mas que, como insights feministas, elas são fundamentadas
e derivam de um ponto de vista especificamente feminista. Adorno
pode protestar contra a classificação, mas o faz por motivos
diferentes. Sua crítica é diferente da de Spender, portanto. A
consciência de Chester da necessidade de ver a mudança possível e
agir agora é diferente da consciência de Freire dessa necessidade. O
dela foi ensinado a ela, como ela afirma, pelo feminismo radical. Ela
parte de um ponto de vista especificamente feminista, tem um pano
de fundo feminista e, por isso, deve ser vista como uma crítica
distinta daquela de Freire.
Um ponto de vista especificamente feminista? Isso é certamente
mais correto do que qualquer conversa sobre o ponto de vista
especificamente feminista. Assiter concorda com Jane Flax ao
argumentar que, porque não pode haver apenas uma maneira pela
qual o patriarcado permeia o pensamento, não pode haver apenas um
ponto de vista das mulheres. Onde Assiter localiza a unidade
feminista não é em um único ponto de vista, pois “certamente é o
caso de que há uma multiplicidade de pontos de vista, valores,
perspectivas entre feministas”, mas em “compromisso coletivo com o
enfraquecimento das relações de poder opressivas baseadas no
gênero”. . Esse compromisso constitui “um conjunto compartilhado
de valores que torna as feministas feministas” (Assiter 1996, p. 88).
Aqui Assiter está lançando dúvidas sobre “a ideia de um ponto de
vista epistemológico especificamente feminino” (1996, p. 88). Ela
não sustenta que as mulheres “sabem” de maneira diferente dos
homens, de modo que um grupo de mulheres, juntas, inevitavelmente
teria uma forma de conhecimento especificamente feminina. 'Ao
invés de sugerir que uma postura epistemológica decorre da
identidade do grupo que a detém', escreve Assiter (1996, p. 89),
'minha própria posição permite que uma multiplicidade de indivíduos
se junte, em uma comunidade epistêmica, tanto tempo como os
membros dessa comunidade compartilham certos valores em
comum'.
Ao adotar essa posição, Assiter está se colocando contra o que
tem sido uma corrente muito forte no pensamento feminista. Alcoff e
Potter escrevem sobre 'epistemologia feminista' e de como as teóricas
feministas 'têm usado o termo de várias maneiras 'para se referir às
'formas de conhecimento' das mulheres, 'experiência das mulheres',
ou simplesmente 'conhecimento das mulheres'' (1993, p. 1) .
O uso da palavra “epistemologia” neste contexto é problemático.
Alcoff e Potter reconhecem que o uso é “alienígena aos filósofos
profissionais e à epistemologia “própria”” (1993, p. 1). Se falar de
mulheres tendo sua própria epistemologia significar que o ato
fundamental de conhecer é diferente para as mulheres, isso tem
consequências enormes e indesejáveis. Como se sabe o que se sabe?
Qual é a relação entre o conhecedor e o conhecido? Que status deve
ser atribuído ao conhecimento? Em outras palavras, que afirmações
de verdade podem ser feitas em seu nome[? Essas são questões
epistemológicas e, se for preciso respondê-las de uma maneira
radicalmente diferente quando nos referimos às mulheres, as
mulheres emergem como seres estranhos de fato e nos perguntamos
como poderia haver algum tipo de diálogo entre elas e os homens.
A ‘epistemologia feminina’ pode, no entanto, ser entendida em
outro sentido – um que sugere, não que as mulheres saibam de uma
maneira fundamentalmente diferente daquela dos homens, mas que
elas teorizam o ato de conhecer de uma maneira diferente daquela
dos homens. Ao ‘fazer’ epistemologia, eles expressam preocupações,
levantam questões e obtêm insights que geralmente não são
expressos, levantados ou adquiridos por epistemólogos homens.
Poucos gostariam de brigar com isso.
Ainda assim, muitas feministas não se contentariam com essa
versão de “epistemologia feminina”. Eles insistem que o
conhecimento das mulheres é, em aspectos importantes, diferente do
dos homens. Alguns podem aceitar que estão falando sobre a
psicologia das mulheres, ou talvez sua antropologia filosófica, em
vez da epistemologia das mulheres. A sociologia deles, mesmo?
Fonow e Cook, afinal, entendem que epistemologia significa “o
estudo de suposições sobre como conhecer o social e apreender seu
significado” (1991, p. 1). No entanto, seria empobrecedor deixar a
semântica impedir nosso envolvimento com essa importante corrente
de pensamento feminista.
Gilligan (1982) foi muito influente ao sugerir que as mulheres
falam “com uma voz diferente”. Ela acredita que mulheres e homens
têm formas diferentes de perceber o mundo e se relacionar com ele.
Seu conceito do eu é diferente. Em particular, seu modo de abordar
questões morais é diferente. Por essa razão, ela discorda dos estágios
de desenvolvimento moral de Kohlberg e passa a reescrevê-los para
que levem em conta a maneira como as mulheres abordam a tarefa do
raciocínio moral. Em tudo isso, os homens são vistos como
premiando a autonomia, a generalidade, a imparcialidade abstrata. As
mulheres, por outro lado, valorizam o cuidado, o carinho, o vínculo e
a formação da comunidade interpessoal. Harding também (1983) é
encontrado “sugerindo (de um modo bastante semelhante ao de
Gilligan) que o racional é generificado, isto é, que varia de acordo
com o sexo” (Farganis 1986, p. 181).
Características do tipo postulado por Gilligan e Harding têm sido
usadas para contrapor as formas de pesquisa das mulheres às formas
de pesquisa masculinas. Alguns chegaram a identificar a pesquisa
quantitativa como masculina e a pesquisa qualitativa como feminina.
Ao apresentar seu simpósio de escritos sobre “acadêmicos feministas
como pesquisa vivida”, Fonow e Cook (1991, p. 8) rejeitam esse
ponto de vista. Elas concordam que “uma pesquisa cuidadosamente
projetada baseada na teoria e ética feministas é mais útil para
entender as experiências das mulheres do que uma fidelidade a
qualquer método específico como mais “feminista” do que outro”.
“Um estudo quantitativo bem elaborado”, acrescentam, “pode ser
mais útil para os formuladores de políticas e causar menos danos às
mulheres do que um estudo qualitativo mal elaborado”.
O que Fonow e Cook veem como uma “característica principal da
epistemologia feminista” é a atenção aos componentes afetivos do
ato de pesquisa. Referem-se à “maior familiaridade das mulheres
com o mundo das emoções e seu significado” e a “noção de que
“as mulheres se importam” tanto no nível prático quanto no
interpessoal”. Em seguida, com base nos resultados da pesquisa de
Gilligan, eles apontam para a ênfase no cuidado que emerge de
diferentes maneiras nos ensaios que editaram. O que tudo isso
sugere para Fonow e Cook é “uma tentativa entre as acadêmicas
feministas de restaurar a dimensão emocional dos atuais conceitos
de racionalidade”. Embora reconheçam esforços semelhantes entre
os teóricos críticos da Escola de Frankfurt, Fonow e Cook veem
essa atenção às emoções como parte da reflexividade crítica que
“caracteriza as abordagens feministas do conhecimento” (1991, pp.
9-11).
Nesta ligação de emoção e conhecimento, Fonow e Cook
procuram
Alison Jagar. Jaggar identifica “um ciclo de feedback contínuo
entre nossa constituição emocional e nossa teorização, de tal forma
que cada uma modifica continuamente a outra e é, em princípio,
inseparável dela”. Reconhecer isso é adotar um “modelo
epistemológico alternativo”, que “mostra como nossas respostas
emocionais ao mundo mudam à medida que o conceituamos de
maneira diferente, e como nossas respostas emocionais em
mudança nos estimulam a novos insights”. Nesse modelo, um
papel importante é atribuído ao que Jaggar chama de emoções
“fora da lei”. Essas são respostas emocionais convencionalmente
inaceitáveis, como quando pessoas de cor respondem a uma piada
racista com raiva em vez de diversão, ou quando as mulheres
sentem desconforto e até medo, em vez de bajulação, diante de
brincadeiras sexuais masculinas. Emoções fora da lei podem
inspirar novas investigações, sente Jaggar, e podem levar a
diferentes percepções do mundo (1989, pp. 18).
Como feminista, Jaggar tem interesse particular nas emoções fora
da lei de
mulheres. Isso não é porque ela aceita “os estereótipos de homens
legais e mulheres emocionais”. Não há em seu ensaio paralelo com
a conversa de Fonow e Cook sobre a maior familiaridade das
mulheres com as emoções e seu significado. Ao contrário, como
ela vê, “não há razão para supor que os pensamentos e ações das
mulheres sejam mais influenciados pela emoção do que os
pensamentos e ações dos homens”. Os estereótipos continuam a
florescer, no entanto, e levam ao mito do “investigador
desapaixonado”. Este é um mito muito poderoso. É classista,
racista e principalmente masculinista.
Funciona, obviamente, para reforçar a autoridade epistêmica
dos grupos atualmente dominantes, compostos em grande parte
por homens brancos, e desacreditar as observações e
reivindicações dos grupos atualmente subordinados, incluindo,
é claro, as observações e reivindicações de muitas pessoas de
cor e raça. mulheres. Quanto mais vigorosa e veementemente
os últimos grupos expressam suas observações e
reivindicações, mais emocionais eles parecem e, portanto, mais
facilmente são desacreditados. (Jaggar 1989, p. 142)
É sobretudo para contrariar este mito e as suas consequências que
Jaggar propõe o seu “modelo epistemológico alternativo” com o
papel fundamental que atribui às emoções em geral e às emoções fora
da lei em particular. Como ela aponta, “algumas, embora certamente
não todas, dessas emoções fora da lei são emoções potencialmente ou
realmente feministas”. Como as emoções se tornam emoções
feministas? A resposta de Jaggar é inequívoca. “As emoções se
tornam feministas quando incorporam percepções e valores
feministas” (Jaggar 1989, p. 144). Dessa forma, Jaggar se aproxima
do que já encontramos Assiter afirmando, ou seja, que a 'posição
epistemológica' de um grupo não decorre da identidade dos membros
do grupo (o simples fato, neste caso, de serem mulheres), mas surge
do compartilhamento de certos valores em comum (neste caso, seu
compromisso coletivo de minar relações de poder opressivas
baseadas em gênero). Como Stanley e Wise apontam (1990, p. 27),
um ponto de vista feminista é “uma conquista prática, não uma
“postura” abstrata”. Exige, nos diz Harding (1987, p. 185), uma “luta
intelectual e política”. Farganis concorda (1986, p. 196): “O
feminismo é um movimento para mudar a maneira como se olha o
mundo e a teoria feminista faz parte dessa luta”.
FEMININE THOUGHT OR FEMINIST VALUES? (PENSAMENTO
FEMININO OU VALORES FEMINISTAS?)
Pareceria, então, haver duas vertentes bastante díspares dentro da
teoria feminista, ambas invocando o conceito de “epistemologia
feminista” e seus temas associados, e ambas de interesse convincente
do ponto de vista da metodologia de pesquisa. Os dois não são de
forma alguma mutuamente exclusivos e, no final, paradoxalmente,
eles se juntam.
Em um caso, as pesquisadoras feministas trazem um ponto de
vista feminista para suas pesquisas. Por seu compromisso com os
valores feministas e com a causa feminista, e pelos propósitos
feministas que trazem consigo, fazem pesquisas de forma
diferenciada das demais, principalmente dos homens. Se isso
significa que existem metodologias feministas distintas, ou seja,
metodologias exclusivas para pesquisadores feministas, é assunto de
muita discussão. Para muitos, é mais uma questão de perspectivas
feministas entrando em metodologias existentes. O debate pode ser
principalmente uma questão de semântica. Uma metodologia que
incorpora uma orientação feminista é essencialmente muito diferente
de uma metodologia que não incorpora, mesmo que os métodos que
ela seleciona e molda pareçam ser os mesmos. Assim como uma
etnografia crítica é muito diferente de uma etnografia informada pela
teoria antropológica ou pelo interacionismo simbólico, embora todas
dependam da observação participante, uma etnografia feminista será
diferente novamente.
No outro caso, a reivindicação de padrões distintos de pesquisa
repousa sobre uma reivindicação anterior de um padrão diferente de
conhecimento. Diz-se que as mulheres têm maneiras diferentes de
conhecer e, portanto, farão pesquisas de maneiras diferentes das dos
homens. Alguns gostariam de dizer que o que isso postula são formas
femininas de pesquisa, e não formas feministas de pesquisa. Mies
(1991, p. 60) invoca essa distinção quando pergunta, 'Pesquisa de
mulheres ou pesquisa feminista?' Além disso, um debate semelhante
ao que acabamos de mencionar pode ser detectado aqui também.
Existem metodologias femininas distintas, ou seja, metodologias
exclusivas para mulheres pesquisadoras? Ou um estilo feminino vem
para informar as metodologias existentes? Seja como for que se
responda a elas, essas questões implicam que há um estilo feminino
na pesquisa que reflete traços femininos e faz uma diferença
significativa na pesquisa realizada. Com base nisso, alega-se que,
como a pesquisadora é uma mulher, a abordagem adotada
provavelmente será, digamos, qualitativa em vez de quantitativa...
construtivista em vez de objetivista... experiencial em vez de
cerebral.
interativo em vez de não envolvido ... cuidando em vez de
desapaixonado... uma busca de entendimento compartilhado ao
invés de uma tentativa de provar um ponto... orientado para a ação ao
invés de teórico... colaborativo e participativo ao invés de outra
forma... E assim por diante.
Algumas dificuldades com este ponto de vista já foram
consideradas. As mulheres formam um agrupamento longe de ser
homogêneo, e selecionar certas características como categoricamente
femininas e moldar a pesquisa feminina de maneiras definidas
sempre será controversa. Também é difícil (impossível, talvez?)
apontar características femininas que não sejam compartilhadas por
um número significativo de homens. Mesmo quando se trata de
insights indubitavelmente feministas e não meramente femininos,
muitos deles, como vimos, parecem ser alcançáveis por outros
caminhos que não o feminismo. Podemos apontar para os Gastadores
e Chesters deste mundo, mas os Adomos e Freires deste mundo
persistem em levantar a mão também. Alcoff e Potter podem planejar
um simpósio sobre 'epistemologias feministas', mas no final eles se
vêem tendo que responder à pergunta: 'Por que, então, manter o
adjetivo 'feminista'?' (1993, p. 4).
Por tudo isso, como também vimos, o compromisso feminista e a
orientação feminista são capazes de transfigurar os insights em
questão e torná-los bem e verdadeiramente distintos. Não é tão fácil
dizer o mesmo de insights que são atribuídos, não à perspectiva
feminista e à participação na luta feminista, mas ao estilo feminino.
Quando tudo o que se pode dizer de sua gênese é que, nesses casos,
eles vêm de mulheres, estamos falando de insights feministas, ou
mesmo de insights especificamente femininos? Ou estamos falando
apenas de insights encontrados entre homens e mulheres?
É verdade que podemos estar falando de características —
maneiras de pensar, sentir, se comportar — que são encontradas
muito mais entre as mulheres do que entre os homens. Eles podem se
dividir fortemente ao longo das linhas de sexo. Não só eles são muito
mais característicos das mulheres do que dos homens, mas pode-se
dizer que se reúnem em um complexo que constitui o estilo feminino
e é exclusivo das mulheres. A partir dessa perspectiva, existem
inúmeras feministas para as quais os traços característicos das
mulheres e, portanto, constituem o feminino são centrais para seu
feminismo, e elas celebram abertamente a “diferença”.
Nesse ponto torna-se importante perguntar sobre a origem de tais
traços femininos. Eles são inatos e inerentes? São produtos sociais?
Ou há algum tipo de posição intermediária aqui?
Se, ou em que medida e de que maneira, existem características
inatas ou inerentes da feminilidade, permanece uma questão muito
controversa. “Pode ser”, escreve Sondra Farganis (1986, p. 1), “que
não existam traços particulares de um único sexo”. Por outro lado,
como a 'feminista cética' Janet Radcliffe Richards vê (1982, p. 155),
'não há razão para presumir que não possa haver quaisquer
características femininas e masculinas inerentes' e 'é extremamente
provável que existam algum'. Em sua opinião, os atributos reais de
homens e mulheres surgem de uma combinação de características
especificamente sexuais com outras que podem ser igualmente
distribuídas entre os sexos. Não é de surpreender que esse processo
resulte em alguns traços não sexuais que são mais comumente
encontrados em um sexo do que no outro.
Apesar da aparente diferença de opinião, nenhum desses
escritores
considera central para suas preocupações a existência de traços
especificamente femininos. Para Farganis, a existência ou não de tais
traços não é o que está “em questão” em sua obra (1986, p. 1). Em
vez disso, ela está preocupada com como as mulheres são percebidas
e, nesse sentido mais limitador, como as características de gênero são
compreendidas. Embora Richards possa estar mais inclinada a aceitar
a existência de características femininas inerentes ou inatas, ela
também não as considera “em questão no grande debate sobre
mulheres e feminilidade”. A questão de “quantos são, quais são ou
que efeito têm” não está no centro desse debate, como ela o entende.
As mulheres podem ter atributos inerentes ou inatos, mas estes não
são os que preocupam. Em vez disso, “o alarido sobre a
feminilidade” é “sobre como se pensa que os sexos deveriam ser e
sobre quais medidas precisam ser tomadas para alcançar o que quer
que seja”. Assim, ela acredita, a maioria das feministas não se
preocupa com tendências inerentes às diferenças entre os sexos. Eles
estão, no entanto, justificadamente indignados com o que essas
diferenças costumam ser alegadas e estão profundamente
preocupados com a discriminação que essas diferenças percebidas
supostamente legitimam. “A preocupação feminista com a
feminilidade não é sobre essas características inerentes. É antes o fato
de que homens e mulheres estão sob diferentes pressões sociais,
encorajados a fazer diferentes tipos de trabalho, comportar-se de
maneira diferente e desenvolver características diferentes, que é
importante” (Richards 1982, p. 155-7).
Mais uma vez, então, nos encontramos com a agenda feminista e
não com características supostamente inerentes à feminilidade. O
problema central que emerge tem a ver com as percepções herdadas e
predominantes do que significa ser mulher e como as mulheres
devem viver e agir. Não que essas percepções possam ser mantidas à
parte das características femininas que estamos discutindo.
Anteriormente neste livro, ao tratarmos do construcionismo social,
consideramos a noção de reificação. É um processo pelo qual algo
que não é uma ‘coisa’ é colocado como uma ‘coisa’. Por esse
processo de objetivação, as expectativas socialmente derivadas das
mulheres tornam-se características supostamente “inerentes” da
feminilidade.
Assim, o que se diz ser traços e comportamentos
caracteristicamente femininos se tornam construções históricas e
culturais. A menos que postulemos algum tipo de natureza feminina
essencial e estejamos dispostos a assumir a acusação de ser
essencialistas e a-históricos, precisamos vê-la sob essa luz. Isso não
significa negar um papel à biologia. A natureza tem uma mão nisso,
com certeza. A anatomia e a fisiologia femininas desempenham seu
papel. No entanto, as qualidades e ações femininas que encontramos
na vida social não equivalem ao mero funcionamento de genes e
hormônios. Entre os planos básicos para nossa vida que nossos genes
estabelecem e o comportamento preciso que de fato executamos está
"um conjunto complexo de símbolos significativos sob cuja direção
transformamos o primeiro no segundo, os planos básicos na
atividade" ( Geertz 1973, p. 50).
Chanres é feito de pedra e vidro. Mas não é apenas pedra e vidro; é
uma catedral, e não apenas uma catedral, mas uma catedral panicular
construída em um determinado momento por alguns membros de uma
sociedade panicular. Para entender o que significa, para percebê-lo pelo
que é, você precisa saber mais do que as propriedades genéricas da
pedra e do vidro e muito mais do que é comum a todas as catedrais.
Você precisa entender também – e, na minha opinião, mais
criticamente – os conceitos específicos das relações entre Deus, o
homem e a arquitetura que, tendo governado sua criação, ela
consequentemente incorpora. Com os homens não é diferente: eles
também, cada um deles, são artefatos culturais. (Geertz 1973, pp. 50-1)
O uso do masculino genérico por Geertz se destaca no relevo
mais claro no contexto do presente capítulo. 'Não é diferente com os
homens.' Embora isso tenha sido escrito originalmente há mais de 30
anos e possamos ser tentados a nos sentir indulgentes com a
linguagem do autor a esse respeito, também podemos sentir a
tentação de gritar de volta: 'Não é diferente com mulheres!'. E este,
por acaso, é o ponto preciso com o qual estamos preocupados no
momento. As mulheres, junto com os homens – sim, “cada um deles”
– são artefatos culturais. Simone de Beauvoir nos diz (1953, p. 273),
“Não se nasce, mas se torna mulher”. Farganis concorda. Ao propor
que “as teorias do feminino não podem ser divorciadas das condições
sociais de sua formulação”, Farganis recorre e expande o pensamento
da socióloga inglesa Viola Klein.
O feminino, de acordo com Klein, é uma constelação de papéis
culturais, atitudes e habilidades relacionadas, mas não
necessariamente decorrentes, dos traços biológicos considerados
como sendo uma mulher, ou seja, fundamentados em
cromossomos, anatomia e hormônios. ‘Feminino’ inclui
influências culturais de uma forma que ‘feminino’ não... O
biológico dentro de um contexto cultural enraizado no tempo está
no cerne do social e do sociológico, e vai além da dicotimização
simplista e especiosa de natureza/natureza, biologia/cultura,
genes/ambiente. (Farganis 1986, p. 4)
Há quem privilegie o lado natureza-biologia-genes da divisão a
que Farganis nos refere. O movimento nessa direção atingiu seu
apogeu na sociobiologia que se fortaleceu na década de 1970 e
buscou, como nos escritos de E.O. Wilson, para explicar o
comportamento animal, incluindo o comportamento humano, por
meio de genes e seleção de genes. Uma das estratégias
sociobiológicas é traçar paralelos entre humanos e outras espécies –
especialmente nossos primos macacos, cuja maioria do material
genético corresponde ao nosso. Aqui os sociobiólogos prestam muita
atenção aos papéis sexuais, exibições sexuais e práticas sexuais, de
modo que seu trabalho certamente interessa às pessoas envolvidas
com o feminismo. A sociobiologia teve uma má divulgação nos
meios feministas, até porque sugere um determinismo que deixaria as
mulheres à mercê de sua herança genética e funções biológicas.
Ainda assim, há escritoras feministas que não hesitam em apelar para
os impulsos instintivos femininos, por exemplo, a maternidade em
particular ou a criação em termos mais gerais.
Há outros que privilegiariam o lado criação-cultura-ambiente da
divisão mencionada por Farganis. A antropologia cultural ou social
certamente enfatiza o papel do sistema de símbolos que serve para
direcionar o que nós humanos fazemos. A partir das citações que já
consideramos, Geertz surge como um antropólogo que oferece
essa ênfase sem perder de vista a base biológica. Ele pede
"análises da evolução física, do funcionamento do sistema nervoso,
do processo psicológico, do padrão cultural e assim por diante - e,
mais especialmente, em termos da interação entre eles" (1973, p. 53).
Sua conversa sobre “interação” ressoa com o apelo de Farganis por
um “método dialético” na análise de questões feministas. Na maioria
das vezes, as feministas certamente estão do lado dos culturalistas e
não dos sociobiólogos. No entanto, Farganis ecoa a descoberta de
Smith de que há um essencialismo a ser encontrado não apenas na
sociobiologia, mas também em certas vertentes da teoria feminista.
“Um método dialético”, acredita Farganis (1986,
pág. 118), “muitas vezes ausente da teoria feminista e nunca
encontrado na sociobiologia, seria o corretivo ou antítese de cada um
desses paradigmas e se oporia a um universalismo historicamente
insustentável”.
Há um ponto a ser cuidadosamente observado aqui e ele se
mantém independentemente de querermos minimizar o papel da
cultura (como na sociobiologia) ou maximizar o papel da cultura
(como em certas versões da antropologia). Se, de alguma forma e em
qualquer extensão, consideramos os entendimentos herdados e
predominantes da feminilidade como uma construção social,
precisamos desconfiar deles. Esses entendimentos foram forjados
dentro e fora do dar e receber da sociedade. São um produto cultural.
Como essa sociedade é uma sociedade patriarcal e essa cultura uma
cultura masculinista, só podemos concluir que a imagem de
feminilidade que herdamos foi desenvolvida por homens para servir a
propósitos masculinos. Em consequência, a primeira tarefa das
feministas pode muito bem ser a de se abrir de maneira
fenomenológica à experiência imediata de ser mulher, questionando
assim os significados inevitavelmente impostos a elas de maneira
hegemônica por sua cultura.
É nesse mesmo espírito que Adrienne Rich (1990) direciona as
mulheres para a literatura que elas herdaram, como observamos ao
discutir a hermenêutica. Ao apontar o tipo de opressão que as
mulheres sofrem sob o patriarcado, Rich escreve sobre “os efeitos
visíveis na vida das mulheres de ver, ouvir nossa experiência sem
palavras ou negada afirmada e prosseguida na linguagem” (1990, p.
483). A linguagem prendeu as mulheres e também as libertou. O
próprio ato de nomear tem sido até agora prerrogativa dos homens.
Rich não pede um boicote a essa literatura masculinista. O que ela
pede, em vez disso, é uma “revisão” – uma crítica feminista radical
da literatura que usará a literatura como uma pista de como as
mulheres têm vivido e um indicador de como as mulheres podem
começar a ver as coisas de maneira diferente, nomear as coisas
autenticamente para si mesmas, e assim trazer-se para uma nova
forma de ser e viver. ‘Precisamos’, diz Rich, em uma declaração que
já consideramos, mas que merece repetição, ‘conhecer a escrita do
passado e conhecê-la de maneira diferente do que jamais
conhecemos; não transmitir uma tradição, mas quebrar seu domínio
sobre nós” (1990, p. 484).
O chamado de Rich não deve se limitar à literatura. Toda vida
humana e toda situação humana podem ser vistas como texto. À
medida que abordam essa vida e essas situações, as mulheres
precisam deixar de lado os entendimentos culturais que lhes são
impostos, inevitavelmente sexistas como esses entendimentos são, e
interpretar a vida e a situação de novo – sim, lendo-os como nunca
foram lidos antes.
Pesquisa como revisão, então? Essa pode não ser uma maneira
ruim de descrever a pesquisa feminista em poucas palavras. Quando
as feministas vêm pesquisar, elas trazem consigo uma sensação
permanente de opressão em um mundo feito pelo homem. Para
alguns, isso pode ser pouco mais do que a consciência de que o
campo de jogo em que estão está longe de ser nivelado e eles
precisam equilibrar as coisas. Para outros, a injustiça é mais profunda
e severa. Eles percebem a necessidade de uma mudança muito radical
na cultura e na sociedade – para uma revolução, nada menos. A
pesquisa feminista é sempre uma luta, então, pelo menos para
reduzir, se não eliminar, as injustiças e a falta de liberdade que as
mulheres experimentam, por mais que essa injustiça e essa falta de
liberdade sejam percebidas e qualquer intensidade e extensão que
sejam atribuídas a elas.
Essa luta por equidade e libertação marca indelevelmente a
pesquisa feminista. Aparentemente, as pesquisadoras feministas
podem compartilhar metodologias e métodos com pesquisadores de
outros ramos; ainda assim, a visão feminista, os valores feministas e
o espírito feminista transformam essas metodologias e métodos
comuns e os diferenciam. Muito mais do que formas de coletar e
analisar ‘dados’, metodologias e métodos tornam-se canais e
instrumentos da missão histórica das mulheres para se libertar da
escravidão, da limitação da possibilidade humana por meio de
estereótipos, estilos de vida, papéis e relacionamentos culturalmente
impostos.
Como a leitura de literatura de Rich, a pesquisa feminista aborda
o mundo para “conhecê-lo de maneira diferente do que já
conhecemos” – sim, e moldá-lo de novo.
Você também pode gostar
- Interseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNo EverandInterseccionalidades: pioneiras do feminismo negro brasileiroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Pensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNo EverandPensamento Feminista Brasileiro: Formação e contextoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Bandeiras tornam-se objetos de estudo (violência, aborto, sindicalização)No EverandBandeiras tornam-se objetos de estudo (violência, aborto, sindicalização)Ainda não há avaliações
- Pensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalNo EverandPensamento feminista hoje: Sexualidades no sul globalAinda não há avaliações
- Teoria da reprodução social: Remapear a classe, recentralizar a opressãoNo EverandTeoria da reprodução social: Remapear a classe, recentralizar a opressãoAinda não há avaliações
- Aula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - DecryptedDocumento25 páginasAula 2 - PISCITELLI Adriana. Recriando A Categoria Mulher - Decryptedlucasm4st3r100% (1)
- Feminismo Negro: luta por reconhecimento da mulher negra no BrasilNo EverandFeminismo Negro: luta por reconhecimento da mulher negra no BrasilAinda não há avaliações
- Aula 3 - As Vertentes Do Feminismo ContemporâneoDocumento23 páginasAula 3 - As Vertentes Do Feminismo ContemporâneoAline LiraAinda não há avaliações
- (Feminismo Radical) Falando de Gênero - Debbie CameronDocumento13 páginas(Feminismo Radical) Falando de Gênero - Debbie CameronMaria Octavia CostaAinda não há avaliações
- Mulheres Auto Estima FeminismoDocumento4 páginasMulheres Auto Estima FeminismoMaria Eduarda CarvalhoAinda não há avaliações
- SANTOS, Mada Guadalupe. Feminismo e Suas Ondas. Revista Cult. 2017Documento4 páginasSANTOS, Mada Guadalupe. Feminismo e Suas Ondas. Revista Cult. 2017SusanaSantos100% (1)
- Crítica ao Feminismo: A Ideologia Feminista como Prisão FemininaNo EverandCrítica ao Feminismo: A Ideologia Feminista como Prisão FemininaAinda não há avaliações
- Desessencializando o Anarco-Feminismo: Lições Do Movimento TransfeministaDocumento6 páginasDesessencializando o Anarco-Feminismo: Lições Do Movimento TransfeministaEduardo AndradeAinda não há avaliações
- Teoria Do FeminismoDocumento31 páginasTeoria Do FeminismoJeferson AlcantaraAinda não há avaliações
- FeminismoDocumento31 páginasFeminismoAnnyBelfortAinda não há avaliações
- Movimentos Femininos AfropindorâmicosDocumento10 páginasMovimentos Femininos AfropindorâmicosTereza OnäAinda não há avaliações
- A Tirania Da Falta de Estrutura PDFDocumento20 páginasA Tirania Da Falta de Estrutura PDFEmanuela SiqueiraAinda não há avaliações
- Marxismo, Feminismos e Feminismo Marxista - Mais Que Um Gênero em Tempos NeoliberaisDocumento11 páginasMarxismo, Feminismos e Feminismo Marxista - Mais Que Um Gênero em Tempos NeoliberaisMaria Júlia Montero50% (2)
- Kaas - O Que É e Porque Precisamos Do TransfeminismoDocumento8 páginasKaas - O Que É e Porque Precisamos Do TransfeminismoLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Construção Do Discurso Sobre A Igualdade de Gênero Juliet MitchellDocumento15 páginasConstrução Do Discurso Sobre A Igualdade de Gênero Juliet MitchellKaren AndradeAinda não há avaliações
- Aula 1 (FeminismosnoBrasil)Documento4 páginasAula 1 (FeminismosnoBrasil)claudiaAinda não há avaliações
- Desnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraNo EverandDesnaturalização do machismo estrutural na sociedade brasileiraNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Mulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNo EverandMulheres e Justiça: Teorias da Justiça da Antiguidade ao Século XX Sob a Perspectiva Crítica de GêneroNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- N 31 A 24Documento12 páginasN 31 A 24Poliana QueirozAinda não há avaliações
- SCOTT - Cidadã Paradoxal - As Feministas Francesas e Os Direitos Dos Homens - RESENHADocumento16 páginasSCOTT - Cidadã Paradoxal - As Feministas Francesas e Os Direitos Dos Homens - RESENHAAngela CarballalAinda não há avaliações
- Algumas histórias sobre o feminismo no Brasil: Lutas políticas e teóricasNo EverandAlgumas histórias sobre o feminismo no Brasil: Lutas políticas e teóricasAinda não há avaliações
- Resenha Feminismo e PolíticaDocumento5 páginasResenha Feminismo e PolíticajoaodelargeAinda não há avaliações
- Grossi Miriam Identidade de Genero e SexualidadeDocumento14 páginasGrossi Miriam Identidade de Genero e SexualidadeLuana MendonçaAinda não há avaliações
- Movimento Feminista Brasileiro/ Movimento de Mulheres Uma Versão HistóricaDocumento35 páginasMovimento Feminista Brasileiro/ Movimento de Mulheres Uma Versão HistóricaIlze ZirbelAinda não há avaliações
- Simone de BeauvoirDocumento22 páginasSimone de BeauvoirJuliaAinda não há avaliações
- SciELO - Brasil - A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970 A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970Documento20 páginasSciELO - Brasil - A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970 A Deriva Transfóbica Do Feminismo Radical Dos Anos 1970Carolina AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Texto Toril MoiDocumento15 páginasTexto Toril MoiEverton ViníciusAinda não há avaliações
- Fichamento Pratica FemininaDocumento7 páginasFichamento Pratica Femininamuanamoura2015Ainda não há avaliações
- Transfeminismo Resenha - Seminario AvançadoDocumento5 páginasTransfeminismo Resenha - Seminario AvançadoMaria Clara DieguezAinda não há avaliações
- MIGUEL e BIROLI, Feminismo e Política Uma IntroduçãoDocumento3 páginasMIGUEL e BIROLI, Feminismo e Política Uma IntroduçãoThaís Costa100% (1)
- Preconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposNo EverandPreconceito contra a "Mulher": diferença, poemas e corposAinda não há avaliações
- Patriarcado e Sujeição Das MulheresDocumento19 páginasPatriarcado e Sujeição Das MulheresGiovanni CorteAinda não há avaliações
- Genero Prati Cafe MininaDocumento25 páginasGenero Prati Cafe MininaEwerton Tekko MartinsAinda não há avaliações
- 287-Article Text-554-1-10-20191114Documento6 páginas287-Article Text-554-1-10-20191114Antônio NascimentoAinda não há avaliações
- Duarte, D. D. A. O. o Feminismo No Corpo Da Mulher Trans.Documento8 páginasDuarte, D. D. A. O. o Feminismo No Corpo Da Mulher Trans.Thamires MeloAinda não há avaliações
- Mariana Affonso Penna o Anarquismo e A Questao Das MulheresDocumento17 páginasMariana Affonso Penna o Anarquismo e A Questao Das Mulherescara de kululuAinda não há avaliações
- Identidade Genero RevisadoDocumento14 páginasIdentidade Genero RevisadoEraldo LimaAinda não há avaliações
- Anarquismo e Ação Direta: Persuasão e Violência na ModernidadeNo EverandAnarquismo e Ação Direta: Persuasão e Violência na ModernidadeAinda não há avaliações
- Introdução - Figuras de ResistenciaDocumento4 páginasIntrodução - Figuras de ResistenciacancaofavoritaAinda não há avaliações
- Resenha - Gênero, Diversidade e Trabalho - Mulher&TrabalhoDocumento7 páginasResenha - Gênero, Diversidade e Trabalho - Mulher&TrabalhoGabriel SoaresAinda não há avaliações
- Subjetividades Identidade Pos-EstruturalismoDocumento8 páginasSubjetividades Identidade Pos-EstruturalismoLarissa PelucioAinda não há avaliações
- Feminismo e Discurso Do Gênero Na Psicologia Social PDFDocumento28 páginasFeminismo e Discurso Do Gênero Na Psicologia Social PDFdaniele_mano6469Ainda não há avaliações
- Além da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneoNo EverandAlém da pele: repensar, refazer e reivindicar o corpo no capitalismo contemporâneoAinda não há avaliações
- TEORIA FEMINISTA - Da Margem Ao Centro. Bell Hooks TrechoDocumento40 páginasTEORIA FEMINISTA - Da Margem Ao Centro. Bell Hooks TrechoHannah CeltanAinda não há avaliações
- DURVAL & ESQUINCALHA - Relações de Gênero em Livros Didáticos de Matemática: Um Estudo A Partir de Dissertações e Teses BrasileirasDocumento25 páginasDURVAL & ESQUINCALHA - Relações de Gênero em Livros Didáticos de Matemática: Um Estudo A Partir de Dissertações e Teses BrasileirasAnna Lydia DurvalAinda não há avaliações
- Anotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoDocumento12 páginasAnotações Sobre A Escrita - Alfredo Veiga-NetoJoão Henrique AguiarAinda não há avaliações
- SumarioDocumento11 páginasSumarioRicardo Lugon ArantesAinda não há avaliações
- A11 WALSHAW 2001 TradDocumento41 páginasA11 WALSHAW 2001 TradAnna Lydia DurvalAinda não há avaliações
- A Ideologia Do Século XX Ensaios Sobre o Nacional-Socialismo, o Marxismo, o Terceiro-Mundismo e A Ideologia Brasileira by J.O. de Meira PennaDocumento244 páginasA Ideologia Do Século XX Ensaios Sobre o Nacional-Socialismo, o Marxismo, o Terceiro-Mundismo e A Ideologia Brasileira by J.O. de Meira PennaMarcelo de Andrade Angelino100% (2)
- AS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS Décio BarrosDocumento6 páginasAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS Décio Barroszezinhotoinho100% (5)
- Filosofia ContemporaneaDocumento10 páginasFilosofia ContemporaneaPriscilla Stéfany Burmann WeberlingAinda não há avaliações
- O Século Do CorporativismoDocumento9 páginasO Século Do CorporativismoVinicius MeloAinda não há avaliações
- Teste de Coordenadas PolíticasDocumento1 páginaTeste de Coordenadas PolíticasAlan CassioAinda não há avaliações
- O - DONNELL Accountability Horizontal e Novas PoliarquiasDocumento30 páginasO - DONNELL Accountability Horizontal e Novas PoliarquiasGuilhermeFerraz0% (1)
- A Cidadania Global PowerpointDocumento13 páginasA Cidadania Global PowerpointverabrandaoAinda não há avaliações
- Amor de PerdiçãoDocumento7 páginasAmor de PerdiçãoRaquel Relvas100% (1)
- Tecnocracia e Política - Raymundo Faoro PDFDocumento15 páginasTecnocracia e Política - Raymundo Faoro PDFLeandro ÁlissonAinda não há avaliações
- DEF0113 Economia Política I (Bercovici) - Giovanna Maria Panzoldo Imperato 193-14 (2020)Documento97 páginasDEF0113 Economia Política I (Bercovici) - Giovanna Maria Panzoldo Imperato 193-14 (2020)Paloma NogueiraAinda não há avaliações
- A Hora Do MercadoDocumento9 páginasA Hora Do MercadoDiogo Oliveira SantosAinda não há avaliações
- Prova CapitalismoDocumento2 páginasProva CapitalismoEdson Luis OliveiraAinda não há avaliações
- Marxismo, Realismo e Direitos Humanos PDFDocumento10 páginasMarxismo, Realismo e Direitos Humanos PDFJobson Barros0% (1)
- TEODORO, Ronaldo. O Fantasma Da Classe Ausente. Tese de Doutoroado, UFMG.Documento170 páginasTEODORO, Ronaldo. O Fantasma Da Classe Ausente. Tese de Doutoroado, UFMG.Rodrigo Badaró De CarvalhoAinda não há avaliações
- Guerra Às Drogas e Governamentalidade NeoliberalDocumento47 páginasGuerra Às Drogas e Governamentalidade NeoliberalIris RibeiroAinda não há avaliações
- DIGA AO POVO QUE FICO - Antecedentes Da Independência Do Brasil - Marcelo França de OliveiraDocumento141 páginasDIGA AO POVO QUE FICO - Antecedentes Da Independência Do Brasil - Marcelo França de OliveiraSandro Henrique BernardoAinda não há avaliações
- A Critica Distributista A Reforma AgráriaDocumento22 páginasA Critica Distributista A Reforma AgráriaDavi GomesAinda não há avaliações
- A Ilustracao e o Despotismo EsclarecidoDocumento10 páginasA Ilustracao e o Despotismo EsclarecidoBrigitte IoscaAinda não há avaliações
- Documento Carta Aberta Dos Professores e Professoras Da Uva-1Documento2 páginasDocumento Carta Aberta Dos Professores e Professoras Da Uva-1TitoBLAinda não há avaliações
- Liberdades: O Desafio Do SéculoDocumento96 páginasLiberdades: O Desafio Do SéculoRepública do AmanhãAinda não há avaliações
- Maldonado Torres PDFDocumento23 páginasMaldonado Torres PDFMirianne AlmeidaAinda não há avaliações
- Resumo Global de Português 10 AnoDocumento6 páginasResumo Global de Português 10 AnoCatarina MeloAinda não há avaliações
- Revisão de História 8º AnoDocumento4 páginasRevisão de História 8º AnoJacinara CastroAinda não há avaliações
- Brasil Real Brasil Oficial RANGELDocumento22 páginasBrasil Real Brasil Oficial RANGELVagner RangelAinda não há avaliações
- Por Que Existe o PARP em Moçambique?Documento18 páginasPor Que Existe o PARP em Moçambique?Cremildoda SilvaAinda não há avaliações
- Conspiração Na História - Exemplos Do Antigo Testamento - Orlando FedeliDocumento21 páginasConspiração Na História - Exemplos Do Antigo Testamento - Orlando FedeliEmerson OliveiraAinda não há avaliações
- Slides-A Rebeldia Tornou-Se de DireitaDocumento21 páginasSlides-A Rebeldia Tornou-Se de DireitaANA CLAUDIA DE SOUSA DANTASAinda não há avaliações
- Cadernos de DocênciaDocumento172 páginasCadernos de DocênciaDaniel BarbosaAinda não há avaliações
- TExto 11 Renouvin e Duroselle PDFDocumento15 páginasTExto 11 Renouvin e Duroselle PDFRafael Vasconcelos VieiraAinda não há avaliações
- BIOPOLÍTICA E COLONIZAÇÃO - Um Ensaio em Face Da Política e Do Poder No Brasil Contemporâneo PDFDocumento18 páginasBIOPOLÍTICA E COLONIZAÇÃO - Um Ensaio em Face Da Política e Do Poder No Brasil Contemporâneo PDFMarcelo MesquitaAinda não há avaliações