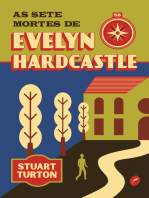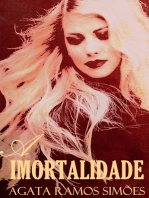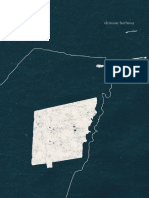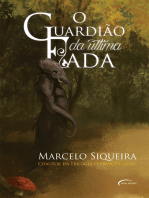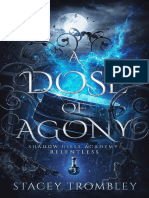Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Texto 1
Enviado por
Marília Mangueira0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações2 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
7 visualizações2 páginasTexto 1
Enviado por
Marília MangueiraDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato DOCX, PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 2
Ainda é cedo, não gosto de vagar a noite fora de casa.
Hoje o ar tem se movido de uma
maneira diferente pelas ruas, é um sussurro que me persegue como uma nota aguda
cantada aos pés do abismo. Minha gata deve estar faminta, caçando insetos no chão e
na varanda, imperdoável não saber cuidar de um animal. Mas talvez o leve descuido
seja necessário e abra espaço para o amor ou quem sabe minha face materna esteja
perdida e eu tenha desistido de a encontrar. Se minha mãe ouvisse meus
pensamentos, diria que estou louca, que eu deveria ter ficado ali, uma cidade tão
violenta e mal iluminada não faz bem para a cabeça. Se eu tivesse ficado teria herdado
a casa ensolarada e as belas louças florais, mas também a clausura costurada por anos
em palavras afogadas e lágrimas servis.
Dou boa noite ao porteiro, passo pelo corredor de concreto acinzentado e quadros
mortos, arquitetado para ser apenas uma área de passagem. Chego ao elevador, não
funciona. Subo os sete andares pela escada, desenho vertical traçado em espirais
como meu pensamento. Mas ao menos ela tem um ponto de destino. As luzes de
emergência se apagam antes de eu chegar ao próximo patamar. Vem um sobressalto.
Fico dissolvida na escuridão, sem contornos. As escadas sempre me assustaram.
Atravesso o hall, chego ao apartamento setenta e quatro. Demoro a encontrar as
chaves da bolsa, cheia de quinquilharias: celular, presilhas, identidade, um papel
dobrado com senhas, contas a pagar, uma faca para me proteger do medo cotidiano.
Destroços de uma vida frágil e adulta. Giro a chave e a porta se abre, mas logo é
fechada com violência pela ventania que passa pelas janelas abertas. Abro a porta pela
segunda vez.
A sala está na penumbra. Um feixe lunar faz um jogo de luz e sombras. Na velocidade
de um flash fotográfico, meu olhar se sobressalta ao focar o canto direito da sala. O
coração engole a respiração e um grito rouco sai por instinto. Quero correr para fora
da casa, mas meus pés estão paralisados. A porta da entrada é de novo fechada com
brutalidade pelo vento. Tento abrir, mas me enrosco num desespero ofegante.
Com a percepção turva e nublada pelo pavor, identifico em partes o animal à espreita.
Da massa escura que me confunde, vejo chifres de touro e olhos de onça em caça. Não
há pescoço ou patas, somente algo corpulento ocupando o espaço. Sou uma criança
acossada pelo pesadelo da noite, sem a cama da mãe para correr. Meus movimentos
são incompetentes. A voz, de tão apavorada, se emudece. À minha revelia, fico
petrificada prestes a encarar a fera. Por que não se move? Por que não me movo?
Um lampejo me faz lembrar da gata. Não veio me receber na porta, não a encontro.
Uma certeza fria corta o meu corpo e logo entendo que ela foi devorada pelo animal.
Sou invadida por uma corrente de ódio, pego a faca na bolsa e avanço de encontro a
fera. Num movimento desordenado, atinjo a barriga do animal, o bicho solta um
gemido e tenta arranhar meus braços. Ferido, me volta um olhar de súplica.
A expressão do animal é a de um cavalo de pernas quebradas. A selvagem inocência
que me olha não é do reino das palavras. Minha única resposta é um choro doloroso. A
casa é um território que não conheço. Estou perdida onde habito e nem os anos
vividos ali são capazes de me fazer pertencer àquele espaço. O invasor se tornou
presa; a presa, assassina de quem nasceu sem culpa.
Respiro como se acabasse de fugir de uma casa incendiada. Não tolero o silêncio e só
então lembro de acender a luz. Não há animal nenhum, apenas plantas, manchas de
vinho da noite anterior, livros abertos pelo vento. A gata sai debaixo da cama e passeia
por minhas pernas. Vou ao banheiro lavar o rosto. Lembro de uma frase que há muito
tempo escrevi: é na noite que os diabos do corpo ficam latentes. O espelho iluminado
me devolve o mesmo olhar da fera. A noite é uma ardilosa compositora de encontros.
Você também pode gostar
- A Voodoo's Harem - Madison ColeDocumento47 páginasA Voodoo's Harem - Madison Colechoko angelAinda não há avaliações
- A Última PortaDocumento7 páginasA Última PortaWanderson Dos Santos RibeiroAinda não há avaliações
- Pecado e Outras Coisas - Red RDocumento493 páginasPecado e Outras Coisas - Red RHelena Costa0% (1)
- As Sete Mortes de Evelyn Hardcastle - Stuart Turton - 2020Documento489 páginasAs Sete Mortes de Evelyn Hardcastle - Stuart Turton - 2020Temis Nogueira100% (1)
- Uma Familia Feliz - Raphael MontesDocumento9 páginasUma Familia Feliz - Raphael MontesCaíque Estevam Alpha Music60% (5)
- TODOS OS POEMAS SÃO LOUCOS - Antônio LaCarne PDFDocumento22 páginasTODOS OS POEMAS SÃO LOUCOS - Antônio LaCarne PDFAntonio LaCarneAinda não há avaliações
- 02 Meu Lembranças AleatóriasDocumento107 páginas02 Meu Lembranças AleatóriasEuMesmo MesmoAinda não há avaliações
- Even in Death - Lilith RomanDocumento107 páginasEven in Death - Lilith Roman3A-Ana Beatriz Miranda-N02100% (1)
- FGHDocumento189 páginasFGHLuis Henrique SilvaAinda não há avaliações
- Cartas A Tereza - Deisiane Barbosa - e BookDocumento54 páginasCartas A Tereza - Deisiane Barbosa - e BookezikielAinda não há avaliações
- Nós passaremos em branco: Luís Henrique PellandaNo EverandNós passaremos em branco: Luís Henrique PellandaAinda não há avaliações
- Ferreira, Vergílio - para Sempre (Livro)Documento266 páginasFerreira, Vergílio - para Sempre (Livro)ixanatavares6890100% (3)
- Textos Ele SemogDocumento6 páginasTextos Ele SemogRaquel Libras CarvalhoAinda não há avaliações
- SEU INFERNO PARTICULAR - Jéssica OliveiraDocumento194 páginasSEU INFERNO PARTICULAR - Jéssica Oliveirarosevanyadefreitas67% (3)
- Autofagia PDFDocumento48 páginasAutofagia PDFGuilhermeAlbuquerque100% (1)
- A Velha de Um Olho SóDocumento2 páginasA Velha de Um Olho SóMatheusAinda não há avaliações
- Prólogo IguaisDocumento30 páginasPrólogo Iguaishasnajuliana43Ainda não há avaliações
- Box Duologia InsasiaveisDocumento661 páginasBox Duologia InsasiaveisTiago Santoro100% (1)
- L PDFDocumento346 páginasL PDFLaura FerreiraAinda não há avaliações
- CavalosDocumento106 páginasCavalosEduardo AlmeidaAinda não há avaliações
- Poesia Brasileira ContemporâneaDocumento26 páginasPoesia Brasileira Contemporâneawilson.junior870Ainda não há avaliações
- Ambrose Bierce - Luar Sobre A EstradaDocumento11 páginasAmbrose Bierce - Luar Sobre A EstradaEdAinda não há avaliações
- Alix André - A Mulher de Duas Caras (Celle Qu'on L'atend Pás)Documento204 páginasAlix André - A Mulher de Duas Caras (Celle Qu'on L'atend Pás)api-3766352Ainda não há avaliações
- Fausto Wolff - O Acrobata Pede Desculpas e CaiDocumento34 páginasFausto Wolff - O Acrobata Pede Desculpas e CaiMaria SchererAinda não há avaliações
- Shadow Hills Academy Relentless 3 - A Dose of Agon - 231123 - 204407Documento412 páginasShadow Hills Academy Relentless 3 - A Dose of Agon - 231123 - 204407juliacalmeida333Ainda não há avaliações
- KA - 01 Matilha (Bitten)Documento243 páginasKA - 01 Matilha (Bitten)Lari111100% (1)
- Bloodmarked by Tracy Deon (002-101) .En - PTDocumento100 páginasBloodmarked by Tracy Deon (002-101) .En - PTMariana Fernandes100% (2)
- A Velha de Um Olho SóDocumento15 páginasA Velha de Um Olho SóDanyelle Cipolli Diniz100% (2)
- Jennifer Alves - Intensa PaixãoDocumento588 páginasJennifer Alves - Intensa PaixãoEgideAinda não há avaliações
- Meu CEO Protetor - Francis LeoneDocumento312 páginasMeu CEO Protetor - Francis LeonesilvialeticiarsvAinda não há avaliações
- Atividades de Revisão e CorreçãoDocumento2 páginasAtividades de Revisão e CorreçãoMaria Cristna de Oliveira Rodrigues BrandãoAinda não há avaliações
- Banco de Questões - Módulo 1 CarochinhaDocumento5 páginasBanco de Questões - Módulo 1 CarochinhaP Alves DilmaAinda não há avaliações
- ORDEM ALFABÉTICA - AlunoDocumento3 páginasORDEM ALFABÉTICA - AlunoThynha MarquiAinda não há avaliações
- Você Consegue Adivinhar Os Signos de Cada Uma Destas Celebridades?Documento42 páginasVocê Consegue Adivinhar Os Signos de Cada Uma Destas Celebridades?Maitê NunesAinda não há avaliações
- 7º AnoDocumento16 páginas7º AnoMaria OrtênciaAinda não há avaliações
- Bactérias Do Aquário MarinhoDocumento7 páginasBactérias Do Aquário MarinhoLuiz HenriqueAinda não há avaliações
- Pintalgando 6Documento1 páginaPintalgando 6Sónia FernandesAinda não há avaliações
- Perguntas Torta Na CaraDocumento2 páginasPerguntas Torta Na CaraCarlos RonaldoAinda não há avaliações
- Ficha MatemáticaDocumento3 páginasFicha Matemáticaronald gabrielAinda não há avaliações
- PortDocumento6 páginasPortAgostinho CostaAinda não há avaliações
- Interpretacao de Texto o Pequeno Valente 3 Ano e 4 AnoDocumento2 páginasInterpretacao de Texto o Pequeno Valente 3 Ano e 4 AnoBeatriz Cristine Gomes De L. SouzaAinda não há avaliações
- 5ºano - CN - Ficha de Consolidação - Alimentação e Reprodução Nos AnimaisDocumento6 páginas5ºano - CN - Ficha de Consolidação - Alimentação e Reprodução Nos AnimaisDuarte gomes GomesAinda não há avaliações
- Cifra - Ouro de ToloDocumento1 páginaCifra - Ouro de ToloGabriel FerreiraAinda não há avaliações
- Introdução À Leitura e À Escrita - Volume3Documento60 páginasIntrodução À Leitura e À Escrita - Volume3carlavsaAinda não há avaliações
- Bolsinho Da Leitura para Colorir 1 56p3elDocumento29 páginasBolsinho Da Leitura para Colorir 1 56p3elprofessorajanainacarneiroAinda não há avaliações
- Jogo - Prática Educativa Curricular IvDocumento5 páginasJogo - Prática Educativa Curricular IvDebora FernandaAinda não há avaliações
- Jefferson Gomes Da Silva - AquarioDocumento3 páginasJefferson Gomes Da Silva - AquarioJefferson GomesAinda não há avaliações
- Atividades de CienciasDocumento5 páginasAtividades de CienciasGéssica Rodrigues CorrêaAinda não há avaliações
- Especialidade de AranhasDocumento8 páginasEspecialidade de AranhasGuandian TalesAinda não há avaliações
- Ficha de Leitura Sílabas Simples PDFDocumento38 páginasFicha de Leitura Sílabas Simples PDFCandhidoParker67% (3)
- Atividades Bichodário - Língua PortuguesaDocumento11 páginasAtividades Bichodário - Língua PortuguesaAline OliveiraAinda não há avaliações
- Bestialismo (X)Documento2 páginasBestialismo (X)romery alves machadoAinda não há avaliações
- Aquicultura OrnamentalDocumento14 páginasAquicultura OrnamentalRenan BruniAinda não há avaliações
- Elefantes CuriosidadesDocumento3 páginasElefantes CuriosidadesIcaro FernandesAinda não há avaliações
- ALEXANDRE Guarnieri 2018-12-05 o Sal Do LeviatãDocumento107 páginasALEXANDRE Guarnieri 2018-12-05 o Sal Do LeviatãacacioramonkrytcanelaAinda não há avaliações
- Ativ - Mat1 Descritor 9Documento2 páginasAtiv - Mat1 Descritor 9Valderina FarrapoAinda não há avaliações
- Check List para Montagem Do AquarioDocumento1 páginaCheck List para Montagem Do AquarioJunior MpjAinda não há avaliações
- Tabela Loja - 01-07-2023Documento4 páginasTabela Loja - 01-07-2023Guilherme ZacheAinda não há avaliações
- Roteiro de LisboaDocumento2 páginasRoteiro de LisboaIvan NascimentoAinda não há avaliações
- Simulado 1Documento4 páginasSimulado 1Malu OliveiraAinda não há avaliações