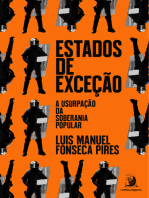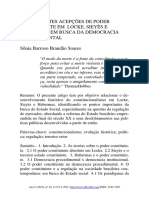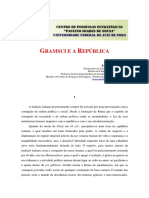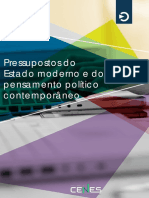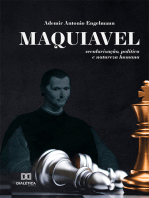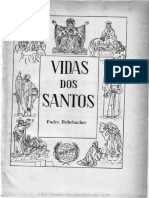Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
11097-Article Text-47723-1-10-20220323
Enviado por
Alessandro Almeida de SouzaDescrição original:
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
11097-Article Text-47723-1-10-20220323
Enviado por
Alessandro Almeida de SouzaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
166 Revista Filosófica de Coimbra
Morgado, Miguel. Soberania: dos seus usos e abusos na vida política (Lisboa:
Dom Quixote, 2021), 566 pp. ISBN: 9789722072236
Soberania: dos seus usos e abusos na vida política, de Miguel Morgado, con-
siste no segundo volume – o volume central – de uma trilogia que se iniciou com a
publicação de Autoridade (Lisboa: Edições FFMS, 2010) e que se completará com
uma análise do amor como fundamento da ordem social e política. Sendo o ponto
central desta estrutura triádica, desenvolve com grande erudição e profundidade o
conceito de soberania num registo simultaneamente histórico e polémico. Os dois
registos convivem e cruzam‑se livremente no desenvolvimento do texto. Num plano
histórico, o livro mostra‑nos a soberania na sua génese e no seu desenvolvimento
conceptual, demorando‑se nos debates e controvérsias centrais que estiveram sub-
jacentes ao seu percurso. A análise de um tema tão rico em detalhes é levada a cabo
num estilo que, revelando grande autoridade, concilia com mestria a fluidez do dis-
curso com rigor e profundidade conceptuais. Por outro lado, a análise nunca se fica
por uma dimensão historiográfica, mas é sempre canalizada para um plano polémico
que se anuncia quando Miguel Morgado afirma, no início, que «não se hesitará em
dar razão a quem a tiver, nem a declarar a vitória provisória se uma das partes estiver
a levar a melhor» porque o tema «é demasiado actual e historicamente importante
para discussões distantes» (p. 12).
O primeiro capítulo, o mais extenso da obra (pp. 51‑289), composto por 28
subcapítulos, intitula‑se simplesmente “Soberania” e é dedicado à circunscrição do
seu conceito. É impossível, neste espaço, dar conta de todos os detalhes e de toda
a riqueza da análise. Porém, tentando delinear um fio condutor, poder‑se‑ia dizer
que Miguel Morgado começa por enfrentar o grande desafio de considerar a raiz
teológico‑política da soberania como concepção de um poder absoluto. A base da
teologia política, em análises que se estendem por autores centrais do pensamento
político contemporâneo, como Carl Schmitt ou Giorgio Agamben, encontra‑se na
concepção de um poder caracterizado pela ausência de vínculos e limitações nor-
mativas. O poder soberano é, nesse sentido, uma reprodução no plano secular do
poder divino. Ora, começando por abordar essa relação, Miguel Morgado evoca a
controvérsia teológica em torno das possibilidades da omnipotência divina, designa-
damente a discussão sobre se Deus poderia alterar o que já acontecera e fazer com
que não tivesse acontecido (pp. 52 ss.). Partindo desta controvérsia, explora a distin-
ção entre potentia absoluta e potentia ordinata, central para a discussão da filiação
teológica do conceito de soberania, e lembra a distinção tomista entre o poder de
Deus pensado a partir da possibilidade divina de criar livremente de modo diferente
do que o fez – uma potentia absoluta – e o mesmo poder divino pensado a partir das
leis naturais e regras instituídas no plano das criaturas, uma potentia ordinata que se
expressa e revela precisamente na vigência destas leis. Tal distinção evoluirá para a
associação entre a ideia de potentia absoluta e, como muito acertadamente esclarece
Miguel Morgado, a concepção de um poder caracterizado pela subtracção a qualquer
determinação normativa, um poder marcado pela possibilidade de abertura de um
pp. 139-171 Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022)
Recensão 167
«estado de excepção»; um poder alicerçado, como dirá Carl Schmitt, no modelo
teológico da intervenção extraordinária e milagrosa.
A partir daqui, sob a referência do conflito entre o Papa Bonifácio VIII e o Rei
de França Filipe IV, o Belo, Miguel Morgado parte para a abordagem da reivindi-
cação papal das duas espadas, a espiritual e temporal, baseada em Egídio Romano.
Neste contexto, mostra como, um pouco mais tarde, o franciscanismo se alia ao
Império para contestar tal reivindicação. Sob a controvérsia da confrontação do Papa
João XXII com a concepção franciscana de pobreza, assente na recusa da proprie-
dade dos bens materiais e na distinção entre proprietas e dominium ou usus (cf. p.
277), Miguel Morgado mostra como o franciscanismo adere à ideia de infalibilidade
do Papa como um princípio não de consagração do poder papal como absoluto, mas
de limitação do poder soberano de um Papa diante da tradição papal que o tinha an-
tecedido. Invocando sobretudo Marsílio de Pádua e Guilherme de Ockham, Miguel
Morgado mostra como – ao contrário do que pretenderia a ideia habitual de que a
infalibilidade papal corresponde na teologia ao que a soberania significa na polí-
tica, anunciada na correspondência estabelecida por De Maistre entre soberania e
infalibilidade (p. 92) – as relações entre infalibilidade e soberania foram afinal mais
complexas: «Enquanto o Papa João XXII defendia a sua soberania, os franciscanos
atribuíam infalibilidade a todos os papas para limitá‑la» (p. 90).
No centro do presente livro está a ideia de que a soberania consiste num poder
peculiar, cujo carácter absoluto não pode ser sinónimo de ilimitação e arbitrariedade.
A interpretação que Miguel Morgado leva a cabo em torno dos grandes autores da
modernidade clássica que esboçam a teoria da soberania – Bodin, Hobbes, Grócio,
Pufendorf – é guiada pela ênfase dada a esta ideia central. Por isso, no que respeita a
Bodin, que no século XVI formula a concepção da soberania como poder absoluto,
perpétuo e indivisível, Miguel Morgado alude a um aspecto menos destacado no seu
pensamento. Quando em 1576 aparecem Les six livres de la République, a República
que se alicerça na soberania é ainda retratada com um conjunto de famílias, pelo
que a família e, por conseguinte, a ordem familiar é anterior à própria República.
Tal é fundamental para compreender que o poder soberano, sendo absoluto, está,
no entanto, vinculado a uma ordem, e não se pode confundir como uma potência
simplesmente arbitrária para a qual nenhuma ordem subjacente se constitui como
vínculo. Sendo «lógica e historicamente anterior ao Estado» (p. 107), a família é
uma ordem pré‑existente à República e à emergência do poder soberano, pelo que
uma República assente no poder soberano não seria uma forma política puramente
unitária, onde as diferenças desaparecem sob o carácter absoluto do poder, mas uma
estrutura governativa cuja estrutura se baseia na articulação e «federação da diver-
sidade»: «A soberania unifica sem reprimir a diversidade. Forja unidade sem impor
homogeneidade» (p. 175).
Além de Bodin, é Thomas Hobbes, naturalmente, o autor que aqui mais está
presente. Está‑o porque o eixo sobre o qual se constrói a «federação da diversidade»
que a soberania promove está na concepção hobbesiana da representação, de que o
capítulo XVI do Leviatã é o momento mais resplandecente. A representação permite
Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022) pp. 139-171
168 Revista Filosófica de Coimbra
elevar o soberano de corpo a pessoa representativa, deslocando a anterior incor-
poração da soberania para um actor que protagoniza uma ficção e «guarda sempre
uma distância vital entre si mesmo e a personagem» (p. 229), tornando possível, no
mesmo passo, a transformação da multidão em povo como unidade política. Cha-
mando a atenção para a recuperação contemporânea do conceito de multidão – um
conjunto de singularidade irredutíveis, para usar a formulação de Antonio Negri –
por «um propósito revolucionário e subversivo patrocinado pela extrema‑esquerda
actual» (p. 339), que se pretende filiar simultaneamente em Espinosa e Marx, Miguel
Morgado identifica a representação como peça central para compreender a política
moderna e, nela, o conceito de soberania.
É na articulação entre soberania e representação que se baseia a distinção mo-
derna entre público e privado, pelo que a soberania assenta na circunscrição de uma
esfera pessoal e privada em que se encerram as crenças e a religião, e sob a qual
se restringe a participação política dos cidadãos: «Duas formas de repressão que
não podiam ser interrompidas sem fazer regressar os males que o Estado moderno
pretendia resolver, ou pelo menos manter à distância, fora de muros. A repressão
da devoção religiosa com expressão pública e a repressão da actividade cívica má-
xima com a participação directa nos assuntos do Estado» (p. 231). É a partir desta
circunscrição que Miguel Morgado considera o movimento pelo qual a soberania
se desloca paulatinamente de um indivíduo soberano, assente na ficção da pessoa
representativa, para a ideia da soberania de uma comunidade e, a partir dela, de uma
terra, traçando uma delimitação territorial baseada na fronteira.
Miguel Morgado analisa o modo como Grócio – defendendo a doutrina do Mare
liberum contras as pretensões portuguesas de incluir o mar sob jurisdição soberana,
desenvolvidas por Serafim de Freitas – acaba por reforçar o vínculo da soberania à
terra firme e à possibilidade de traçar sobre ela uma fronteira: «A fronteira entre o
soberanamente determinado e o que escapa à determinação soberana é constitutiva
do significado e da essência da soberania» (p. 271). E tal articula‑se com a ideia de
que, no espaço próprio da vigência da soberania, possa emergir uma comunidade
que, alargando a sua familiaridade, se torna crescentemente homogénea e cultural-
mente unificada. Miguel Morgado encontra já em Grócio o prenúncio da transição
da soberania para esta comunidade, quando este propõe a distinção entre o sujeito
«comum» da soberania, radicado na civitas, e o seu sujeito «próprio», «as pessoas
que exerceriam o poder» (p. 416). Dá também conta do alarme que esta distinção
causou em Pufendorf, para quem, embora fazendo a soberania assentar num duplo
pacto, de associação e de sujeição, seria essencial recusar «o direito de resistência
colectivo ou de revolução» (pp. 248‑249). Pufendorf tinha por admissível, contraria-
mente ao estabelecido por Hobbes, a possibilidade de o soberano violar o pacto que
o instituía como tal e ser, portanto, injusto. No entanto, apesar de aludir a um pacto
de associação precedente do pacto de sujeição, possibilitando a ideia de o soberano
violar o pacto, Pufendorf mantém‑se hostil à ideia de um direito de resistência ao
soberano e é apelidado com justiça, na leitura de Miguel Morgado, o caso de um
«Hobbes alemão» (p. 241).
pp. 139-171 Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022)
Recensão 169
A análise estende‑se depois, no segundo capítulo, intitulado “Soberania do Povo
ou Soberania da Nação?” (pp. 291‑431), à passagem da concepção clássica da sobe-
rania para a sua concepção democrática, com a referência à «soberania do povo» e à
«soberania nacional». A concepção da soberania popular é, antes de mais, uma con-
cepção negativa. Não se trata tanto de afirmar a existência de um povo homogéneo
que incorpore a soberania quanto de recusar que esta possa ser incorporada simboli-
camente num monarca, ou numa pessoa que represente a ficção da soberania, preen-
chendo um lugar que, como dizia Claude Lefort, não poderia deixar de permanecer
vazio. A ideia rousseauniana de soberania popular, diz Miguel Morgado, não atribui
a soberania propriamente ao povo, mas à «vontade geral» (p. 289). Antecipada por
um escrito de William Ball de Barkham, de 1646 – um autor que, no seguimento da
Guerra Civil inglesa e da derrota do Rei Carlos I diante do Parlamento, distinguia o
poder «extensivo» dos parlamentares do poder «intensivo» do povo como sua causa
e origem (p. 312) –, a distinção estabelecida por Sieyès entre poder constituinte e
poder constituído permitia identificar o primeiro com uma comunidade soberana,
uma comunidade nacional cuja unidade seria incompatível com estamentos e pri-
vilégios. Pressuposto como comunidade nacional, o poder constituinte, diz Miguel
Morgado, «está totalmente situado fora da ordem jurídica» e, sendo a sua causa,
«uma vez constituída a ordem jurídico‑política, a soberania popular é exercida por
delegação ou representação já no interior dessa ordem» (p. 327). A consequência de
tal conceito não poderia deixar de ser inevitável: «Uma nova imagem do povo como
agente político era projectada nessa entidade chamada nação, que, por sua vez, se
distinguia por gozar de uma existência (imaginária?) duplamente pré‑política e po-
lítica» (p. 328).
A nação soberana constitui, como bem assinala Miguel Morgado, uma entidade
política. Tal significa que ela é um ponto intermédio de equilíbrio entre dois pro-
cessos de orientação contrária. Por um lado, sendo uma entidade política, a nação
não pode confundir‑se com um grupo natural, com uma família ou uma estirpe,
marcada por uma comunidade étnica. Se a soberania é sempre uma «federação de
diferenças», a nação soberana está longe de ser uma etnia e caracteriza‑se como uma
comunidade politicamente consciente, na qual a unidade se constrói não apenas pela
formação de «memórias comuns» mas também, e sobretudo, por inúmeros «esque-
cimentos»: «Em particular, exige o esquecimento da origem de cada um, a origem
violenta de cada agrupamento, a origem traumática de cada colectividade, a origem
étnica de cada membro da nação» (p. 362). Por outro lado, inscrevendo a universa-
lidade que representa num plano particular e concreto, a nação não pode ser pura-
mente neutra e caracteriza‑se por rejeitar uma forma política puramente universal,
na qual a convivência entre diferenças seria ilimitada. Esta última forma política, o
império, seria um «excesso de universalidade e heteronomia», aspirando à «unifica-
ção da humanidade» (p. 370). Em contraste com ela, Miguel Morgado identifica a
nação como uma «entidade intermédia» (p. 370) que não pode ser linguisticamente
neutra e na qual uma comunidade de língua, e a dimensão cultural por ela arrastada,
constitui um pilar cuja consolidação histórica é indispensável. A nação tem de «ser
Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022) pp. 139-171
170 Revista Filosófica de Coimbra
capaz de falar»: «Para ser um agente próprio, a nação tinha de pôr os seus membros
a conversar, debater, discutir e tinha de se fazer ouvir. Tinha de ser capaz de usar a
palavra numa língua partilhada» (p. 372).
O terceiro e último capítulo do livro – “A soberania partilhada” (pp. 433‑554)
– analisa o conceito de soberania no contexto contemporâneo não apenas da neces-
sidade do seu regramento e da sua partilha, mas da ideia muito divulgada de que
vivemos numa época de pós‑soberania. O problema do regramento da soberania
coloca‑se desde o início da sua concepção como poder absoluto. Trata‑se, afinal, de
um poder que, não encontrando diante de si nenhum rival que o limite, se assegura
a possibilidade do exercício da própria vontade pela força e, portanto, o direito de
fazer a guerra (jus ad bellum). Para Emer de Vattel, no século XVIII, era claro que
o Estado correspondia à nação soberana, incluindo na soberania o direito ao uso da
força; no entanto, tendo em conta o seu recíproco equilíbrio de poder, a guerra entre
Estados deveria ser regrada, «la guerre en forme», não podendo confundir‑se com
uma pura e simples relação de violência ilimitada. Apesar deste tipo de considera-
ções, é também no século XVIII que surge, mediante os projectos do Abade de Saint
Pierre, a proposta de constituição de uma ordem mundial assente no projecto de ade-
são de todos os soberanos à «paz perpétua». Miguel Morgado analisa com detalhe
o percurso sinuoso de tal projecto não apenas pelos sucessivos ensaios do seu autor,
mas também pelo seu eco nos pensamentos de Rousseau e de Kant, mostrando como
ele «nasceu por contraposição a um outro paradigma: o do equilíbrio de poderes» (p.
448) e se desenvolveu como proposta de converter todos os Estados em repúblicas,
sendo a «república» a condição para a federação dos Estados e, portanto, a única
«forma política da paz» (p. 465). Neste ponto, chama a atenção para a necessidade
de não confundir nos Estados «independência» e «autonomia», compreendendo que
uma pura e simples independência, assente na reivindicação do puro e simples direi-
to a fazer a guerra, se distinguiria de uma autonomia pensada a partir da soberania e
de um direito de não ingerência: «Era preciso desconfiar dos artifícios retóricos dos
políticos ou dos sofismas de ideologias precipitadas, que faziam deslizar a noção de
soberania para a de independência propícia ao estado de guerra, e à chamada anar-
quia internacional, em que dois gritos opostos reclamam independência ou morte!
e des‑soberanização ou selvajaria! Do ponto de vista do projecto originário, ambos
os gritos são reprováveis. O primeiro porque é absurdo e perpetuador do estado de
guerra. O segundo porque associa a autonomia a uma ofensa à Humanidade» (pp.
465‑466).
É a partir desta conciliação entre federação e soberania ou autonomia que o
presente livro considera também o projecto federalista, analisando o desenvolvi-
mento dos Estados Unidos da América, num processo conturbado que no século
XIX chegou à Guerra Civil, e comparando‑o com a União Europeia. Miguel Mor-
gado confronta‑se sobretudo aqui com a reivindicação de que o estabelecimento
de relações de paz e prosperidade entre Estados reclamaria a entrada numa era de
pós‑soberanismo, sendo este definido como a proposta de estabelecer «o reino da
igualdade e dos direitos humanos, sem a intromissão do poder, nem da decisão polí‑
pp. 139-171 Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022)
Recensão 171
tica» (p. 473). Diante desta proposta, vinca a tese central que perpassa todo o livro:
a defesa de que a soberania está longe de ser um conceito obsoleto e surge, ainda
e sempre, como uma categoria central para pensar as possibilidades políticas que a
nossa era oferece. Reduzir o conceito de soberania nacional a um conceito ultrapas-
sado, inclusive no contexto da União Europeia; abolir as fronteiras numa espécie de
cosmopolis formada ao som do Imagine de John Lennon (p. 484), seria desfazer o
vínculo cívico que só o Estado nacional possibilita e fazer reentrar «a reconstituição
de comunidades com fronteiras mais rígidas, mais exclusivistas e mais violentas se-
gundo as linhas da etnicidade, da confessionalidade, da língua ou de outra deste gé-
nero, o que vale por dizer subnacional e subpolítica» (p. 485). É, em última análise,
a uma defesa da soberania que este livro ambicioso se dirige, mostrando como o es-
clarecimento do seu conceito é a última linha de defesa contra a confusão que o toma
como uma forma de poder que tudo invade e procura controlar, tornando o mundo
absolutamente previsível e não dando espaço a qualquer autonomia e liberdade. É
justamente a invocação do pós‑soberanismo que traz consigo a tentação do controlo,
como bem mostra o começo do livro a partir da interpretação que faz da conferência
em que Mario Draghi, em Bolonha, propõe aos Estados da União Europeia deixarem
para trás a soberania e trocá‑la por «controlo» (pp. 22 ss). Também por esta tomada
de posição em defesa da soberania este livro está destinado a ser doravante uma obra
central na literatura filosófica e política sobre o tema.
Alexandre Franco de Sá
Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra
alexandre_sa@sapo.pt
ORCID: 0000‑0001‑6320‑9993
DOI: http://doi.org/10.14195/0872‑0851_61_13
Revista Filosófica de Coimbra — n.o 61 (2022) pp. 139-171
Você também pode gostar
- Democra AcaiDocumento50 páginasDemocra AcaiJoão CarlosAinda não há avaliações
- Estados de exceção: a usurpação da soberania popularNo EverandEstados de exceção: a usurpação da soberania popularAinda não há avaliações
- Soberania pré-estatal e as raízes medievaisDocumento15 páginasSoberania pré-estatal e as raízes medievaisRenata Andreoni CruxenAinda não há avaliações
- Jean Bodin - Estado e Governo PDFDocumento14 páginasJean Bodin - Estado e Governo PDFLuisFernandoM.BarbosaAinda não há avaliações
- Minorias flutuantes e novos aspectos da contra-hegemoniaDocumento7 páginasMinorias flutuantes e novos aspectos da contra-hegemoniaSimone BarretoAinda não há avaliações
- Marxismo e EstadoDocumento23 páginasMarxismo e EstadoJoao CesarAinda não há avaliações
- Resenha Crítica - Tudo Começou Com MaquiavelDocumento6 páginasResenha Crítica - Tudo Começou Com MaquiavelLuciano Nery Ferreira100% (1)
- As parcerias na Administração Pública: privatização e descentralizaçãoDocumento132 páginasAs parcerias na Administração Pública: privatização e descentralizaçãoAndréAinda não há avaliações
- A Hegemonia Como Consenso e ConflitoDocumento14 páginasA Hegemonia Como Consenso e ConflitoMarcus OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha - Soberania em Luigi Ferrajoli e Romeu Felipe Bacellar FilhoDocumento5 páginasResenha - Soberania em Luigi Ferrajoli e Romeu Felipe Bacellar Filholuis_renan1994Ainda não há avaliações
- PODER CONSTITUINTE EM LOCKE, SIEYÈS E HABERMASDocumento33 páginasPODER CONSTITUINTE EM LOCKE, SIEYÈS E HABERMAScarolinaAinda não há avaliações
- Democracia e Res-Publica2Documento14 páginasDemocracia e Res-Publica2Júlio BernardesAinda não há avaliações
- O conceito de multidão em Spinoza e as críticas de HobbesDocumento22 páginasO conceito de multidão em Spinoza e as críticas de HobbesCabral WallaceAinda não há avaliações
- Estado e Governo em BodinDocumento8 páginasEstado e Governo em Bodinvascosemedo725Ainda não há avaliações
- Direito e Estado No Pensamento de Emanuel Kant - P. 11-79Documento37 páginasDireito e Estado No Pensamento de Emanuel Kant - P. 11-79Victor AngeloAinda não há avaliações
- Artigo Teoria Geral Do Est e Direito AdminDocumento53 páginasArtigo Teoria Geral Do Est e Direito AdminLícia ReisAinda não há avaliações
- O conceito de soberania na filosofia modernaNo EverandO conceito de soberania na filosofia modernaAinda não há avaliações
- Estado, Governo e Sociedade - para Uma Teoria Geral Da Política PDFDocumento31 páginasEstado, Governo e Sociedade - para Uma Teoria Geral Da Política PDFJack FrostAinda não há avaliações
- As bases do liberalismo de LockeDocumento19 páginasAs bases do liberalismo de LockeJúlia TaemintAinda não há avaliações
- Soberania e PC - Constitucionalismo e DemocraciaDocumento16 páginasSoberania e PC - Constitucionalismo e DemocraciaJoão Guilherme Walski de AlmeidaAinda não há avaliações
- Maquiavel e a RepúblicaDocumento11 páginasMaquiavel e a RepúblicaArthur MonzelliAinda não há avaliações
- Separacao Dos PoderesDocumento10 páginasSeparacao Dos PoderesrodolfoarrudaAinda não há avaliações
- 22-09-2022 21h38Documento7 páginas22-09-2022 21h38Camila de Castro FaustinoAinda não há avaliações
- Livro 3Documento15 páginasLivro 3Larissa AntunesAinda não há avaliações
- VerbetesDocumento11 páginasVerbeteskaroline gorgetAinda não há avaliações
- A constituição como simulacro - Luiz Moreira (resenha)Documento4 páginasA constituição como simulacro - Luiz Moreira (resenha)Bernardo CorrêaAinda não há avaliações
- vivianehis resenhaDocumento5 páginasvivianehis resenhasaskuchira79Ainda não há avaliações
- DUFJF - Gramsci e A RepúblicaDocumento12 páginasDUFJF - Gramsci e A RepúblicaClaudomiro JrAinda não há avaliações
- Vivianehis,+2 Entre+a+Teoria+e+a+PráticaDocumento19 páginasVivianehis,+2 Entre+a+Teoria+e+a+PráticaLeonardo CechinAinda não há avaliações
- Constitucionalismo político e a ameaça do "mercado total"No EverandConstitucionalismo político e a ameaça do "mercado total"Ainda não há avaliações
- 1.ebook Disciplina 2Documento72 páginas1.ebook Disciplina 2Jannaina BarrosAinda não há avaliações
- Dignidade da Pessoa Humana: Constituição e CidadaniaNo EverandDignidade da Pessoa Humana: Constituição e CidadaniaAinda não há avaliações
- Quem decide: soberania e o EstadoDocumento10 páginasQuem decide: soberania e o EstadoDionísio BacoAinda não há avaliações
- Resenha: Contrastes e Semelhanças Entre "O Príncipe e "Discursos Sobre A Primeira Década de Tito Lívio" de MaquiavelDocumento6 páginasResenha: Contrastes e Semelhanças Entre "O Príncipe e "Discursos Sobre A Primeira Década de Tito Lívio" de MaquiavellcatarinoliborioAinda não há avaliações
- 1.pressupostos Estado Moderno Pensamento Politico ContemporaneoDocumento12 páginas1.pressupostos Estado Moderno Pensamento Politico ContemporaneoJannaina BarrosAinda não há avaliações
- SoberaniaDocumento14 páginasSoberaniaStélio MucavelAinda não há avaliações
- Democracia e Jurisdição Constitucional: a Constituição enquanto fundamento democrático e os limites da Jurisdição Constitucional como mecanismo legitimador de sua atuaçãoNo EverandDemocracia e Jurisdição Constitucional: a Constituição enquanto fundamento democrático e os limites da Jurisdição Constitucional como mecanismo legitimador de sua atuaçãoAinda não há avaliações
- Raul Pont - A Democracia Representativa e A Democracia Participativa - DemocraciaDocumento6 páginasRaul Pont - A Democracia Representativa e A Democracia Participativa - DemocraciaJoseph ShafanAinda não há avaliações
- Michel Foucault Filosofia e BiopolíticaDocumento5 páginasMichel Foucault Filosofia e BiopolíticaDaniel Dias MichellonAinda não há avaliações
- Joseph Schumpeter em Capitalismo, Socialismo e DemocraciaDocumento10 páginasJoseph Schumpeter em Capitalismo, Socialismo e DemocraciaLuiz LimaAinda não há avaliações
- O Estado de Bem Estar Social Enquanto Desdobramento Do Estado NaçãoDocumento17 páginasO Estado de Bem Estar Social Enquanto Desdobramento Do Estado NaçãoLuiz FreitasAinda não há avaliações
- Do governo dos vivos: uma genealogia da obediênciaDocumento13 páginasDo governo dos vivos: uma genealogia da obediênciaElbrujo TavaresAinda não há avaliações
- 1427-Texto Do Artigo-25034-1-10-20181220Documento14 páginas1427-Texto Do Artigo-25034-1-10-20181220admlabraAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 2 - FioravantiDocumento12 páginasEstudo Dirigido 2 - FioravantiMariana MagalhãesAinda não há avaliações
- Ensaio sobre Locke e propriedadeDocumento5 páginasEnsaio sobre Locke e propriedadeESTERFANY EDUARDA SILVA DE ARAÚJOAinda não há avaliações
- Maquiavel: secularização, política e natureza humanaNo EverandMaquiavel: secularização, política e natureza humanaAinda não há avaliações
- Ava 2 Ciência Política e Teoria Do EstadoDocumento22 páginasAva 2 Ciência Política e Teoria Do EstadoElivaldo RamosAinda não há avaliações
- O Poder Constituinte e o Paradoxo Da Sob PDFDocumento26 páginasO Poder Constituinte e o Paradoxo Da Sob PDFPryscilla BeustAinda não há avaliações
- Ideias de Dumont sobre o individualismo modernoDocumento4 páginasIdeias de Dumont sobre o individualismo modernoGabriela FeldensAinda não há avaliações
- O fim dos Estados-nação e o nascimento de um novo império globalDocumento4 páginasO fim dos Estados-nação e o nascimento de um novo império globalNathy MarchioriAinda não há avaliações
- Artigo Discorsi PDFDocumento12 páginasArtigo Discorsi PDFErick NoinAinda não há avaliações
- HILLANI, Allan M. Estado de Exceção e Capitalismo: Ação Política Transformadora e Repressão EstatalDocumento21 páginasHILLANI, Allan M. Estado de Exceção e Capitalismo: Ação Política Transformadora e Repressão EstatalAllan M. HillaniAinda não há avaliações
- António Manuel Hespanha. Maurizio Viroli, RepublicanesimoDocumento5 páginasAntónio Manuel Hespanha. Maurizio Viroli, Republicanesimospain1492Ainda não há avaliações
- AV2 - Filosofia - Resenha CríticaDocumento7 páginasAV2 - Filosofia - Resenha CríticaGhiAinda não há avaliações
- Estado e Sociedade em BobbioDocumento7 páginasEstado e Sociedade em BobbioKarina RamosAinda não há avaliações
- Maquiavel e o Contratualismo de Hobbes e LockeDocumento5 páginasMaquiavel e o Contratualismo de Hobbes e LockePablo BarbosaAinda não há avaliações
- Trabalho de ConstitucionalDocumento2 páginasTrabalho de ConstitucionalBruna machadoAinda não há avaliações
- Atividades 3° Ano Alinhadas A BNCC 2020Documento25 páginasAtividades 3° Ano Alinhadas A BNCC 2020Thynha MarquiAinda não há avaliações
- Substantivos coletivosDocumento2 páginasSubstantivos coletivosShayene SantosAinda não há avaliações
- A história de Nossa Senhora AparecidaDocumento24 páginasA história de Nossa Senhora AparecidaZee RochaAinda não há avaliações
- Os segredos da Maçonaria e os TempláriosDocumento7 páginasOs segredos da Maçonaria e os TempláriosIhsv DiegoAinda não há avaliações
- Pronomes: conceitos e classificaçãoDocumento17 páginasPronomes: conceitos e classificaçãoAnonymous YMfVBkIMAinda não há avaliações
- História do Direito Idade MédiaDocumento15 páginasHistória do Direito Idade MédiaRaique LucasAinda não há avaliações
- Passarola - Memorial Do ConventoDocumento5 páginasPassarola - Memorial Do ConventoMaria BorgesAinda não há avaliações
- Sim ou Não no TarotDocumento4 páginasSim ou Não no TarotDaipendragonAinda não há avaliações
- Alguns Pré e ReformadoresDocumento7 páginasAlguns Pré e ReformadoresFábio RosaAinda não há avaliações
- Edição 221 Do Jornal Tribuna Do Norte de SalinasDocumento8 páginasEdição 221 Do Jornal Tribuna Do Norte de SalinasEric Renan RamalhoAinda não há avaliações
- Igreja Caldeia, antiga tradição cristã do IraqueDocumento14 páginasIgreja Caldeia, antiga tradição cristã do IraqueWilson da SilvaAinda não há avaliações
- Origem Do Cerco de JericóDocumento2 páginasOrigem Do Cerco de JericóalexplaAinda não há avaliações
- Escola Da Fé - Revisão - Esquema Da AulaDocumento5 páginasEscola Da Fé - Revisão - Esquema Da AulaLeonardo MendonçaAinda não há avaliações
- Duas Questoes A Proposito Da Lhistoria Do Direito Portuguesr de Ruy de Albuquerque e Martim de AlbuquerqueDocumento16 páginasDuas Questoes A Proposito Da Lhistoria Do Direito Portuguesr de Ruy de Albuquerque e Martim de Albuquerquegabriela selliAinda não há avaliações
- ANGNES, J.S. Técnicas de Redação OficialDocumento49 páginasANGNES, J.S. Técnicas de Redação Oficialrogerio de souzaAinda não há avaliações
- Teoria Da Conspiração - O Céu O Inferno e TeodoraDocumento28 páginasTeoria Da Conspiração - O Céu O Inferno e TeodoraDelDebbioAinda não há avaliações
- TRATADO Supremo Conclave Tratado de Aliança, Rito Brasileiro e AdonhiramitaDocumento3 páginasTRATADO Supremo Conclave Tratado de Aliança, Rito Brasileiro e AdonhiramitaeulersalvaterraAinda não há avaliações
- MMA Completo Vol 14Documento523 páginasMMA Completo Vol 14CCH - Coordenação HISTÓRIA - (EAD) UNIRIOAinda não há avaliações
- Alve It AriaDocumento455 páginasAlve It AriaFélix LongoAinda não há avaliações
- A vida consagrada na Igreja e sua missãoDocumento60 páginasA vida consagrada na Igreja e sua missãojoelmamfAinda não há avaliações
- Conferência Católica Discute Sobre o Aumento Das Testemunhas de JeováDocumento2 páginasConferência Católica Discute Sobre o Aumento Das Testemunhas de Jeovácaio2580Ainda não há avaliações
- Vidas Dos Santos - 2 PDFDocumento431 páginasVidas Dos Santos - 2 PDFAdriel RizzoAinda não há avaliações
- Historia Da Idade ModernaDocumento50 páginasHistoria Da Idade ModernaJoão Dordio100% (2)
- Três Forquilhas - RSDocumento26 páginasTrês Forquilhas - RSeliomullerAinda não há avaliações
- O Estado Corporativo segundo Tasso da SilveiraDocumento293 páginasO Estado Corporativo segundo Tasso da SilveiraTAinda não há avaliações
- 1ºEM - Auto Da Barca Do Inferno - ADAPTADODocumento25 páginas1ºEM - Auto Da Barca Do Inferno - ADAPTADOLeonardo VivaldoAinda não há avaliações
- Educação literária e personagens de Gil VicenteDocumento49 páginasEducação literária e personagens de Gil VicenteCatia Pinto0% (1)
- Teologia e novos paradigmas na libertaçãoDocumento12 páginasTeologia e novos paradigmas na libertaçãoOscar Cabrera100% (1)
- Grande Cisma Do OcidenteDocumento3 páginasGrande Cisma Do Ocidentetristtessa0% (1)
- Ética de MaquiavelDocumento7 páginasÉtica de MaquiavelramiromarquesAinda não há avaliações