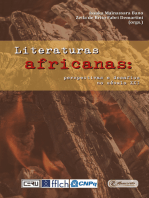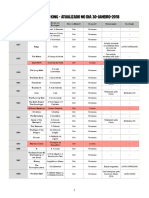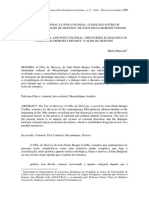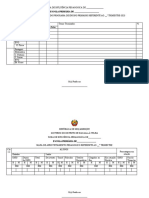Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Dialnet Choriro 6756144
Enviado por
João Valito AntónioTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Dialnet Choriro 6756144
Enviado por
João Valito AntónioDireitos autorais:
Formatos disponíveis
http://dx.doi.org/10.
22409/abriluff2018n21a522
CHORIRO: A UTOPIA QUE SE FEZ VERBO
CHORIRO: THE UTOPIA BECAME VERB
Adilson Fernando Franzin1
RESUMO
Ungulani Ba ka Khosa é considerado um dos escritores mais importantes
da literatura moçambicana, sobretudo, por colmatar ficcionalmente não
apenas as lacunas deixadas pela historiografia que se debruça sobre o pe-
ríodo colonial de seu país, mas também por questionar de modo frontal
as complexas decisões políticas tomadas pelo governo de Moçambique no
momento pós-independência. Com o olhar voltado para o século XIX, o
presente estudo tenta compreender como o autor entrelaça ficção a ele-
mentos históricos para lançar luz sobre o passado e legitimar vozes que são
frequentemente excluídas dos discursos oficiais.
PALAVRAS-CHAVES: Ungulani Ba Ka Khosa; Ficção; História
ABSTRACT
Ungulani Ba ka Khosa is considered one of the most important writers of
Mozambican literature, mainly for filling fictionally not only the gaps left
by the historiography that focuses on the colonial period of his country, but
also to question in a frontal way the complex political decisions taken by
the Mozambican government at the time of independence. Looking back
to the nineteenth century, the present study tries to understand how the
author intertwines fiction with historical elements to shed light on the past
and to legitimize voices that are often excluded from official discourses.
KEYWORDS: Ungulani Ba Ka Khosa; Fiction; History
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 69
Desde 1987, com a publicação de Ualalapi, livro que integra a
lista dos cem melhores autores africanos do século XX, Ungulani Ba Ka
Khosa tem mantido sua letra em riste, sagrando-se como um dos escritores
mais importantes de Moçambique. Sua importância no panorama da lite-
ratura moçambicana deve-se, sobretudo, pelo fato de questionar de manei-
ra frontal as decisões políticas postas em prática a partir da independência,
em 1975, como igualmente colmatar e perquirir as possíveis lacunas dei-
xadas pela historiografia sobre seu país. Dessa forma, tendo como pressu-
posto um olhar endógeno, o escritor moçambicano reescreve criticamente
o ethos de suas gentes através do texto literário, propondo, pois, novas pers-
pectivas para iluminar o passado e compreender o presente.
O romance intitulado Choriro teve sua primeira edição em 2009,
com a chancela da editora Alcance, de Maputo. Posteriormente, em 2015,
uma edição portuguesa, profundamente revista pelo autor, foi lançada pela
Sextante, na cidade do Porto. Diante dessas páginas, é de se salientar que
novamente a preocupação literária de Ungulani Ba Ka Khosa se envereda
pelo século XIX na tentativa de entender os primórdios de Moçambique,
como ele já bem o fizera em Ualalapi, ao trazer à tona as tramas da sucessão
do Império de Gaza. Assim, munido de saberes historiográficos e etnográ-
ficos notáveis, o escritor moçambicano humaniza inúmeros personagens
históricos entre outros que retira de seu imaginário, lidando intensamente
com os porosos limites ficcionais e históricos.
Ademais, não seria inconveniente lembrar que “um dos maiores
depositários das vivências privadas ou coletivas, das tensões, contradições,
aspirações, frustrações e das tendências mais profundas de uma sociedade
é o imaginário (NOA, 2015, p. 356)”, sendo a literatura sua expressão mais
dinâmica. No entanto, a tônica que permeia a narrativa de Choriro, a qual
simultaneamente esclarece e confunde o leitor sobre a oficialidade do dis-
curso ali expresso, é sem dúvida o questionamento da práxis histórica:
Uma, entre outras questões que se colocam ao ler-se o último
romance de Ungulani Ba Ka Khosa, Choriro, é a do conhe-
cimento. Trata-se de um apelo a uma discussão epistemoló-
gica sobre os desafios que se colocam, num primeiro plano,
à ciência histórica, essa narração metódica de passados, na
produção do conhecimento a partir de um olhar local, de
dentro (MANJATE, 2011, p. 1).
Como preâmbulo de nosso estudo, podemos adiantar que a pro-
posta dialógica entre literatura e história é estabelecida logo no paratexto
de Choriro, figurando na “nota do autor” que abre o romance, a qual pode-
rá funcionar como uma importante chave de leitura:
Este retrato de um espaço identitário, de uma utopia que se
fez verbo, assentou na rica e impressionante história do vale
do Zambeze no chamado período mercantil. A intenção do
livro foi a de resgatar a alma de um tempo, a voz que não se
grudou aos discursos dos saberes. O fundamento histórico
70 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
valeu-me como porta de entrada ao mundo de sonhos e an-
gústias por que o vale do Zambeze passou durante mais de
quatro séculos (KHOSA, 2015, p. 7).
O contexto no qual a narrativa de Choriro se desenrola é o perío-
do chamado de colonialismo mercantil, cujos prazos da Coroa2 constituem
uma das características mais marcantes da história de Moçambique. Tal
processo foi paulatinamente engendrado numa complexa relação colonial
entre a Coroa Portuguesa e os habitantes do ainda disforme território mo-
çambicano, o que se passa no século XVI até a década de trinta do século
XX (NEWITT, 1997, p. 203). Contudo, o romance de Ungulani Ba Ka Kho-
sa é projetado temporalmente na metade do século XIX, entre as décadas
de 1940 e 1980, e, geograficamente, no território Chicunda que se localiza a
oeste de Moçambique entre a parte ocidental do Zambeze e o rio Luangwa,
situado um pouco mais ao norte.
Porém, o texto também faz alusão ao constante trânsito comercial
e aos conflitos da região zambezeana que se estende do Tete ao Sena, sem-
pre às margens do rio Zambeze, cuja importância no enredo do romance
está para além de algo meramente paisagístico ou espacial. Dessa forma, o
rio e suas volumosas águas podem ser lidos como prosopopeia e compre-
endidos como personagem imprescindível para a articulação da narrativa,
além de reforçar o cariz animista de tradições seculares africanas, nas quais
entes da natureza agem deliberadamente, possuindo cada qual a sua “alma”
própria, “pois onde canta a água do rio, é sinal de alegria e fartura, porque
o peixe abunda (KHOSA, 2015, p. 157)”.
Com efeito, os prazos foram formados principalmente por colo-
nos não obrigatoriamente de origem lusa, por afro-portugueses e indianos
submetidos aos mandos de Portugal para impor sua soberania e fazer jus
ainda a uma ideia de império ultramarino. Ora, os prazeiros, como eram
chamados, estabeleciam laços matrimoniais com filhas de chefes locais e,
sob a égide do estatuto de branco ou de não indígena, gozavam de muitos
privilégios comerciais, bélicos e tributários. No entanto, como se verificou
em muitos casos, não honravam os compromissos firmados com a me-
trópole lisboeta que lhes cedera terras mediante a assinatura de contratos
de arrendamento. Dessa forma, perante as regras imperiais, o período de
posse de tais territórios correspondia a três gerações, somente transmitidos
por via matrilinear, o que conferiu muito poder a alguns colonos, igual-
mente a um número restrito de mulheres que ficaram conhecidas como as
“donas do Zambeze”.
Todavia o mau gerenciamento colonial português na África, de-
vido principalmente à escassez de efetivos militares, fez com que o pode-
rio individual dos colonos alçados à categoria de senhores de prazos fosse
aumentando, ao passo que o conhecimento destes em relação ao modus
vivendi de várias etnias instaladas ao longo do vale do Zambeze também
ganhasse em espessura. Consequentemente, não tardou para que eles se
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 71
constituíssem em estados secundários marcadamente tirânicos, desvenci-
lhando-se da Coroa Portuguesa. Na teoria, acatavam as ordens metropoli-
tanas, mas, na prática, não as cumpriam, munidos por numerosos exércitos
particulares de achicundas3, os quais buscavam proteção ante um sistema
ávido em abarrotar os porões dos navios negreiros, pois “tornara-se hábito
dos senhores de prazos deixarem o marfim por acharem que os escravos
eram mais lucrativos nas trocas comerciais (KHOSA, 2015, p. 67)”. Con-
vertido voluntariamente em mambo, isto é, em rei, chamado de Nhabezi
em língua nativa africana, certamente se enquadra no perfil descrito de
prazeiro, que em momento posterior teve seu próprio reino, súditos leais,
além de se beneficiar dos laços poligâmicos de suas seis esposas.
Tanto como matéria pertinente para conjecturar uma possível
gênese romanesca de Choriro como para esboçar sua síntese, podemos ob-
servar através do fragmento abaixo a importância do lastro histórico neste
recorte de época colonial a respeito de Moçambique, que de certa forma
tem sua relevância e está ficcionalmente representado na narrativa:
Era com frequência que os chicunda se revoltavam, sendo
que alguns optando por gerir o prazo de acordo com os seus
próprios interesses, cobrando eles mesmos o tributo dos co-
lonos e estabelecendo uma espécie de república independen-
te. Sempre que um senhor do prazo morria, o acontecimento
era aproveitado enquanto pretexto para a organização de pi-
lhagens, levando assim a população a “chorar” o falecido –
prática esta que era observada nas chefias vizinhas. À medida
que os filhos sucediam aos pais e aos avôs dentro da comu-
nidade chicunda, a sua identidade étnica ganhava contornos
específicos, possuindo eles as suas aldeias, bem como as suas
organizações sociais e políticas – ou seja, acabavam por cons-
tituir uma casta a parte dentro da população que ocupava as
terras baixas do Zambeze (NEWITT, 1997, p. 218).
Com base nessa mesma ideia de celebração fúnebre e suspenção
da ordem estabelecida, Ungulani Ba Ka Khosa – aliás, como tem praticado
através de um exercício altruísta e metalinguístico ao longo de sua obra,
para além de glossários contendo léxicos específicos de etnias moçambica-
nas – explica-nos com algum pormenor o título do romance:
Os achicundas, mais serenos, limpavam as lanças e as gogo-
delas. As danças guerreiras em honra do finado iriam pre-
encher os três dias de luto, termo aqui empregue e assumido
numa asserção fúnebre de amplitude alargada, pois para eles
a morte do suserano era sentida em choros e anarquia que
podiam levar a assassinatos sem julgamento porque nos três
dias de ausência de poder tudo era permitido, daí o termo
choriro, que em tradução franca se pode dizer choro pela
ausência de ordem (KHOSA, 2015, p. 27).
É de se notar que ao encaminhar a diegese para o desfecho, o es-
critor moçambicano ilustra com maior rigor as consequências da morte de
Nhabezi, nome que Gregódio adotara por representar entre os achicundas
72 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
a figura de um grande curandeiro branco. Além disso, pelo excerto a se-
guir, fica evidente a crítica contumaz direcionada à história submetida pela
literacia que privilegia os nobres e valentes, invariavelmente os detentores
do poder, sempre a figurar como os diletos protagonistas dos discursos
históricos oficiais, em detrimento do silenciamento e obliteração de outras
vidas com suas estilhaçadas narrativas:
Muito terá acontecido nas vésperas. Sabe-se que houve mais
nascimentos que mortes na semana de luto. As crianças na-
das em tal período, e em respeito ao finado, foram sendo
nomeadas Nhabezi ou Gregódio. Entre os mais de três mil
achicundas que constituíam o exército de Nhabezi, repor-
taram-se casos de luta que culminaram com trinta óbitos
em todo o território; número insignificante para causar
choros colaterais, mas suficiente para recordar, em tempos
vindouros, o choriro em memória do Nhabezi. Na frontei-
ra mais a sul, duas aldeias foram arrasadas por caçadores
de escravos. Foram saqueadas presas de elefante em trân-
sito. Homens e mulheres tornaram-se prisioneiros. Trinta
a quarenta camponeses foram dizimados pelo chumbo dos
caçadores. Distantes, e bastante absorvidos com a bebida e
o luto, os achicundas responsáveis pela segurança não ri-
postaram. À pessoa de Makula Ganunga, o muanamambo,
fizeram chegar, em ordem de balanço, a informação de que
na autoria do álcool e do luto, duas aldeias viram as casas
comidas pelo fogo. O recenseamento populacional invoca-
ria o feitiço e doenças como causadoras do fogo e da morte.
Mas todos os acontecimentos marginais à dor real ficaram
ligados à memória dos acontecimentos reais. No calendário
local, o tempo passou a ser dividido entre antes e depois da
morte de Nhabezi.
Dos acontecimentos das vésperas, o que em letra ficou fo-
ram os registos de Chicuacha, o andarilho. Do mundo vi-
vido, da memória popular, sobraram ecos, pequenos cacos
(KHOSA, 2015, p. 133).
As reflexões de Jacques Rancière, a respeito da história enquanto
ciência, presentes em Todos os nomes da história, serve-nos como substrato
teórico, uma vez que Ungulani Ba Ka Khosa manipula e presume em lin-
guagem romanesca o que o filósofo francês parece construir como poética
do saber, lançando, pois, luz sobre nosso debate:
Uma história, em sentido comum, é uma série de aconteci-
mentos que se passam com sujeitos geralmente designados
por nomes próprios. Ora, a revolução da ciência histórica
quis justamente revogar o primado dos acontecimentos e
dos nomes próprios em benefício dos longos períodos e da
vida dos anônimos. Foi assim que ela reivindicou ao mesmo
tempo seu pertencimento à era da ciência e à era da demo-
cracia. Num segundo nível, uma história é também a nar-
rativa dessas séries de acontecimentos atribuídas a nomes
próprios. E a narrativa se caracteriza comumente por sua
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 73
incerteza quanto à verdade dos acontecimentos relatados e à
realidade dos sujeitos aos quais eles são atribuídos (RANCI-
ÉRE, 2014, p. 1-2).
E o filósofo, ao dar continuidade a seu pensamento, atinge o cer-
ne das questões que envolvem literatura e história que aqui nos são caras:
As coisas seriam muito simples se pudéssemos dizer que toda
história, como diz a expressão consagrada, é apenas uma his-
tória. É próprio de uma história sempre poder ou não poder
ser uma história. As coisas também seriam muito simples se
a certeza dos acontecimentos acompanhasse a dos sujeitos.
Mas é sempre possível atribuir acontecimentos verídicos a
sujeitos de ficção ou de substituição e acontecimentos incer-
tos ou fictícios a sujeitos reais. A história divertida e o ro-
mance histórico vivem das voltas e reviravoltas permitidas
por essa indeterminação (RANCIÈRE, 2014, p. 2).
Ora, por mais que a episteme histórica tenha evoluído através dos
séculos, sobretudo com a École des Annales, para os objetivos deste trabalho
que almeja compreender Choriro e suas relações com a história, estamos
essencialmente ainda na esteira da antiquíssima diferenciação aristotélica
feita entre o historiador e o poeta, isto é, em torno das elucubrações do fi-
lósofo grego em relação ao que aconteceu e ao que poderia ter acontecido,
bem como seu respectivo compromisso com a “verdade” historiadora e a
dimensão filosófica da literatura (ARISTÓTELES, 1993).
No caminho para melhor visualizar os procedimentos de feitura
do romance, podemos observar que na sequência da “nota do autor” citada
anteriormente, Ungulani Ba Ka Khosa explicita as referências históricas
que foram úteis para a composição de Choriro. Assim, cientes dessas fontes,
posteriormente poderemos tecer algumas importantes considerações:
Aos que me abriram as portas, a referência maior fica para
Allen e Barbara Isaacman, casal iluminado na reconstrução
do edifício social, económico, político e cultural do vale do
Zambeze desde a primeira escopetada de um desconhecido
português em finais do século XVI. Outras portas e janelas
foram franqueadas no inesgotável manancial que o Arquivo
Histórico oferece aos que buscam tochas para o seu passado
(KHOSA, 2015, p. 7).
Provavelmente, ao deixar registrado os nomes de Allen e Barbara
Isaacman, Ungulani Ba Ka Khosa esteja nos remetendo à obra intitulada
A tradição de resistência em Moçambique: O Vale do Zambeze, 1850-1921,
publicado em 1979, cujo conteúdo é indubitavelmente uma fonte de infor-
mações muito importantes para a compreensão da época na qual Nhabezi,
e o choriro desencadeado por seu falecimento, são historicamente situa-
dos, sendo o segundo capítulo, “O crescimento dos estados secundários e
a conquista do vale do Zambeze”, o mais relevante e o que mais pode ser
percebido subjazendo ao texto ficcional como um verdadeiro palimpsesto.
74 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
Vale a pena lembrar algumas estratégias literárias que fizeram de
Ungulani Ba Ka Khosa , ao longo de mais de três décadas de carreira, uma
espécie de porta-voz dos preteridos e silenciados da história. Por exemplo,
em Ualalapi, embora a narrativa tenha se centrado na figura ambígua do
último imperador de Gaza, Ngungunhane, o escritor moçambicano op-
tou por rotular a obra com o nome do personagem responsável por matar
Mafemane, o qual teria prioridade em herdar o ambicionado trono. Logo,
Ualalapi, que com tal ato modificara decisivamente o curso da história mo-
çambicana, valendo-lhe desse homicídio a sua loucura – uma vez que en-
sandece após cometer tal crime – não fosse a letra diligente de Ungulani,
talvez tivesse seu nome esfumado nas brumas do tempo.
Outrossim, é o caso verificado em No reino dos abutres, romance
de 2002, no qual o índice se apresenta anunciando os vários movimentos
do ngodo – performance étnico-cultural orquestral formada por timbilas
e seus respectivos músicos e dançarinos. No entanto, no interior da nar-
rativa tal fato não se verifica, ludibriando o leitor (ou censor) desavisado,
caso este se restrinja apenas à costumeira olhadela no paratexto do livro,
quando, na verdade, a diegese propriamente dita se adensa na denúncia da
política malfadada dos campos de reeducação posta em prática pela Freli-
mo. Em suma, é muito por causa desse ardil que o organizador e co-autor
Niyi Afolabi, em 2010, tomando a frente do principal estudo publicado a
respeito da obra khosiana até os dias atuais, o livro intitulado Emerging
Perspectives on Ungulani Ba Ka Khosa, rende-lhe, entre outros atributos, os
epítetos de “trickster” e “provocateur” no sentido positivo dos termos, que
reflete inequivocamente a imagem de um literato experimentado.
Em vista disso, como tentaremos demonstrar, haverá também
por parte de Ungulani Ba Ka Khosa alguma artimanha na construção de
Choriro que o leitor comum, sem uma prévia e refletida investigação histó-
rica, não será capaz de perscrutar no jogo operado entre ficção e realidade,
julgando a seu turno todos os personagens, ou pelo menos os fundamen-
tais, como verdadeiramente partícipes da história colonial de Moçambi-
que, uma vez que seus nomes podem ser facilmente encontrados na histo-
riografia moçambicana.
Considerando as pistas de Ungulani Ba Ka Khosa que levam ao
casal Isaacman, muitos personagens que deambulam nas tramas de Cho-
riro estão documentados em A tradição de resistência em Moçambique: O
Vale do Zambeze, 1850-1921, como é o caso de Chicuacha, o ex-padre que
fora amigo íntimo de Nhabezi, seu cronista e confidente, largando a batina
e aculturando-se entre os cafres. Igualmente os senhores de estados secun-
dários, como Matakenya, Kanyemba e Carazimamba, exímios estrategistas
militares à frente de seus exércitos de escravos-guerreiros achicundas, os
quais constam tanto no romance quanto no referido livro de história.
A curiosidade, ao seguirmos os rastros da poética de Choriro, é
que nem o nome português, Luís António Gregódio, nem Nhabezi, alcu-
nha do mambo entre os achicundas, constam no trabalho de Allen e Barba-
ra Isaacman, fato que tende a tornar mais complexo o jogo histórico-ficcio-
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 75
nal veiculado na narrativa e, para a crítica literária, sinal de uma evidente
mudança de cunho genológico, ou seja, de romance histórico – nos moldes
consolidados por Walter Scott no século XIX –, para a pós-modernista e
contemporânea metaficção historiográfica (HUTCHEON, 1991).
De resto, é a questão dos nomes próprios, no seio da história de
que falava Rancière ainda há pouco, que deve ser redimensionada numa
outra lógica, como sugere Ungulani, a partir do momento em que estamos,
na ambiência de Choriro, diante de sociedades ágrafas cujo maior meio de
difusão cultural é a oralidade. Com efeito, cabem as indagações: somente
os seletos grupos de personagens presentes na historiografia com seus no-
mes próprios poderiam compor as narrativas basilares de um determinado
povo? O protagonismo de uma personagem fictícia em meio a outras ditas
“reais” invalida ou reduz o valor do discurso literário? Então, o que acon-
tece “com a voz que não se grudou aos discursos dos saberes” (KHOSA,
2015, p. 7)? Essas e outras questões são levantadas sutilmente ao longo do
romance com o intuito de moderar e relativizar o discurso hegemônico
ocidental em prol de valorar o ser/estar africano no mundo e seu modo ou-
tro de lidar com o passado, tornando-o sujeito e não objeto de sua própria
arte e de sua própria história.
Ainda em consulta à obra do casal Isaacman, constatamos o
nome do ex-clérigo Chicuacha anexado à lista dos reis de Macanga, área
situada a norte do Zambeze. Assim, tendo ele verdadeiramente governado
essa região entre os anos de 1870 e 1874, no romance, será apenas represen-
tado como eficiente cronista, portador de uma voz profética e apocalíptica,
a qual desempenha um importante papel no relato presente nas últimas
páginas de Choriro, do qual podemos ler as seguintes palavras:
Os espíritos, a existirem, definharão na memória de gera-
ções que desbravarão sem medo, e a mando de outros reis,
os bosques sagrados à procura de outras riquezas. Os mapas
da memória perderão a cor e o vigor de outrora. Na verdade,
seremos o sonho de nós mesmos (KHOSA, 2015, p. 155).
Outro personagem histórico que ganha relevo nas páginas de
Choriro é Livingstone (1813-1873). Médico, missionário e explorador, de
1851 até sua morte, na África Central, o escocês viveu num território que
percorrera extensamente. Assim, foi o primeiro europeu a dar notícia do
alto Zambeze (COSTA e SILVA, 2012, p. 396). Desse modo, o narrador
relata que ao fazer a travessia de Luanda a Quelimane, de oeste a leste da
parte central do continente africano, num trajeto que enquadrava o famoso
Mapa Cor-de-Rosa elaborado pelo ministro português Barros Gomes, que
os portugueses tanto almejaram como projeto colonial, Livingstone teve as
seguintes impressões:
(...) se deslumbrou ao avistar, a cerca de cem metros de altu-
ra, as águas do Zambeze, em mais de mil e setecentos metros
de largura, desprendendo-se em nuvens turbulentas de água
em pó alcandorando-se a mais de quinhentos metros do ver-
de frondoso de terras que viriam a estar sob custódia da rai-
76 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
nha Vitória, nome com que batizara as conhecidas cataratas
do Zambeze, ignorando o mosi ao tunya, o fumo que troveja,
designação por que eram localmente conhecidas (KHOSA,
2015, 106).
Em relação ao aspecto utópico ou à “utopia que se fez verbo”, re-
tomando as palavras de Ungulani Ba Ka Khosa, sintagma que também re-
verbera ecos do Gênesis e do Evangelho de João, Choriro parece sedimentar
um esforço literário para conceber uma origem ou fundação nacional, isto
é, um começo formador da identidade moçambicana moderna. Por conse-
guinte, é muito devido ao retrato traçado de Nhabezi e pelo seu convívio
respeitoso com a corte, acólitos e esposas que a ideia de utopia pode ser
amalgamada através desse personagem branco aculturado entre os africa-
nos à rebours da gesta colonial a qual se arrastou de modo atroz e arbitrário
ao longo de três quartos do século XX. Assim, quanto à ficcionalidade da
figura de Nhabezi, Vanessa Ribeiro Teixeira nos concede seu contributo:
Independentemente da existência ou não de António Gre-
gódio, a diversidade cultural e as reticências históricas da
região do Zambeze favorecem a criação de “estórias” – aqui
entendidas como “micro-possibilidades” históricas – pauta-
das pelo mote “bem que poderia ter sido” (TEIXEIRA, 2014,
p. 116-117).
Acrescentaríamos ainda às estórias de Choriro, que afrontam a
História de Moçambique, traços de elegia – composição poética que em
suas origens na Grécia Antiga era especialmente composta como música
para um funeral ou lamento de morte, como é o caso do romance por nós
cotejado. Literariamente, a elegia, embora seja expressa em forma de po-
esia, traz sempre um tom de arraigada tristeza e melancolia. Com efeito,
a espraiar os limites dos gêneros literários, o escritor moçambicano pare-
ce diluir alguns desses elementos elegíacos no incipit da narrativa, substi-
tuindo a melodia – elemento musical muito valorizado no Ocidente – pela
rítmica percussiva com acentos notadamente africanos: “A notícia correu
célere. Os batuques, em profundos e largos tons, rufaram em toda a pleni-
tude durante três dias e três noites por todo o reino (KHOSA, 2015, p. 11).”
É bom lembrarmos que o século XIX, decisivo para a evolução
das ciências, é também o momento de maior evidência de que “a África
aparece cada vez mais como um continente perversamente imperfeito,
que a Europa tinha o dever moral de tirar da escuridão e pôr nos eixos.”
Ora, “iam-se tecendo assim as justificativas para o domínio colonial so-
bre o continente (COSTA e SILVA, 2012, p. 13)”, por isso que o português
Gregódio, absorvendo voluntariamente a cultura africana e reinserindo-
-se socialmente no vale do Zambeze como Nhabezi, personifica o signo
da utopia de um tempo que jamais se repetiu nas relações coloniais entre
Portugal e Moçambique. Entretanto, se Nhabezi é fruto do imaginário de
seu criador, a aculturação que lhe foi atribuída, como veremos, tratou-se de
uma circunstância histórica inédita:
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 77
A adoção dos elementos culturais indígenas estendeu-se
para além da assimilação do artesanato, técnicas e línguas
locais, o que facilitou a sua adaptação a um ambiente novo
e difícil. (Os prazeiros) adotaram igualmente as instituições
e valores das culturas indígenas (...). Este padrão de acul-
turação apagou as distinções entre governantes estrangeiros
e os seus súditos locais, e em certos casos contribuiu para
aumentar a legitimidade da elite governante (ISAACMAN,
1979, p. 66-67).
Porém, esse tipo de cenário formado com contornos utópicos,
de brandas relações entre grupos específicos de colonos e africanos em
pleno desenvolvimento do tráfico negreiro só foi possível, na metade do
século XIX, devido a um colonialismo ainda incipiente perto daquele que
Moçambique iria experimentar anos mais tarde, principalmente depois da
Conferência de Berlim e a consequente partilha da África. Em vista disso,
o antropólogo José Luís Cabaço nos ajuda a compreender este capítulo se-
guinte do jugo colonial, o qual, ao fim e ao cabo, foi o mais marcante:
A sociedade colonial em África concebe-se e organiza-se em
função de uma multiplicidade de dualismos: frente a frente,
bem marcados, estarão não apenas “branco e preto”, “indíge-
na e colonizador”, mas também “civilizado e primitivo”, “tra-
dicional e moderno”, “cultura e usos e costumes”, “oralidade
e escrita”, “sociedade com história e sociedade sem história”,
“superstição e religião”, “regime jurídico europeu e direito
consuetudinário”, “código do trabalho indígena e lei do traba-
lho”, “economia de mercado e economia de subsistência”, etc.,
todos eles conceitos marcados pela hierarquização, em que
uns se apresentam como a negação dos outros e, em muitos
casos, como a sua razão de ser (CABAÇO, 2010, p. 36).
No entanto, para Nhabezi os estigmas de superioridade europeia
ficaram para trás, assim como o seu incomum sobrenome, Gregódio, que
estranhamente carrega o vocábulo “ódio” consigo – sentimento que certa-
mente permearia uma ou outra dicotomia acima referida até a indepen-
dência de Moçambique. Assim, pelo fragmento a seguir podemos vislum-
brar o modo pelo qual Nhabezi aumentou consideravelmente suas hostes,
além da justificativa para seu nome honorífico africano, que significava o
grande curandeiro branco:
Querendo uma autonomia espiritual que o levasse a invo-
car os espíritos ancestrais achicundas a que chamavam de
muzimu, Nhabezi foi introduzindo espécies de árvores apro-
priadas aos rituais dos antepassados achicundas. Sem se di-
vorciar dos cerimoniais clânicos matrilineares, rituais patri-
lineares típicos achicundas foram-se introduzindo graças à
chegada de mais guerreiros fugidos da escravidão, de gente
proscrita e de pessoas que desertavam das secas cíclicas das
agrestes terras próximas de Tete. A todos Nhabezi recebia.
78 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
Uns quebravam o mitete, outros integravam-se simplesmen-
te. O exército era respeitado nas redondezas. Grupos nguni
não se atreviam a molestar as populações na colecta dos ha-
bituais impostos. O branco Nhabezi era rei e senhor de vas-
tas terras na confluência dos rios Lângua e Zambeze. Cruza-
vam-se no seu reino povos matrilineares e patrilineares, mas
o poder achicunda, tipicamente patrilinear, foi prevalecendo
sobre os casamentos e sucessões (KHOSA, 2015, p. 39)
A inversão da noção de pertencimento entre o universo português
e moçambicano é bastante exemplar na narrativa de Choriro, não apenas
na figura de Nhabezi, mas também de Chicuacha, antigo eclesiástico, cujo
nome luso é António Gonzaga, pois no território do ultramar, adentrando-
-se pelo século XX e intensificando-se o salazarismo, o que se constata é o
fato de majoritariamente o africano ou mestiço querer assimilar a cultura
portuguesa para tentar melhorar o seu estatuto de subalterno. Isto posto,
muitos estereótipos que permanecem até os dias atuais a respeito da África
grassaram no século XIX, momento em que se acreditava serem os afri-
canos seres a-históricos, como afirmou o filósofo alemão Friedrich Hegel:
A África propriamente dita é a parte característica deste
continente. Começamos pela consideração deste continente,
porque em seguida podemos deixá-lo de lado, por assim di-
zer. Não tem interesse histórico próprio, senão o de que os
homens vivem ali na barbárie e na selvageria, sem fornecer
nenhum elemento à civilização. Por mais que retrocedamos
na história, acharemos que a África está sempre fechada no
contato com o resto do mundo, é um Eldorado recolhido em
si mesmo, é o país criança, envolvido na escuridão da noite,
aquém da luz da história consciente (...). Nesta parte princi-
pal da África não pode haver história (HEGEL, 1928, p. 187).
Ora, Ungulani Ba Ka Khosa, ele próprio um estudioso da Histó-
ria, está ciente das lógicas de subordinação, da dispersão dos atributos da
soberania e da dificuldade em inscrever-se como sujeito da história, pois,
em pleno século XXI, mulheres e homens de África ainda se encontram
submetidos a velhos paradigmas, a antigos exotismos, à mera curiosidade
etnológica, à suspeita de não serem muito profícuos no âmbito da literatu-
ra, pois a supremacia da cultura ocidental e a infeliz imagem que Hegel fez
do continente permanecem latentes nas mentes mais recalcitrantes.
Em suma, ao trabalhar as potencialidades romanescas nos limites
da crença cientificista da história, o escritor fez ecoar em Choriro palavras
que jamais foram ditas, os silêncios e as fermatas da história moçambicana
que paradoxalmente estão prenhes de sentido, as quais podem e devem ser
discutidas no âmbito das humanidades. Por conseguinte, a letra sempre em
riste de Ungulani Ba Ka Khosa imprime inevitavelmente na literatura de
Moçambique, sobretudo através da figura emblemática do “branco-preto”
Nhabezi – a utopia que se fez verbo –, uma rara marca de alteridade.
ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018 79
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AFOLABY, Niyi. Emerging Perspectives on Ungulani Ba Ka Khosa.
Trenton, NJ: Africa World Press, 2010.
ARISTÓTELES. Poética. Trad. Eudoro de Sousa. 3˚ ed. São Paulo: Ars
Poética, 1993.
CABAÇO, José Luís. Moçambique: Identidades, Colonialismo e Liber-
tação. 1˚ ed. Maputo: Marimbique, 2010.
COSTA e SILVA, Alberto da (org.). Imagens da África. Da Antiguida-
de ao século XIX. 1˚ ed. São Paulo: Penguin & Companhia das Letras, 2012.
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Filosofia de la historia universal.
Madri: Revista de Occidente, 1928, t. I.
ISAACMAN, Allen; ISAACMAN, Barbara. A tradição de resistência
em Moçambique: O Vale do Zambeze, 1850-1921. 1˚ ed. Porto: Afronta-
mento, 1979.
KHOSA, Ungulani Ba Ka. Choriro. 1˚ ed. Porto: Sextante, 2015.
MANJATE, Lucílio. “Como é que se escreve ‘choriro’?”. In: O País,
2011. Disponível em: <http://www.buala.org/pt/a-ler/como-e-que-se-es-
creve-choriro> Acesso em: 26 de maio de 2018.
NEWITT, Malyn. História de Moçambique. Trad. Lucília Rodrigues e
Maria Georgina Segurado. 1˚ ed. Mem Martins: Publicações Europa-Amé-
rica, 1997.
NOA, Francisco. Mito, Império e Miopia: Moçambique como invenção
literária. 1˚ed. São Paulo: Kapulana, 2015.
RANCIÈRE, Jacques. Os nomes da história: ensaio de poética do saber.
Trad. Maria Echalar. 1˚ ed. São Paulo: Editora Unesp, 2014.
TEIXEIRA, Vanessa Ribeiro. De Gaza ao Zambeze: a reinvenção da
história em Ualalapi e Choriro, de Ungulani Ba Ka Khosa. Mulemba. Rio
de Janeiro: UFRJ, V.1, n.10, p. 110-121, jan. 2014.
Recebido para publicação em 30/05/2018
Aprovado em 13/08/2018
Notas
1 Doutorando em Estudos Portugueses pela Université Paris-Sorbonne, em Teoria Literá-
ria e Literatura Comparada pela Universidade de São Paulo.
2 Desde fins do século XVI, ao longo do vale do Zambeze, os portugueses instituíram os
chamados “prazos da Coroa” para tentar ocupar Moçambique de maneira efetiva. Assim,
os colonos enviados para este vasto território recebiam estas terras da Coroa Portuguesa
com o dever de explorá-las. Para tanto, casavam-se principalmente com as filhas dos che-
fes locais, pois a posse de tais territórios, conforme o estabelecido pelo Estado colonial, só
poderia ser transferida por via feminina e com a duração de três gerações.
3 Achicundas eram escravos-guerreiros a serviço da administração colonial e dos senho-
res dos prazos da Coroa, imprescindíveis para a sociedade mozungo, termo utilizado para
designar homens de famílias mestiças e líderes de milícias especiais.
80 ABRIL – Revista do NEPA/UFF, Niterói, v.10, n.21, p. 69-80, jul.-dez. 2018
Você também pode gostar
- Como Começar A Escrever Um Livro PDFDocumento56 páginasComo Começar A Escrever Um Livro PDFFranciele Reinert Gabiatti75% (4)
- Resumo Das Escolas LiteráriasDocumento5 páginasResumo Das Escolas LiteráriasLuana Vedova50% (2)
- Português Apostila Gramática e LiteraturaDocumento56 páginasPortuguês Apostila Gramática e LiteraturaVanusa Martins da SilvaAinda não há avaliações
- Literaturas africanas: perspectivas e desafios no século XXINo EverandLiteraturas africanas: perspectivas e desafios no século XXIAinda não há avaliações
- MoçambiqueDocumento10 páginasMoçambiqueThayse Rodrigues CardosoAinda não há avaliações
- Francisco Noa - OS TRILHOS E AS MARGENS...Documento12 páginasFrancisco Noa - OS TRILHOS E AS MARGENS...Ailton Leal Pereira100% (1)
- Literatura Infantil Mocambicana - ArtigoDocumento5 páginasLiteratura Infantil Mocambicana - ArtigoBianca Bratkowski100% (1)
- O Conto MoçambicanoDocumento3 páginasO Conto MoçambicanoRonaldo CarvalhoAinda não há avaliações
- Bibliografia Stephen KingDocumento3 páginasBibliografia Stephen Kinglourivaldiascampos100% (1)
- RITA FERREIRA (1975) - Moçambique Pre ColonialDocumento111 páginasRITA FERREIRA (1975) - Moçambique Pre ColonialMaria BastiãoAinda não há avaliações
- MUHURAIDA (Com Correções) Sem ResumoDocumento35 páginasMUHURAIDA (Com Correções) Sem ResumoEduardo AmaroAinda não há avaliações
- Literatura Africana em Lingua PortuguesaDocumento5 páginasLiteratura Africana em Lingua Portuguesalouren maurinAinda não há avaliações
- 93-Article Text-371-1-10-20200806Documento19 páginas93-Article Text-371-1-10-20200806Merge LinhaAinda não há avaliações
- Mulheres de Cinzas, de Mia Couto: Recebido em 28/08/2018 Aceito em 09/10/2018Documento12 páginasMulheres de Cinzas, de Mia Couto: Recebido em 28/08/2018 Aceito em 09/10/2018Jose CleissonAinda não há avaliações
- Entre o Oclonial e Pós Colonial - o Diálogo Entre Os Discursos em o Olho de Hertzoh de JPBCDocumento11 páginasEntre o Oclonial e Pós Colonial - o Diálogo Entre Os Discursos em o Olho de Hertzoh de JPBCAilton Leal PereiraAinda não há avaliações
- Aculturação - Cafrealização - WisierDocumento10 páginasAculturação - Cafrealização - WisierIamara NepomucenoAinda não há avaliações
- Ungulani Ba Ka Khosa e A Orquestra Da Violencia PDFDocumento8 páginasUngulani Ba Ka Khosa e A Orquestra Da Violencia PDFWilson Deep SAAinda não há avaliações
- Resumo para ProvaDocumento6 páginasResumo para ProvaJulio Avelino SambambiAinda não há avaliações
- ArtigoMemóriasPeriféricas Diego BarbosaDocumento18 páginasArtigoMemóriasPeriféricas Diego BarbosadiegohamAinda não há avaliações
- Cabaço, José Luis - A Questão Da Diferença Na Literatura MoçambicanaDocumento9 páginasCabaço, José Luis - A Questão Da Diferença Na Literatura MoçambicanaMárcio SenaAinda não há avaliações
- Mia CoutoDocumento14 páginasMia CoutoVanessa Santos GoncalvesAinda não há avaliações
- Unidade 3 - RITA CHAVES - José Luandino Vieira - Consciência Nacional e DesassossegoDocumento16 páginasUnidade 3 - RITA CHAVES - José Luandino Vieira - Consciência Nacional e DesassossegoAilton Leal Pereira100% (1)
- LALP II - 2023 - Com ActividadesDocumento22 páginasLALP II - 2023 - Com ActividadesvirgilioAinda não há avaliações
- Aula 04Documento22 páginasAula 04Iza BelAinda não há avaliações
- O Salto para Outra Margem - Laura Padilha-1-1Documento36 páginasO Salto para Outra Margem - Laura Padilha-1-1Joy CostaAinda não há avaliações
- 9455 33668 1 PBDocumento2 páginas9455 33668 1 PBMaxAinda não há avaliações
- Anais SIHTP 2023 ST08 Fabricio Almeida VersaofinalDocumento13 páginasAnais SIHTP 2023 ST08 Fabricio Almeida VersaofinalPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- Karingana Ua Karingana Mia Couto Um Contador de HiDocumento15 páginasKaringana Ua Karingana Mia Couto Um Contador de HiBencley ChaloAinda não há avaliações
- A Oficina Narrativa Da Poesia Na Escrita de José CraveirinhaDocumento16 páginasA Oficina Narrativa Da Poesia Na Escrita de José CraveirinhaAdilsonAinda não há avaliações
- LEITE, Ana Mafalda (Em Torno de Modelos No Romance Mocambicano)Documento16 páginasLEITE, Ana Mafalda (Em Torno de Modelos No Romance Mocambicano)craspedramoleseAinda não há avaliações
- A Arte de Vestir PDFDocumento15 páginasA Arte de Vestir PDFSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- A Arte de Vestir PDFDocumento15 páginasA Arte de Vestir PDFSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- O Poscolonialismo e A MoçambicanidadeDocumento10 páginasO Poscolonialismo e A MoçambicanidadeInes MarquesAinda não há avaliações
- Resenha As Mãos Dos PretosDocumento6 páginasResenha As Mãos Dos PretosAmanda ThaísAinda não há avaliações
- Escrever A História Através Da EstóriaDocumento24 páginasEscrever A História Através Da EstóriaYAN ZOUAinda não há avaliações
- Carranca03 20Documento28 páginasCarranca03 20Jrenato De Carvalho BarbosaAinda não há avaliações
- 1 SMDocumento12 páginas1 SMThamires Dos SantosAinda não há avaliações
- Jose Camilo Manusse - A Revista Itinerario e A Recepcao Estetica Presencista e Neo-Realista em MocambiqueDocumento7 páginasJose Camilo Manusse - A Revista Itinerario e A Recepcao Estetica Presencista e Neo-Realista em MocambiqueCelia MintilaneAinda não há avaliações
- Rosalina-Ficha-De-Leitura-Ungulane - Chorio-2024.Documento5 páginasRosalina-Ficha-De-Leitura-Ungulane - Chorio-2024.Laurindo SurageAinda não há avaliações
- O Corpo Moçambicano Cindido em João Paulo Borges Coelho - SeccoDocumento12 páginasO Corpo Moçambicano Cindido em João Paulo Borges Coelho - SeccoAilton Leal PereiraAinda não há avaliações
- Indianismo e história nas letras imperiais: a narrativa bifronteNo EverandIndianismo e história nas letras imperiais: a narrativa bifronteAinda não há avaliações
- As Literaturas Africanas e o Jornalismo No Período ColonialDocumento9 páginasAs Literaturas Africanas e o Jornalismo No Período ColonialjosiuegAinda não há avaliações
- Duas Meninas ItineranciasDocumento25 páginasDuas Meninas ItineranciasVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações
- Lacos de Memoria PDFDocumento170 páginasLacos de Memoria PDFFrancy SilvaAinda não há avaliações
- ENTRE TUBAROES E SARDINHAS Cristina Ribeiro FINALDocumento352 páginasENTRE TUBAROES E SARDINHAS Cristina Ribeiro FINALJosé RibeiroAinda não há avaliações
- Admin,+9255 32821 1 CEDocumento8 páginasAdmin,+9255 32821 1 CEcarolineAinda não há avaliações
- Lilia Momple Os Olhos Da Cobra Verde PDFDocumento12 páginasLilia Momple Os Olhos Da Cobra Verde PDFhokaloskouros9198Ainda não há avaliações
- Análise o Homem CadenteDocumento9 páginasAnálise o Homem CadenteCarolina SartomenAinda não há avaliações
- Literatura MocambicanaDocumento16 páginasLiteratura MocambicanaDomingos BernardoAinda não há avaliações
- 6206 23473 2 PBDocumento12 páginas6206 23473 2 PBJoao Pedro PeronAinda não há avaliações
- Entrecruzamentos História e FiccçãoDocumento15 páginasEntrecruzamentos História e FiccçãoMaiane Pires TigreAinda não há avaliações
- A Retórica Do Império Colonial PortuguêsDocumento9 páginasA Retórica Do Império Colonial PortuguêstaniacmacedoAinda não há avaliações
- 615 2038 1 PBDocumento17 páginas615 2038 1 PBvitoriaeshley373Ainda não há avaliações
- BebetoDocumento5 páginasBebetomalonamige20Ainda não há avaliações
- Artigo de João Batista TeixeiraDocumento10 páginasArtigo de João Batista TeixeiraGustavo Ramos de SouzaAinda não há avaliações
- Cunha NetoDocumento11 páginasCunha NetoraimundoAinda não há avaliações
- 3-Panorama Das LiteraturasDocumento45 páginas3-Panorama Das LiteraturasHeloisaHAinda não há avaliações
- Valongo 1Documento19 páginasValongo 1Agenor ManoelAinda não há avaliações
- Literatura de Moçambique - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento4 páginasLiteratura de Moçambique - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDanny PequeninoAinda não há avaliações
- Literatura MocambicanaDocumento16 páginasLiteratura MocambicanaDomingos BernardoAinda não há avaliações
- 119033-Texto Do Artigo-236826-1-10-20161223Documento12 páginas119033-Texto Do Artigo-236826-1-10-20161223Pietro OliveiraAinda não há avaliações
- A Literatura ColonialDocumento23 páginasA Literatura ColonialIreneu VarelaAinda não há avaliações
- Gritos revolucionários e devoção ao sagrado nos contos de Boaventura CardosoNo EverandGritos revolucionários e devoção ao sagrado nos contos de Boaventura CardosoAinda não há avaliações
- Guia de TransferenciaDocumento2 páginasGuia de TransferenciaJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Texto de Apoio2Documento8 páginasTexto de Apoio2João Valito AntónioAinda não há avaliações
- 2 ForumDocumento2 páginas2 ForumJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- 3 ForumDocumento2 páginas3 ForumJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Trabalho de TECDocumento12 páginasTrabalho de TECJoão Valito António100% (1)
- 1 Forum de TEDocumento1 página1 Forum de TEJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Novo (A) Documento Do Microsoft WordDocumento6 páginasNovo (A) Documento Do Microsoft WordJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Joao ValitoDocumento5 páginasJoao ValitoJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Linguistica Lingua Portuguesa 2016-09-20 Caroline Carnielli BiazolliDocumento383 páginasLinguistica Lingua Portuguesa 2016-09-20 Caroline Carnielli BiazolliJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Mapas TrimestraisDocumento3 páginasMapas TrimestraisJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- ArquiteturaDocumento20 páginasArquiteturaRute de OliveiraAinda não há avaliações
- Metodologias GeralDocumento15 páginasMetodologias GeralJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Ungulani Ba Ka KhosaDocumento14 páginasUngulani Ba Ka KhosaJoão Valito AntónioAinda não há avaliações
- Linguagem, Conhecimento e Origem: Sobre A Ideia de Apresentação (Darstellung) em Walter Benjamin. BARROZO, Naiara.Documento27 páginasLinguagem, Conhecimento e Origem: Sobre A Ideia de Apresentação (Darstellung) em Walter Benjamin. BARROZO, Naiara.Naiara BarrozoAinda não há avaliações
- Moacyr Scliar - Folha de São PauloDocumento48 páginasMoacyr Scliar - Folha de São PauloArnoldo JúniorAinda não há avaliações
- Tipos e Gneros Textuais (6282)Documento2 páginasTipos e Gneros Textuais (6282)FernandoRochaAinda não há avaliações
- 6266-Texto Do Artigo-38997-1-10-20200630Documento23 páginas6266-Texto Do Artigo-38997-1-10-20200630Alexandra BarrosAinda não há avaliações
- Escritura Rasura e ArremessoDocumento166 páginasEscritura Rasura e ArremessoPatricia de Oliveira IuvaAinda não há avaliações
- Machado de Assis e o Processo de Criação LiteráriaDocumento364 páginasMachado de Assis e o Processo de Criação LiteráriaIrena VertisAinda não há avaliações
- Rilvan Batista de Santana - Cartas, Contos e Crônicas PDFDocumento70 páginasRilvan Batista de Santana - Cartas, Contos e Crônicas PDFBruno Domingues MachadoAinda não há avaliações
- Traduzir Mea Culpa Ao Ritmo de Louis-Ferdinand Céline PDFDocumento93 páginasTraduzir Mea Culpa Ao Ritmo de Louis-Ferdinand Céline PDFrudagochav3096Ainda não há avaliações
- Exercícios de Teoria LiteráriaDocumento3 páginasExercícios de Teoria Literáriathaynna369Ainda não há avaliações
- Amor Liquido B.Documento108 páginasAmor Liquido B.Andressa RochaAinda não há avaliações
- Petrobras Patrocina Área Infantil Da XX Bienal Do Livro RioDocumento2 páginasPetrobras Patrocina Área Infantil Da XX Bienal Do Livro RioThales BrandãoAinda não há avaliações
- Aula 06 - Teoria Da Literatura IDocumento13 páginasAula 06 - Teoria Da Literatura IJoão GratulianoAinda não há avaliações
- O Poder Da Leitura LiteráriaDocumento7 páginasO Poder Da Leitura LiteráriacceiaAinda não há avaliações
- Artigo - A Produção Literária de Gloria Kirinus PDFDocumento15 páginasArtigo - A Produção Literária de Gloria Kirinus PDFVanessa Gomes Franca ColasantianaAinda não há avaliações
- O Ouvido Da Serpente Roberto ZularDocumento16 páginasO Ouvido Da Serpente Roberto ZularEitan EfraimAinda não há avaliações
- Teoria Da Comunicacao PDFDocumento23 páginasTeoria Da Comunicacao PDFEdiene RibeiroAinda não há avaliações
- CânoneDocumento4 páginasCânoneMaria ClaraAinda não há avaliações
- Classicismo História Da Literatura - PDF Download GrátisDocumento19 páginasClassicismo História Da Literatura - PDF Download GrátisRafael Tobias Canalobuana CanalobuanaAinda não há avaliações
- A Metalinguagem em Manoel de BarrosDocumento8 páginasA Metalinguagem em Manoel de BarrosRicardo GermanoAinda não há avaliações
- Anais III CidDocumento26 páginasAnais III CidMayke SuenioAinda não há avaliações
- Maria JoaoDocumento4 páginasMaria JoaoJoana SilvaAinda não há avaliações
- A Literatura Indígena No Ensino Fundamental Uma Experiência Na Escola Do Campo - Dissertação - JACKELINE DE ALMEIDA SILVADocumento162 páginasA Literatura Indígena No Ensino Fundamental Uma Experiência Na Escola Do Campo - Dissertação - JACKELINE DE ALMEIDA SILVAIvonete NinkAinda não há avaliações
- Literatura ClariceDocumento28 páginasLiteratura ClariceLuciene de Oliveira BatistaAinda não há avaliações
- Caderno de CampoDocumento20 páginasCaderno de CampoEurilangeAinda não há avaliações
- A Nova História CulturalDocumento6 páginasA Nova História Culturalvanessa pereira do nascimentoAinda não há avaliações
- Traduzir É o Verdadeiro Modo de Ler Um TextoDocumento4 páginasTraduzir É o Verdadeiro Modo de Ler Um TextoMichel MarquesAinda não há avaliações