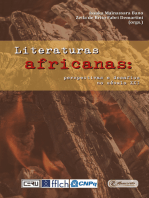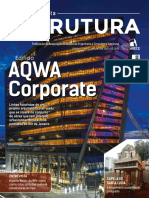Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Mia Couto
Enviado por
Vanessa Santos GoncalvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Mia Couto
Enviado por
Vanessa Santos GoncalvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
M I A C O U T O :
V O Z N A S C I D A D A T E R R A
Rita Chaves
A expresso "mulato no de raas, mas de existncias", extrada de um
dos contos aqui publicados, pode ser lida como uma senha para abrir a
compreenso de todo um universo de experincias em que parece estar
fundada a matriz das vozes narrativas que se erguem dos textos de Mia
Couto, esse notvel escritor moambicano s muito recentemente acolhido
pelo mercado editorial brasileiro. Sua obra at o presente inclui um livro de
poemas (Raiz de orvalho), dois romances (Terra sonmbula e A varanda do
frangipani) e cinco volumes de contos (Vozes anoitecidas, Cada homem
uma raa, Cronicando, Estrias abensonhadas e Contos do nascer da terra)
e seu nome reconhecido como o mais expressivo da fico contempor-
nea de Moambique. Com textos traduzidos para vrias lnguas, o autor
saltou da frica oriental e, superando as ainda apertadas fronteiras da lngua
portuguesa, vem se inserindo num panorama mais alargado da literatura. S
mesmo a fora de uma distncia imposta por algo alm da geografia explica
que apenas dois de seus livros (Terra sonmbula e Estrias abensonhadas)
tenham sido publicados entre ns.
Conhecendo pouco a obra e, at mesmo, o pas de onde ela vem, o
leitor brasileiro tende a ser surpreendido pela fora narrativa desse autor para
quem a nossa literatura foi, desde muito cedo, uma decisiva descoberta.
Apaixonado por Joo Cabral e Carlos Drummond de Andrade to logo
chegou ao mundo da poesia, Mia Couto, por caminhos indiretos, iria
desembarcar noutras margens do encantamento gerado pelo repertrio
literrio brasileiro. Por intermdio do ficcionista angolano Jos Luandino
Vieira, conheceu Guimares Rosa, cuja obra confirmaria, segundo ele
prprio, a legitimidade do caminho que j vinha percorrendo. As incurses
pelo terreno da recriao verbal, incorporando desabridamente formas
populares, ganharam gestos mais seguros quando o jovem escritor percebeu-
se em excelente companhia. Pode-se dizer que, nas trilhas do autor do
Grande serto e do cantador dos musseques de Luanda, o contista moambi-
cano viu na reinveno da lngua portuguesa uma fonte para contar o mundo
vasto e movimentado de um pas onde a noo de identidade se nutre nas
guas caudalosas de uma impressionante diversidade cultural.
NOVEMBRO DE 1997 243
CONTOS
Impropriamente reconhecido como apenas um dos cinco pases
africanos de lngua portuguesa, Moambique ultrapassa de longe o vazio do
rtulo que s pode esbater a pluralidade de sua composio tnica,
lingstica, religiosa etc. Nos dez sculos que precederam a passagem dos
portugueses em busca das ndias, o territrio j se havia beneficiado da
intensa atividade mercantil que caracterizou o relacionamento dos povos
banhados pelo Oceano ndico. So do sculo VIII as runas de Chibuene, no
sul da atual Repblica de Moambique, onde foram encontrados restos de
vidro islmico e faiana persa misturados com cermica local de fina
qualidade. Mercadores rabes e persas do Oriente Mdio eram ento os
grandes promotores desse trfico, de que viriam participar navegadores
guzerates e malabares, vindos do subcontinente indiano, e, mais tarde,
indonsios e at chineses. Toda a Aznia, como ento era referida a frica
ndica, da Somlia ao sul de Moambique e Madagascar, fervilhava de
contatos comerciais e culturais.
O ambiente cosmopolita ali desenvolvido conferia regio uma
especificidade que Portugal, mais interessado ento no controle do Alntico,
pragmaticamente institucionalizou colocando as suas possesses na costa
oriental sob a direta administrao do vice-rei portugus que governava o
ento chamado Estado da ndia, subordinao prolongada at o princpio do
sculo XIX. Na passagem para o sculo XX, confrontada com a exigncia de
uma ocupao real do territrio, a metrpole v-se compelida a negociar a
concesso da administrao efetiva do centro de Moambique a uma
companhia majesttica britnica, situao que se estende at os anos 30.
A empresa colonial, como fcil depreender, ganha, naquele contexto,
certas peculiaridades, e as repercusses desse processo no seriam triviais
uma vez que sobre a matriz cultural bantu das populaes africanas recaiu
uma confluncia de heranas provenientes de muitos pontos do planeta e
que, com incidncia diferente nas diversas regies do pas, acabaria por
influenciar comportamentos, tradies e valores. Registraram-se, inicialmen-
te, as influncias islmicas a norte do rio Zambeze e, mais tarde, as influncias
crists no sul e centro do territrio. Para aquelas terras, s margens do ndico,
convergiram e conviveram indianos, paquistaneses, britnicos, holandeses,
franceses, chineses, malaios, mauricianos, malgaches, que, disputando ou
dividindo o espao com as vrias etnias locais e os ocupantes portugueses,
viriam contribuir para o extraordinrio mosaico de tipos humanos, crenas
religiosas, lnguas e dialetos, hbitos culinrios, tradies de muitas ordens.
Nesse vasto e multifacetado universo, balanado pelos efeitos da
dominao colonial, pelas lutas que levaram independncia em 1975 e
pela guerras de agresso que s tiveram fim em 1992, o ato de escrever tem
se constitudo como uma forma de conhecer as terras e as gentes que ali se
espalham. Como comum em pases novos, a literatura moambicana tem
participado do esforo para compor as linhas da identidade cultural, sem
que isso signifique uma estrita adeso ao real ou uma ligao estreita a um
limitado universo ideolgico. Nascida sob a atmosfera dos movimentos
nacionalistas, a prtica literria esteve sempre associada ao jogo da histria
244 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
que ali se vai organizando, onde os escritores, enquanto militantes do novo
projeto voltado para a libertao poltica, procuraram estratgias capazes de
articular aqueles dois plos da arte que, em tenso, multiplicam as
discusses da teoria da literatura: o contedo tico e a dimenso esttica da
obra. Ligado ao grupo que praticamente inaugura a literatura nacional, Mia
Couto herda sobretudo a vontade de comunho com a terra, de onde parece
extrair a substncia que os seus textos carregam.
Perfeitamente assentado nos cenrios to diversificados por onde tem
passeado a sua prtica de jornalista e/ou de bilogo, o escritor faz circular
sobre eles personagens que, compondo-se de mltiplas vivncias, contam
sob vrias perspectivas a histria do pas. Seus contos so povoados por
cenas que, inseridas na comunho lrica do dia-a-dia, projetam os persona-
gens e atraem o leitor para um mundo onde a fantasia no quer colidir com
o real, desdobrado assim em fragmentos que evocam a totalidade sobrevi-
vente na memria de seres tocados pela marginalidade. Nas tramas, em que
se reconhecem as dificuldades postas pela vida no contexto de crises
extremadas, tambm se podem vislumbrar as linhas do humor a relativizar
a ponta dramtica de tantas situaes. Se o momento de to intensa
dureza, mais do que o recurso lgrima, a ironia surge como ttica poderosa
para sacudir a incmoda poeira dos tempos.
Na obra de Mia Couto, a maturidade se revela tambm no modo de
encarar fatos sob ticas que a nfase reclamada, e mesmo justificada, em
algumas fases da histria tende a nublar. Repare-se que em "Falas do velho
tuga" o sujeito o portugus e o objeto o encontro com a exuberncia de
um mundo outro, visto primeiro atravs da febre trazida pela malria
uma companheira obrigatria nas andanas por aquelas terras. curioso
que, freqentemente apontada pela chamada literatura colonial como uma
das ameaas com que se deparava o "bravo colono", a malria seja ali vista
como uma espcie de ponte para a descoberta de um universo onde as
lies se refazem: "Graas mais antiga das doenas, em dia que no sei
precisar, tremendo de suores, eu dava luz um outro ser, nascido de mim.
[...] Da janela me chegavam os brilhos da vida, os cantos dos infinitos
pssaros. Estar doente num lugar to cheio de vida me doa mais que a
prpria doena". O estado febril, essa incmoda fatalidade, ao perturbar a
objetividade dos sentidos, abre a sensibilidade para a apreenso daquilo
que, sendo diferente, at inslito, no negativo. Diversamente do que se
costuma acusar literatura comprometida com a histria, a cena no
comporta bandidos e mocinhos; no se trata propriamente de radicalizar
pontos de vista opostos e estanques. Sem apostar na conciliao ou diluir
diferenas, o autor parece investir na resistncia por meio de outras vias,
como ao tematizar a seduo dos "testemunhos da antigidade". O encontro
de dois mundos em princpio antagnicos no precisaria se dar em ritmo de
coliso, como demonstra a memria de quem viveu o choque e sabe que
cresceu com ele.
Surpreendendo os que ainda guardam da frica a imagem, paradis-
aca ou infernal, de um espao ocupado s por feras e motivos para
NOVEMBRO DE 1997 245
CONTOS
lamentao, os contos de Mia Couto abrigam tambm o homem urbano,
atormentado pela angstia que vem da quebra de uma ordem apoiada na
utopia de mais brandas relaes sociais. Em "O homem da rua", o sujeito
que erra pelas ruas no se queixa da misria material, ali assinalada, sem
dvida, mas da solido a que se v condenado. O inesperado do compor-
tamento revela outras dimenses da vida nessa sociedade que a mdia s
apresenta como campe de misria e fome. Situados na periferia, despre-
zados pelos centros de deciso, condenados ajuda humanitria de
quem gere a riqueza e multiplica a pobreza do mundo, vivem pelas ruas
sacudidas pelos clamores do consumo, que a modernidade espalha indis-
tintamente, seres que, desprovidos de tanto, no abriram mo de sua
humanidade.
Ao focalizar universos regidos por outros cdigos, onde se mesclam as
heranas desse inventrio cultural de que se compe o pas, Mia Couto afia
o seu olhar para ir descascando as mltiplas fatias do mundo de que ele ,
afinal, um representante. A formao intelectual, medulada pelas leis do
Ocidente, se enriquece de outras sabedorias, inclusive aquelas a que o
mundo urbano se tem mostrado hostil. Em "Afinal, Carlota Gentina no
chegou de voar?", do primeiro volume de contos, o frtil, mas tambm
perigoso terreno do mito tocado. Para escapar ao folclorismo barato e aos
exotismos desgastantes, o autor precisa encontrar caminhos, tarefa viabili-
zada pela sua inegvel identidade com o mundo de que fala. J no livro de
estria, a maestria do escritor apostava, por exemplo, na diluio das
fronteiras entre prosa e poesia e o resultado so textos carregados daquela
ambigidade apta a valorizar no cotidiano o que no banal. Numa
narrativa densa, como esta aqui publicada, matrizes da oralidade so
utilizadas para dar corpo e forma ao surpreendente depoimento de um
homem envolvido numa tambm surpreendente estria.
Ao assumir-se, sem complexos, como um bom contador de estrias,
ainda que contrarie a tese de que o mundo j no comporta o intercmbio
de experincias, Mia Couto inscreve-se na linhagem de seus "mais-velhos",
ato que, entretanto, no tem interditado ao escritor a procura de outras
alianas, como revelam os encontros com Guimares Rosa e Luandino
Vieira. Desse modo, combinando o legado de raiz com os valores trazidos
pelos ventos do mundo, ele tem sabido incorporar ao seu trabalho
procedimentos que no mundo frio da escrita tentam revitalizar a soberania
da tradio oral, dona de um poderoso vigor na ordenao da mitologia que,
se vem de fora da cidade, penetra as suas ruas e impe inesperados
contornos aos movimentos da vida cotidiana. Em seus contos e romances,
abertos tambm ao imprevisto e fantasia, no se desfoca nem se sufoca a
diversidade da sociedade moambicana.
Trabalhado na prosa do seu escritor, Moambique redimensiona-se
num enquadramento propcio derrubada de tantos preconceitos. Sem virar
as costas ao sonho, os textos delineiam a realidade e revelam um pas que,
enriquecido pela multiplicidade de experincias, projeta-se como uma
mistura dialtica de vrios modos de estar no mundo. Assim, perifrico,
246 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
excludo, ignorado, Moambique, tal como o continente africano, mexe-se
e protagoniza mais do que desastres e tragdias de natureza vria. E se a
carncia uma presena inegvel, a precariedade da vida reclama da
literatura respostas que, sem mascarar a falta ameaadora, devem fecundar
o desejo parecem alertar muitos dos textos de Mia Couto. ele prprio
que, j na abertura do volume Vozes anoitecidas, fornecia a pista: "O que
mais di na misria a ignorncia que ela tem de si mesma. Confrontados
com a ausncia de tudo, os homens abstm-se do sonho, desarmando-se do
desejo de serem outros. Existe no nada essa iluso de plenitude que faz
parar a vida e anoitecer as vozes". Pouco afeito ao brilho exagerado, ele
revela-se partidrio de discretos atos e mesmo para evitar a condenao ao
silncio (uma sutil maneira de recusar a vida) investe em matizes e nuanas.
Em seu mais recente livro, prossegue: "O mundo necessita ser visto sob
outra luz: a luz do luar, essa claridade que cai com respeito e delicadeza. S
o luar revela o lado feminino dos seres. S o luar revela a intimidade da
nossa morada terrestre. [...] Necessitamos no do nascer do Sol. Carecemos
do nascer da Terra".
A final, C arlota Gentina no chegou de voar?*
1. Senhor doutor, lhe comeo
Eu somos tristes. No me engano, digo bem. Ou talvez: ns sou triste?
Porque dentro de mim, no sou sozinho. Sou muitos. E esses todos disputam
minha nica vida. Vamos tendo nossas mortes. Mas parto foi s um. A, o
problema. Por isso, quando conto a minha histria me misturo, mulato no
das raas, mas de existncias.
A minha mulher matei, dizem. Na vida real, matei uma que no existia.
Era um pssaro. Soltei-lhe quando vi que ela no tinha voz, morria sem
queixar. Que bicho saiu dela, mudo, atravs do intervalo do corpo?
O senhor, doutor das leis, me pediu de escrever a minha histria. Aos
poucos, um pedao cada dia. Isto que eu vou contar o senhor vai usar no
tribunal para me defender. Enquanto nem me conhece. O meu sofrimento
lhe interessa, doutor? No me importa a mim, nem to pouco. Estou aqui a
falar, isto-isto, mas j no quero nada, no quero sair nem ficar. Seis anos
que estou aqui preso chegaram para desaprender a minha vida. Agora,
doutor, quero s ser moribundo. Morrer muito de mais, viver pouco. Fico
nas metades. Moribundo. Est-me a rir de mim?
Explico: os moribundos tudo so permitidos. Ningum goza-lhes. O
respeito dos mortos eles antecipam, pr-falecidos. O moribundo insulta-
nos? Perdoamos, com certeza. Cagam nos lenis, cospem no prato?
Limpamos, sem mais nada. Arranja l uma maneira, senhor doutor. Desaras-
ca l uma maneira de eu ficar moribundo, submorto.
Rita Chaves professora de
Literaturas Africanas de Lngua
Portuguesa no Departamento
de Letras Clssicas e Verncu-
las da FFLCH-USP.
* Extrado de Contos do nascer
da terra. Lisboa: Editorial Ca-
minho, 1997.
NOVEMBRO DE 1997 247
CONTOS
Afinal, estou aqui na priso porque me destinei prisioneiro. Nada, no
foi ningum que queixou. Farto de mim, me denunciei. Entreguei-me eu
mesmo. Devido, talvez, o cansao do tempo que no vinha. Posso esperar,
nunca consigo nada. O futuro quando chega no me encontra. Onde estou,
afinal eu? O lugar da minha vida no esse tempo?
Deixo os pensamentos, vou directo na histria. Comeo no meu
cunhado Bartolomeu. Aquela noite que ele me veio procurar, foi onde
iniciaram desgraas.
2. Asas no cho, brasas no cu
A luz emagrecia. Restava s um copo de cu. Em casa do meu cunhado
Bartolomeu preparava-se o fim do dia. Ele espreitou a palhota: a mulher,
mexedora, agitava as ltimas sombras do xipefo. A mulher deitava mas
Bartolomeu estava inquieto. O adormecimento demorou de vir. L fora um
mocho piava desgraas. A mulher no ouviu o pssaro que avisa a morte,
j dormia entregue ao corpo. Bartolomeu falou-se:
Vou fazer o ch: talvez bom para eu garrar maneira de dormir.
O lume estava ainda a arder. Tirou um pau de lenha e soprou nele.
Sacudiu dos olhos as migalhas do fogo. Na atrapalhao deixou a lenha
acesa cair nas costas da mulher. O grito que ela deu, nunca ningum ouviu.
No era som de gente, era grito de animal. Voz de hiena, com certeza.
Bartolomeu saltou no susto: estou casado com quem, afinal? Uma nii*?
Essas mulheres que noite transformam em animais e circulam no servio
da feitiaria?
A mulher, na frente da aflio dele, rastejava a sua dor queimada.
Como um animal. Raio da minha vida, pensou Bartolomeu. E fugiu de casa.
Atravessou a aldeia, rpido, para me contar. Chegou a minha casa, os ces
agitaram. Entrou sem bater, sem licenas. Contou-me o sucedido assim
como agora estou a escrever. Desconfiei, no incio. Bbado, talvez o
Bartolomeu trocou as lembranas. Cheirei o hlito da sua queixa. No
arejava bebida. Era verdade, ento. Bartolomeu repetia a histria duas, trs,
quatro vezes. Eu ouvia aquilo e pensava: e se a minha mulher tambm
uma igual? Se uma nii, tambm?
Depois de Bartolomeu sair, a idia me prendia os pensamentos. E se
eu, sem saber, vivia com uma mulher-animal? Se lhe amei, ento troquei a
minha boca com um focinho. Como aceitar desculpas da troca? Lugar de
animal na esteira, algum dia? Bichos vivem e revivem nos currais, para l
dos arames. Se essa mulher, fidaputa, me enganou, fui eu que animalei. S
havia uma maneira de provar se Carlota Gentina, minha mulher, era ou no
uma nii. Era surpreender-lhe com um sofrimento, uma dor funda. Olhei em
volta e vi a panela com gua a ferver. Levantei e reguei o corpo dela com
fervuras. Esperei o grito mas no veio. No veio, mesmo. Ficou assim, muda,
chorando sem soltar barulho. Era um silncio enrascado, ali na esteira. Todo
"Nii": feiticeira.
248 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
o dia seguinte, no mexeu. Carlota, a coitada, era s um nome deitado.
Nome sem pessoa: s um sono demorado no corpo. Sacudi-lhe nos ombros:
Carlota, porqu no mexes? Se sofres, porqu no gritas?
Mas a morte uma guerra de enganos. As vitrias so s derrotas
adiadas. A vida enquanto tem vontade vai construindo a pessoa. Era isso que
Carlota precisava: a mentira de uma vontade. Brinquei de criana para fazer-
lhe rir. Saltei como gafanhoto em volta da esteira. Choquei com as latas,
entornei o barulho sobre mim. Nada. Os olhos dela estavam amarrados na
distncia, olhando o lado cego do escuro. S eu me ria, embrulhado nas
panelas. Me levantei, sufocado no riso e sa para estourar gargalhadas loucas
l fora. Gargalhei at cansar. Depois, aos poucos, fiquei vencido por
tristezas, remorsos antigos.
Voltei para dentro e pensei que ela havia de gostar ver o dia, elasticar
as pernas. Trouxe-lhe para fora. Era to leve que o sangue dela devia ser s
poeira vermelha. Sentei Carlota virada para o poente. Deixei o fresco tapar
o seu corpo. Ali, sentada no quintal, morreu Carlota Gentina, minha mulher.
No notei logo aquela sua morte. S vi pela lgrima dela que parar nos
olhos. Essa lgrima era j gua da morte.
Fiquei a olhar a mulher estendida no corpo dela. Olhei os ps,
rasgados como o cho da terra. Tanto andaram nos carreiros que ficaram
irmos da areia. Os ps dos mortos so grandes, crescem depois do
falecimento. Enquanto media a morte de Carlota eu me duvidava: que
doena era aquela sem inchao nem gemidos? gua quente pode parar
assim a idade de uma pessoa? Concluso que tirei dos pensamentos: Carlota
Gentina era um pssaro, desses que perdem voz nos contraventos.
3. Sonhos da alma acordaram-me do corpo
Sonhei-lhe. Ela estava no quintal, trabalhando no pilo. Pilava sabe o
qu? gua. Pilava gua. No, no era milho, nem mapira, nem o qu. gua,
gros do cu.
Aproximei. Ela cantava uma cano triste, parecia que estava a
adormecer a si prpria. Perguntei a razo daquele trabalho.
Estou a pilar.
Esses so gros?
So tuas lgrimas, marido.
Foi ento: vi que ali, naquele pilo, estava a origem do meu
sofrimento. Pedi que parasse mas a minha voz deixou de se ouvir. Ficou
cega a minha garganta. S aquele tunc-tunc-tunc do pilo sempre batendo,
batendo, batendo. Aos poucos, fui vendo que o barulho me vinha do peito,
era o corao me castigando. Invento? Inventar, qualquer pode. Mas eu
daqui da cela s vejo as paredes da vida. Posso sentir um sonho, perfume
passante. Agarrar no posso. Agora, j troquei minha vida por sonhos. No
foi s esta noite que sonhei com ela. A noite antepassada, doutor, at chorei.
NOVEMBRO DE 1997 249
CONTOS
Foi porque assisti minha morte. Olhei no corredor e vi sangue, um rio dele.
Era sangue rfo. Sem o pai que era o meu brao cortado. Sangue detido
como o dono. Condenado. No lembro como cortei. Tenho memria escura,
por causa dessas tantas noites que bebi.
E sabe, nesse tal sonho, quem salvou o meu sangue espalhado? Foi ela.
Apanhou o sangue com as suas mos antigas. Limpou aquele sangue, tirou
a poeira, carinhosa. Juntou os pedaos e ensinou-lhes o caminho para
regressar ao meu corpo. Depois ela me chamou com esse nome que eu
tenho e que j esqueci, porque ningum me chama. Sou um nmero, em
mim uso algarismos no letras.
O senhor me pediu para confessar verdades. Est certo, matei-lhe.
Foi crime? Talvez, se dizem. Mas eu adoeo nessa suspeita. Sou um vivo,
no desses que enterra as lembranas. Esses tm socorro do esquecimento.
A morte no afasta-me essa Carlota. Agora, j sei: os mortos nascem todos
no mesmo dia. S os vivos tm datas separadas. Carlota voou? Daquela vez
que lhe entornei gua foi na mulher ou no pssaro? Quem pode saber? O
senhor pode?
Uma coisa eu tenho mxima certeza: ela ficou, restante, por fora do
caixo. Os que choravam no enterro estavam cegos. Eu ria. verdade, ria.
Porque dentro do caixo que choravam no havia nada. Ela fugira, salva nas
asas. Me viram rir assim, no zangaram. Perdoaram-me. Pensaram que eram
essas gargalhadas que no so contrrias da tristeza. Talvez eram soluos
enganados, suor do sofrimento. E rezavam. Eu no, no podia. Afinal, no
era uma morta falecida que estava ali. Muito-muito era um silncio na forma
de bicho.
4. Vou aprender a ser rvore
De escrever me cansei das letras. Vou ultimar aqui. J no preciso
defesa, doutor. No quero. Afinal das contas, sou culpado. Quero ser
punido, no tenho outra vontade. No por crime mas por meu engano.
Explicarei no final qual esse engano. H seis anos me entreguei, prendi-
me sozinho. Agora, prprio eu me condeno.
De tudo estou agradecido, senhor doutor. Levei seu tempo, s de
graa. O senhor me h-de chamar de burro. J sei, aceito. Mas, peo
desculpa, se faz favor: o senhor, sabe o qu da minha pessoa? No sou como
outros: penso o que agento, no o que preciso. O que desconsigo no
de mim. Falha de Deus, no minha. Porqu Deus no nos criou j feitos?
Completos, como foi nascido um bicho a quem s falta o crescimento. Se
Deus nos fez vivos porque no deixou sermos donos da nossa vida?
Assim, mesmo brancos somos pretos. Digo-lhe, com respeito. Preto o
senhor tambm. Defeito da raa dos homens, esta nossa de todos. Nossa
voz, cega e rota, j no manda. Ordens s damos nos fracos: mulheres e
crianas. Mesmo esses comeam a demorar nas obedincias. O poder de um
250 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
pequeno fazer os outros mais pequenos, pisar os outros como ele prprio
pisado pelos maiores. Rastejar o servio das almas. Costumadas ao cho
como que podem acreditar no cu?
Descompletos somos, enterrados terminamos. Vale a pena ser planta,
senhor doutor. Mesmo vou aprender a ser rvore. Ou talvez pequena erva
porque rvore aqui dentro no d. Porqu os baloii* no tentam de ser
plantas, verde-sossegadas? Assim, eu no precisava matar Carlota. S lhe
desplantava, sem crime, sem culpa.
S tenho medo de uma coisa: de frio. Toda a vida sofri do frio.
Tenho paludismo no no corpo, na alma. O calor pode apertar: sempre
tenho tremuras. O Bartolomeu, meu cunhado, costumava dizer: "fora de
casa sempre faz frio". Est certo. Mas eu, doutor, que casa eu tive?
Nenhuma. Terra nua, sem aqui nem onde. Num lugar assim, sem chegada
nem viagem, preciso aprender espertezas. No dessas que avanam na
escola. Esperteza redonda, esperteza sem trabalho certo nem contrato com
ningum.
Nesta carta ltima o senhor me v assim, desistido. Porqu estou
assim? Porque o Bartolomeu me visitou hoje e me contou tudo como se
passou. No enfim, compreendi o meu engano. Bartolomeu me concluiu:
afinal a sua mulher, minha cunhada, no era uma nii. Isso ele confirmou
umas tantas noites. Espreitava de vigia para saber se a mulher dele tinha ou
no outra ocupao nocturna. Nada, no tinha. Nem gatinhava, nem
passarinhava. Assim, Bartolomeu provou o estado de pessoa da sua esposa.
Ento, pensei. Se a irm da minha mulher no era nii, a minha mulher
tambm no era. O feitio mal de irms, doena das nascenas. Mas eu
como podia adivinhar sozinho? No podia, doutor.
Sou filho do meu mundo. Quero ser julgado por outras leis, devidas
da minha tradio. O meu erro no foi matar Carlota. Foi entregar a minha
vida a este seu mundo que no encosta com o meu. L, no meu lugar, me
conhecem. L podem decidir das minhas bondades. Aqui, ningum. Como
posso ser defendido se no arranjo entendimento dos outros? Desculpa,
senhor doutor: justia s pode ser feita onde eu perteno. S eles sabem
que, afinal, eu no conhecia que Carlota Gentina no tinha asas para voar.
Agora j tarde. S reparo o tempo quando j passou. Sou um cego
que v muitas portas. Abro aquela que est mais perto. No escolho, tropeo
a mo no fecho. Minha vida no um caminho. uma pedra fechada
espera de ser areia. Vou entrando nos gros do cho, devagarinho. Quando
me quiserem enterrar j eu serei terra. J que no tive vantagem na vida, esse
ser o privilgio da minha morte.
Falas do velho tuga*
Quer que eu lhe fale de mim, quer saber de um velho asilado que nem
sequer capaz de se mexer da cama? Sobre mim sou o menos indicado para
"Baloii": feiticeiros, deitado-
res de sorte (plural: nii).
* Extrado de Vozes anoiteci-
das. 3 ed. Lisboa: Editorial
Caminho, 1987.
NOVEMBRO DE 1997 251
CONTOS
falar. E sabe porqu? Porque estranhas nvoas me afastaram de mim. E
agora, que estou no final de mim, no recordo ter nunca vivido.
Estou deitado neste mesmo leito h cinco anos. As paredes em volta
parecem j forrar a minha inteira alma. J nem distingo corpo do colcho.
Ambos tm o mesmo cheiro, a mesma cor: o cheiro e cor da morte. Morrer,
para mim, sempre foi o grande acontecimento, a surpresa sbita. Afinal, no
me coube tal destino. Vou falecendo nesta grande mentira que a
imobilidade.
Tambm eu amei uma mulher. Foi h tempo distante. Nessa altura, eu
receava o amor. No sei se temia a palavra ou o sentimento. Se o sentimento
me parecia insuficiente, a palavra soava a demasiado. Eu a desejava, sim, ela
inteira, sexo e anjo, menina e mulher. Mas tudo isso foi noutro tempo, ela
era ainda de tenrinha idade.
Este lugar a pior das condenaes. J nem as minhas lembranas me
acompanham. Quando eu chamo por elas me ocorrem pedaos rasgados,
cacos desencontrados. Eu quero a paz de pertencer a um s lugar, a
tranqilidade de no dividir memrias. Ser todo de uma vida. E assim ter a
certeza que morro de uma s nica vez. Mas no: mesmo para morrer sofro
de incompentncias. Eu deveria ser generoso a ponto de me suicidar. Sem
chamar morte nem violentar o tempo. Simplesmente deixarmos a alma
escapar por uma fresta.
Ainda h dias um desses rasges me ocorreu por dentro. que me
surgiu, mais forte que nunca, esse pressentimento de que algum me viria
buscar. Fiquei a noite s claras, meus ouvidos esgravatando no vo escuro.
E nada, outra vez nada. Quando penso nisso um mal-estar me atravessa.
Sinto frio mas sei que estamos no pico do Vero. Tremuras e arrepios me
sacodem. Me recordo da doena que me pegou mal cheguei a este
continente.
frica: comecei a v-la atravs da febre. Foi h muitos anos, num
hospital da pequena vila, mal eu tinha chegado. Eu era j um funcionrio de
carreira, homem feito e preenchido. Estava preparado para os ossos do
ofcio mas no estava habilitado s intempries do clima. Os acessos da
malria me sacudiam na cama do hospital apenas uma semana aps ter
desembarcado. As tremuras me faziam estranho efeito: eu me separava de
mim como duas placas que se descolam fora de serem abanadas.
Em minha cabea, se formavam duas memrias. Uma, mais antiga, se
passeava em obscura zona, olhando os mortos, suas faces frias. A outra parte
era nascente, reluzcente, em estreia de mim. Graas mais antiga das
doenas, em dia que no sei precisar, tremendo de suores, eu dava luz um
outro ser, nascido de mim.
Fiquei ali, na enfermaria penumbrosa, interminveis dias. Uma estra-
nha tosse me sufocava. Da janela me chegavam os brilhos da vida, os cantos
dos infinitos pssaros. Estar doente num lugar to cheio de vida me doa
mais que a prpria doena.
Foi ento que vi a moa. Branca era a bata em contraste com a pele
escura: aquela viso me despertava apetites no olhar. Ela se chamava
252 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
Custdia. Era essa mesma Custdia que hoje est connosco. Na altura, ela
no era mais que uma menina, recm-sada da escola. Eu no podia
adivinhar que essa mulher to jovem e to bela me fosse acompanhar at o
final dos meus dias. Foi a minha enfermeira naqueles penosos dias. A
primeira mulher negra que me tocava era uma criatura meiga, seus braos
estendiam uma ponte que vencia os mais escuros abismos.
Todas as tardes ela vinha pelo corredor, os botes do uniforme
desapertados, no era a roupa que se desabotoava, era a mulher que se
entreabria. Ou ser que por no ver mulher h tanto tempo eu perdera
critrio e at uma negra me porventurava? Me admirava a secura daquela
pele, o gesto cheio de sossegos, educado para maternidades. Enquanto
rodava pelo meu leito eu tocava em seu corpo. Nunca acariciara tais carnes:
polposas mas duras, sem rstia de nenhum excesso.
Os dias passavam, as maleitas se sucediam. At que, numa tarde, me
assaltou um vazio como se no houvesse mundo. Ali estava eu, na
despedida de ningum. Olhei a janela: um pssaro, pousado no parapeito,
recordava o poente. Foi nesse pr do Sol que Custdia, a enfermeira, se
aproximou. Senti seus passos, eram passadas delicadas, de quem sabe do
cho por andar sempre descalo.
Eu tenho um remdio, disse Custdia. um medicamento que
usamos na nossa raa. O Senhor Fernandes quer ser tratado dessa maneira?
Quero.
Ento, hoje de noite eu lhe venho buscar.
E saiu, se apagando na penumbra do corredor. Como em caixilho de
sombra a sua figura se afastava, imvel como um retrato. Na janela, o
pssaro deixou de se poder ver. Adormeci, dodo das costas, a doena j
tinha aprisionado todo meu corpo. Acordei com um sobressalto. Custdia
me vestia uma bata branca, bastante hospitalar.
Onde vamos?
Vamos.
E fui, sem mais pergunta, tropeando pelo corredor. Dali parei a tomar
flego e, encostado na umbreira da porta, olhei o leito onde lutara contra a
morte. De repente, estranhas vises me sobressaltaram: deitado, embrulha-
do nos lenis, estava eu, desorbitado. Meus olhos estavam sendo comidos
pelo mesmo pssaro que atravessara o poente. Gritei Custdia, quem est
na minha cama? Ela espreitou e riu-se:
das febres, ningum est l.
Fui saindo, torteando o passo. Afastmo-nos do hospital, entrmos
pelos trilhos campestres. Naquele tempo, as palhotas dos negros ficavam
longe das povoaes. Caminhava em pleno despenhadeiro, o pequeno
trilho resvalava as infernais e desluzidas profundezas. Me perdi das vistas,
mais tombado que amparado nesse doce corpo de Custdia. Voltei a acordar
como se subisse por uma fresta de luminosidade. Aquela luz fugidia me
pareceu, primeiro, o pleno dia.
Mas depois senti o fumo dessa iluso. O calor me confirmou: estava
frente a uma fogueira. O calor da cozinha da minha infncia me chegou.
NOVEMBRO DE 1997 253
CONTOS
Escutei o roar de longas saias, mulheres mexendo em panelas. Sa da
lembrana, dei conta de mim: estava nu, completamente despido, deitado
em plena areia.
Custdia!, chamei.
Mas ela no estava. Somente dois homens negros baixavam os olhos
em mim. Me deu vergonha ver-me assim, descascado, alma e corpo
despejados no cho. Malditos pretos, se preparavam para me degolar? Um
deles tinha uma lmina. Vi como se agachava, o brilho da lmina me
sacudiu. Gritei: aquela era a minha voz? Me queriam matar, eu estava ali
entregue s puras selvajarias, candidato a ser esquartejado, sem d na
piedade. Me desisti, desvalente, desvalido. De nada lucrava recusar os
intentos do negro. O homem cortou-me, sim. Mas no passou de uma
pequena inciso no peito. Sangrei, fiquei a ver o sangue escorrer, lento
como um rio receoso.
Um dos homens falou em lngua que eu desconhecia, seus modos
eram de ensonar a noite, a voz parecia a mo de Custdia quando ela me
empurrava para o sonho. Voltei a deitar-me. S ento reparei que havia uma
lata contendo um lquido amarelado. Com esse lquido me pintavam, em
besuntao danada. Depois, me ajeitaram o pescoo para me fazerem beber
um amargo licor. Choravam, pareceu-me de incio. Mas no: cantavam em
surdina. Dores de morrer me puxavam as vsceras. Vomitei, vomitei tanto
que parecia estar-me a atirar fora de mim, me desfazendo em babas e
azedos. Cansado, sem flego nem para arfar, me apaguei.
No outro dia, acordei, sem estremunhaes. Estava de novo no
hospital, vestido de meu regulamentar pijama. Qualquer coisa acontecera?
Eu tinha sado em deambulao de magias, rituais africanos? Nada parecia.
Verdade era que eu me sentia bem, pela primeira vez me chegavam as
foras. Me levantei como uma toupeira sada da pesada tampa do escuro.
Primeira coisa: fui janela. A luz me cegou. Podia haver tantas cores, assim
to vivas e quentes?
Foi ento que eu vi as rvores, enormes sentinelas da terra. Nesse
momento aprendi a espreitar as rvores. So os nicos monumentos em
frica, os testemunhos da antigidade. Me diga uma coisa: l fora ainda
existem? Pergunto sobre as rvores.
Quer saber mais? Agora estou cansado. Tenho que respirar muito. H
tanto tempo que eu no falava assim, s horas de tempo. No v ainda,
espere. Vamos fazer uma combinao: voc divulga estas minhas palavras
l no jornal de Portugal como que se chama mesmo o tal jornal? e
depois me ajuda a procurar a minha famlia. que sabe: eu s posso sair
daqui pela mo deles. Seno, que lugar terei l no mundo? Traga-me um
qualquer parente. Quem sabe, depois disso, ficamos mesmo amigos. Voc
sabe como eu confirmo que estou ficando velho? da maneira que no fao
mais amigos. Aqueles de que me lembro so os que eu fiz quando era novo.
A idade nos vai minguando, j no fazemos novas amizades. Da prxima
vez venha com um parente. Ou faa mesmo o senhor de conta que meu
familiar.
254 NOVOS ESTUDOS N. 49
MIA COUTO
O homem da rua*
Ainda o dia andava procura do cu, vinha eu em vagaroso carro que
mais a mim me conduzia. De repente, um homem atravessou a calada,
desavultado vulto avulso. Uma garrafa o empunhava. E ele, todo sbito e
poentio, se embateu frentalmente na viatura. Saltou pelos ares, se aplacando
l mais adiante, onde se iniciava o passeio. Sa do susto para inspeccionar
sua sobrevivncia.
Me debrucei sobre o restante dele, seu rolado enrodilhado. No havia
sangue nem quebradura de osso. O maltrapalhado estava a salvo, salvo erro.
Todavia, me meteu pena: suas vestes eram a sujidade. Havia quase nenhuma
roupa em seu sarro. Mesmo o corpo era o que menos lhe pesava. Os olhos
estavam parados, na grade do rosto. Me pareciam pedir, o qu nem sei.
De inesperado, o vagabundo se ergueu e apressou umas passadas
para encalar o longe. Se entrecuzou com sua sombra, assustado de haver
escuro e luz. Em muito zig e pouco zag ele acabou por se devolver ao cho.
Voltei a acudir, cheio dessa culpa que no cabe na razo. Apanhei o vulto,
desarranjado, sem estrutura. Pareceu tontolinho, sempre agarrado ao
arregalado gargalo. Me deitou olhos muito espantados e pediu desculpa por
incmodos. Apalpou o lugar onde se deitava, e disse:
Um de ns est morrendo.
Entreolhei-me a mim e ao restante mundo. Ele se precisou:
Estou falando da terra, parece ela est moribundando.
Lhe disse que o levaria dali para um stio que fosse dele. Ajudei-lhe a
entrar no meu carro. Ele recusou com terminncia:
No entro em coisa que serve para levar morto.
Amparei o desandrajoso. Se sustentou em meu ombro e me foi
levando pelo passeio sombrio, atravs dessa devastido onde o negro
escurece a preto.
Agora o senhor me entorne aqui...
Aqui?
Esfregando-se no pescoo como se as mos fossem de outrem,
acrescentou:
Aqui, sim. Quero acordar com dormncia de lua.
Dali ele passou a esbanjar conversa. Quem sabe o homem desjejuava
palavra? E dizia sem aparncia nenhuma:
Bem hajam as folhas, minha cama!
E explicava-se enquanto alisava as folhagens mortas: quando se
deitava lhe doa a curva da terra, a costela quebrada do prprio universo.
Assim deitadinho, todo simetrado com o planeta, um subterrneo rio falava
com suas veias.
At foi bom me aleijar um bocado. Ri-se? Nem sabe como bom
haver um cho para a gente ter onde cair.
E nos trocamos nessa conversa com vontade de ser corpo, encosto,
adormecimento. Ficmos a ver as luzinhas da cidade, l em baixo, a lembrar
* Extrado de Contos do nascer
da tetra. Lisboa: Editorial Ca-
minho, 1997.
NOVEMBRO DE 1997 255
CONTOS
que o homem sofre de incurvel medo de ser noite. O pas daquele homem
seria a noite. Meu territrio era o dia, com sua luminescincia tanta que
serve mais para deixarmos de ver.
E pensei: o primeiro alimento a luz. Nos invade logo quando
nascemos. Depois, a luminosidade, com suas infinitas cascatas, nos fica a
engordar a alma. Em mim, pelo menos, a primeira saudade da luz. Direi,
ento: me falta a minha luz natal? Quem sabe a alma deste homem, sempre
ninhado no escuro, emagrecera assim a olhos no-vistos? O homem bicho
diurno. O dia bicho humano?
Me foi descendo, espesso, o sono. Avancei despedida no sem retirar
do bolso algumas notas que estendi em direo ao desastrado:
Deixo o senhor com algum dinheiro. Quem sabe lhe viro, mais
tarde, as dores do acidente?
Para meu espanto ele recusou. Sem veemncia, sem nenhum nfase.
Era recusa verdadeira.
Posso pedir uma qualquer coisa?
Pea.
Me d um pouco mais da sua acompanhia. S isso: acompanhia.
Ainda hesitei, inesperando aquele pedido. O homem nem me fitava,
estivesse envergonhado. E assim, de cabea baixa, insistiu:
que, sabe, eu no tenho ningum. Antes ainda tinha quem me
dispensasse migalha de conversa. Mas, agora, j nem. E me d um medo de
me sozinhar por esses ais.
Quase que falava para dentro, eu devia baixar orelha para o entender.
Assim, cabismudo, prosseguiu:
Sabe o que fao? Vou dizer... mas o senhor me prometa que no
zanga...
Prometo.
O que eu fao, agora, me deixar atropelar. ser embatido num
resvalo de quase nada. Indemnizao que peo s esta: companhia de uma
noite.
Fiquei quieto sem me achar convenincia. Em gesto nem palavra me
defendiam. O atropelado centrou esforo em se erguer, mo sobre o joelho.
J de p me segurou o cotovelo:
Pode ir, vontade. Nem imagina como senhor me fez bem, me bater
e, depois, me falar. Agora j nem sinto dor nem dentro nem fora.
Ainda fiz meno de ficar, perdido entre garganta e corao. Mas o
andrajoso levantou o brao, em serena sentena:
V, meu amigo, v na sua vida.
Regressei ao carro. Arranquei-me dali, devagar. Olhei no espelho para
retrover o vagabundo. Me lembrei ento que nem o nome dele eu anotara.
Lhe chamo agora: o homem da rua. Seu nome ficar assim, inominvel,
simplesmente: homem da rua. Lembrando este tempo em que deixou de
haver a rua do homem.
256 NOVOS ESTUDOS N. 49
Você também pode gostar
- Literaturas africanas: perspectivas e desafios no século XXINo EverandLiteraturas africanas: perspectivas e desafios no século XXIAinda não há avaliações
- A Importância De Kindzu E Suas Cartas Na Busca De Muidinga:No EverandA Importância De Kindzu E Suas Cartas Na Busca De Muidinga:Ainda não há avaliações
- MUHURAIDA (Com Correções) Sem ResumoDocumento35 páginasMUHURAIDA (Com Correções) Sem ResumoEduardo AmaroAinda não há avaliações
- Artigo de João Batista TeixeiraDocumento10 páginasArtigo de João Batista TeixeiraGustavo Ramos de SouzaAinda não há avaliações
- Resumo para ProvaDocumento6 páginasResumo para ProvaJulio Avelino SambambiAinda não há avaliações
- FolhetimDocumento6 páginasFolhetimEmerson PauloAinda não há avaliações
- Literatura AfricanaDocumento7 páginasLiteratura AfricanaEdmarcia TintaAinda não há avaliações
- O Mundo MisturadoDocumento7 páginasO Mundo MisturadoRenata SantiagoAinda não há avaliações
- Cabaço, José Luis - A Questão Da Diferença Na Literatura MoçambicanaDocumento9 páginasCabaço, José Luis - A Questão Da Diferença Na Literatura MoçambicanaMárcio SenaAinda não há avaliações
- Breve Análise Sobre A Geopolítica Da Comparação Elysmeire e AdrianaDocumento30 páginasBreve Análise Sobre A Geopolítica Da Comparação Elysmeire e AdrianaElysmeire da Silva Oliveira PessôaAinda não há avaliações
- ArtigoMemóriasPeriféricas Diego BarbosaDocumento18 páginasArtigoMemóriasPeriféricas Diego BarbosadiegohamAinda não há avaliações
- Duas Meninas ItineranciasDocumento25 páginasDuas Meninas ItineranciasVera Lúcia Silva VieiraAinda não há avaliações
- Valongo 1Documento19 páginasValongo 1Agenor ManoelAinda não há avaliações
- Entre LugarDocumento16 páginasEntre LugarSimone Paulino100% (1)
- Milton Hatoum e o Regionalismo RevisitadoDocumento19 páginasMilton Hatoum e o Regionalismo RevisitadoMariana Barbieri MantoanelliAinda não há avaliações
- Admin,+9255 32821 1 CEDocumento8 páginasAdmin,+9255 32821 1 CEcarolineAinda não há avaliações
- Personagens Andarilhos, Palavras MigrantesDocumento3 páginasPersonagens Andarilhos, Palavras MigrantesAryanna OliveiraAinda não há avaliações
- O Caminho Da Transculturação em O Outro Pé Da SereiaDocumento13 páginasO Caminho Da Transculturação em O Outro Pé Da SereiaRodolfo MelloAinda não há avaliações
- Karingana Ua Karingana Mia Couto Um Contador de HiDocumento15 páginasKaringana Ua Karingana Mia Couto Um Contador de HiBencley ChaloAinda não há avaliações
- Dialnet Choriro 6756144Documento12 páginasDialnet Choriro 6756144João Valito AntónioAinda não há avaliações
- Anais SIHTP 2023 ST08 Fabricio Almeida VersaofinalDocumento13 páginasAnais SIHTP 2023 ST08 Fabricio Almeida VersaofinalPré-Universitário Oficina do Saber UFFAinda não há avaliações
- Para Um Debate Sobre Lusofonia51060Documento5 páginasPara Um Debate Sobre Lusofonia51060Ana Mónica PintoAinda não há avaliações
- Fernanda Cavacas - Mia Couto - Palavra Oral de Sabor QuotidianoDocumento18 páginasFernanda Cavacas - Mia Couto - Palavra Oral de Sabor QuotidianoSueli SaraivaAinda não há avaliações
- Aula 04Documento22 páginasAula 04Iza BelAinda não há avaliações
- Análise Histórica de O CortiçoDocumento4 páginasAnálise Histórica de O CortiçoArymaDoCarmoBrancoAinda não há avaliações
- A Segregação e A Hostilidade Presentes em "Os Lusíadas" de Luís de CamõesDocumento8 páginasA Segregação e A Hostilidade Presentes em "Os Lusíadas" de Luís de CamõesVitor SahioneAinda não há avaliações
- O Desafio Do Escombro - Moema Augel - Cap 4Documento51 páginasO Desafio Do Escombro - Moema Augel - Cap 4Juliana GuedesAinda não há avaliações
- Romantismo No BrasilDocumento10 páginasRomantismo No BrasilJulia FernandesAinda não há avaliações
- A Quantas Gentes Vês Porás o FreioDocumento18 páginasA Quantas Gentes Vês Porás o FreioAnna LeeAinda não há avaliações
- Mia Couto o Outro Lado Das Palavras e Dos SonhosDocumento14 páginasMia Couto o Outro Lado Das Palavras e Dos SonhosJossefa ArmindoAinda não há avaliações
- Poema, Os Escravos, de Manuel CostaDocumento6 páginasPoema, Os Escravos, de Manuel CostaRosana Aniceto GuerraAinda não há avaliações
- Rita Chaves - Mayombe Um Romance Contra CorrentesDocumento10 páginasRita Chaves - Mayombe Um Romance Contra CorrentesSueli SaraivaAinda não há avaliações
- Ensaio Terra SonâmbulaDocumento5 páginasEnsaio Terra SonâmbulaEmanuelle AmaralAinda não há avaliações
- A Arte de Vestir PDFDocumento15 páginasA Arte de Vestir PDFSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- A Arte de Vestir PDFDocumento15 páginasA Arte de Vestir PDFSilvana CarvalhoAinda não há avaliações
- Diálogo Entre Juan Rulfo e Guimarães RosaDocumento7 páginasDiálogo Entre Juan Rulfo e Guimarães RosaericazinganoAinda não há avaliações
- O Conto MoçambicanoDocumento3 páginasO Conto MoçambicanoRonaldo CarvalhoAinda não há avaliações
- E1410-14651-Texto Do artigo-54523-1-Ubiratan-DOSSIE-VF-apDocumento17 páginasE1410-14651-Texto Do artigo-54523-1-Ubiratan-DOSSIE-VF-apS. LimaAinda não há avaliações
- Romanceiro Da InconfidênciaDocumento4 páginasRomanceiro Da InconfidênciaLucca FiorottiAinda não há avaliações
- Camões, Renascimento e Os Lusiadas 05 de Novembro - JULIANADocumento14 páginasCamões, Renascimento e Os Lusiadas 05 de Novembro - JULIANAarmindoAinda não há avaliações
- Construções e Desconstruções Da Memória PDFDocumento11 páginasConstruções e Desconstruções Da Memória PDFGlaydson José da SilvaAinda não há avaliações
- 49613-Texto Do Artigo-60952-1-10-20130108Documento22 páginas49613-Texto Do Artigo-60952-1-10-20130108armindoAinda não há avaliações
- Discurso Sobre o Colonialismo - AIME CESAIREDocumento34 páginasDiscurso Sobre o Colonialismo - AIME CESAIREMarcus Vinicius Lima Martins100% (4)
- Carranca03 20Documento28 páginasCarranca03 20Jrenato De Carvalho BarbosaAinda não há avaliações
- A Bárbora e o Jau - A Escravatura em CamõesDocumento18 páginasA Bárbora e o Jau - A Escravatura em Camõesantónio_gomes_47Ainda não há avaliações
- Apostila o Literatura Conteudo 2 AnoDocumento17 páginasApostila o Literatura Conteudo 2 AnoAdeilsonAinda não há avaliações
- Francisco Noa - OS TRILHOS E AS MARGENS...Documento12 páginasFrancisco Noa - OS TRILHOS E AS MARGENS...Ailton Leal Pereira100% (1)
- O Salto para Outra Margem - Laura Padilha-1-1Documento36 páginasO Salto para Outra Margem - Laura Padilha-1-1Joy CostaAinda não há avaliações
- O Castelo e o Latifúndio: o Nordeste Medieval em Cordel EncantadoDocumento15 páginasO Castelo e o Latifúndio: o Nordeste Medieval em Cordel EncantadoBruno RomãoAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Nós, Os Do MakulusuDocumento13 páginasArtigo Sobre Nós, Os Do MakulusuFabiana FranciscoAinda não há avaliações
- Literatura de Cordel e Realismo MágicoDocumento229 páginasLiteratura de Cordel e Realismo MágicoGuilherme TruccoAinda não há avaliações
- Aula Sobre Literatura Classica e MédiaDocumento5 páginasAula Sobre Literatura Classica e MédiaPablo MartinsAinda não há avaliações
- Aula Sobre Os LusíadasDocumento27 páginasAula Sobre Os LusíadasTeoria2Ainda não há avaliações
- O Tema Do Índio e A Consciência de Nossa DiferençaDocumento15 páginasO Tema Do Índio e A Consciência de Nossa Diferençacariry10Ainda não há avaliações
- Thiago de Mello - Uma Poética Do Lugar - Marcos Aurelio MarquesDocumento5 páginasThiago de Mello - Uma Poética Do Lugar - Marcos Aurelio MarquesEmanuelly FalquetoAinda não há avaliações
- Deslocamentos Imperiais e Percepções de Alteridade - o Caso Da Literatura Colonial - MataDocumento14 páginasDeslocamentos Imperiais e Percepções de Alteridade - o Caso Da Literatura Colonial - MataAilton Leal PereiraAinda não há avaliações
- Versão Resuminda Do Livro A Vida Cotidiana Na Roma Antiga, FunariDocumento12 páginasVersão Resuminda Do Livro A Vida Cotidiana Na Roma Antiga, FunaridosbrejoAinda não há avaliações
- Texto 3Documento10 páginasTexto 3Adelmira AlvesAinda não há avaliações
- Formação Da Literatura Brasileira - CandidoDocumento13 páginasFormação Da Literatura Brasileira - CandidoJoão Ivo GuimarãesAinda não há avaliações
- Um Defeito de Cor, de Ana Maria GonçalvesDocumento9 páginasUm Defeito de Cor, de Ana Maria GonçalvesAilton Benedito de Sousa100% (2)
- Viagem À Atlântida Através de PortugalDocumento23 páginasViagem À Atlântida Através de PortugalJorge PortesAinda não há avaliações
- Ja-07 09 2020Documento32 páginasJa-07 09 2020Wms OrvandoAinda não há avaliações
- 855 GeografiaDocumento3 páginas855 GeografiaDavid MontesAinda não há avaliações
- Draconian OsDocumento34 páginasDraconian OsDesligandoaMatrixAinda não há avaliações
- Budistas e ArmasDocumento4 páginasBudistas e ArmasRutinaldo Miranda MirandaAinda não há avaliações
- Ásia 1Documento3 páginasÁsia 1Mislene LanznasterAinda não há avaliações
- ESO 1008 - História Do Escutismo MundialDocumento37 páginasESO 1008 - História Do Escutismo MundialVictor FernandesAinda não há avaliações
- Geografia Exercicios Geopolitica MundialDocumento50 páginasGeografia Exercicios Geopolitica MundialMárcia Vilero100% (1)
- Leia Estas Instruções:: UFRN Escola Agrícola de Jundiaí Seleção 2023 Oh, Quanto Me Pesa Este Coração, Que É de Pedra!Documento12 páginasLeia Estas Instruções:: UFRN Escola Agrícola de Jundiaí Seleção 2023 Oh, Quanto Me Pesa Este Coração, Que É de Pedra!Leandro Vital100% (1)
- A Invensão Das Tradições - Capítulo 6 - A Invensão Da Tradição Na África ColonialDocumento52 páginasA Invensão Das Tradições - Capítulo 6 - A Invensão Da Tradição Na África ColonialaurelinaAinda não há avaliações
- China Sob MaoDocumento25 páginasChina Sob MaoIracema VasconcellosAinda não há avaliações
- Matematica Cba AlunoDocumento97 páginasMatematica Cba AlunoCássio Magela da Silva100% (5)
- Desidratação Osmótica de MangaDocumento41 páginasDesidratação Osmótica de MangaronaldlemeAinda não há avaliações
- O Sonho de Rāva A Um Tratado Mistico Da IndiaDocumento19 páginasO Sonho de Rāva A Um Tratado Mistico Da IndiaMoisés Ferreira100% (1)
- Roger Garaudy - Apelo Aos Vivos - 2º Edição - Ano 1979Documento69 páginasRoger Garaudy - Apelo Aos Vivos - 2º Edição - Ano 1979Marcelo OlegarioAinda não há avaliações
- Questões para MultiDocumento1 páginaQuestões para MultiHayane KimuraAinda não há avaliações
- Hinos Do Atharva VedaDocumento10 páginasHinos Do Atharva VedaRac A Bruxa0% (1)
- 1 - Conversão de Judeus, Mouros e Gentios e Condição Dos Recém-Convertidos PDFDocumento13 páginas1 - Conversão de Judeus, Mouros e Gentios e Condição Dos Recém-Convertidos PDFfn7w986czyAinda não há avaliações
- (Gandhi) (Ambição Nua) (Jad Adams) PDFDocumento1.404 páginas(Gandhi) (Ambição Nua) (Jad Adams) PDFCleber SegallAinda não há avaliações
- VARIKAS, Eleni. Os Refugos Do Mundo.. Figuras Do PáriaDocumento30 páginasVARIKAS, Eleni. Os Refugos Do Mundo.. Figuras Do PáriaAnonymous QMFYEGcfZ7Ainda não há avaliações
- Os Vedas e o EgitoDocumento10 páginasOs Vedas e o Egitorcunha35Ainda não há avaliações
- Aula Fome Texto Do ObservatorioDocumento34 páginasAula Fome Texto Do ObservatorioCESAR TANAJURAAinda não há avaliações
- As Origens Da Segunda Guerra MundialDocumento21 páginasAs Origens Da Segunda Guerra MundialAnanda KravinskAinda não há avaliações
- IMPERIALISMODocumento6 páginasIMPERIALISMOCátiaAinda não há avaliações
- MercDocumento106 páginasMercluterio chilauleAinda não há avaliações
- R Estruturas Edição06Documento68 páginasR Estruturas Edição06pauloamancioferroAinda não há avaliações
- Plano de Ensino Geografia 8º - Alinhado À BNCC - COMAGS - 2020Documento16 páginasPlano de Ensino Geografia 8º - Alinhado À BNCC - COMAGS - 2020ETEVALDO OLIVEIRA LIMA100% (1)
- I Intro Permacultura Transcrição B. Mollison PDFDocumento10 páginasI Intro Permacultura Transcrição B. Mollison PDFMorghana Alves JoãoAinda não há avaliações
- A Essência Da IluminaçãoDocumento18 páginasA Essência Da IluminaçãoJackson A. PiresAinda não há avaliações
- A Mente Humana PDFDocumento334 páginasA Mente Humana PDFmarcosleao100% (3)