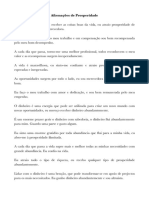Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Gato Preto-2
Enviado por
Conta De filme0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações7 páginasEdgar Allan Poe
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoEdgar Allan Poe
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
31 visualizações7 páginasO Gato Preto-2
Enviado por
Conta De filmeEdgar Allan Poe
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 7
O Gato Preto - Edgar Allan Poe (1943)
Tradução pela editora Darkside
Para a narrativa fantástica, embora prosaica, que estou prestes a relatar, não espero ou
peço crédito. Eu seria louco se de fato esperasse por isso, sendo uma história cujas
evidências são rejeitadas por meus próprios sentidos. Contudo, não sou louco — e, com
toda a certeza, não foi um sonho. Mas amanhã estarei morto, e hoje preciso remover este
fardo de minha alma. Meu intento imediato é expor perante o mundo, de maneira direta,
sucinta e sem especulações, uma série de meros acontecimentos domésticos. Tais
acontecimentos, em suas consequências, me aterrorizaram, me torturaram, me destruíram.
No entanto, não tentarei explaná-los. Para mim, apresentaram-se como total Horror — para
muitos, hão de parecer mais barrocos do que terríveis. É possível que, doravante, algum
espírito mais sábio possa reduzir minha ilusão ao lugar-comum — algum sábio de natureza
mais calma, mais lógica e menos excitável do que a minha, que perceberá, nas
circunstâncias que detalharei com assombro, nada além de uma sucessão insuspeita de
causas e efeitos bastante naturais.
Desde criança, sou conhecido por meu temperamento dócil e humano. A ternura de meu
coração era conspícua a ponto de tornar-me motivo de escárnio por parte de meus
companheiros. Era especialmente afeiçoado aos bichos, e meus pais sempre me
agradaram com uma grande variedade de animais de estimação. Passava a maior parte do
tempo com eles e nada me alegrava mais do que alimentá-los e acariciá-los. Esse traço de
personalidade cresceu junto comigo e, na idade adulta, constituía uma de minhas principais
fontes de contentamento. Para aqueles que já nutriram afeição por um cão fiel e sagaz, não
preciso me dar ao trabalho de explicar a natureza ou a intensidade da gratificação que
obtemos de tal vínculo. Há algo de altruísta e abnegado no amor de um animal que toca o
coração daquele que pôde testar amiúde a amizade precária e a fidelidade leviana dos
Homens.
Casei-me cedo e foi com alegria que descobri em minha esposa uma inclinação
semelhante. Observando a afeição que eu tinha pelos animais domésticos, ela não hesitou
em providenciar os mais adoráveis. Tivemos pássaros, um peixe-dourado, um cão, coelhos,
um mico e um gato.
Este último era um animal de porte e beleza sem par, todo negro e de uma sagacidade
impressionante. Ao comentar sobre sua inteligência, minha mulher — que, no fundo, era um
pouco influenciada pela superstição — aludia repetidas vezes à antiga crendice popular,
segundo a qual todos os gatos pretos eram bruxas disfarçadas. Não que ela acreditasse
nisso de verdade — menciono o fato apenas por ter me ocorrido à lembrança.
Plutão,[6] o gato, era meu animal de estimação favorito, meu melhor companheiro. Só eu o
alimentava e ele me seguia por toda parte. Era com dificuldade que o impedia de me seguir
pelas ruas quando saía de casa.
Nossa amizade conservou-se assim por vários anos, durante os quais meu temperamento e
minha personalidade — por obra do Demônio da Intemperança — experimentaram uma
mudança radical (ruborizo ao confessar) para pior. A cada dia, tornava-me mais inconstante,
mais irritável, mais insensível aos sentimentos alheios. Dirigia-me à minha esposa com uma
linguagem intempestiva. Por fim, acabei fazendo uso de violência física contra ela. Os
animais, é claro, sentiram as alterações em meu humor. Eu não apenas os negligenciava,
como passei a maltratá-los. No entanto, conseguia manter estima suficiente por Plutão para
não o atormentar, como fazia sem escrúpulos com os coelhos, o mico ou até mesmo o cão,
quando, por acidente ou afeição, eles se punham em meu caminho. Porém, a doença
tomou conta de mim — pois o álcool é uma doença! — e, por fim, até mesmo Plutão (que já
estava ficando velho e, portanto, um pouco impertinente), até mesmo ele passou a sofrer os
efeitos do meu mau gênio.
Certa noite, ao chegar em casa muito embriagado após uma de minhas incursões noturnas
pela cidade, cismei que o gato me evitava. Eu o segurei à força e, assustado com tanta
violência vinda de mim, ele feriu minha mão com uma leve mordida. Na mesma hora, fui
possuído por uma fúria demoníaca. Mal podia me reconhecer. Minha alma parecia ter
escapado e uma maldade mais do que diabólica, alimentada pelo gim, eletrizava cada fibra
de meu corpo. Tirei um canivete do bolso do casaco, abri-o, agarrei o pobre animal pelo
pescoço e, deliberadamente, removi um de seus olhos! Sinto-me ruborizar, sinto-me febril e
estremeço ao relatar tamanha atrocidade execrável.
Quando recuperei a razão na manhã seguinte — tendo depurado em sono o veneno dos
excessos noturnos —, experimentei uma mescla de horror e remorso pelo crime do qual era
culpado; mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e ambíguo, e minha alma
permanecia impermeável. Mais uma vez, mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho a
lembrança de meu feito.
Entrementes, o gato foi se recuperando aos poucos. A órbita do olho removido, é bem
verdade, exibia uma aparência tenebrosa, mas ele não mais parecia sofrer dor alguma.
Vagava pela casa como de costume, porém, como se poderia imaginar, fugia em terror
absoluto quando eu me aproximava dele. Preservava ainda uma porção suficiente de meu
antigo coração para lamentar a evidente ojeriza de uma criatura que outrora me amara
tanto. Entretanto, tal sentimento logo deu lugar à irritação. E então, em minha queda
derradeira e irrevogável, apossou-se de mim o espírito da perversidade. A filosofia ignora tal
espírito. Contudo, com a mesma certeza com que creio em minha alma, acredito que a
perversidade seja um dos impulsos primitivos do coração humano — uma de suas
faculdades primárias indivisíveis, ou sentimentos, que fornecem direção ao caráter do
Homem. Quem, centenas de vezes, não se viu cometendo um ato vil ou estúpido pelo
simples motivo de saber que lhe é proibido? Não temos uma inclinação perpétua, a despeito
de nosso juízo, para violar a Lei apenas por compreendê-la como tal? O espírito da
perversidade, eu dizia, trouxe-me a derrocada final. Foi esse anseio insondável da alma em
se conspurcar — de oferecer violência à própria natureza, de maltratar por maltratar — que
me impeliu a continuar e, por fim, consumar o dano que já infligira a um animal que jamais
me causara mal algum. Em uma manhã, a sangue-frio, passei uma corda ao redor de seu
pescoço e o pendurei no galho de uma árvore; enforquei-o com as lágrimas correndo por
meu rosto e sentindo a pontada do remorso mais pungente em meu coração; enforquei-o
porque sabia que havia me amado e porque sentia que não me dera motivo algum para lhe
causar mal; enforquei-o por saber que, ao fazê-lo, estava cometendo um pecado — um
pecado mortal que, se possível, colocaria em risco minha alma eterna, alijando-a para além
da misericórdia infinita do Deus Mais Piedoso e Mais Terrível.
Durante a noite, no dia em que cometi tal ato cruel, fui despertado de meu sono por um grito
acusando incêndio. As cortinas de meu quarto estavam pegando fogo. A casa inteira ardia
em chamas. Foi com grande dificuldade que minha esposa, meu criado e eu conseguimos
escapar do fogaréu. A destruição foi absoluta. Toda a riqueza mundana que eu possuía foi
devorada pelo fogo e fui obrigado a resignar-me diante do desespero.
Não vou ceder à fraqueza de buscar estabelecer uma relação de causa e efeito entre o
desastre e a atrocidade. No entanto, estou detalhando uma cadeia de fatos — e não quero
deixar solto nenhum elo possível. No dia posterior ao incêndio, visitei as ruínas. As paredes,
com uma única exceção, haviam desmoronado. Restou apenas uma parede interna, não
muito espessa, que se erguia no meio da casa, contra a qual repousava a cabeceira de
minha cama. Seu reboco resistira, em grande medida, à ação do incêndio — fato que atribuí
à sua aplicação recente. Em torno dessa parede, reunira-se uma expressiva multidão e
várias pessoas pareciam examinar uma região específica com muita atenção e interesse.
Exclamações como “Estranho!”, “Singular!” e outras semelhantes despertaram minha
curiosidade. Aproximei-me e vi, como se entalhado em baixo relevo na superfície branca, a
figura de um enorme gato. A imagem era de uma precisão extraordinária. Havia uma corda
em volta do pescoço do animal.
Quando fitei aquela aparição — decerto fantasmagórica —, experimentei grande surpresa e
horror. No entanto, por fim, fui acudido pela razão. O gato, relembrei, havia sido enforcado
em um jardim contiguo à casa. Ao alarme de incêndio, o jardim fora de pronto invadido pela
multidão e alguém deveria ter removido o animal da árvore, atirando-o em meu quarto pela
janela aberta. Isso deve ter sido feito no intuito de me despertar do sono. A queda das
demais paredes comprimira a vítima de minha crueldade na massa do emboço recém-feito;
a cal, com as chamas do incêndio e a amônia da carcaça do animal, fora responsável pelo
relevo que eu agora contemplava.
Embora tenha sem demora apelado para a razão, bem como para a consciência, a fim de
justificar o fato surpreendente que acabo de detalhar, não pude evitar que causasse
profunda impressão em minha mente. Por meses a fio, não consegui me livrar do fantasma
do gato; e, durante esse ínterim, tornei a experimentar um sentimento impreciso que
parecia, mas não era, remorso. Cheguei de fato a lamentar a perda do animal e a buscar ao
meu redor, nos redutos torpes que passara a frequentar com assiduidade, outro bicho de
estimação da mesma espécie, com aparência semelhante, que pudesse substituí-lo.
Certa noite, entorpecido em um antro de incontestável infâmia, atinei para uma silhueta
preta, repousada sobre a tampa de um dos imensos barris de gim ou de rum, que
compunham praticamente toda a mobília do local. Contemplei, concentrado, a superfície do
barril por alguns minutos e surpreendi-me ao constatar que não percebera a sombra antes.
Aproximei-me e a toquei com a mão. Era um gato preto — um felino imenso — tão grande
quanto Plutão e parecido com ele em todos os aspectos, com uma única exceção. Ao
contrário de meu antigo animal, que não possuía um único pelo branco no corpo, o gato
exibia uma extensa mancha branca, indefinida, que lhe cobria todo o peito.
Tão logo foi tocado, ele se levantou, ronronando alto, e pôs-se a se esfregar em minha mão,
mostrando-se satisfeito com a atenção. Pareceu-me ser exatamente o animal que estava
procurando. Ofereci-me para comprá-lo do proprietário do local; ele, no entanto, alegou não
ser o dono — nada sabia ao seu respeito nem nunca o vira antes.
Continuei a afagá-lo e, quando estava prestes a ir embora, o animal manifestou desejo de
acompanhar-me. Aceitei que me seguisse; curvava-me, de quando em vez, para acariciá-lo.
Ao chegarmos em casa, ele logo se mostrou à vontade no novo espaço, tornando-se de
imediato o favorito de minha mulher.
Quanto a mim, não tardou para que eu percebesse em meu íntimo uma crescente aversão
ao animal. Era o oposto do que eu previa; mas não sabia como ou por que sua evidente
afeição me enojava e irritava. Aos poucos, o nojo e a irritação deram lugar à amargura do
ódio. Eu o evitava. Uma certa vergonha e a lembrança de meu ato de crueldade me
impediam de machucá-lo fisicamente. Por algumas semanas, não lhe bati ou maltratei; mas,
pouco a pouco — de maneira bem gradual —, passei a fitá-lo com indizível ojeriza e a fugir
de sua odiosa presença como quem evita um ar pestilento.
O que agravou, sem dúvida, meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte, de
que, como Plutão, ele também havia perdido um dos olhos. Tal circunstância tornou-o ainda
mais caro à minha mulher, que, como já mencionei, possuía um temperamento assaz
humano, o qual, outrora, representara um traço de meu caráter, bem como a fonte de
muitos de meus mais simples e puros deleites.
Minha aversão ao gato, no entanto, parecia crescer em escala proporcional à sua
predileção por mim. Ele seguia meus passos com uma tenacidade que o leitor dificilmente
poderá compreender. Quando me sentava, aninhava-se sob minha cadeira ou pulava em
meu colo, cobrindo-me com suas repulsivas carícias. Se me levantava para andar, metia-se
entre meus pés quase me fazendo tropeçar ou, cravando as garras longas e afiadas em
minha roupa, subia por meu corpo até alcançar o peito. Nessas ocasiões, embora
desejasse destruí-lo com um golpe, ainda conseguia me conter, em parte pela memória do
crime que cometi anteriormente, mas, sobretudo — deixe-me confessar de uma vez —, pelo
pavor absoluto que o animal me inspirava.
Não temia exatamente um dano físico; contudo, não saberia definir esse medo de outra
maneira. É com muita vergonha que admito — sim, mesmo agora, condenado nesta cela, é
com muita vergonha que admito — que o terror e o horror que o animal me inspirava
haviam sido exacerbados por um dos devaneios mais triviais que se possa conceber. Minha
esposa chamara-me a atenção, mais de uma vez, para o aspecto da mancha branca do
animal, à qual já me referi e que constituía a única diferença visível entre a misteriosa
criatura e o gato que eu destruíra. O leitor há de recordar que tal mancha, embora extensa,
era originalmente indefinida; mas, aos poucos — de modo quase imperceptível, com o qual
minha mente lutou por muito tempo para rejeitar como fantasioso —, ela foi ganhando um
contorno cada vez mais nítido. Era então a representação de um objeto que tremo ao
nomear — e, por esse motivo, acima de todos os demais, eu abominava, temia e teria me
livrado do monstro se tivesse tido coragem; era agora, como ia dizendo, a imagem de algo
horrendo, macabro: a imagem de uma forca! Ah, lúgubre e tenebroso instrumento do Horror
e do Crime, da Agonia e da Morte!
Eu agora estava desgraçado para além de qualquer tragédia humana. E que um animal
estúpido, cujo semelhante eu destruíra com tamanho desprezo, que um animal estúpido
fosse capaz de impingir a mim — a mim, homem, feito à semelhança do Deus Altíssimo —
um sofrimento tão insuportável! Ai de mim! Passei a desconhecer, fosse dia ou noite, a
benção do repouso! Durante o dia, a criatura não me deixava um instante sozinho; à noite,
despertava de hora em hora de sonhos de inexprimível pavor para me deparar com aquele
demônio baforando seu hálito quente em meu rosto, o corpo volumoso — um pesadelo
encarnado do qual não podia me desvencilhar — pairando como um peso eterno sobre meu
coração!
Soterrado pela pressão de tais tormentos, o resquício de bondade que havia em mim
sucumbiu. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros íntimos — as
ideias mais tenebrosas e soturnas. A instabilidade de meu habitual temperamento
acentuou-se em um ódio generalizado de tudo e por todos; enquanto isso, minha resignada
esposa era a principal e mais paciente vítima dos ataques súbitos, frequentes e
incontroláveis de uma fúria à qual eu então me abandonava cegamente.
Certo dia, ela me acompanhou, por ocasião de um afazer doméstico, até o porão da velha
casa onde fomos obrigados a morar em virtude de nossa pobreza. O gato me seguiu,
descendo pelos íngremes degraus e, quase me fazendo cair de cabeça, exasperou-me às
raias da loucura. Erguendo um machado e esquecendo, em minha ira, o pavor pueril que
até então me cerceara, preparei um golpe que, é claro, teria sido fatal caso eu tivesse
acertado o alvo. Porém, a mão de minha mulher o impediu. Instigado, pela interferência, a
uma ira ainda mais demoníaca, desvencilhei-me do toque dela e enterrei o machado em
seu crânio. Ela caiu morta na hora, sem emitir um único gemido.
Após cometer o hediondo assassinato, engajei-me de imediato, com total deliberação, na
tarefa de ocultar o cadáver. Sabia que seria impossível removê-lo da casa, fosse de dia ou
de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Diversas ideias me ocorreram.
Em determinado momento, pensei em esquartejar o corpo em diminutos fragmentos e
depois destruí-los no fogo. Depois, ponderei se deveria cavar uma cova no assoalho do
porão. Mais adiante, cogitei arremessá-lo no poço do jardim. Ocorreu-me também embalá-lo
em uma caixa, como se fosse uma mercadoria, com todos os arranjos habituais, e arrumar
um carregador para retirá-lo da casa. Por fim, optei pela solução que me pareceu melhor do
que qualquer uma das anteriores. Decidi emparedá-lo no porão — como, segundo relatos,
faziam os monges com as suas vítimas na Idade Média.
O local era bem adaptado para tal propósito. As paredes não eram muito sólidas e haviam
sido recentemente emboçadas com um grosso reboco que não estava ainda de todo firme
em virtude da umidade do local. Ademais, em uma das paredes, havia uma reentrância,
projetada como uma falsa chaminé ou lareira, que fora preenchida para se igualar ao
restante do porão. Logo constatei que podia desalojar os tijolos naquele lugar, acomodar o
cadáver e vedar a parede novamente, de modo que observador algum jamais poderia
desconfiar de que havia algo suspeito ali.
Meus cálculos não me enganaram. Com a ajuda de um pé de cabra, removi com facilidade
os tijolos e, após ter depositado com muito cuidado o cadáver contra a parede interna,
imobilizei-o nessa posição enquanto reerguia, sem grande dificuldade, a estrutura tal como
estivera antes. Após localizar argamassa, areia e fibras com extremada precaução, preparei
um reboco semelhante ao antigo e apliquei-o com muito cuidado sobre a nova estrutura. Ao
concluir o trabalho, fiquei satisfeito com o bom resultado. A parede não traía qualquer
indício suspeito. Recolhi a sujeira do chão com atenção minuciosa. Olhei ao redor,
triunfante, e disse a mim mesmo: “Aqui, pelo menos, meu trabalho não terá sido em vão”.
O próximo passo foi procurar a criatura que havia causado tamanha desgraça; estava
firmemente decidido a matá-lo de uma vez por todas. Se o tivesse encontrado naquele
momento, o destino do animal não teria sido outro; mas, ao que parecia, o engenhoso bicho
alarmara-se com a violência de minha raiva e evitava se expor em minha presença, estando
eu naquele estado de espírito. É impossível descrever ou imaginar o alívio profundo e
regozijante que a ausência da detestável criatura provocou em mim. Ele não apareceu
durante a noite — e dessa forma, pela primeira vez desde que o gato fora morar conosco,
tive um sono tranquilo; sim, dormi bem, mesmo com o fardo do crime pesando em minha
alma!
O segundo e o terceiro dias se passaram sem que meu algoz regressasse a casa. Pude,
mais uma vez, respirar aliviado a liberdade. O monstro, aterrorizado, fora embora para
sempre! Nunca mais o veria novamente! Minha felicidade era absoluta! A culpa por meu ato
sombrio sequer me perturbava. Foram feitas algumas investigações, mas respondi de
pronto a todas as perguntas. Conduziram até mesmo uma busca — mas, é claro, nada foi
descoberto. A alegria futura parecia-me garantida.
No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu de surpresa em minha
casa a fim de executar uma rigorosa investigação no local. No entanto, estava tão seguro
acerca da inescrutabilidade do esconderijo que não me senti nem um pouco acuado. Os
policiais solicitaram que eu os acompanhasse em sua busca. Canto ou nicho algum
escapou de seu escrutínio. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram ao porão.
Mantive-me estoico. Meu coração batia com a tranquilidade dos que repousam inocentes.
Atravessei o porão, de um lado para o outro. Cruzando os braços, perambulei por toda sua
extensão. Os policiais, mais do que satisfeitos, já estavam prontos para partir. Contudo, a
euforia em meu peito era muito forte para ser contida. Ansiava por dizer apenas uma
palavra, à guisa de triunfo, para certificar-me de que estavam convencidos de minha
inocência.
— Cavalheiros — disse-lhes, por fim, enquanto subiam as escadas — estou feliz por ter
aplacado suas suspeitas. Desejo-lhes saúde e um pouco mais de cortesia. À propósito,
esta… esta é uma casa muito bem construída. — Na ânsia desarrazoada de comentar uma
amenidade, eu mal sabia o que estava dizendo. — Extremamente bem construída, se me
permitem dizer. Estas paredes… Já estão de saída, cavalheiros?… Estas paredes foram
assentadas com muita solidez. — E, nesse momento, tomado pelo frenesi da bravata,
golpeei com a bengala que trazia na mão o local exato onde, oculto sob os tijolos, jazia o
cadáver de minha estimada mulher.
Que Deus me livre e guarde das presas do Demônio! Mal silenciara o eco dos meus golpes,
reverberou uma voz vinda do túmulo! Um grito, primeiro abafado, entrecortado como o
choro de uma criança, que, logo depois, cresceu em um som ensurdecedor e contínuo,
anormal e inumano — um urro — um lamento pungente, que mesclava horror e triunfo, do
tipo que só poderia ter vindo do inferno, escapando da garganta dos amaldiçoados em sua
agonia e dos demônios que exultavam na danação.
É tolice relatar os pensamentos que me tomaram naquele momento. Desfalecendo,
cambaleei até a parede oposta. Por um momento, os policiais parados na escada
mantiveram-se imóveis, tomados por terror e espanto. Logo em seguida, doze braços fortes
arrancavam os tijolos. A parede veio abaixo. O corpo, já em avançado estado de
decomposição e coberto de sangue coagulado, pairava ereto diante de seus espectadores.
Sobre a cabeça do cadáver, com a boca aberta em um ricto escarlate e um único olho
flamejante, sentava-se a criatura hedionda cuja artimanha me compelira ao crime e cuja voz
delatora haveria de me condenar à forca. Eu emparedara o demônio dentro do túmulo!
Você também pode gostar
- O Gato Preto de PoeDocumento5 páginasO Gato Preto de PoeJosiane Moreira100% (1)
- Edgar Allan Poe, Todos Os Contos - Edgar Allan PoeDocumento876 páginasEdgar Allan Poe, Todos Os Contos - Edgar Allan PoearthurAinda não há avaliações
- O Gato PretoDocumento6 páginasO Gato PretoTiago SenneAinda não há avaliações
- O Gato Preto - Edgar Alan PoeDocumento9 páginasO Gato Preto - Edgar Alan PoeMaristela Almeida100% (2)
- O Gato Preto e a História de Horror de PoeDocumento15 páginasO Gato Preto e a História de Horror de PoefabianobossanovaAinda não há avaliações
- Poe - O Gato Preto - O Barril de AmontilladoDocumento15 páginasPoe - O Gato Preto - O Barril de AmontilladoJacquelline S.Ainda não há avaliações
- O gato preto de Edgar Allan PoeDocumento13 páginasO gato preto de Edgar Allan PoeGlauciaAlbertoniAinda não há avaliações
- contos_TLDocumento18 páginascontos_TLelectronicoscillatorsAinda não há avaliações
- O Gato Preto de Poe emDocumento20 páginasO Gato Preto de Poe emGuadalupe GódlenAinda não há avaliações
- O Gato Preto de PoeDocumento5 páginasO Gato Preto de PoeIsabel AlecrimAinda não há avaliações
- O Gato Preto: A história de terror de Edgar Allan PoeDocumento7 páginasO Gato Preto: A história de terror de Edgar Allan PoemestrebioAinda não há avaliações
- Contos - O Gato PretoDocumento6 páginasContos - O Gato PretoimartinsqtpalmAinda não há avaliações
- Apresentação Simples Básica Elegante e Profissional Preto Branco - 20240202 - 102155 - 0000Documento19 páginasApresentação Simples Básica Elegante e Profissional Preto Branco - 20240202 - 102155 - 0000Renata CassemiroAinda não há avaliações
- A História do Gato PretoDocumento7 páginasA História do Gato PretoJOSÉ GOMES PEREIRAAinda não há avaliações
- Conto - o Gato PretoDocumento3 páginasConto - o Gato PretoSILVERIA MATIAS DE SOUSAAinda não há avaliações
- O gato preto de PoeDocumento10 páginasO gato preto de PoeLuciana CimettaAinda não há avaliações
- Tertúlia Dialógica Literária - o Gato PretoDocumento4 páginasTertúlia Dialógica Literária - o Gato PretofernandaAinda não há avaliações
- O Gato Preto Autor Edgar Allan PoeDocumento21 páginasO Gato Preto Autor Edgar Allan PoemiqueangelAinda não há avaliações
- A perversidade leva à destruição finalDocumento1 páginaA perversidade leva à destruição finalGabrieli Ferreira MartinsAinda não há avaliações
- GatopretoedgarDocumento6 páginasGatopretoedgargiovannanegrini04Ainda não há avaliações
- Gato Preto RoteiroDocumento6 páginasGato Preto RoteiroFernando Dos Santos100% (1)
- (The Veil Keeper #1) - Touched Shadow - Harper WyldeDocumento335 páginas(The Veil Keeper #1) - Touched Shadow - Harper WyldeAgatha RamosAinda não há avaliações
- Clássicos Do Horror 04 Contos Cruéis de Terror (Etc.)Documento25 páginasClássicos Do Horror 04 Contos Cruéis de Terror (Etc.)Thalison AlmeidaAinda não há avaliações
- Não Gosto de Plágio 9Documento17 páginasNão Gosto de Plágio 9Denise BottmannAinda não há avaliações
- Hipólito - Sonia CoutinhoDocumento10 páginasHipólito - Sonia CoutinhoDiogenes MacielAinda não há avaliações
- Caught by The Dark A Werewolf - Alexa Michaels (001-093) .En - PTDocumento93 páginasCaught by The Dark A Werewolf - Alexa Michaels (001-093) .En - PTDreavyn HakkwoaAinda não há avaliações
- Tem Um Alienígena Na Minha Mente - Herman Augusto SchmitzDocumento14 páginasTem Um Alienígena Na Minha Mente - Herman Augusto SchmitzHerman Augusto SchmitzAinda não há avaliações
- Nélida Piñon - Uma Furtiva LágrimaDocumento103 páginasNélida Piñon - Uma Furtiva Lágrimammsloureiro100% (3)
- Anne Malcom Birds of ParadiseDocumento445 páginasAnne Malcom Birds of Paradisesaracristina0447Ainda não há avaliações
- Análise do conto O Gato Preto de Edgar Allan PoeDocumento3 páginasAnálise do conto O Gato Preto de Edgar Allan PoeAndreia D'Oliveira0% (1)
- ParanóiaDocumento3 páginasParanóiaMarcus ViniciusAinda não há avaliações
- Jennifer L. Armentrout - Laços de Sangue 02 - PossessionDocumento727 páginasJennifer L. Armentrout - Laços de Sangue 02 - PossessionLailana C DinizAinda não há avaliações
- The Revenhood 3 - The Finisher LineDocumento734 páginasThe Revenhood 3 - The Finisher LineCandela VidalAinda não há avaliações
- Contos de Terror 2o Ano ItaporangaDocumento12 páginasContos de Terror 2o Ano ItaporangaGabriel OliveiraAinda não há avaliações
- Heartless Heathens - Santana KnoxDocumento467 páginasHeartless Heathens - Santana Knoxbeatriz de cassiaAinda não há avaliações
- Abraão & Ló, Uma Sombra Profética Do Cistianismo AtualDocumento75 páginasAbraão & Ló, Uma Sombra Profética Do Cistianismo AtualSandro Rogério100% (2)
- Resquícios de partículas dos fragmentos de estilhaços das lascas dos cacos do mosaico de um eu [ao vento…]No EverandResquícios de partículas dos fragmentos de estilhaços das lascas dos cacos do mosaico de um eu [ao vento…]Ainda não há avaliações
- O Vale Dos Malditos - RascunhoDocumento17 páginasO Vale Dos Malditos - RascunhosecretariadeculturadeembuAinda não há avaliações
- A Queda Da Casa Dos UsherDocumento10 páginasA Queda Da Casa Dos UsherGilcimar GomesAinda não há avaliações
- A carta reveladora de um vampiroDocumento3 páginasA carta reveladora de um vampiroJoãoAinda não há avaliações
- Emmaleigh Wynters - Sin's of All Hallows 01 - Wicked Hallows (Rev) R&ADocumento194 páginasEmmaleigh Wynters - Sin's of All Hallows 01 - Wicked Hallows (Rev) R&Aluisa santosAinda não há avaliações
- Becoming The Dark Prince - Kerri ManiscalcoDocumento67 páginasBecoming The Dark Prince - Kerri ManiscalcoGabrielaAinda não há avaliações
- A Mulher 1001Documento14 páginasA Mulher 1001Leonardo Capeletti FerreiraAinda não há avaliações
- A Vingança do Gato PretoDocumento6 páginasA Vingança do Gato PretoMarcilio FilhoAinda não há avaliações
- IDH - Índice de DesenvolvimentoDocumento9 páginasIDH - Índice de DesenvolvimentoConta De filmeAinda não há avaliações
- Wa0006.Documento10 páginasWa0006.Conta De filmeAinda não há avaliações
- CastroDigital Edital 2023 Concurso Prefeitura Santo Antonio Lopes MADocumento84 páginasCastroDigital Edital 2023 Concurso Prefeitura Santo Antonio Lopes MAJailson AnchiêtaAinda não há avaliações
- Prefeitura Municipal de Santo Antonio Dos Lopes-Ma: Polo: Presidente DutraDocumento195 páginasPrefeitura Municipal de Santo Antonio Dos Lopes-Ma: Polo: Presidente DutraConta De filmeAinda não há avaliações
- Carta de despedida após término de relacionamentoDocumento1 páginaCarta de despedida após término de relacionamentoJanny RodriguesAinda não há avaliações
- Assembléia Diocesana de PastoralDocumento12 páginasAssembléia Diocesana de PastoralTallest BrasilAinda não há avaliações
- Os Olhos do Caminho dos Dezesseis BúziosDocumento129 páginasOs Olhos do Caminho dos Dezesseis BúziosAntonio OlumokoAinda não há avaliações
- Correio148 TRANSFERENCIA E DESEJO DO ANALISTA TEXTO ROBSON PEREIRADocumento26 páginasCorreio148 TRANSFERENCIA E DESEJO DO ANALISTA TEXTO ROBSON PEREIRAIzabel OliveiraAinda não há avaliações
- 52 - A Imagem de DeusDocumento9 páginas52 - A Imagem de DeusSílvia BigareliAinda não há avaliações
- CF 2023Documento16 páginasCF 2023Adilson Alves-EngAinda não há avaliações
- FAP Made Simple Parte 1Documento100 páginasFAP Made Simple Parte 1mariana100% (2)
- Um Relance - Fanfic O&PDocumento24 páginasUm Relance - Fanfic O&PLizzie RodriguesAinda não há avaliações
- A Sa Tira Na Literatura Medieval Portuguesa (Se Culos XIII e XIVDocumento148 páginasA Sa Tira Na Literatura Medieval Portuguesa (Se Culos XIII e XIVBreno GomesAinda não há avaliações
- Missa Do Matrimonio de Samila e João de DeusDocumento3 páginasMissa Do Matrimonio de Samila e João de DeusKelly MarquesAinda não há avaliações
- @coisaspequenascomamor Tenho Sede Santa Madre Teresa de CalcutaDocumento3 páginas@coisaspequenascomamor Tenho Sede Santa Madre Teresa de CalcutaWalter SilvaAinda não há avaliações
- Catequese EucaristiaDocumento23 páginasCatequese EucaristiaNeah BispoAinda não há avaliações
- Ferramenta 7 Tipos de PersonalidadeDocumento5 páginasFerramenta 7 Tipos de PersonalidadePastor Guilherme VianaAinda não há avaliações
- Queimada VivaDocumento7 páginasQueimada VivaJoão Ribeiro67% (3)
- Oração Aos ArcanjosDocumento3 páginasOração Aos ArcanjosEdlenecslAinda não há avaliações
- A Vida em Nossas Maos (Psicografia Agnaldo Paviani - Espirito Atilio)Documento66 páginasA Vida em Nossas Maos (Psicografia Agnaldo Paviani - Espirito Atilio)MarcelAinda não há avaliações
- REVISTA SUINDARA - Mar 2017 PDFDocumento40 páginasREVISTA SUINDARA - Mar 2017 PDFRodrigo SouzaAinda não há avaliações
- O Público Moderno e A Fotografia - BaudelaireDocumento5 páginasO Público Moderno e A Fotografia - BaudelaireHigor da CunhaAinda não há avaliações
- Castro Alves Teresa GabaritoDocumento4 páginasCastro Alves Teresa GabaritoCristina Prates0% (1)
- Oração: Teresa de ÁvilaDocumento23 páginasOração: Teresa de ÁvilaVieirasantoswilliamAinda não há avaliações
- Roteiro Niver Da BiaDocumento2 páginasRoteiro Niver Da BiabrunaAinda não há avaliações
- Felizmente Há LuarDocumento25 páginasFelizmente Há LuarJorge MartinhoAinda não há avaliações
- Harpa Cristã Cifrada Volume ÚnicoDocumento3 páginasHarpa Cristã Cifrada Volume ÚnicoFábio Luiz Queiroz da Silva67% (12)
- Espaço TempoDocumento13 páginasEspaço Tempovmelo_110657Ainda não há avaliações
- Boa Vontade 202Documento64 páginasBoa Vontade 202Editora ElevaçãoAinda não há avaliações
- O Amor É Uma Canoa - Ben SchrankDocumento331 páginasO Amor É Uma Canoa - Ben SchrankWilson CharlesAinda não há avaliações
- Frases de William ShakespeareDocumento5 páginasFrases de William ShakespeareMaria Larissa100% (1)
- Ciscos e Traves - Uma Teoria Neo-Junguiana de PersonalidadeDocumento292 páginasCiscos e Traves - Uma Teoria Neo-Junguiana de PersonalidadeNicolas Silva100% (1)
- Afirmações de ProsperidadeDocumento2 páginasAfirmações de ProsperidadeAwkimia TerapiasAinda não há avaliações
- Livro de Receitas-La Dinda-Versao-2019.1Documento67 páginasLivro de Receitas-La Dinda-Versao-2019.1Mayara CarvalhoAinda não há avaliações




























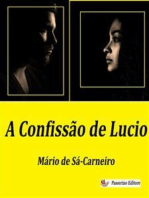




















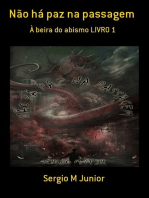

![Resquícios de partículas dos fragmentos de estilhaços das lascas dos cacos do mosaico de um eu [ao vento…]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/629531032/149x198/b60405e520/1701024078?v=1)