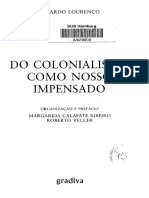Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Migrantes
Enviado por
Vinicius CarneiroTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Migrantes
Enviado por
Vinicius CarneiroDireitos autorais:
Formatos disponíveis
!
Home / migrantes
SISN
2:5262-637
Migrantes: o que resta para contar história
Uma leitura de Georges Perec
Yolanda Vilela
Rumo a Ellis Island Rumo à Europa, 2015
Ellis Island, de Georges Perec, publicado em 1995 pela editora P.O.L, é um texto que pode operar como
chave de leitura para certas questões que se encontram hoje na mídia por fazerem parte de uma atualidade
que, sob vários aspectos, nos constrange e terrifica. Refiro-me especificamente ao fluxo migratório que tem
se intensificado no continente europeu nos últimos tempos. Esse pequeno-grande livro de G. Perec permite
refletir sobre uma situação ampla, complexa, que se presta a análises baseadas em pontos de vista diversos:
social, econômico, geopolítico e religioso, para enumerar apenas alguns.
Em 1978, o Institut National de l’Audiovisuel, o INA, confiou a G. Perec e a Robert Bober a realização de um
filme sobre Ellis Island, a pequena ilha situada na foz do rio Hudson, na entrada de Nova York, que o governo
americano havia transformado, ainda no século XIX, em centro de imigração. A filmagem teve início em 1979
e resultou no documentário Récits d’Ellis Island. Histoires d’errance et d’espérance, constituído de duas
partes: L’Île des larmes e Mémoires.
Em 1980, o INA e as éditions du Sorbier publicaram o texto que Perec havia escrito, bem como aquele das
entrevistas que constituíam a segunda parte do filme; esse volume continha igualmente fotografias da época
e fotos da filmagem.
Em 1994, as edições P.O.L e o INA reeditaram os textos publicados em 1980 pelas éditions du Sorbier;
muitos documentos e fotografias, alguns dos quais haviam sido reunidos por G. Perec e Bober em seu
“diário de filmagem”, assim como a reprodução do manuscrito original, foram acrescentados a essa edição.
A edição em que me apoio, publicada em 1995 pela P.O.L, privilegia o texto de Perec a fim de destacar a
importância de seu encontro com este lugar: Ellis Island.
Ellis Island: um lugar emblemático da história americana
Em Ellis Island, Perec evoca a esperança que os EUA representaram para os povos do velho continente na
segunda metade do século XIX e durante as primeiras décadas do século XX: populações oprimidas e
miseráveis, classes exploradas, famintas, vítimas de epidemias. Os EUA encarnavam, como se sabe, uma
espécie de “terra prometida” para irlandeses, alemães, poloneses, armênios, gregos, turcos, judeus russos,
austro-húngaros e italianos do Sul. Todos esses povos embarcavam para uma viagem que gostariam que
fosse sem volta. Vale lembrar que a estátua da liberdade era recente: ela fora oferecida pela França aos EUA,
em 1886, para comemorar o centenário da assinatura da “Declaração da independência dos EUA”,
representando igualmente um sinal da amizade que unia os dois países.
Em 1892, o centro de acolhimento de Ellis Island [EI] marcava o fim de uma imigração desorganizada e o
início de uma imigração “oficializada”, institucionalizada, como diria Perec: “industrial”. Entre 1892 e 1924, 16
milhões de pessoas passaram por EI, em média de 5 a 10 mil indivíduos por dia. A permanência na ilha
durava algumas horas. Cerca de 2% a 3% dos emigrantes foram rechaçados. A partir de 1914 a imigração
começou a diminuir, pois, além da Guerra, o governo americano passou a impor medidas restritivas, ou seja,
discriminativas. Em 1924 as formalidades de emigração passaram a ficar sob a responsabilidade dos
consulados americanos na Europa. Ellis Island tornou-se, então, um centro de detenção para emigrantes em
situação irregular. Durante e imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, Ellis Island transformou-se em
prisão para indivíduos suspeitos de atividades antiamericanas: fascistas, nazistas, comunistas, e em 1954, o
centro de acolhimento foi fechado.
Em Ellis Island
Nem todos os emigrantes eram obrigados a passar pelo centro de acolhimento de EI. Os que tinham
dinheiro suficiente para viajar de primeira ou segunda classe, lembra Perec, eram inspecionados
rapidamente a bordo e desembarcavam em solo americano sem grandes problemas. Os que deviam passar
por Ellis Island eram os que viajavam de terceira classe, amontoados e esfomeados nos porões dos navios.
Um inspetor dispunha de aproximadamente dois minutos para decidir se o emigrante tinha, ou não, o
direito de entrar nos EUA. O emigrante era submetido a um questionário de 29 perguntas, por exemplo:
Como você se chama?; De onde você vem?; Por que veio para os EUA?; Qual a sua idade?; Quanto dinheiro
você possui?; Qual a sua profissão?; Você é anarquista?; etc. Se as repostas fossem consideradas
satisfatórias, a pessoa era saudada com o famoso “Welcome to America” e se tornava um imigrante. Caso
houvesse o menor problema, escrevia-se em sua ficha: SI (Special Inquiry), inspeção especial, e o indivíduo
era submetido, em seguida, a um questionário bem mais detalhado.
Em 1917, com base na aprovação de uma lei pelo Congresso, passou-se a exigir dos candidatos a emigrantes
que soubessem ler e escrever em sua língua de origem e que fossem submetidos a testes de inteligência, o
que foi tornando as formalidades de admissão cada vez mais difíceis.
Em Ellis Island, Georges Perec enumera os povos que deixavam tudo para trás, a fim de “fazer a América”:
italianos, irlandeses, alemães, ucranianos, russos, ingleses, noruegueses, gregos, turcos, holandeses,
franceses, dinamarqueses. Ele lista os navios que traziam os emigrantes assim como os portos dos quais
partiam essas embarcações. Partiam de Roterdã, Istambul, Palermo, Marselha, Nápoles, Bristol, Antuérpia,
etc. Em todas as línguas da Europa, Ellis Island era chamada “Ilha das Lágrimas”. Lembramos que a
emigração para os EUA é bem anterior a Ellis Island e que ela não cessou com o fechamento do centro:
mexicanos, porto-riquenhos, coreanos, vietnamitas, cambojanos deram continuidade à onda imigratória.
O centro de acolhimento de Ellis Island não era ainda a América tão sonhada. Aquele lugar, melhor seria
dizer aquele ‘não lugar’ era tão somente um prolongamento do navio, um fragmento da velha Europa, onde
nada ainda havia sido adquirido, “[...] onde aqueles que haviam partido não haviam ainda chegado e aqueles
que haviam tudo deixado nada haviam ainda obtido”.[i] Não havia nada a fazer a não ser esperar. Esperar
que tudo corresse bem, que as bagagens e o dinheiro não fossem roubados, que os médicos liberassem a
entrada, que as famílias não fossem separadas.
Com a expressão ‘não lugar’ refiro-me a uma suspensão temporal, a um tempo de espera feito de
indeterminações, a um exílio durante o qual se vai da esperança ao mais profundo desalento, a um intervalo
improvável entre um antes, que não mais se resgata, e um depois, ao qual não se chega. Essa reflexão
encontra alguma ressonância com o conceito de “não-lugar” amplamente discutido por Marc Augé em Non-
lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, de 1992. Nesse livro, o etnólogo e antropólogo
francês apresenta os “não-lugares” como o contrário dos lugares antropológicos − estes correspondem a
uma relação estreita entre o espaço e o social, sendo portadores de três dimensões: identitária, histórica e
relacional. Contrariamente aos lugares antropológicos, portanto, os “não-lugares” estão intimamente
associados ao que Augé define como supermodernidade. Em Le sens des autres, de 1994, por exemplo, o
autor compara as novas formas de espaço com a dissolução dos laços sociais; os “não-lugares” são
considerados por ele a materialização dessa dissolução dos laços e aparecem relacionados com duas
imagens: a sociedade enquanto espetáculo e o surgimento dos espaços residuais. Essa segunda imagem, a
dos espaços residuais, diz respeito a situações em que os indivíduos perdem, de certa forma, seu lugar no
espaço e no social. Nesse sentido, deixa-se de pertencer a um espaço físico e a um espaço social. É o caso,
por exemplo, dos campos de refugiados, dos lugares onde se encontram os sem-abrigo, os desempregados,
os refugiados de guerra, lugares onde se concentram os abandonados desse mundo, todos aqueles que não
têm lugar.
Falar em ‘não lugar’ remete igualmente ao que chamamos no man’s land (terra de ninguém), expressão
criada durante a Primeira Guerra Mundial, quando as batalhas se davam nas trincheiras. No man’s land era,
então, a zona delimitada por arames farpados, frequentemente minada, entre duas fronteiras opostas, um
lugar neutro no campo de batalha. Toda presença humana nesse espaço era considerada uma agressão e
todo intruso devia ser abatido por um dos dois lados em guerra. Num sentido figurado, no man’s land
significa espaço infernal, região hostil, devastada ou abandonada.
À espera, em Ellis Island À espera, na Europa (2015)
De que resgate se trata?
Segundo Perec, nunca é por acaso que se visita hoje Ellis Island:
[...] os que por lá passaram não desejam voltar, os seus filhos e netos voltam por eles: vão à procura de
um traço, de uma marca, de vestígios. O que foi, para uns, lugar de provação e incertezas, tornou-se, para
outros, lugar de memória, um dos lugares em torno do qual se articula a relação que os une a sua
história.[ii]
Georges Perec se pergunta: como contar, como descrever, como olhar? Sob a escassez das estatísticas
oficiais, sob o burburinho das anedotas mil vezes contadas, da ‘disposição oficial’ dos objetos cotidianos
tornados objetos de museu, raros vestígios sob a tranquilidade factícia dessas fotografias petrificadas: como
reconhecer esse lugar? Como apreender o que não é mostrado? O que não foi fotografado, arquivado,
restaurado? Como reencontrar o que era banal, cotidiano, ordinário, que acontecia todos os dias?
Um lugar de ruínas
Ao se confrontar com Ellis Island, Perec descreve um lugar arruinado, um lugar feito de ruínas. O que se diz,
ou melhor, o que se escreve e se mostra, tem como ponto de partida um lugar de escombros. A ruína, como
se sabe, é sempre algo muito antigo, é um resíduo, uma marca, um produto do tempo, um vestígio da
passagem do tempo. A ruína é um objeto, uma produção material composta de densa carga simbólica.
Trata-se não de um objeto simples, mas de um objeto que já sofreu uma transformação, por isso é um
objeto petrificado, desincorporado, quase um símbolo de si mesmo; ao mesmo tempo é um objeto alijado e
carregado de sentido. A ruína, como lembra Gérard Wajcman, é o objeto mais a memória do objeto, é o
objeto consumido por sua própria memória.
Em L’objet du siècle, Wajcman fala da ruína como um objeto “mortificado”, o que não nos impede de dizer
que ela apresenta uma “positividade”, visto que traz consigo um “resto de objeto”, um quase nada. Nas
cavidades desse objeto, em suas fendas, em suas gretas e fissuras a memória se infiltra. Fendas e memórias
se atraem. Nesse sentido, o valor do objeto se vincula não ao seu valor de mercadoria, mas à memória.
A obra de Perec, de modo geral, trata da memória como um grande campo de ruínas, porém, ao se
confrontar com esses vestígios que resistiram ao tempo, Georges Perec não se propõe a restaurar uma
história ou um destino tal qual um quebra-cabeças cujas peças estariam apenas embaralhas à espera de
alguém que propusesse um formato acabado, uma narrativa harmônica e completa. A meu ver, o escritor
considera cada fragmento descoberto em sua singularidade de fragmento, isto é, Perec os considera um a
um e, com esse gesto, os dignifica.
No centro de acolhimento de Ellis Island, Perec e Bober vislumbraram imagens de corredores, salas,
cômodos de todas as dimensões, quartinhos de despejo, banheiros, etc., sempre se perguntando: como
representar isso? Como as coisas aconteciam ali? Com o que se pareciam? Como se passavam aquelas horas,
aqueles dias? Como faziam aquelas pessoas para se alimentar, lavar, dormir, se vestir? Como fazer falar
essas imagens, como forçá-las a dizer o que elas não saberiam dizer?
No início, pode-se apenas tentar nomear as coisas, uma por uma, prosaicamente, enumerá-las,
listá-las da maneira mais banal possível, da maneira mais precisa possível, tentando nada esquecer.
Por exemplo: duas grandes pias duplas de louça branca, das quais uma era provida de uma
evaporadeira à mão; quatro cadeiras; três máquinas de costura, [...] duas longas pranchas
parafusadas no lajeamento das paredes e que conservam ainda lembranças de varais de corda. É o
que se vê hoje, sabemos apenas que não eram assim no início do século [passado]. Mas é isso que
se pode ver e é somente isso que podemos mostrar.[iii]
Ao dizer que se pode apenas nomear, enumerar, listar, descrever o que se vê, e somente o que se vê, Perec
dá dignidade ao residual, àquilo que resta, afirmando: “O resto, podemos apenas tentar imaginar, deduzir do
que resta, do que foi conservado, do que foi preservado da destruição e do esquecimento”.[iv] Mais adiante:
“O que se vê hoje é um acúmulo informe, vestígios de transformações, de demolições, de restaurações
sucessivas. Amontoados heteróclitos: [...] mesas, cadeiras, panelas, livro de cânticos, uma cafeteira”.[v] O
dejeto é informe, é o que sobrou para contar história.
Esse acúmulo informe, esses amontoados heteróclitos de restos evocados, descritos, por Perec, não seria
esse o objeto próprio da literatura? A literatura enobrece o que restou, conferindo dignidade às sobras, tal
como o objeto sordidíssimo do escritor Pascal Quignard. A figura do sordidíssimo encontra-se em várias
obras desse escritor francês e está intimamente associada aos fundamentos da literatura quignardiana,
principalmente à sua concepção de romance. O sordidíssimo refere-se também aos artistas e às obras que
Quignard considera marginais; no caso específico da literatura, essa figura articula-se a uma linhagem
considerada não canônica. Considerado seja sob o prisma do gênero, seja segundo uma perspectiva
temática, o sórdido é, para esse autor, um objeto a-social, privado consequentemente de valor de troca. A
nosso ver, esse elemento expõe as diversas figuras que o dejeto pode assumir; todavia, a particularidade do
sordidíssimo reside no estatuto agalmático que Quignard lhe atribui enquanto elemento residual.
A salvação pelos dejetos: a contribuição da arte
Paul Valéry se referiu ao surrealismo com a seguinte proposição: “A salvação pelos dejetos”. É assim que ele
define o surrealismo, a via, o caminho escolhido pelo surrealismo.[vi] Na verdade, essa fórmula irônica de
Valéry ia ao encontro das críticas que ele fazia à poesia contemporânea. Valéry criticava igualmente Freud e
o freudismo. Para ele, “o sonho é uma degenerescência do pensamento”, pois, feito de lacunas e imagens
fragmentárias, o sonho se opõe à forma. De fato, Valéry tinha razão ao dizer que André Breton prometera a
salvação pelos dejetos. O que isso quer dizer? O que resplandece tem uma forma, e, de certo modo, o ideal é
a glória da forma, ao passo que o dejeto é informe: ele é extraído de uma totalidade, da qual é somente uma
peça solta, avulsa. O surrealismo propõe uma estetização do dejeto. Ele inclui o dejeto no registro da estética
e, com isso, modifica a definição do belo, mas não coloca o belo em questão. Desde então, desde Duchamp,
a arte chamada “contemporânea”, passou a nos oferecer o dejeto como objeto de arte; mas foi o
surrealismo que desvelou a essência da arte, na medida em que esta consiste em estetizar o dejeto, sublimá-
lo.
A psicanálise também confere lugar privilegiado ao dejeto. Primeiramente por considerar que uma operação
sempre produz um resto, algo que não se pode assimilar em sua integralidade. Esse resto de operação pode
ser tomado numa vertente agalmática, ou seja, ele pode ser dignificado em sua própria opacidade. É o que
lembra Jacques-Alain Miller, na sequência de Freud e Lacan: uma “salvação pelos dejetos” só tem sentido
quando constatamos que, até então, só se havia procurado a salvação pelos ideais. O que é o dejeto? É o
que é rejeitado, e especialmente rejeitado ao final de uma operação em que se retém somente o ouro, a
substância preciosa. O dejeto é o que os alquimistas chamavam de caput mortuum. É o que cai ao mesmo
tempo em que, por outro lado, algo se eleva. É o que se evacua, ou que desaparece, enquanto o ideal
resplandece. Quando se dá dignidade ao dejeto, quando ele não permanece no estado de indignidade, ele é
“sublimado”, ou seja, pode ser socializado ao entrar no circuito das trocas.
Duchamp e o dejeto dignificado
Com Duchamp e seus ready-made, objetos prontos para o uso [rdm], o objeto é elevado à dignidade da obra
de arte. Duchamp define as características de um verdadeiro rdm: “nem beleza, nem feiura, nada nele que
seja particularmente estético”.[vii]
Declarar que um objeto comum, um objeto qualquer “é arte” tem como efeito esvaziá-lo de sua substância. É
um simbólico que introduz algo da ordem do vazio no objeto, esse ato evacua seu ser de objeto comum e
qualquer. O objeto que é então produzido não é mais comum nem qualquer. O que distingue o “objeto
inicial” de sua transformação, de seu estatuto de rdm? Nada ou quase nada, a não ser isto: o rdm é o mesmo
objeto, mas que não serve mais para nada. Como lembra Wajcman, uma roda de bicicleta pregada num
tamborete não leva ninguém a lugar algum.
Retirar um objeto de seu uso é uma maneira de retirá-lo de sua significação. Numa série de objetos comuns,
idênticos, definidos pelo seu uso, isolar um e chamá-lo obra de arte, é fazê-lo surgir com um efeito de
sentido, inesperado, surpreendente, que rompe com todas as significações comuns, estabelecidas desse
objeto.
O rdm de Duchamp se insurge contra o despotismo do útil, a arte como o que não serve para nada. Objeto
“despovoado”, desprovido de sua utilidade não equivale a dizer que ele seja inútil para a arte. Nessa
perspectiva, é por um certo esvaziamento que um objeto se eleva ao estatuto de arte. Pelo vazio, um objeto
ganha valor. O que pode parecer estranho, curioso, é que o rdm define um processo de produção de objeto
de arte que se sobrepõe muito exatamente, que coincide com aquele de um dejeto. Objeto esvaziado de
toda utilidade e de todo valor de troca, isso descreve tanto uma escultura de Picasso quanto uma panela
furada jogada no lixo elevada ao estatuto de arte.
Ellis Island é, a um só tempo, um campo de ruínas, um grande “marché aux puces”, um brechó de
proporções gigantescas, que nos lembra que um dejeto pode sempre suscitar o desejo; um passante, ao se
abaixar para pegar um daqueles objetos, o traz novamente à existência. Esse gesto, que muitos artistas
repetiram, traz uma verdadeira questão: a ambiguidade que existe entre obra e dejeto não pode ser extinta.
O objeto residual é, nesse sentido, o que dignifica tudo aquilo que não se inscreve sob a égide do ideal.
Europa de hoje, América de ontem
Em Ellis Island, após uma breve reflexão sobre o que significa para ele ser judeu, Georges Perec diz que
aquele não é um lugar reservado aos judeus: é um lugar que pertence, ao contrário, a todos aqueles que a
intolerância e miséria expulsaram e ainda expulsam da terra onde nasceram e cresceram. “O que vim
questionar aqui”, afirma Perec, é “a errância, a dispersão, a diáspora. Ellis Island é para mim o lugar mesmo
do exílio, o lugar da ausência de lugar, o não lugar, o lugar nenhum”.[viii] Perec faz ressoar as duas palavras
que estiveram o tempo todo no cerne de sua aventura, essas duas palavras “inapreensíveis, instáveis,
fugidias” e suas luzes tremulantes: errância e esperança.
Essas questões apontam novamente para o impasse inerente à própria literatura, ou seja, não se trata, para
Perec, de dar significados, compreender, ficcionalizar, mas, ao contrário, de manter esse estatuto onde as
palavras “estão mais próximas” das imagens. É o impasse e o limite da literatura, essa fronteira sempre
oscilante entre aquilo que se mostra e aquilo que se pode narrar.
Entre migração, ‘não lugar’ e escombros, histórias de errância e esperanças se comprimem. A migração
coincide com esse ‘não lugar’ que vai da espera ao que dela resta. Nenhuma narrativa o preenche, diz Perec.
Basta um olhar para a nossa atualidade para constatar que as novas versões desses ‘não lugares’ ainda
conservam o calor dos corpos que ali estiveram; no entanto, deles só restarão, diante dos nossos olhos,
alguns dejetos. Caberá à arte, à literatura e à psicanálise dignificá-los.
O que me parece importante ressaltar é que a leitura de Ellis Island ajuda a refletir sobre o impasse que se
apresenta à contemporaneidade. Se o complexo processo de globalização econômica, amplamente
impulsionado nos últimos 30 anos, previa uma aliança dos mercados e a consequente dissolução de suas
fronteiras, ele produz, agora, novas versões dos arames farpados de outrora. Por um lado, aceita-se de bom
grado a globalização econômica e todas as suas benesses; por outro, porém, defende-se, aqui e ali, a
construção de muros (simbólicos ou reais) que, no fundo, revelam uma nova forma de eugenismo. O desejo
de muitos parece se concentrar num só esforço: como evitar a contaminação representada pela
miscigenação, como impedir que uma espécie de “retorno do recalcado histórico” emerja, trazendo à tona o
próprio homem como resto de uma operação que se queria sem restos. Estamos atualmente neste impasse:
aceitar, ou não, o destino de miscigenação da raça humana; aceitar, ou não, que raças não existem.
Vestígios dos migrantes, Ellis Island Vestígios dos migrantes, Europa (2015)
Yolanda Vilela é psicanalista da EBP-AMP e doutora em estudos literários (literatura francesa) pela FALE-
UFMG, com tese sobre o escritor francês Pascal Quignard.
Notas
[i] PEREC, 1995, p. 47.
[ii] PEREC, 1995, p. 39.
[iii] PEREC, 1995, p. 43-44.
[iv] PEREC, 1995, p. 51.
[v] PEREC, 1995, p. 54.
[vi] VALÉRY, 1974.
[vii] DUCHAMP, 1994.
[viii] PEREC, 1995, p. 57.
Referências
AUGÉ, M. Le sens des autres. Paris: Fayard, 1994.
AUGÉ, M. Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris: Seuil, 1992.
DUCHAMP, M. À propos de moi-même”. In: ______. Duchamp du signe. Paris: Flammarion, 1994.
MILLER, J.-A. A salvação pelos dejetos. Correio. São Paulo, EBP, n. 67, 2010.
PEREC, G. Ellis Island. Paris: POL, 1995.
QUIGNARD, P. Sordidissimes. Paris: Grasset, 2005.
VALÉRY, P. Cahiers 2 (Pléiade). Paris: Gallimard, 1974. p. 1208.
VILELA, Y. Ler, traduzir, escrever: um percurso pela obra de Pascal Quignard. 2009. 277 f. Tese (Doutorado
em estudos literários) - Faculdade de Letras, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.
Disponível em: <http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/ECAP-7Y3GJD>.
WAJCMAN, G. L’objet du siècle. Paris: Verdier, 1998.
Imprimir M E-mail
TODOS OS NÚMEROS
"
Todos os Direitos Reservados a REVISTA DERIVAS ANALÍTICAS © 2012 - Desenvolvido por
MWL - mw.lima@uol.com.br
www.revistaderivasanaliticas.com.br - contato@revistaderivasanaliticas.com.br
NÚMERO ATUAL 18 - DEZ/2022 APRESENTAÇÃO EXPEDIENTE NÚMEROS ANTERIORES CONTATO
Você também pode gostar
- The Whisperer İn Darkness / O Sussurrador Na EscuridãoNo EverandThe Whisperer İn Darkness / O Sussurrador Na EscuridãoAinda não há avaliações
- Estrangeiros em MutaçãoDocumento12 páginasEstrangeiros em MutaçãoChristiniRomanAinda não há avaliações
- 18-Afora IssoDocumento16 páginas18-Afora IssoSergio BarcellosAinda não há avaliações
- O homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroNo EverandO homem e a montanha - Introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiroAinda não há avaliações
- A Emigração para França Vista Por Escritores Portugueses - M Isabelle VieiraDocumento12 páginasA Emigração para França Vista Por Escritores Portugueses - M Isabelle VieiraPedro Piedade MarquesAinda não há avaliações
- Uma República em festa!: a visita dos reis da Bélgica ao Brasil (1920)No EverandUma República em festa!: a visita dos reis da Bélgica ao Brasil (1920)Ainda não há avaliações
- Relato de Viagem de Ulrico SchmidlDocumento9 páginasRelato de Viagem de Ulrico SchmidlJulio Cesar Pereira CondeAinda não há avaliações
- A Ucrânia de Cada Um: Relatos de filhos e netos de judeus do Leste EuropeuNo EverandA Ucrânia de Cada Um: Relatos de filhos e netos de judeus do Leste EuropeuAinda não há avaliações
- Do Roraima ao Orinoco - Volume 1: Resultados de uma viagem no norte do Brasil e na Venezuela nos anos de 1911 a 1913No EverandDo Roraima ao Orinoco - Volume 1: Resultados de uma viagem no norte do Brasil e na Venezuela nos anos de 1911 a 1913Ainda não há avaliações
- A invenção dos discos voadores: Guerra Fria, imprensa e ciência no Brasil (1947-1958)No EverandA invenção dos discos voadores: Guerra Fria, imprensa e ciência no Brasil (1947-1958)Ainda não há avaliações
- SINDER-A Produção Da Verdade Narrativa NosDocumento29 páginasSINDER-A Produção Da Verdade Narrativa NosCaroline CunhaAinda não há avaliações
- Jean de Lery - Viagem A Terra Do BrasilDocumento220 páginasJean de Lery - Viagem A Terra Do BrasilGel Andrade100% (6)
- Viagens e Inventarios Tipologia para o PDocumento23 páginasViagens e Inventarios Tipologia para o Pgifanelli100% (1)
- Euclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosDocumento630 páginasEuclides Da Cunha - Uma Biografia - Luís Cláudio Villafañe G. SantosGuilherme. MrAinda não há avaliações
- Literatura Dos ConquistadoresDocumento10 páginasLiteratura Dos ConquistadoresPaulo GalvaoAinda não há avaliações
- Teste O Mundo em Que ViviDocumento8 páginasTeste O Mundo em Que ViviMarlene SantosAinda não há avaliações
- No calor da hora: A Guerra de Canudos nos jornaisNo EverandNo calor da hora: A Guerra de Canudos nos jornaisAinda não há avaliações
- O Manuscrito de Ibn FadlanDocumento188 páginasO Manuscrito de Ibn FadlanmichelairesAinda não há avaliações
- Os ossos do ofício: as importantes descobertas científicas de Peter Lund no BrasilNo EverandOs ossos do ofício: as importantes descobertas científicas de Peter Lund no BrasilAinda não há avaliações
- de LÉRY, Jean. Viagem À Terra Do Brasil (Capítulo - "De Como Os Americanos Tratam Os Prisioneiros de Guerra e Das Cerimônias oDocumento220 páginasde LÉRY, Jean. Viagem À Terra Do Brasil (Capítulo - "De Como Os Americanos Tratam Os Prisioneiros de Guerra e Das Cerimônias oBruno AmorimAinda não há avaliações
- 126110-Texto Do Artigo-240131-1-10-20170206 PDFDocumento16 páginas126110-Texto Do Artigo-240131-1-10-20170206 PDFRaphael VicenteAinda não há avaliações
- O Campo de TerezinDocumento28 páginasO Campo de TerezincacacostaAinda não há avaliações
- O Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]No EverandO Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]Ainda não há avaliações
- A Procura Pelo Cäcilia-Imigr Alemã RGS - Rev06Documento21 páginasA Procura Pelo Cäcilia-Imigr Alemã RGS - Rev06Ademar Felipe FeyAinda não há avaliações
- Hemming Os Indios e A Fronteira No Brasil ColonialDocumento25 páginasHemming Os Indios e A Fronteira No Brasil ColonialLuciana MurariAinda não há avaliações
- Memorias de Vida de Sergio Gerardo Boisier EtcheverryDocumento42 páginasMemorias de Vida de Sergio Gerardo Boisier EtcheverryLucas Costa RodriguesAinda não há avaliações
- Americanos Por Brasileiros No Fim Do Século XIXDocumento16 páginasAmericanos Por Brasileiros No Fim Do Século XIXIgor DoiAinda não há avaliações
- Jornal May00Documento24 páginasJornal May00Erasmo DesiderioAinda não há avaliações
- História Do Espirito SantoDocumento6 páginasHistória Do Espirito Santolucas soaresAinda não há avaliações
- Os Discos Voadores de HitlerDocumento172 páginasOs Discos Voadores de HitlerGamer TalismeiroAinda não há avaliações
- A Arte TumularDocumento4 páginasA Arte Tumularim959Ainda não há avaliações
- Notas Sobre A Queda Do Ceu Por Um LeitorDocumento5 páginasNotas Sobre A Queda Do Ceu Por Um LeitorVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Tese Andreia Oliveira Verso Final e Revisada Com Ficha CatalogrficaDocumento265 páginasTese Andreia Oliveira Verso Final e Revisada Com Ficha CatalogrficaVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Rbessa,+edição+16 Páginas 83 90Documento8 páginasRbessa,+edição+16 Páginas 83 90Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 177734-Texto Do Artigo-446200-1-10-20201109Documento8 páginas177734-Texto Do Artigo-446200-1-10-20201109Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 7179-Article Text-20345-1-10-20170904Documento12 páginas7179-Article Text-20345-1-10-20170904Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Do Colonialismo Como Nosso Impensado: Eduardo LourençoDocumento3 páginasDo Colonialismo Como Nosso Impensado: Eduardo LourençoVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 13827-Texto Do Artigo-61670-1-10-20221006Documento18 páginas13827-Texto Do Artigo-61670-1-10-20221006Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 29-Article Text-81-6-10-20180301Documento16 páginas29-Article Text-81-6-10-20180301Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- A Tradução e A Falha1 Regina Helena de Oliveira MachadoDocumento15 páginasA Tradução e A Falha1 Regina Helena de Oliveira MachadoVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 106064-Texto Do Artigo-187094-1-10-20151019Documento43 páginas106064-Texto Do Artigo-187094-1-10-20151019Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- 271 822 1 PBDocumento18 páginas271 822 1 PBVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Criação, Tradução e Crítica: Diálogos Entre Berman e ProustDocumento15 páginasCriação, Tradução e Crítica: Diálogos Entre Berman e ProustVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Prosa Concreta" - As Galáxias de Haroldo de Campos e DepoisDocumento24 páginasProsa Concreta" - As Galáxias de Haroldo de Campos e DepoisVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Suspeita Do Avesso Barroco e NeobarrocoDocumento320 páginasSuspeita Do Avesso Barroco e NeobarrocoVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- INTERCÂMBIO, PRSENÇA E INFLUÊNCIA DA POESIA CONCRETA BRASILEIA NO JAPÃO. L. C. Vinholes Primavera 1976Documento1 páginaINTERCÂMBIO, PRSENÇA E INFLUÊNCIA DA POESIA CONCRETA BRASILEIA NO JAPÃO. L. C. Vinholes Primavera 1976Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- INTERCÂMBIO CULTURAL E ARTÍSTICO NAS RELAÇÕES BRASIL-JAPÃO CENTENÁRIO DO TRATADO DE AMIZADE, DE COMÉRCIO E DE NAVEGAÇÃO 05.11.1895 - 05.11.1995 L.C.VinholesDocumento2 páginasINTERCÂMBIO CULTURAL E ARTÍSTICO NAS RELAÇÕES BRASIL-JAPÃO CENTENÁRIO DO TRATADO DE AMIZADE, DE COMÉRCIO E DE NAVEGAÇÃO 05.11.1895 - 05.11.1995 L.C.VinholesVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Derrida - Tradução, Testemunho e "Otobiografia"Documento19 páginasDerrida - Tradução, Testemunho e "Otobiografia"Vinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Donaldo SchulerDocumento93 páginasDonaldo SchulerVinicius CarneiroAinda não há avaliações
- Mini Curso Basico de AcordeonDocumento21 páginasMini Curso Basico de AcordeonJaymisson NicacioAinda não há avaliações
- Tema IV - Cálculo de Composição de Betão.Documento11 páginasTema IV - Cálculo de Composição de Betão.António Morela100% (1)
- 04 Boleto VR 04Documento1 página04 Boleto VR 04cesarAinda não há avaliações
- RCC1186DDocumento10 páginasRCC1186DaflaviosalesAinda não há avaliações
- Evolução Do Sistema Operativo1Documento4 páginasEvolução Do Sistema Operativo1rivaldo50% (2)
- 3 Praticas Chave para Aprimorar A Gestao de Talentos HDMDocumento24 páginas3 Praticas Chave para Aprimorar A Gestao de Talentos HDMFrancisco NetoAinda não há avaliações
- NICOLAZZI - 2c Fernando. O Outro e o Tempo. NICOLAZZI, Fernando. O Outro e o Tempo. François Hartog e o Espelho Da HistoriaDocumento23 páginasNICOLAZZI - 2c Fernando. O Outro e o Tempo. NICOLAZZI, Fernando. O Outro e o Tempo. François Hartog e o Espelho Da HistoriaCarolina SurizAinda não há avaliações
- Whitmont - Terapia de Grupo e Psicologia AnaliticaDocumento43 páginasWhitmont - Terapia de Grupo e Psicologia AnaliticaLucia BarbosaAinda não há avaliações
- Consultoria Empresarial - A Função Do Consultor Nas EmpresasDocumento22 páginasConsultoria Empresarial - A Função Do Consultor Nas EmpresasThalestwAinda não há avaliações
- Apostila A Importância Da Ludicidade Na Educação InfantilDocumento26 páginasApostila A Importância Da Ludicidade Na Educação InfantilLuma PradoAinda não há avaliações
- Coordenadas Caracteristicas Do Positivismo JuridicoDocumento4 páginasCoordenadas Caracteristicas Do Positivismo JuridicoSonia RibeiroAinda não há avaliações
- 1TRIM 2020-Betel DominicalDocumento766 páginas1TRIM 2020-Betel DominicalDavi Secundo de SouzaAinda não há avaliações
- Trabalho de Construções Ecológicas PDFDocumento18 páginasTrabalho de Construções Ecológicas PDFDeográcio Possiano Talegal100% (1)
- Claude Papavero - Alimentos em Gregório de MatosDocumento472 páginasClaude Papavero - Alimentos em Gregório de MatosRobert RowlandAinda não há avaliações
- Alma No Exilio - Eldridge CleaverDocumento105 páginasAlma No Exilio - Eldridge CleaverAgnus LaurianoAinda não há avaliações
- Prova de SoteriologiaDocumento4 páginasProva de SoteriologiaTiago DezanAinda não há avaliações
- 4.1 Artigo - Estudando A Comunicação Organizacional - Redes e Processos IntegrativosDocumento14 páginas4.1 Artigo - Estudando A Comunicação Organizacional - Redes e Processos IntegrativosThiagu Martins SantosAinda não há avaliações
- Questão Aula 3 5ºDocumento4 páginasQuestão Aula 3 5ºVera SPAinda não há avaliações
- Apostila Professor Caucaia NovaDocumento119 páginasApostila Professor Caucaia NovaAlexandre MagnoAinda não há avaliações
- Análise de PPP - SlideDocumento6 páginasAnálise de PPP - SlidePedroAinda não há avaliações
- Trabalho Portugues PDFDocumento2 páginasTrabalho Portugues PDFclaudia KarenAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa de Matemática 5º Ano III Unidade 2016Documento6 páginasAtividade Avaliativa de Matemática 5º Ano III Unidade 2016Angela Maria100% (1)
- André Leites - ContratransferênciaDocumento122 páginasAndré Leites - Contratransferênciafbnfrancisco100% (2)
- NBR Iso 9001-2015 PDFDocumento44 páginasNBR Iso 9001-2015 PDFNatanael Nogueira79% (29)
- JingleDocumento14 páginasJingleAngelaLimaAinda não há avaliações
- Artigo Dardel Levisiano o Sentido Da Hipostase e A Irrupcao Do Sujeito No Lugar PDFDocumento12 páginasArtigo Dardel Levisiano o Sentido Da Hipostase e A Irrupcao Do Sujeito No Lugar PDFJulio FerreiraAinda não há avaliações
- Atividade de Revisão FEUDALISMODocumento2 páginasAtividade de Revisão FEUDALISMOAmauri JúniorAinda não há avaliações
- Vulcanismo (Alasca)Documento3 páginasVulcanismo (Alasca)Nuno Miguel Pires Correia100% (1)
- 8 Bit Dungeon - Space AdventureDocumento8 páginas8 Bit Dungeon - Space AdventureEverson JacintoAinda não há avaliações
- Processo de Conformação Das Fronteiras Da Capitania de Minas GeraisDocumento20 páginasProcesso de Conformação Das Fronteiras Da Capitania de Minas GeraisViniciusAinda não há avaliações










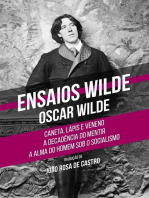







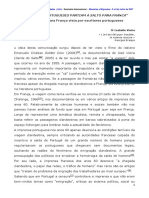






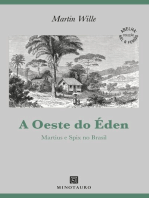
















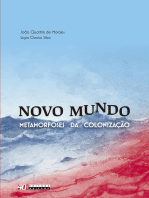





![O Inventor: A Obra E A Vida De Franz Eduard Von Liszt [e-book]](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/word_document/641966482/149x198/74e87e4386/1682943664?v=1)