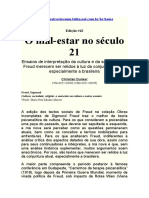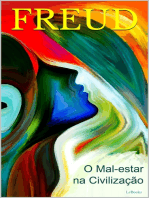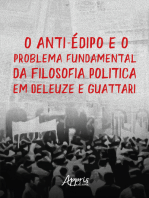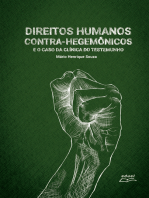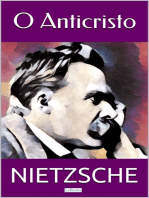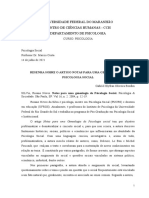Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Aline Sanches
Enviado por
Karina MartinianoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Aline Sanches
Enviado por
Karina MartinianoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Pulsão de morte, entre a repetição e a criação
Death drive, between repetition and creation
Aline Sanches1
Resumo: A fim de circunscrever minhas reflexões no tema deste colóquio, que tem
pandemia em seu título assim como sofrimento e morte, proponho, como muitos colegas
já fizeram e ainda o farão, resgatar noções freudianas sobre a pulsão de morte e sobre a
cultura. Ao mesmo tempo, trarei alguns elementos para pensar a pandemia como
Acontecimento, de acordo com o aparato conceitual dado por Gilles Deleuze, em que o
conceito de pulsão de morte também será fundamental, entrando em novas composições.
Se em Freud a pulsão de morte torna-se fundamental para compreender a agressividade e
a repetição, Deleuze efetua algumas torções conceituais para associá-la sobretudo à
criação.
Palavras-chave: pulsão de morte; instinto de morte; acontecimento; criação.
Abstract: In order to delineate my reflections on the theme of this colloquium, which has
the word pandemic in its title as well as suffering and death, I propose, as many
colleagues have already done and will still do, to recapture the freudian notions about
the death drive and the culture. At the same time, I will bring some elements to think about
the pandemic as an Event, according to the conceptual apparatus given by Gilles Deleuze,
in which the concept of death drive will also be fundamental, although entering into new
compositions. If in Freud the death drive becomes central to understand aggression and
repetition, Deleuze makes some conceptual torsions to associate it mainly with creation.
Keywords: death drive; death instinct; event; creation.
1. Agressividade, egoísmo e narcisismo
Como se sabe, os chamados textos da cultura de Freud vão ganhando força e
intensidade ao longo de sua vida e obra.
[...] é correto dizer que desde a postulação das duas espécies de instintos (Eros e
instinto de morte) e a decomposição da personalidade psíquica em Eu, Super-eu
e Id (1923) eu não mais dei contribuições decisivas à psicanálise [...]. Isto se
relacionou com uma mudança ocorrida em mim, com um certo desenvolvimento
regressivo, se quisermos chamá-lo assim. Após o détour de uma vida inteira pelas
ciências naturais, a medicina e a psicoterapia, meu interesse retornou aos
problemas culturais que um dia haviam fascinado ao jovem que mal despertara
para o pensamento (1935/2011, p. 164).
1
Psicanalista (Gtep/ Sedes Sapientae). Psicóloga (Unesp/ Assis), mestre e doutora em filosofia (UFSCar)
e doutora em pesquisas em psicopatologia e psicanálise (Université Paris 7). Contato:
psicoaline@yahoo.com.br.
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 62
De um lado, entende-se que essa mudança ocorrida em Freud possa ter razões
teóricas, afinal é impossível avançar na compreensão da economia psíquica, forjada no
conflito entre pulsão e repressão, sem também avançar na problemática relação entre
indivíduo e cultura. De outro, pode-se supor que os grandes acontecimentos históricos em
que Freud estava imerso provocaram e testaram suas próprias concepções sobre o ser
humano e sobre a vida em sociedade. A psicanálise freudiana é inseparável de seu
contexto de produção, que mais facilmente associamos à poderosa burguesia vienense, à
sua opulência artística e intelectual, à sua mescla de conservadorismo e furor
revolucionário; mas tendemos a subestimar os impactos da Primeira Guerra Mundial
(entre 1914 e 1918) e das forças em gestação que deram forma ao nazismo e à Segunda
Guerra nos anos 1940. Melhor dizendo, inúmeros autores já especularam sobre os efeitos
de tais acontecimentos na concepção freudiana de pulsão de morte. Mas nem sempre se
destaca que tal conceito, assim como os fatos históricos que acompanham sua elaboração,
apenas aprofundam a visão essencialmente negativa de Freud sobre a natureza humana.
A despeito de sua coerência interna, a teoria freudiana vai mudando de tom. Se
inicialmente observamos certo otimismo e entusiasmo sobre as possibilidades de
transformação terapêutica e social promovidas pela psicanálise, após a Primeira Guerra –
grande ferida narcísica no coração europeu – vemos Freud cada vez mais empenhado em
seu papel de “destruidor de ilusões”2, remetendo a um futuro distante e incerto as saídas
para as formas mais nefastas do mal estar humano.
A pulsão de morte é o conceito chave que sintetiza essas mudanças, que são ao
mesmo tempo teóricas e sociais. A pulsão de morte será uma resposta conceitual tanto
para os limites que Freud encontra em sua prática clínica – com os casos de neurose de
guerra, de neuroses traumáticas, mas também casos com fronteiras cada vez mais
borradas em relação à psicose – quanto para as suas reflexões acerca da cultura, em que
o papel da agressividade vai ganhando cada vez mais protagonismo.
Assim, no texto A moral sexual ‘cultural’ e a doença nervosa moderna
(1908/2020, p. 71), vemos Freud denunciar “a influência prejudicial da cultura”, que por
meio da moral, exerce uma repressão excessiva e nociva da vida sexual. A despeito de
conceber o ser humano como originalmente perverso-polimorfo, sobre o qual é necessário
incidir uma repressão para que ele se torne socialmente possível, Freud defende uma
maior tolerância e liberdade para a expressão das pulsões sexuais, como se estas fossem
2
Justa designação dada pelo escritor francês Romain Rolland (Quinodoz, 2007, p. 250).
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 63
menos ameaçadoras do que parecem; muito pior parece ser o excesso de repressão, que
forma humanos covardes e servis, “fracotes bem-comportados, que mais tarde mergulham
na grande massa que costuma seguir, a contragosto, os impulsos fornecidos por
indivíduos fortes” (1908/2020, p. 84). A repressão parece não deixar muita saída entre a
neurose e a perversão, e ambos resultados são hostis à cultura. Nesse momento, Freud
também parece confiar na sublimação como alternativa à repressão, caminho em que as
pulsões seriam transformadas a ponto de se tornarem edificantes da cultura.
Freud é levado então a investigar de que forma as sociedades ditas “primitivas”
lidavam com a sexualidade, talvez desejoso de nelas encontrar menos repressão e mais
saúde. Contudo, os resultados apresentados em Totem e Tabu (1912-1913/2012) indicam
que o humano pré-histórico é nosso contemporâneo e que nossas formações sociais
consideradas “civilizadas” são idênticas às sociedades totêmicas, diferindo-se apenas em
relação à sua forma, mas não em relação ao conteúdo. Freud começa a se dar conta de
que a sexualidade era inseparável da agressividade, que os impulsos sexuais, perversos e
incestuosos, eram inseparáveis de impulsos assassinos e cruéis, e que somente a
internalização da repressão era capaz de barrá-los. Assim, o foco parece se deslocar e a
ênfase do problema se depositar nessa natureza humana que, se não for bem trabalhada e
desenvolvida ao longo da infância, sempre permanecerá hostil à vida social, visto que
essa hostilidade é constitutiva. Sendo assim, o máximo que conseguiríamos em termos de
formação social seriam meras réplicas da família primitiva, funcionamento de horda em
que se têm um chefe ou líder exercendo seu poder perverso sobre uma massa obediente,
submissa e infantilizada, com toda sua capacidade crítica e intelectual rebaixada.
Parece-nos impossível discordar de Freud, já que vemos por toda parte,
especialmente debaixo de nosso nariz brasileiro, que toda tentativa de construir uma
sociedade mais justa, mais inclusiva e menos violenta está constantemente ameaçada e
subjugada por formas déspotas e fascistas de governabilidade. Nesse sentido, é muito
instrutivo o texto Considerações sobre a guerra e a morte (1915/2020). Nesse texto,
Freud descreve o que seria uma sociedade ideal, representada pela Europa. Vale a pena
retomar integralmente o longo trecho em que ele descreve
[...] as grandes nações de raça branca que dominam o mundo, às quais coube a
condução do gênero humano, das quais sabíamos que se consagram ao cultivo de
interesses mundiais, e cujas criações são os progressos técnicos no domínio da
natureza, bem como os valores culturais artísticos e científicos (Freud,
1915/2020, p. 100).
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 64
Uma sociedade de “elevadas normas morais”, que tanto os cidadãos quanto o
Estado zelam por cumprir; em que as palavras “estrangeiro” e “hostil” deixam de ser
sinônimos. Uma união de povos civilizados, onde qualquer um poderia circular “sem
inibição e livre de suspeitas”.
Assim, ele desfrutava do mar azul e do mar cinzento, da beleza das montanhas de
neve e das verdes pradarias, do encanto da floresta nórdica e do esplendor da
vegetação meridional, da atmosfera das paisagens nas quais estão guardadas
grandes lembranças históricas, e do silêncio da natureza intocada. Para ele, essa
nova pátria também era um museu, repleto de tesouros que os artistas da
humanidade haviam criado e legado há muitos séculos. Enquanto ele passeava de
uma sala a outra desse museu, podia constatar, num reconhecimento imparcial,
os diversos tipos de perfeição que a miscigenação, a história e a singularidade da
Mãe Terra haviam formado em seus novos compatriotas (Freud, 1915/2020, p.
102).
Este trecho me parece particularmente importante por representar muito bem o
que se tinha e ainda se tem como ideal de civilização, em que reinam os valores
iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas é com ironia que Freud se refere
a essa sociedade pacífica, harmoniosa e justa. A Primeira Guerra, que contou mais de 20
milhões de mortos ao longo de quatro anos, além de outros 20 milhões de feridos e
mutilados, produz desilusões, escancara as verdades sobre o ser humano que recusamos
aceitar. Ela denuncia que o progresso civilizatório é uma farsa, que a barbárie fervilha em
nossas entranhas e nas entranhas do corpo social, a ponto de se produzir a mais sangrenta
guerra de toda a história da humanidade no coração das sociedades ditas superiores – isso
porque Freud nem imaginava ainda quão degradante seria o curso da história com o
nazismo, a bomba de Hiroshima, a guerra do Vietnã, do Iraque, entre outras.
Trazendo tais reflexões para nosso contexto atual de pandemia, podemos nos
perguntar: que desilusões ela produz e quais dados de realidade ainda nos recusamos a
aceitar? Acreditamos mesmo que as instituições e a política sejam capazes de lidar com
essa crise de forma justa, sem violência e minimizando as formas de sofrimento que ela
produz? Acreditamos mesmo que as forças coletivas prevaleceriam sobre o egoísmo, e
que ter o vírus como um inimigo comum nos tornaria finalmente unidos, cuidando e
amparando aqueles que mais necessitam?
Concordo com a análise desenvolvida por Gewehr (2020, p. 3) que, se apoiando
em Agambem, afirma que “a peste já estava aqui”. A pandemia só faz acentuar as
mazelas, as misérias e o flagelo cotidianos. Ela escancara as hipocrisias, o racismo, o
espírito colonizador que nunca abandonou nosso imaginário, a lógica do senhor-escravo
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 65
que nunca foi ultrapassada. A violência e o egoísmo estão presentes tanto nos dirigentes
quanto em nossos mínimos gestos e olhares, perpetuados em situações ridículas como a
estocagem de papel higiênico, que deixou alguns supermercados desabastecidos no início
da pandemia.
Com Freud, devemos nos perguntar quais ilusões ainda nos mantêm em um estado
débil e infantil, frustrados por não termos nossos desejos onipotentes e ideais atendidos,
à espera de uma justiça e direitos advindos de algum lugar superior, seja de Deus ou do
Estado. Ilusões que satisfazem nosso narcisismo e que produzem apenas uma delirante e
inútil modificação da realidade. As ilusões nos confortam diante do desamparo, ao mesmo
tempo em que o torna ainda mais profundo. Logo, é preciso destruir as ilusões sem,
contudo, cair na melancolia, no pessimismo impotente ou na revolta pulverizada e cega.
De que modo poderia o conceito de pulsão de morte nos ajudar a sair desses
problemas bastante concretos? Freud mostra que ao lado das pulsões sexuais e de
conservação, chamadas de vida, pulsa em nós forças que nos conduzem a estados inertes,
inorgânicos e autodestrutivos. Longe de moralizar as pulsões, como o fazem as leituras
apressadas e simplistas, não existe algo como a pulsão de vida é boa e a pulsão de morte
é má. Tudo se faz na fusão e intrincamento de ambas, as mais sublimes e as mais odiosas
coisas. A pulsão de morte, ao ser erotizada, alimenta tanto nossa possibilidade de
existência quanto as formas mais cruéis do sadismo e do masoquismo. Contudo, O mal-
estar na cultura (Freud, 1930/2020) indica que estamos em um beco sem saída: a cultura
fracassa diante da indomável natureza humana.
O que há de realidade negada de bom grado é que o ser humano não tem uma
natureza pacata, ávida de amor, e que no máximo até consegue defender-se
quando atacado, mas que, ao contrário, a ele é dado o direito de também incluir
entre as suas habilidades pulsionais uma poderosa parcela de inclinação para a
agressividade. Em consequência disso, o próximo não é, para ele, apenas um
possível colaborador e um objeto sexual, mas é também uma tentação, de com
ele satisfazer a sua tendência à agressão, de explorar a sua força de trabalho sem
uma compensação, de usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, de se
apropriar de seus bens, de humilhá-lo, de lhe causar dores, de martirizá-lo e de
matá-lo (Freud, 1930/2020, p. 363).
Devido a essa hostilidade primária entre os homens, a sociedade seria
permanentemente ameaçada de desintegração e os dispositivos repressivos que ela
constrói tenderiam a se voltar contra ela mesma. A saída apontada por Freud – se é que
podemos chamar isso de saída, parecendo tratar-se muito mais de um beco sem saída – é
inseparável de uma miséria neurótica, de tonalidades masoquistas, em que amar se
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 66
mistura com o medo da perda do amor alheio, em que a agressividade produz sentimento
de culpa e consequentemente, repressão. Freud é taxativo: nem a abolição da propriedade
privada, nem a abolição da família podem apagar esse “[...] indestrutível traço da natureza
humana” (1930/2020, p. 366).
Contudo, pode-se questionar, a despeito de seus vigorosos e louváveis esforços
para destruir as ilusões, se Freud ainda estaria envolto em algumas brumas, que mesmo
nós mal conseguimos enxergar por entre elas. Estaria Freud envolto em uma estrutura de
pensamento demasiadamente eurocêntrico? Este que ainda concebe a natureza e o
primitivo como essencialmente negativos e inferiores, algo a ser domado e combatido
pela cultura? Este que ainda deposita no progresso científico a esperança de salvação?
Eurocentrismo este que, ao extrapolar a noção de propriedade privada para a esfera
subjetiva, ainda faz do Eu o núcleo da constituição psíquica?
Toda batalha interna começa pela construção do Eu, de um sistema de defesas
contra a selvageria e primitivismo do Isso. Considera-se o narcisismo humano e a ilusão
de onipotência como naturais e ao mesmo tempo como conquistas do desenvolvimento.
A fase chamada de “Sua majestade, o bebê” é fundamental para a integração do Eu, sem
a qual permanece comprometida a capacidade de se distinguir posteriormente entre a
imaginação e a realidade. A natureza impele a um egoísmo constitutivo, ao mesmo tempo
em que este deve ser garantido e reafirmado pelo desenvolvimento; em seguida, cabe um
trabalho da cultura para desmanchar o narcisismo, transformá-lo em ideais, em prol da
inserção e da possibilidade do laço social.
Mas estaríamos realmente lidando com dados naturais, que definem o que é o
humano em sua essência ou estaríamos às voltas com um narcisismo fabricado,
engendrado por essa mesma civilização que almeja combatê-lo? Poderia o narcisismo ser
fruto da afirmação de um povo, que ainda se julga o mais desenvolvido e superior do
planeta Terra, quiçá do universo? Europa ou América, somos filhos de um povo que
engole e canibaliza qualquer outro, congelando-os em seus museus, transformando tudo
em si mesmo, construindo todas as narrativas e verdades do mundo, avaliando tudo por
sua própria escala. O ser humano narcísico e o colonizador me parecem ser exatamente a
mesma pessoa.
2. Pandemia como Acontecimento
Sem dúvidas, a pandemia é um acontecimento que perturba, ameaça e nos atinge
em nosso mais profundo âmago. Mas talvez esse acontecimento também possa abrir
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 67
brechas a golpes de martel como diria Nietzsche, e nos tirar de um certo torpor, desfazer
ilusões. E assim como a proximidade da morte também desperta vida, lucidez e
reinvenção, o conceito de pulsão de morte também pode estar atrelado mais à criação do
que à repetição e à agressividade. O filósofo Deleuze pode nos ajudar nesse ponto.
Segundo Freud, não existe pulsão de morte em estado puro, tampouco existe
representação da morte em nosso psiquismo. Mas para Deleuze, o esplendor desse
conceito só se atinge quando: 1) considera-se sua forma pura, sem ser erotizada ou
capturada pelas formas do sadismo e do masoquismo. Tal forma pura está relacionada à
sua função de desligamento, seu potencial inorgânico que é ao mesmo tempo propulsor
imprescindível da força vital; e 2) considera-se que existe um protótipo da morte na
experiência subjetiva e na vivência psíquica. Se Freud nos ensina sobre o Eu que se
acredita imortal e inatingível - “no ponto mais delicado do sistema narcísico, a
imortalidade do Eu” (Freud, 1914/2010, p. 25), com Deleuze vislumbra-se um Eu que
paga um preço muito alto para se manter nessa ilusão de imortalidade, um Eu onipotente,
paranoico e acossado por todos os lados.
Também com Deleuze, é possível situar melhor o que se entende por
Acontecimento, afim de associar tal noção com nossa situação atual de pandemia. O
acontecimento tem o poder de desorganizar a roda do tempo, esta que também é uma
ilusão. A coerência entre passado, presente e futuro, que criamos e nos empenhamos em
manter, é tão ilusória e superficial quanto a coerência do Eu. O tempo circular é o tempo
da repetição e do princípio de prazer. É onde a cobra morde o rabo, e o futuro nada traz
de novo, apenas um passado revisitado, em que se permanece fixado em experiências de
prazer ou desprazer já vividas, em modelos e padrões já conhecidos e, consequentemente,
que não ampliam nem nossa sensibilidade nem nosso campo de experiência. O
acontecimento reposiciona nossa relação temporal, “não cessa de dividir a linha e de se
dividir a si mesmo”, em “um passado-futuro ilimitado, enquanto se reflete em um presente
vazio, presente cuja espessura é a mesma de um espelho” (Deleuze, 1969/2006, p. 153).
Daí seu poder de quebrar círculos viciosos e compulsões a repetições, isso que nos impele
constantemente e automaticamente a esquivarmo-nos de experiências passadas tidas
como frustrantes e buscar no futuro experiências satisfatórias já experimentadas. Isso que
também arrasta consigo a repetição de tragédias e traumas. Nesta perspectiva, a
compulsão a repetição não remetem diretamente à ação da pulsão de morte, mas à captura
erótica dessa pulsão em territórios sadomasoquistas nada desvitalizados, mas bem vivos
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 68
e fortes. Sendo assim, existem formações, reais ou ideais, concretas ou psíquicas, que
precisam morrer se se quer continuar vivendo com menos sofrimento. So, live and let die.
Eis então que o Acontecimento chega e embaralha tudo; desorganiza-se o Eu, a
experiência temporal e o princípio de prazer. É por isso tal conceito está associado ao
além do princípio de prazer e à pulsão de morte, que Deleuze prefere chamar de instinto
de morte. Para funcionar, a vida precisa de algo não-orgânico, qualquer coisa que produza
desligamento ou desconexão. Tratar-se-ia, de fato, do próprio desejo, que emperrado, não
podendo fluir livremente, destrói o que o impede de circular. Destrói-se assim as ligações
orgânicas de determinado corpo ou forma. Contudo, não se sabe de antemão se essa
destruição será positiva ou negativa, afinal isso não está contido nos processos destrutivos
como intenção ou finalidade. É nesse sentido que Deleuze compreende o instinto de morte
e por isso nele reside a criação. É por meio de sua ação que se realiza a redistribuição das
potências, se permite um uso renovado dos órgãos e da sensibilidade, uma recomposição
dos territórios.
Em todo acontecimento existe realmente o momento presente da efetuação,
aquele em que o acontecimento se encarna em um estado de coisas, um indivíduo,
uma pessoa, aquele que designamos dizendo: eis aí, o momento chegou; há uma
redistribuição do tempo, e o futuro e o passado do acontecimento não se julgam
senão em função deste presente definitivo, do ponto de vista daquele que o
encarna. Mas há, de outro lado, o futuro e o passado do acontecimento tomado
em si mesmo, que esquiva todo presente, porque ele é livre das limitações de um
estado de coisas, sendo impessoal e pré-individual, neutro, nem geral, nem
particular, eventum tantum...; [...] Em um caso, é minha vida que parece muito
fraca, que escapa em um ponto tornado presente em uma relação assinalável
comigo. No outro caso, eu é que sou muito fraco para a vida, é a vida muito
grande para mim, jogando por toda parte suas singularidades, sem relação
comigo, e sem um momento determinável como presente, salvo com o instante
impessoal que se desdobra em ainda-futuro e já-passado (Deleuze, 1969/2006, p.
154).
Compreender o acontecimento como algo que não é nem geral, nem particular,
nem coletivo nem privado, mas ambos ao mesmo tempo, é fundamental para se apreender
essa noção. O acontecimento é impessoal e pré-individual, ou seja, não depende de uma
particularidade pessoal e engendra a possibilidade de individuação. O acontecimento não
se passa nem dentro nem fora. Mas se opera nessa dobradiça imperceptível, nesse limite,
nessa junção.
“Qual guerra não é assunto privado, inversamente qual ferimento não é de guerra
e oriundo da sociedade inteira?” (Deleuze, 1969/2006, p. 155). Nossa liberdade reside
nessa abertura ao impessoal, nessa abolição de uma parte demasiadamente humana,
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 69
demasiadamente narcísica. Tão bem constituído estavam os limites, o Eu tão bem
discriminado do Fora, encastelado em suas defesas, majestoso em seu reino. Eis que de
repente, fissuras irrompem, as bordas se borram e se embaralham.
A ameaça é evidente: é possível desintegrar-se definitivamente, em uma mistura
sem sentido, em que me perco e já não me encontro mais; saídas melancólicas, psicóticas,
esconderijos em paraísos ou infernos artificiais, tentativas de soldar o Eu esmigalhado
com álcool e drogas; “ponto em que nada mais se pode além de soletrar e gritar, mas não
mais falar” (Deleuze, 1969/2006, p. 160). Ou então, é possível enrijecer-se ainda mais:
empenhar todas as forças na defesa das barreiras, considerar qualquer diferente como
inimigo, tornar-se uma torre de vigilância em torno da qual o resto do mundo gravita;
saídas paranoicas ou neuróticas, estado permanente de guerra e de tensão.
Como acolher o acontecimento e a ruptura sem vivê-lo como invasão e ameaça?
Sem refugiar-se no sofrimento psicótico ou neurótico, sem tornar-se perverso? Trata-se
de uma questão ao mesmo tempo ética, política e clínica. De tais noções, Deleuze extrai
uma moral de inspiração estoica, espinozana e nietszcheana:
Não ser indigno daquilo que nos acontece. Ao contrário, captar o que acontece
como injusto e não merecido (é sempre a culpa de alguém), eis o que torna nossas
chagas repugnantes, o ressentimento em pessoa, o ressentimento contra o
acontecimento. Não há outra vontade má. O que é verdadeiramente imoral é toda
utilização das noções morais, justo, injusto, mérito, faltas. Que quer dizer então
querer o acontecimento? Será que é aceitar a guerra quando ela chega, o ferimento
e a morte quando chegam? (Deleuze, 1969/2006, p. 152).
Aceitar as injustiças quando elas acontecem? Não se trata aqui de aceitar
passivamente algo ou de se resignar como se nada mais houvesse a fazer. Mas de fazer
do acontecimento motor para o desejo, algo que “quer agora não exatamente o que
acontece, mas alguma coisa no que acontece” (Deleuze, 1969/2006, p. 152). Amor fati.
Cada acontecimento é como a morte, impessoal e inevitável; “a morte é ao mesmo
tempo o que está em uma relação extrema ou definitiva comigo e com meu corpo, o que
é fundado em mim mas também o que é sem relação comigo, o incorporal, o impessoal,
o que não é fundado senão em si mesmo” (Deleuze, 1969/2006, p. 154). Ninguém pode
dizer que a morte é pessoal, que ela vem me perseguir, que ela vem me buscar, que ela
está contra mim. Ao mesmo tempo, pode-se dizer eu morro, mas sabe-se que “nela a gente
morre, não se cessa e não se acaba mais de morrer” (Blanchot, s/d apud Deleuze,
1969/2006, p. 154).
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 70
Cada acontecimento é como a morte, pode-se perder órgãos, membros, o próprio
Eu e a linguagem. Mas pode-se também recriar, renascer e não há outro caminho para
viver e para menos sofrer. É preciso mais coragem e menos covardia. Trata-se de um
convite para se arriscar, correr riscos e perigos nos enfrentamentos mínimos, marginais,
mas jamais sem cautela ou prudência. Tampouco sem humor. Deleuze cita o poeta Joe
Bousquet, que aos 21 anos tornou-se paraplégico na guerra: “ligar às pestes, às tiranias,
às mais espantosas guerras a chance cômica de ter reinado por nada” (Bousquet, s/d apud
Deleuze, 1969/2006, p. 154). O humor contra o amargor.
Desejamos mudar o mundo, mas as vezes sequer conseguimos transformar nosso
microcosmo, nos relacionar com nossos próximos, tão capturados que estamos pelas
forças opressoras e reativas. Precisamos nos lembrar que a busca pela grande saúde não
significa jamais adoecer, mas fazer do adoecimento condição e via de acesso para a saúde.
Assim sendo, como fazer do sofrimento matéria-prima para o desejo? Como fazer das
mazelas sociais uma micropolítica que sirva de antídoto para o fascismo e para o
ressentimento que habitam sobretudo em nós mesmos?
Recebido em 13/08/2020
Aprovado em 18/11/2020
Referências
Deleuze, G. Lógica do sentido. São Paulo: Perspectiva, 2006.
Freud, S. (1908). A moral sexual ‘cultural’ e a doença nervosa moderna. In: Freud, S.
Cultura, sociedade e religião: O mal-estar na cultura e outros escritos. Belo Horizonte:
Autêntica, 2020.
Freud, S. (1912-1913). Totem e Tabu. In: Freud, S. Obras completas, volume 11. São
Paulo: Companhia das Letras, 2012.
Freud, S. (1914). Introdução ao narcisismo. In: Freud, S. Obras completas, volume 12.
São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
Freud, S. (1915). Considerações sobre a guerra e a morte. In: Freud, S. Cultura,
sociedade e religião: O mal-estar na cultura e outros escritos. Belo Horizonte:
Autêntica, 2020.
Freud, S. O mal-estar na cultura. In: Freud, S. Cultura, sociedade e religião: O mal-
estar na cultura e outros escritos. Belo Horizonte: Autêntica, 2020.
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 71
Freud, S. (1935). Autobiografia. In: Freud, S. Obras completas, volume 16: O eu e o id,
"autobiografia" e outros textos (1923-1925). São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
Gewehr, R. Lembra-te de que vais morrer! Misérias da vida em comum em tempos de
pandemia. Voluntas: Revista Internacional de Filosofia [Online], v. 11, e. 34. Santa
Maria, 2020, p. 1-11,
Quinodoz, J.M. Ler Freud: guia de leitura da obra de S. Freud. Porto Alegre: Artmed,
2007.
Revista Natureza Humana, São Paulo, v.22, n2., pp.62-72, 2020 72
Você também pode gostar
- O mal-estar na cultura e outros ensaios de Freud merecem ser relidosDocumento5 páginasO mal-estar na cultura e outros ensaios de Freud merecem ser relidosRicardo Almeida PradoAinda não há avaliações
- Fuks - Da Guerra e Da Morte Cem Anos DepoisDocumento8 páginasFuks - Da Guerra e Da Morte Cem Anos DepoisPatricia DaibesAinda não há avaliações
- O Irracionalismo de Conveniência: Ensaio sobre Pós-Verdade, Fake News e a Psicopolítica do Fascismo DigitalNo EverandO Irracionalismo de Conveniência: Ensaio sobre Pós-Verdade, Fake News e a Psicopolítica do Fascismo DigitalAinda não há avaliações
- Estética da Estupidez: A arte da guerra contra o senso comumNo EverandEstética da Estupidez: A arte da guerra contra o senso comumAinda não há avaliações
- 21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNo Everand21 Ideias do Fronteiras do Pensamento para Compreender o Mundo AtualNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Para além de freud - "uma cultura do extermínio"?No EverandPara além de freud - "uma cultura do extermínio"?Ainda não há avaliações
- A tentação do bem: o caminho mais curto para o piorDocumento9 páginasA tentação do bem: o caminho mais curto para o piorRogério IvanoAinda não há avaliações
- Interpretação Freudiana de o Médico e o Monstro.Documento8 páginasInterpretação Freudiana de o Médico e o Monstro.Tarik LimaAinda não há avaliações
- Psi Cult Gen CliDocumento12 páginasPsi Cult Gen CliJefersonAinda não há avaliações
- MAGALDI, F. Mania de Liberdade. Nise Da Silveira e A Humanização Da Saúde Mental No BrasilDocumento356 páginasMAGALDI, F. Mania de Liberdade. Nise Da Silveira e A Humanização Da Saúde Mental No Brasilsimoessarah433100% (1)
- PsicanáliseDocumento13 páginasPsicanáliselittlecherrydejeAinda não há avaliações
- Vulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoNo EverandVulnerabilidade Psíquica, Miscigenação e Poder: o Caso BolivianoAinda não há avaliações
- Psicofármacos e Psicanálise PDFDocumento15 páginasPsicofármacos e Psicanálise PDFcoimbravalerio100% (1)
- Pulsão de Morte, Trabalho de Cultura e Transgressão: Introdução à Obra de Nathalie ZaltzmanNo EverandPulsão de Morte, Trabalho de Cultura e Transgressão: Introdução à Obra de Nathalie ZaltzmanAinda não há avaliações
- A Angústia e o Estranho: Um Estudo Psicanalítico em Diálogo com a Ficção de HorrorNo EverandA Angústia e o Estranho: Um Estudo Psicanalítico em Diálogo com a Ficção de HorrorAinda não há avaliações
- Freud Explica Bolsonaro Na Pandemia Com Conceito de Pulsão de Morte - 20 - 03 - 2021 - Ilustríssima - FolhaDocumento8 páginasFreud Explica Bolsonaro Na Pandemia Com Conceito de Pulsão de Morte - 20 - 03 - 2021 - Ilustríssima - FolhaCristian Alexander Pereverzieff0% (1)
- FREUD, Mal-Estar Na Cultura (Autentica v. 6)Documento414 páginasFREUD, Mal-Estar Na Cultura (Autentica v. 6)Luciano Alvarenga MontalvãoAinda não há avaliações
- O mal-estar na civilização segundo FreudDocumento4 páginasO mal-estar na civilização segundo FreudPedro DemenechAinda não há avaliações
- Morte e vida na política: Filosofia e PsicanáliseNo EverandMorte e vida na política: Filosofia e PsicanáliseAinda não há avaliações
- Nietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade PDFDocumento18 páginasNietzsche e Freud Pensadores Da Modernidade PDFPedro EfkenAinda não há avaliações
- Psicanálise, Política e Educação: Construindo Convergências em Contextos DiversosNo EverandPsicanálise, Política e Educação: Construindo Convergências em Contextos DiversosAinda não há avaliações
- O Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariNo EverandO Anti-Édipo e o Problema Fundamental da Filosofia: Política em Deleuze e GuattariAinda não há avaliações
- A PSICANALISE E O MOVIMENTO DA CULTURA CONTEMPORÂNEA (Ricoeur)Documento24 páginasA PSICANALISE E O MOVIMENTO DA CULTURA CONTEMPORÂNEA (Ricoeur)Marcelo BancaleroAinda não há avaliações
- Freud - O Mal-Estar Na Cultura e Outros EscritosDocumento414 páginasFreud - O Mal-Estar Na Cultura e Outros EscritosLuis Eduardo Da Silva dos Santos100% (8)
- Direitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoNo EverandDireitos humanos contra-hegemônicos e o caso da Clínica do TestemunhoAinda não há avaliações
- O que há de novo na "nova direita"?: identitarismo europeu, trumpismo e bolsonarismoNo EverandO que há de novo na "nova direita"?: identitarismo europeu, trumpismo e bolsonarismoAinda não há avaliações
- BaixadosDocumento21 páginasBaixadosRaquel RiosAinda não há avaliações
- Decolonialidade a partir do Brasil - Volume IVNo EverandDecolonialidade a partir do Brasil - Volume IVAinda não há avaliações
- FreudDocumento25 páginasFreudsergioasds2529Ainda não há avaliações
- Teoria Crítica e Estética ModernaDocumento8 páginasTeoria Crítica e Estética ModernaEliasManoelSilvaAinda não há avaliações
- O pensamento de Freud sobre a civilização e o mal-estar humanoDocumento8 páginasO pensamento de Freud sobre a civilização e o mal-estar humanoWellington Felipe de CastroAinda não há avaliações
- A era da iconofagia: Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e culturaNo EverandA era da iconofagia: Reflexões sobre imagem, comunicação, mídia e culturaAinda não há avaliações
- A Teologia do Holocausto e o Problema do MalNo EverandA Teologia do Holocausto e o Problema do MalAinda não há avaliações
- FREUD X ROGERS: A NATUREZA HUMANADocumento8 páginasFREUD X ROGERS: A NATUREZA HUMANADaysiane XavierAinda não há avaliações
- Eugenia Brasilis: Delírios e Equívocos na Terra do BorogodóNo EverandEugenia Brasilis: Delírios e Equívocos na Terra do BorogodóAinda não há avaliações
- Utopia possível a partir da crueldade soberanaDocumento7 páginasUtopia possível a partir da crueldade soberanabrunofnAinda não há avaliações
- Crise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaNo EverandCrise Civilizacional e Pensamento Decolonial: Puxando Conversa em Tempos de PandemiaAinda não há avaliações
- Psicologia Das MassasDocumento10 páginasPsicologia Das MassasJhulyane CunhaAinda não há avaliações
- A complex articulação entre sujeito e cultura na psicanáliseDocumento9 páginasA complex articulação entre sujeito e cultura na psicanáliseKurato cervejariaAinda não há avaliações
- O Histórico Do Socialismo Internacional E A Sua Visão No BrasilNo EverandO Histórico Do Socialismo Internacional E A Sua Visão No BrasilAinda não há avaliações
- Impactos Psicossociais Dos Desastres Da Mineração em Mariana e BrumadinhoDocumento17 páginasImpactos Psicossociais Dos Desastres Da Mineração em Mariana e BrumadinhoKarina MartinianoAinda não há avaliações
- Fundação Hospitalar Do Estado de Minas Gerais - Fhemig - Concurso Público 2023Documento96 páginasFundação Hospitalar Do Estado de Minas Gerais - Fhemig - Concurso Público 2023Leandro DamasioAinda não há avaliações
- Tese - As Modalidades Do Ato e Sua Singularidade Na Adolescência - Carla Almeida CapanemaDocumento98 páginasTese - As Modalidades Do Ato e Sua Singularidade Na Adolescência - Carla Almeida CapanemasansansaoAinda não há avaliações
- Introdução ao editor inglês sobre artigos de Freud sobre metapsicologiaDocumento2 páginasIntrodução ao editor inglês sobre artigos de Freud sobre metapsicologiaKarina Martiniano100% (1)
- O Que o Feminicidio Aponta Do Horror Ao FemininoDocumento10 páginasO Que o Feminicidio Aponta Do Horror Ao FemininoKarina MartinianoAinda não há avaliações
- Psicanálise e Laço Social PDFDocumento15 páginasPsicanálise e Laço Social PDFLeidy AnyAinda não há avaliações
- O Psicanalista Entre o Mestre e o Pedagogo - Diana RabinovichDocumento20 páginasO Psicanalista Entre o Mestre e o Pedagogo - Diana RabinovichKarina MartinianoAinda não há avaliações
- MILLER J A Discurso Do Metodo Psicanalitico 1997 PDFDocumento63 páginasMILLER J A Discurso Do Metodo Psicanalitico 1997 PDFJulia Cury100% (1)
- Other KinsDocumento6 páginasOther KinsWisley Lopes de AlmeidaAinda não há avaliações
- Educação Emocional: Um Novo Paradigma Pedagógico?Documento9 páginasEducação Emocional: Um Novo Paradigma Pedagógico?RahhhAinda não há avaliações
- SLD 1Documento52 páginasSLD 1Renato RodriguesAinda não há avaliações
- As Mulheres e A Imprensa EsportivaDocumento152 páginasAs Mulheres e A Imprensa EsportivaHuertas FernandaAinda não há avaliações
- Cópia de EM - Caderno - 8 - DigitalDocumento62 páginasCópia de EM - Caderno - 8 - DigitalRaquel Dos Santos100% (1)
- Imagens e símbolos na religião e culturaDocumento173 páginasImagens e símbolos na religião e culturaVivian OliveiraAinda não há avaliações
- Formação Técnica em Segurança no TrabalhoDocumento4 páginasFormação Técnica em Segurança no TrabalhoCarlos Duarte Correia e Nogueira FerrãoAinda não há avaliações
- A Educação Especial Na Base Nacional Comum Curricular Fortalecimento Ou Enfraquecimento Da Educação Especial InclusivaDocumento16 páginasA Educação Especial Na Base Nacional Comum Curricular Fortalecimento Ou Enfraquecimento Da Educação Especial InclusivarosanesguAinda não há avaliações
- Finalizado A Experiência Cabalística EbookDocumento269 páginasFinalizado A Experiência Cabalística EbookmaurilioctbaAinda não há avaliações
- Teoria das Relações Humanas e Estudos de HawthorneDocumento17 páginasTeoria das Relações Humanas e Estudos de HawthorneRalfAinda não há avaliações
- A Moral em Marx - Crítica MarxistaDocumento15 páginasA Moral em Marx - Crítica MarxistaJulia ScavittiAinda não há avaliações
- Papus - Os Discípulos Da Ciência OcultaDocumento18 páginasPapus - Os Discípulos Da Ciência OcultaGlaucia Nalva100% (1)
- Análise das políticas de acessibilidade dos livros didáticos em LibrasDocumento203 páginasAnálise das políticas de acessibilidade dos livros didáticos em Libraspatrici@schelpAinda não há avaliações
- Desigualdades Diferenças e Inclusão - v.3 - PPGE - EFLCH - UnifespDocumento258 páginasDesigualdades Diferenças e Inclusão - v.3 - PPGE - EFLCH - UnifespELLEN GONZAGA LIMA SOUZAAinda não há avaliações
- Fundamentos Sociofilosoficos-LivroDocumento151 páginasFundamentos Sociofilosoficos-LivroMaria Das Dores BezerraAinda não há avaliações
- Mito Teneterara Com CupimDocumento274 páginasMito Teneterara Com CupimMarcony Lopes AlvesAinda não há avaliações
- Os Mistérios da Lemúria e AtlântidaDocumento72 páginasOs Mistérios da Lemúria e AtlântidaRogério PimentaAinda não há avaliações
- PEREIRA CUNHA - LIDERANDO EQUIPES À DISTÂNCIA - UMA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA - vf3Documento16 páginasPEREIRA CUNHA - LIDERANDO EQUIPES À DISTÂNCIA - UMA CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA - vf301cunha6186Ainda não há avaliações
- Relatorio de Psicologia HumanistaDocumento8 páginasRelatorio de Psicologia HumanistaÁila GamaAinda não há avaliações
- A Condição HumanaDocumento7 páginasA Condição HumanaCanício SchererAinda não há avaliações
- Psicologia Social: Genealogia e Questões SociaisDocumento3 páginasPsicologia Social: Genealogia e Questões SociaisGabriel ElyfranAinda não há avaliações
- Literatura infantil estimula linguagemDocumento9 páginasLiteratura infantil estimula linguagemSofia MedizaAinda não há avaliações
- Técnica Física para sair da matéria e conquistar a autoconsciênciaDocumento22 páginasTécnica Física para sair da matéria e conquistar a autoconsciênciaAntonio MarcosAinda não há avaliações
- Os 12 Trabalhos de HérculesDocumento139 páginasOs 12 Trabalhos de HérculesErika SouzaAinda não há avaliações
- O Código Da Emoção - PortuguêsDocumento435 páginasO Código Da Emoção - PortuguêsLindolfo Euqueres96% (25)
- A Nova Era e A Revolução Cultural Fritjof Capra Antonio Gramsci - Olavo de Carvalho PDFDocumento203 páginasA Nova Era e A Revolução Cultural Fritjof Capra Antonio Gramsci - Olavo de Carvalho PDFJander Sergio67% (3)
- 18 Roda Do Arco IrisDocumento7 páginas18 Roda Do Arco IrisPauloCallegariAinda não há avaliações
- Educação, ética e cidadania na Rede Sinodal de EducaçãoDocumento325 páginasEducação, ética e cidadania na Rede Sinodal de EducaçãoIalys JangolaAinda não há avaliações
- Entrevista anamnese psicológicaDocumento6 páginasEntrevista anamnese psicológicaJoelma MartinsAinda não há avaliações
- Aprendendo A EntregaDocumento19 páginasAprendendo A EntregaEldo RossowAinda não há avaliações