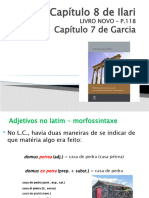Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rocha CatedraRodapéInternacional
Rocha CatedraRodapéInternacional
Enviado por
Emília0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações23 páginasTítulo original
Rocha_CatedraRodapéInternacional
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
9 visualizações23 páginasRocha CatedraRodapéInternacional
Rocha CatedraRodapéInternacional
Enviado por
EmíliaDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 23
Grandes Temas
Critica literaria:
em busca do tempo perdido?
Joao Cezar de Castro Rocha
G=
a W ARGOS
AY
UNOCHAPECO
Retr: Oto Lie Pol
ie ReoradeEnsino Pag Extensto: Maria Luiza de Sowa as
‘Ve Retr de Pansomentoe Dsenvolviente: Cudio Alcs ack
‘ice Retr de Adminis: Sady Mazon
Dinetor de Pesquisa e Ps Graduapo Strict Sens: Ricardo Rene
ato ou pre dele no podem er repeoduides por qualquer meio sem atorizagio
‘ceria do Eto,
1 Roche, Jo Cena de Castro
Ree ‘Cen ei: em bc do tempo perdido?
Joto Gea de Castro Roch. ~ Chapt: Argo 201.
"hp (Grands Temas 8)
ISBN: 978-65.50981.88-8
1. Literatura Tera 2 Ceti ier
Ltitua.
‘Catalogasie elaborada por Caroline Miotto CRB 14/178
biota Cet da Unocapecs
“Todos ods reservados
Argo itor ds Unocapect
Alo Fontan, 81-E~ Baro fp Chapecs (SC) ~89809-000- Caixa Postal 1141
(49) 332 8218 -argw@unachapenedu br -wweranochapeso.e args
Conse Bator
Rosana Mara Bao president), Casa Hosane Pa Ard Teo vice pein,
‘lar va Camus rin Congas de Asis Maria Assunta ust
‘Mara Lava de Sou Lajis, Mardo Cs Cosel, Ricard Rese,
“la Mra Zancanar Pesos
Coardenadors
Maris Auta Busto
A Maria Teresa
(Amor purépecha)
A catedra e 0 rodapé:
um debate internacional
O mediador: por um novo conceito
‘Antes de dar um passo adiante, recordemos brevemente 0
que jé vimos.
eixo definidor dos capitulos iniciais foi a discusséo sobre a
polémica e seu resgate como gesto cuja dindmica tanto pode favo-
recer a estruturacio quanto assegurar a vitalidade do sistema inte-
Tectual. Ademais, se, no primeiro capitulo, o tema foi abordado de
‘um ponto de vista comparativo, no segundo, privilegiou-se a cena
brasileira. Respeitei, assim, a metodologia proposta na introdu-
Gio, com base na oscilagao entre o alheio e o proprio, metodologia
que volta a organizar minha exposigio.
Por isso, neste e no préximo capitulo, o conceito de mediador
cultural ajudaré a organizar os temas que discutirei por meio de
‘um debate recente acerca do lugar da critica de poesia nos suple-
mentos literdrios.' E, de igual modo, se, neste capftulo, discute-se
sua presenga no cenério internacional, no capitulo “A citedra e 0
rodapé: um debate nacional’, retornar-se-4 ao panorama nacional,
especialmente por intermédio da disputa entre Afranio Coutinho
¢ Alvaro Lins.
Vale, portanto, a adverténcia: as intimeras digressdes que
pontuario meu raciocinio referem-se & fungio sistémica e as
transformacées histéricas do mediador. Reavaliar sua presenca
nos meios de comunicagdo hoje em dia é uma questo urgente
€ nada simples. O critico como mediador conheceu seus dias de
apogeu na Galéxia de Gutenberg, para recordar a expressio de
Marshall McLuhan. No presente, definido pela expansio em tese
infinita do universo digital, pode-se ainda imaginar um papel para
o tradicional mediador?
Devo, portanto, retornar ao conceito de mediador cultural,
mencionado brevemente na introdugio.
Alids, por que ndo comecar a discussio acerca do conceito
pelo seu avesso? Seu entendimento usual, nada lisonjeiro, foi per-
feitamente radiografado num poema de Maiakévski:
1, Refiro-me ao debate provocado pelo ensaio “Do que nio falamos quando fala-
‘mos de poesia: algumas aporias do jornalismo literdrio” (Perloff, 2002). Discu-
tire oensaio e o debate especialmente na segio “Um paiblico ‘lasse méia?™.
2. McLuhan, 1969,
120
Entre escritor
eleitor
posta-se o intermedisrio,
0 gosto
do intermediario
ébastante intermédio.
Mediocre
mesnada
de medianeiros médios
pulula
na crit
e nos hebdomadarios.*
Aqui, mediador é bem o representante estereotipado da criti-
ca de rodapé, responsavel por uma coluna, na maior parte dos casos,
semanal, cuja principal tarefa consistia em avaliar os iltimos langa-
mentos segundo critérios normativos. O paradoxo é ébvio e estimu-
laa caracterizagdo implacivel do poeta russo, pois o que se publicava
no calor da hora era submetido ao crivo de valores preestabelecidos.
(O “intermediério” seria o mero “juiz de arte’. Na laboriosa preciso
alema, apenas um Kunstrichter. A simplicidade de seus julgamentos
tinha como base a aplicagao de um conjunto fixo de preceitos; dai
© cariter judicativo da atividade. Como veremos no capitulo “No
meio caminho: a Semana de Arte Moderna’, a arte moderna op0s-
3. Bsses so os primeiros versos do poema “Incompreensivel para as massas”
(Maiakévski, 1992, p. 123). O poema foi publicado em 1927. Vale a pena men-
cionar a motivagio mais imediata do poeta, segundo Schnaiderman: “Na mesma
linha de preacupagées, isto €, com o papel do poeta na sociedade,situa-se In-
compreensivel para as massas, um dos muitos escritos em que Maiakévski pro-
puignou uma arte digna, elevada, sem concess6es, pois © povo & que deveria ser
ceducado para compreender a verdadeira poesia’ (Schnaiderman, 1992, p. 22)
121
-se frontalmente a esse modelo de mediagdo, uma vez que a figura
definidora do movimento, o poeta-critico, incorporava a instancia
critica na propria feitura da obra. A disputa da cétedra contra 0 10-
dapé também significou um ataque a esse tipo de mediador, caracte-
ristico do jornalismo literério,e, por isso, questionado pelas geragoes
formadas na universidade. Nao ser casual, portanto, que a critica
uuniversitéria tenha canonizado os autores do Modernismo, autores
vistos com reservas pela maior parte da critica de rodapé.
Em geral, a critica universitéria costuma compreender 0 me-
diador apenas nesse recorte mais tradicional. Gostaria, contudo, de
propor uma genealogia distinta, sugerindo uma forma de reavaliar
© seu papel histérico, a fim de propor, na conclusdo, um possivel
resgate da ideia de mediagao cultural nas condigbes presentes. Eis
minha hipétese: a fungao estrutural do mediador relaciona-se 4 ne-
cessidade de fitrar 0 “excesso” de dados ocasionado pela disponibi-
lidade geralmente criada pelo advento de uma nova tecnologia de
comunicacio, Em outras palavras, o entendimento usual do media-
dor refere-se apenas ao contetido de sua ago, ou seja,&avaliagdo de
obras do presente segundo padrdes estabelecidos a priori. Por que
no considerar também a forma de seu exercicio?
Nesse horizonte, o mediador cultural seria uma espécie de
“anti-Funes”, Explico-me: 0 personagem do célebre conto de Jorge
Luis Borges, “Funes el memorioso’, depois de um acidente, que
6 deixou paralisado, alterou radicalmente sua percepgao do tem-
po. Antes, uma caracteristica chamava a atengao de todos, qual
seja, “la de saber siempre la hora, como un reloj’* Essa sintonia
4. Borges, 1989, p. 486,
122
absoluta com o aqui e agora foi substituida por um engajamento
igualmente absoluto com o passado imediato, pois sua meméria
tornou-se to prodigiosa que, por exemplo, a tarefa de recordar 0
dia de ontem consumia as 24 horas do dia seguinte: “Dos 0 tres ve-
ces habia reconstruido un dia entero; no habia dudado nunca, pero
cada reconstruccién habia requerido un dia entero” Na sutileza da
frase de Borges, a repeti¢ao quase idéntica da expresso revela 0
dilema propriamente epistemolégico de Funes e, a0 mesmo tem-
po, ajuda a compreender a fungao estrutural do mediador: suas
escolhas, ou seja, suas exclusdes, operam uma primeira selegio,
controlando 0 “excesso” de informagbes ocasionado sobretudo em
‘momentos histéricos de difusao de novos meios de comunicacao”
Admitida a hipétese de um entendimento também formal
do papel histérico do mediador, novas possibilidades se abrem.
Nos séculos XVIII e XIX, por exemplo, tratava-se de controlar 0
fluxo das informacées tornado disponivel pela difusdo de textos
5. Borges, 1989a, p. 488, gifos nossos.
6. Habia aprendido sin esfuerzo el inglés, el francés, el portugues, el latin, Sospe-
cho, sin embargo, que no era muy capaz de pensar. Pensar es olvidar diferencias,
es generalizar, abstracr. Enel abarrotado mundo de Funes no habia sino detal-
les, casi inmediatos” (Borges, 1989, p. 490).
7, Sou o primero a reconhecer que uma anilise construtivista desse processo pos-
sui somente um rendimento heurstico, Esse nivel, entretanto, desautoriza ain-
sgenuidade de certas formulacoes recentes fundadas na utopia de uma ordem
cultural refratéria & formacio de cAnones. Contudo, neste capitul, valorizo 0
papel formal do mediador. Num futuro lio, dedicado ao conceito de mediador
cultural, pretendo analisar com o devido cuidado o cariter inegavelmente ideo-
lgico subjacente a formacio de cinones.
impressos na esfera do cotidiano Vale dizer, o mediador ajuda a
reduzir a complexidade estrutural, por meio de uma selecio prévia
do que deve ou nio ser lido. Claro, em alguma medida, tal formu-
lacio tem sabor “passadista’, pois parece naturalizar a tecnologia
dos tipos méveis. Ora, no século XX, deveria dizer selecdo prévia
do que deve, sobretudo, ser “visto’,e, hoje em dia, especialmente,
do que deve ser “acessado”, Modernamente, portanto, seria pos-
sivel identificar trés momentos histéricos decisivos na transfor-
magio da figura do mediador: invengao e, sobretudo, difusio da
imprensa no cotidiano; hegemonia dos meios audiovisuais, espe-
cialmente apés 1945; a situacao presente, isto é, as consequéncias
da tecnologia digital. Qualquer reflexao acerca da figura histérica
do mediador precisa levar em consideracio as modificagdes oca-
sionadas especialmente nas formas de recepcio ¢, hoje em dia, de
interagio. A querela da cétedra e do rodapé representa um capi-
tulo dessa histéria multissecular _ no capitulo “Critica literéria na
era digital?” desenvolverei tal intuigao.
Vejamos, agora, um exemplo eloquente, a fim de esclarecer
ahipétese,
As desvantagens da imprensa?
No discurso inaugural da Universidade de Napoles, profe-
rido em 1708, Giambattista Vico mostrou-se preocupado com 0
8. Compreenda-se que, nos séculos XVIII e XIX, 0 texto impresso comecou a fazer
parte da realidade cotidiana de um mimero sempre crescente de leitores
124
colapso das formas tradicionais de mediagao, cujo fundamento
era o citculo composto por mestres e discfpulos, e cuja maneira de
transmisséo era basicamente oral. Na seco do discurso intitulada
“Tipos impressos. As desvantagens da imprensa; como superé-
-las’, Vico hesitava entre os beneficios e os possiveis riscos trazidos
pela nova tecnologia de comunicagdo: “Sem daivida, a invengao
dos tipos impressos representou uma valiosa ajuda para nossos
estudos, Hoje [..] 0s livros esto disponiveis em grande abundan-
cia e variedade. [..] Receio, contudo, que a abundancia e o baixo
prego terminem por fazer com que fiquemos mais negligentes"?
[A relagéo é clara: se, no passado, a escasser da circulagao
do objeto livro, levava o estudante a uma atitude quase reverente,
especialmente para com o mestre, no século XVIII, a “facilida-
de” com que 0 aluno encontrava livros, “disponiveis em grande
abundancia e variedade’, poderia conduzir a uma independéncia
perigosa. Afinal, quem faria a selegio dos textos a serem consul-
tados pelos futuros professores? Bis a preocupagéo implicita na
pergunta do filésofo italiano.
Em outro século, coube a um filésofo alemao expressar 0
‘mesmo cuidado, esclarecendo o vinculo entre a difusdo de tex-
tos impressos e a provavel negligéncia do corpo discente: “Apés
a invengdo dos tipos impressos, 0 objeto livro se tornou bastante
A partir de entio, no ha um nico campo cientifi-
co que nio tenha estimulado uma produgio abundante de livros
comum.
9. Vico, 1965, p. 72.
125
[..1%! Era necessério, portanto, desenvolver um modelo de uni-
versidade capaz de fazer frente & inédita difuséo de livros; afinal,
um de seus resultados nao planejados poderia ser o surgimento
de um novo tipo de estudante: “[...] 0s alunos preguigosos pre-
valecerdo, pois, tanto tendem a descuidar da aprendizagem oral,
quanto da formagio letrada. De um lado, faltam as aulas, jf que 0
contetido das mesmas [sic] se encontra nos livros. De outro, negli
genciam a leitura porque podem aprender de oitiva’”!
© pharmakon prescrito por Vico e Fichte para combater 0
dano potencial ocasionado pela imprensa exigia um delicado equi-
brio.” A imprensa nao era s6 0 veneno, mas também 0 remédio,
parte indispensivel do processo de “cura’. A dosagem adequada
de palavras impressas elevaria 0 espirito ~ ajudando a transmitir a
tradigao -, enquanto qualquer excesso poderia destrui-lo - tornan-
do impossivel o simples ato de discernimento. Ora, a ameaca real
trazida pela abundancia de livros residia na multiplicidade de in-
terpretagdes que poderiam surgir da consulta livre a biblioteca; in-
terpretagdes que de resto nao mais dependeriam da palavra-autori-
dade do mestre, podendo ser imaginadas pelos estudantes-leitores.
Por isso, os conselhos de Vico sio previsiveis: “os Antigos
devem ser lidos em primeiro lugar, j4 que sua autoridade e cre-
10. Fichte, 1999, p, 23-24.
11. Fichte, 1999, p. 24, grifos do autor.
12, Acerca desse uso de phérmakon, tal como desenvolvido por Jacques Derrida,
recomendo a leitura de dois livos de Evando Nascimento: Derrida ea litera
tura: “notas" de literatura ¢flosofia nas textos da desconstrugao (2001), espe-
.
Por exemplo, letor encontra até mesmo uma lista de letura indicada para 0
‘verao! Ver .
1997, p. 86. Discuti o problema em "Why do Scholars Write Auto-
? Or: Exile as a‘Comfortable’ Metaphor” (Rocha, 2008, p. 325-338).
sileiro, por muito tempo, com os frutos do Modernismo. Desta-
ca-se aqui, como vimos, a figura emblemética do movimento, o
poeta-critico, que incorpora tarefa analitica e reflexio teérica na
propria composicao literdria, Nesse contexto, Abel Barros Baptista
parece perguntar: “por que se preocupar tanto com o jornalismo
literario?”, Nas condigées atuais, a universidade oferece a trin-
cheira possivel para o poetar. E, recordando 0 termo de Novalis,
tanto o poetar poético quanto o tedrico e 0 critico. Sem otimis-
‘mos ingénuos, ressalte-se: “trata-se menos de constatar um es-
tado de coisas do que enunciar o principio de um programa de
resisténcia’
‘Nao serd entio casual que, com uma tirada bem-humorada,
John Barth tenha identificado a figura correlata do poeta-critico,
{sto é, o artista-professor universitério: “Todo mundo sabe que
hoje em dia muitos poetas e escritores norte-americanos, assim
como alguns de nossos pintores e compasitares de miisica ‘séria,
trabalham na universidade’“ As duas figuras colaboraram para
‘0 colapso de certa concepgao da critica de rodapé porque passa-
ram, por assim dizer, a cobrar o escanteio e a corer para cabecear.
Em casos menos sutis, chega-se a celebrar com gosto 0 proprio
tento, narrando com entusiasmo as préprias conquistas. Porém,
vale mencionar um efeito perverso, hoje em dia um fenémeno
propriamente global, chicoteado com prazer por Peter Ackroyd:
“Nas décadas de 1950 e 1960 houve de fato uma hegemonia aca-
43, Baptista, 2002, p. 50.
4, Barth, 1984, p15.
démica quase total no que se refere @ literatura; e como resultado O curto-circuito
muitos escritores chegaram a adequar deliberadamente seus tex-
tos & expectativa do piblico universitério, pois sabiam que esse era Por sua vez, em “Poesia no jornal: noticias da América”
© local em que suas reputagées seriam construidas’** Em paises Gustavo Rubim radicalizou a reflexao sobre o circuito poesia-uni-
marcados pela circulagio restrita de livros, ndo apenas se constréi vyersidade mediante um reparo a tese de Perloff. Como vimos, ela
uma reputagio, mas, em virtude da mesma reputagio, podem-se acredita que 0 jornalismo literdrio aceita a especializagao do dis-
cesgotar algumas edigdes apenas no circuito universitério, O juizo ‘curso sobre a arquitetura porque continua existindo um piblico
de Ackroyd talvez.seja um tanto amargo, e sem divida tem um médio interessado no tépico; afinal, “toda a gente trabalha e vive
sabor claramente ressentido, porém o fendmeno descrito é sério, ‘em edificios especificos, e portanto revela interesse pelo aspecto e
afetando uma parcela nada desprezivel de escritores contempo- sensago que provoca o espaco construido"* Jé para Rubim, nu-
rneos, especialmente os mais jovens.** Portanto, além da poesia, ma visio mais dcida do problema, os editores dos suplementos
© romance de corte mais experimental também encontra na uni- culturais permitem que o especialista em arquitetura se sinta em
versidade uma trincheira possivel, um piiblico cuja interlocugio é casa simplesmente porque ele ndo ameaga sua crenga mais con-
cada vez mais importante, Nao deixa de ser sintomatica a transfe- fortével: “A linguagem, na concepgao geral que suporta o traba-
réncia parcial e progressiva dessa funcio da universidade, nas dé- Iho jornalistico, continua a ser um instrumento, uma ferramenta
cadas de 1950 e 1960, como lugar privilegiado, se nio tinico, para para transmitir ¢ interpretar fatos ¢ opinides que se consideram
outros meios, como a televisio, a partir da década de 1980, como independentes da linguagem’.® Pelo contrério, a poesia contem-
vimos no caso exemplar de Bernard Pivot, ou para o universo di- pordnea, na esteira da tradigio modernista, caracteriza-se por
gital hoje em dia: essa mudanga também desempenhou um papel um questionamento constante dos préprios limites da linguagem,
considerdvel na polémica entre a cétedra e 0 rodapé, como tentarei ctiticando desse modo a instrumentalizagao promovida pelos cli-
demonstrar nos proximos capitulos. chés e pelas redundancias do texto jornalistico. Na verdade, cum-
pre reconhecer, o género lirico sempre se caracterizou pela ex-
ploragao do potencial autotélico da linguagem. Aqui, os extremos
tocam-se inesperadamente: “Se a universidade for [..] um lugar
45, Ackzoyd, 2001, p. 2073
46, Autran Dourado j hava criticado esse fendmeno: “Nada hi de mais pet F
{do que o escritorescrever para profesores, te6ricos ou crtcose jornalists. arena aa
Resulta em maneirismo e imitaio de si mesmo, risco grave no escrtorcuja 48, Perloff,2002, p. 44
angio € mais eelevante’ (Dorado, 1973, p19). 49, Rubim, 2002, p53.
44 145,
[..] mais apto a garantir ‘a poesia a sua propria vida! como diz Per-
off, s6 um preconceito tipicamente jornalistico [...] dira que é por
efeito da especializagao da poética’®
Compreenda-se o alcance da observagao.
Um professor universitirio “tradicional’, tio afeito a certe-
zas e repeticdes quanto qualquer editor acomodado, dificilmen-
te aceitaria o questionamento tipico da linguagem poética, pois
“a poesia nao hé-de habitar o lugar que a universidade lhe abriu
sem alterar a prépria universidade”*' Nessa perspectiva agonica,
© abrigo universitario s6 ser fecundo se a relacdo entre profes-
sor e poeta originar nao um circuito polido de elogios reciprocos,
mas curtos-circuitos constantes, com base numa problematizagéo
dos préprios limites do relacionamento, o que nem sempre ocorre
na pratica institucionalizada do poeta-critico e sua bem-sucedida
conversio em artista-professor universitério, muitas vezes cria-
dor de epigonos-orientandos que tudo questionam, com a exce
io bem-comportada das opgies estéticas particulares do poeta-
-orientador de teses.
Esse t6pico tem sido objeto de uma reflexio cada vez mais
necessiria. Veja-se, por exemplo, o caso do proprio suplemen-
to analisado por Marjorie Perloff. Aliés, com uma pontualidade
apropriadamente britinica, a moderna imprensa literéria inglesa
celebrou seu centendrio. Em 17 de janeiro de 1902 publicou-se 0
primeiro nimero do TLS. O miimero 5.155, publicado em 18 de
50, Rubim, 2002, p. 54.
41, Rubim, 2002, p. 55.
146
janeiro de 2002, comemorou 0 feito com uma “edigao especial de
centendrio’. Seu editor, Ferdinand Mount, aludindo a conhecida
frase, traduziu a importancia do acontecimento: “Se o TLS nio
existisse, seria preciso inventé-lo”
Nessa edigdo comemorativa, um dos ensaios discutiu preci-
samente o tema que animou o texto de Marjorie Perloff e as reacdes
de Abel Barros Baptista e Gustavo Rubim. O proprio titulo sinte-
tizou seu conteiido: “The golden age that never was’. Nas palavras
de Stefan Collini: “€ preciso reconhecer que o século XIX tam-
bém foi marcado por lamentos repetidos sobre a extingao do ‘lei-
tor comum’ ou do ‘ptiblico leitor cultivado’ para quem a resenha
deveria ser escrita’. Trata-se da resenha “literdria” ou da resenha
de “ideias”, como fez questo de esclarecer, e que deveria atender
a0 “pablico classe média’, na expresso pejorativa de Perloff, mas
aqui mencionada como uma ponte possfvel entre conhecimento
especializady, produzido na universidade, ¢ espayo piblico. Com
lucidez, Collini demonstrou que, j4 em seus primérdios, o jorna-
lismo literério viu-se as voltas com as dificuldades apontadas por
Perloff, Barros Baptista e Rubim — nada mesmo de novo sob 0
sol, para o bem ou para o mal. Ao que tudo indica, desde sempre
resenhas breves, mais informativas do que reflexivas, ocuparam 0
centro do palco, quero dizer, da pagina.
Por exemplo, em 1855, Walter Bagehot defendia sem hesitar
a utilidade da “review’; considerando-a apropriada para a acele-
ragio do mundo moderno: “o ritmo acelerado da vida [..] signi-
52, Mount, 2002, p. 15.
147
ficava que somente ‘resenhas curtas eram desejadas’* Os bons
velhos tempos de longas resenhas-quase-ensaios representariam
mais uma idealizada projecao retrospectiva do que uma nostal-
gia razodvel, ao menos no dia a dia das publicagdes. No século
seguinte, principiando sua batalha contra 0 rodapé, Afranio Cou-
tinho langou mao do mesmo raciocinio: “Vérias razdes militam
contra o rodapé. Em primeiro lugar, a questéo do tempo. E mate-
rialmente impossivel, nas atuais condig6es da publicidade, que um
homem se mantenha em dia com 0 movimento editorial [..."*
Na sequéncia do artigo, Coutinho propés uma distingio similar
de Bagehot, reforgando o carter estrutural da polémica. Na sua
opiniao, era indispensvel esclarecer a diferenga entre “critica e
review de livros, entre critica e reportagem cronica, registro. Esta
distingao € que seria necessirio introduzir no Brasil. Um rodapé
nao é critica, mas simples registro ou revista de livros. Nao existe,
geralmente, 0 habito do rodapé na América’**
53. Collini, 2002, p. 17. As duas citagbes foram tiradas dessa pagina,
54. Coutinho, 1969b, p. 19. O artigo foi escrito em Nova Torque, data de 13 de ju-
‘nho de 1943. Citamos outra passagem desse artigo na introdugao desta obra.
55. Coutinho, 1969, p. 22. Alvaro Lins respondeu a esse artigo de forma acre,
‘mas nem por isso esqueceu o bom humor: “Escreveu A. C. um artigo contra
a critica dos rodapés, contra 0 que chama a insttuigdo dos folhetins semanais
de critica, O seu argumento é curioso:o rodapé de critica ndo deve existir no
Brasl porque ele nlo existe nos Estados Unidos da América... Qualquer dia
actescentaré que deve ser abolida a lingua portuguesa no Brasil, porque alin
‘gua falada nos Estados Unidos éa ingles’ (Lins, 1963, p. 149). A observasio,
‘encontra-se no segundo volume.
148
Na verdade, néo ha mesmo nada de novo sob o sol, pois,
em todas as épocas ¢ contextos culturais, a nostalgia parece ter
sido a nota dominante. E, ao que consta, no “pasado”, o ritmo
da vida sempre foi mais favorivel a leitura desinteressada. Nes-
se particular, 0 bovarismo parece incontornével, pois desejamos
sempre viver em outro tempo que nao o nosso. Nas palavras de
‘Emile Faguet: “Flaubert dizia: ‘Ah! Esses homens do século XVII!
Como sabiam latim! Como liam devagar”.* Pouco importa se
liam devagar porque, na maior parte das vezes, a decifragao do ato
de leitura ainda dependia da vocalizagao do escrito: 0 que conta
aqui € a imagem idealizada do tempo que nao nos coube viver.
‘Além disso, 0 espectro do especialista também rondava os tempos
vitorianos: “Os jornais culturais contavam com uma grande gama
de colaboradores, a maior parte dos quais se limitava a determi-
nados dominios amplos”:” © problema é ainda mais antigo: ele
é constitutivo da propria modernidade letrada. Volto a repetir:
oposicao entre cétedra e rodapé nao é exclusivamente brasileira.
Numa perspectiva de longa duragao, o entendimento da dinamica
subjacente 4 polémica iniciada por Afrinio Coutinho exige que
se considerem os efeitos de inovacdo ocasionados pela difusio de
‘uma nova tecnologia de comunicago.
Sem recorrer a exemplos tao vetustos, pois, como vimos, 0
tempo do leitor de jornal é curto, Collini enumerou diversas ins-
tncias que ajudam a desmitificar a presungao de uma época aurea
56, Faguet, 2008, p. 10, grifo nosso.
57. Collini, 2002, p. 17,
do jornalismo literario, sucedida por um momento de lamentével
declinio, que teria forcado a retirada dos debates sobre poesia para
a cétedra, ideia subjacente ao ensaio de Marjorie Perloff A nos-
talgia da perda de um periodo idilico constitui a retérica domi-
nante no jornalismo literdrio e mesmo de certo éthas do homem
de letras, como se a sociedade consumista nao fosse capaz de re-
conhecer 0 valor intrinseco do trabalho intelectual. Dai, a verséo
aborrecida, mas em aparéncia inevitavel, do intelectual lamurien-
to, travestido de professor universitario, sempre a queixar-se do
mundo administrado que ndo compreende a importancia de suas
reflexdes e, por isso, recusa-se a aumentar o valor de seu salétio e
a renovar as benesses das bolsas de pesquisa.
‘As vezes, é bem verdade, o valor do trabalho académico po-
de ser simplesmente negado, e aproveito para esclarecer que, como
no sou adepto da autodestruiclo, essa ndo é a minha perspecti-
va. A negacdo, como dizia, da pesquisa universitiria pode ocorrer
sem nenhuma ceriménia, embora, reconhega-se, de forma muito
divertida, como veremos a seguir.
Em 1976, com a verve que caracterizou seus escritos, Peter
Ackroyd resenhou dois livros sintetizando seu julgamento num
titulo-obitudrio: “A morte lenta da critica literdria universitaria’.”
‘Numa inversdo polémica da expectativa mais comum, e que se si-
tua a contrapelo das posigdes expostas no debate de que trato nes-
58, Leia-se altima frase de seu ensaio: “O que posso dizer é que o jornalismo lite-
‘ito, tal como 0 conheciamos e muitos de nés ainda o praticam, no teve nada,
aver com o assunto’ (Perloff, 2002, p. 44).
59, 0 autor tratou dos livros de L. C. Knights, Explorations, e de Michael Long, The
unnatural scene.
150
te capitulo, o coveiro Ackroyd sentenciou com satisfagao eviden-
te: “Eu ainda nao li um critico universitario contempordneo que
pudesse escrever de forma mais inteligente, ou ler de modo mais
cuidadoso, do que um bom resenhista’ A contracorrente do que
sempre se afirmou, 0 rodapé é que seria a verdadeira trincheira do
ensaio, enquanto a cdtedra nao passaria de uma fabrica de pro-
dugio de resenhas, algumas até bem longas, mas todas redigidas
com 0 descuido dos que jé sabem o que encontrardo antes mesmo
de concluir a leitura do livro em tela. Ou redigidas com o descaso
dos que sabem que nao terdo mesmo leitores para mais um ensaio,
escrito para completar 0s laboriosos relatérios de produtividade.*
Em resume, a critica literdria praticada em jornal nunca
contou com circunstancias ideais, que autorizariam um olhar
nostalgico, como se tivéssemos perdido um tesouro que no fundo
munca esteve & disposigdo. E, a confiar no mau humor de Ackroyd,
tampouco a critica académica sai ilesa desse pé de vento. Pelo
contrério, ao menos se consultarmos o que escreveu acerca de The
Oxford Ilustrated History of English Literature, organizada por Pat
Rogers: “Talvez.o aspecto mais significativo desse esforco coletivo
de produzir hist6ria literdria seja o fato de que cada capitulo seja
escrito por um académico diferente. Houve uma época na qual
a literatura inglesa era discutida por escritores ingleses; mas esse
(60."the slow death of academic literary criticism” (Ackroyd, 2001, p. 71)
61.0 problema & a insistncia na produtividade, sem a menor preocupagio com
1 recepeio do trabalho, Perdeu-se o equilibrio entre estes dois elementos = a
producio e a recepeio. Precisamos restaurar a simetria entre eles. O problema
‘esti em fandamentar o acesso ao posto de professor como dependente da quan-
tidade de publicagGes publicagées que poucos lem’ (Waters, 2006, p. 25).
151
|
foi um periodo barbaro, uma época em que o valor verdadeiro da
critica literdria e da pesquisa académica ndo eram devidamente
reconhecidos’® A diatribe de Ackroyd ~ um adepto irreverente
do hébito do understatement ~ contra o establishment académico
soa como uma estocada ressentida da critica de rodapé. Mas quem
disse que o ressentimento ndo pode ser divertido?
Talvez nAo seja impertinente lembrar que Ackroyd princi-
piou sua carreira como resenhista, muito jovem, escrevendo para
a prestigiosa revista Spectator. Embora potencialmente contradi-
térias, a observacio de Collini ea viruléncia de Ackroyd reforgam
indiretamente o pressuposto de Rubim: é como se a reflexao sobre
a literatura somente pudesse caminhar no fio da navalha, trope-
ando nas prdprias pernas e, por isso mesmo, arriscando 0 passo
seguinte. O andar em ziguezague de Tristram Shandy ou os pasos
ébrios de Bras Cubas seriam as marcas da reflexdo mais fecunda
sobre a literatura. E, em prinefpio, na universidade ou na impren-
sa, esse gesto pode ser atualizado hoje em dia, desde que se aban-
donem concepges normativas, seja da literatura, seja da teoria, ¢,
desse modo, um dislogo realmente inovador tenha vez.
Norma ou didlogo?
Chegou a hora de reconhecer que o carter normativo nao
afetou apenas a critica de rodapé, mas também se insinuou na cé-
62, “The Oxford Illustrated History of English Literature” (Ackroyd, 200, p. 206).
152
tedra, Como vimos no capitulo anterior, uma concepgéo norma-
tiva de literatura e de teoria levou & condenagdo suméria tanto da
polémica quanto do sistema intelectual brasileiro. De igual sorte,
a epigonia, caracteristica da atividade intelectual distribuida em
subsistemas endogdmicos, alimenta-se de padrdes rigidos e, so-
bretudo, autorreferentes. Nesse horizonte, o didlogo nao tem vez,
pois 0 que predomina é 0 monélogo a muitas vozes.
‘A tensio entre continuidade e ruptura é constitutiva da mo-
dernidade, pois, se, de um lado, valores ja existentes foram con-
siderados passadistas, e a diferenca € decisiva, de outro, 0 com-
promisso intransigente com 0 novo transformou-se num valor,
normative como qualquer outro. O paradoxo implicito ao gesto
merece ser assinalado. A vanguarda procurou romper com a tra-
digéo ~ ninguém ignora* Contudo, as indimeras memérias escri
tas pelos vanguardistas criaram um género prdprio, uma tradicéo
contraditéria: por assim dizer, e para recuperar a bela expressio
de Octavio Paz, a tradigdo da ruptura,* na qual tudo se questio-
na, com exce¢ao do lugar do artista no cénone. O ponto maximo
desse paradoxo foi o advento da instituigo do Museu de Arte Mo-
derna, Como nio recordar a sugestio futurista de inundar museus
€ queimar bibliotecas?* Alids, e de forma muito adequada, o futu-
rismo de Marinetti tornou a contradicao fator constitutivo do pré-
63, Para uma descrigio histérica do sentido do termo vanguarda, ver Calinescu.
(1987), especialmente entre as paginas 97 e 120.
(64, Aludo a expressio cunhada por Paz (1990, p. 17)
(65. proposta constava do primeiro manifesto futurist: “[..] Vamos! Ateiem fogo
{As estantes das biblioteas!.Desviem o curso dos canais, para inundar os mu
seusl.[.)" (Marinetti, 1980, p. 35).
prio movimento, pois, tendo sido o primeiro grupo vanguardista
organizado, buscou preservar sua lideranca por meio de racioci-
nio no minimo curioso: devido aos servigos prestados a causa no
pasado, o futurismo deveria determinar seu presente, modelando
ainda 0 futuro do movimento.
Em ambos 0s casos ~ seja a critica normativa e autocentrada,
seja a vanguarda guardia de si mesma -, a alternativa parece ser
a retomada do didlogo, ou, nos termos que proponho neste livro,
recuperar a vitalidade da polémica, por meio da dinamica carac-
teristica do sistema interno de emulagio.
Retornemos entdo ao debate entre Whistler e Ruskin, discu-
tido no primeiro capitulo. Esse debate é particularmente relevante
para minha hipétese, j4 que o verdadeiro tema da polémica era a
avaliagdo do papel do mediador.
Nesse sentido, a trajet6ria de Ruskin revela-se uma metoni-
mia dos avatares da figura do mediador em face da arte moderna.
Inicialmente Ruskin tornou-se conhecido pela defesa aguerrida
das telas de Turner, pintor de sua predilecdo. Ele nio somente
enfrentou os intimeros criticos do pintor, também terminou por
ccriar uma onda de valorizagio da arte contempordnea. O primeiro
volume de Modern Painters, publicado em 1843, representou um.
acontecimento fundamental na afirmagio de Turner, assim como
da arte entdo considerada moderna.
66, Nas palavras de José Verssimo: “Essa obra é um ato; marca uma data, no s6 no
desenvolvimento da arte inglesa contemporinea, mas no sentimento estético,
do mundo civilizado onde existem preocupacoes de art’ (Verissimo, 2003a,
p18)
154
Na década de 1850, Ruskin voltou a brilhar como paladino
da ruptura, Dessa vez, foi o campedo do movimento pré-rafaeli-
ta, transformando a onda desfavorével que dominava a imprensa
britanica em consagracdo imediata para os jovens membros do
grupo. “Dali até o final da década de 1870, uma palavra critica de
Ruskin era o suficiente para avangar ou retardar carreiras artisti-
‘cas na Inglaterra vitoriana’” Sua nomeada ultrapassou fronteiras,
como se depreende do comentério de José Verissimo: “Critico de
arte ele o foi, certo, preeminente, como jamais se fora antes dele e
como serd dificil ser depois dele”
Compreende-se agora a razio do gesto de Whistler ao ser
duramente atacado por Ruskin: reagir & altura era indispensdvel,
€ 0 pintor estadunidense propos nada menos do que a criagio de
‘um novo piblico, que tornaria a figura do mediador, independen-
temente de sua qualidade, obsoleta. Em outras palavras, Whistler
assumiu o papel duplo de artista e critico da propria obra, provo-
cando um curto-circuito na divisio de tarefas até entao dominan-
te. Eis 0 sentido subjacente ao sarcasmo com que Whistler respon-
deu ao advogado de defesa do critico.
Recorde-se brevemente o episédio: Ruskin acusara o pintor
de cobrar um valor muito alto por um quadro “inacabado”, Co-
‘mo vimos no primeiro capitulo, preocupado com o prejuizo que
67. Cardoso, 2004, p13.
68, Verissimo, 2003, p. 179. Verissimo voltou obra do autor de Modern Painters em
outro ensaio: “Ruskin: estetae reformador social” (Verissimo, 2003a, p. 641-651).
[esse texto, ecordou: “Da natureza, como ele a via, compreendia e amava, 0
¢grande intérprete aos seus olhos era o grande paisagista inglés Turner, por amor
do qual, ainda sem o conhecer pessoalmente, salu a campo em uma polémica,
{quando ia nos seus dezessete anos”. (Verissimo,2003a, p. 645).
‘uma opinio tio respeitada poderia causar & venda de suas telas,
Whistler processou o critico, exigindo uma indenizagao generosa.
Ruskin precisou defender-se e a estratégia de seu advogado con-
sistiu em estabelecer uma equivaléncia simples: se o pintor tivesse
dado sua obra por encerrada “rapidamente’, entao, 0 quadro po-
deria ser considerado “inacabado” - comprovando assim a alega-
40 do critico. Ora, Whistler admitiu ter concluido o quadro em
dois dias. A reacdo incrédula e ingénua do advogado permitiu a
Whistler uma de suas tiradas mais engenhosas ~ e sempre repeti-
da, Replicou o advogado:
Oh, dois dias! O trabalho de dois dias; entdo, é por esses dois
dias que 0 senhor cobra duzentos guinéus (two hundred gui-
eas)!
Nao ~ Eu cobro pelo conhecimento de toda uma vida.”
O advogado insistiu e, como “prova” contra o pintor, o qua-
dro “Nocturne in Black and Gold: The Falling Rocket” foi trazido
para o tribunal como “evidéncia’. Diante da tela, o seguinte dilo-
go teve lugar:
69. Consulte-se o Houais 0 guinéu foi uma “moeda de ouro inglesa, cunhada para
© trifco africano’; possuia o "valor de 21 xelins, que se usov, para efeito de
Cilculo, na fixacio de honorérios e salérios profissionais, de pregos de obras de
arte, de cavalos puros-sangues, de iméveis et” (Dicionirio letrdnico Houaiss
da Lingua Portuguesa, 2009).
70. Whistler, 1967, p.. Jorge Luis Borges escreveu um comentario delicioso acerca
do episodio: “Es fama que le preguntaron a Whistler cudnto tiempo habia re-
{querido para pintar uno de sus nocturnos y que respondis: “Toda mi vida. Con
‘igual rigor pudo haber dicho que habia requerido todastos siglos que precede
‘ron al momento en que lo pints’ (Borges, 1989, p. 179),
156
— O senor diria que esta é uma representagao correta da pon-
te de Battersea?
‘A resposta de Whistler anunciou uma nova época:
~ Eundo pretendi que fosse um retrato correto da ponte. Trata-se
somente de uma cena de luar, e 0 pier no centro da cena pode
indo ser o pler que se vé na ponte de Battersea a luz do dia. No
tocante a0 que 0 quadro representa, isto depende de quem o
vé. Para algumas pessoas pode representar tudo que se plane-
jou; para outras pessoas, nada.
~ Acor dominante ¢ 0 azul?
~ Talvez
~ As figuras no alto da ponte devem ser vistas como pessoas?
~ Elas sio o que o senhor desejar.”
As respostas de Whistler esclarecem uma nova forma de
compreender a relagdo entre artista e piblico. Em lugar de con-
fiar na “linhagem de poderosos explicadores de arte que tém
marcado a histéria de arte moderna (...)"/? Whistler propunha
uma fusio entre artista e publico - sem mediagbes. As vanguar-
71, Whistler, 1967, p 8, grifo do autor,
72. Cardoso, 2004, p. 13. Além de Ruskin, o autor menciona outros explicadores:
“Baudelaire, Zola, Apollinaire, Roger Fry ¢ Clement Greenberg. Como estes,
‘outros, Ruskin tinha o dominio da linguagem escrita e, ainda, uma certeza
convicta de suas posigBes que Ihe emprestava autoridade, beirando as vezes 0
autoritarismo'. (Cardoso, 2004, p. 13).
157
das hist6ricas das primeiras décadas do século XX radicalizaram
0 projeto. Dessa circunstancia, Peter Biirger derivou a originalida-
de do movimento, cujo objetivo maximo seria a reintegracdo da
i arte no cotidiano, transformando o préprio dia a dia numa mani-
festagao artistica. Dal, “produtores e receptores deixam de existir.
S6 0 que resta é o individuo que usa a poesia como instrumento
para viver sua vida da melhor maneira possivel”” Eis 0 pressuposto
subjacente a estetizago do cotidiano dos préprios artistas, como
se 0 dia a dia fosse uma obra de arte em potencial. As vanguardas
histéricas pretendiam disseminar essa possibilidade, transforman-
do cada cidadao num artista, cuja obra principal seria a condugio
renovada de sua vida. Em alguma medida, Whistler inaugurou essa
possibilidade em seu ruidoso processo contra Ruskin.
E como se o mediador cultural simplesmente deixasse de
existir, ou, no minimo, sua presenga se tornasse um anacronis-
mo, por assim dizer, inofensivo. Em alguma medida, a polémica
da cétedra contra o rodapé também significou a sua condenagao.
Nesse horizonte, sem duivida, os “medianeiros médios’, do poema
de Maiak6vski, tornam-se ociosos, francamente desnecessarios.
Esquizofrenia produtiva?
Devo, entéo, buscar um caminho alternativo para a reflexdo
sobre os lugares da critica lterdria no século XI, pois, afinal, uma
73, Barger, 1984, p.53.
158
das herangas da institucionalizagao dos estudos literdrios foi pre-
cisamente a desqualificagdo da figura do mediador, Na introducdo
¢ nos dois primeiros capitulos deste livro, discuti o problema do
ponto de vista de uma reavaliagdo do papel das polémicas, tanto
em geral quanto no caso da cultura brasileira em particular. Neste
eno préximo capitulo, as transformagées histéricas do papel de
mediador cultural talvez estimulem sua reavaliagdo nas condigdes,
contemporaneas.
Na conclusio, desenvolverei essa possibilidade por meio
do conceito de “esquizofrenia produtiva’, visto como uma pos-
sivel estratégia diante do declinio da cultura letrada. De imedia-
to, aproveito para definir muito brevemente 0 conceito. Trata-se,
por assim dizer, de aprender a ser bilingue em seu préprio idioma,
aprendendo a lidar com audiéncias diversas, ampliando assim o
registro da prépria fala.” Desse modo, o conceito de “esquizofre-
nia produtiva” deve permitir uma nova leitura do conflito entre a
ctedra e 0 rodapé, além de estimular o resgate da figura do me-
diador cultural.
Contudo, como sempre, avango passo a passo.
No préximo capitulo, em primeiro lugar, discutirei o debate
entre a cétedra eo rodapé no cenario brasileiro.
74, Apresentei este conceito em Exercicos erticos leturas do contempordineo (Ro-
cha, 2008, p. 10-11). Pretendo desenvolver 0 conceito num futuro livro, Por
uma esquizafrenia produtiva, no qual dscutirei o conceto suas possiveiscon-
sequéncias para os estudos literarios. Na conclusio deste lio, apresentarei 0
conceito com mais vagar.
Você também pode gostar
- 9.15. Cap 8 Sintaxe Do LVDocumento32 páginas9.15. Cap 8 Sintaxe Do LVEmíliaAinda não há avaliações
- 9.17 Formas Divergentes e ConvergentesDocumento4 páginas9.17 Formas Divergentes e ConvergentesEmíliaAinda não há avaliações
- 9.21. Cap12 RomâniaDocumento82 páginas9.21. Cap12 RomâniaEmíliaAinda não há avaliações
- Kids On Bikes Resumo TraduzidoDocumento28 páginasKids On Bikes Resumo TraduzidoEmíliaAinda não há avaliações
- 9.16 Cap 9 LéxicoDocumento63 páginas9.16 Cap 9 LéxicoEmíliaAinda não há avaliações
- 9.10. Cap 6 Exercícios CONSONANTISMO Latim PortuguêsDocumento12 páginas9.10. Cap 6 Exercícios CONSONANTISMO Latim PortuguêsEmíliaAinda não há avaliações
- 9.14. Cap 7 MORFOLOGIA DO LATIM VULGARDocumento48 páginas9.14. Cap 7 MORFOLOGIA DO LATIM VULGAREmíliaAinda não há avaliações
- 9.20. CAP 11 Formação Domínio DialetalDocumento61 páginas9.20. CAP 11 Formação Domínio DialetalEmíliaAinda não há avaliações
- A Cronologia de Vampiro - A Máscara No V5. - Velhinho Do RPGDocumento9 páginasA Cronologia de Vampiro - A Máscara No V5. - Velhinho Do RPGEmíliaAinda não há avaliações
- Anacreonte Selecao FRRDocumento42 páginasAnacreonte Selecao FRREmíliaAinda não há avaliações
- Cap 6 Aspectos Do Vocalismo Do Latim Vulgar e Línguas RomânicasDocumento24 páginasCap 6 Aspectos Do Vocalismo Do Latim Vulgar e Línguas RomânicasEmíliaAinda não há avaliações
- Conhecendo o V5 - Parte 2. - Velhinho Do RPGDocumento11 páginasConhecendo o V5 - Parte 2. - Velhinho Do RPGEmíliaAinda não há avaliações
- Antunes Intro AnacreonteDocumento31 páginasAntunes Intro AnacreonteEmíliaAinda não há avaliações
- Revisão de FonéticaDocumento23 páginasRevisão de FonéticaEmíliaAinda não há avaliações
- 9 Quixote 2 Paródia PDFDocumento6 páginas9 Quixote 2 Paródia PDFEmíliaAinda não há avaliações
- Hecata - Os Segredos Do Clã Da Morte Revelados. - Velhinho Do RPGDocumento8 páginasHecata - Os Segredos Do Clã Da Morte Revelados. - Velhinho Do RPGEmíliaAinda não há avaliações
- Conduzindo Sua Primeira Campanha No V5 - Os Personagens. - Velhinho Do RPGDocumento13 páginasConduzindo Sua Primeira Campanha No V5 - Os Personagens. - Velhinho Do RPGEmíliaAinda não há avaliações
- 6 Falante PDFDocumento24 páginas6 Falante PDFEmíliaAinda não há avaliações
- Fev 16 15 PDFDocumento322 páginasFev 16 15 PDFEmíliaAinda não há avaliações
- 5 Heterodiscurso PDFDocumento24 páginas5 Heterodiscurso PDFEmíliaAinda não há avaliações
- Crítica e Verdade - Barthes PDFDocumento13 páginasCrítica e Verdade - Barthes PDFEmíliaAinda não há avaliações
- 10 Ubaldo Estilização PDFDocumento10 páginas10 Ubaldo Estilização PDFEmíliaAinda não há avaliações
- 3 o Capote PDFDocumento21 páginas3 o Capote PDFEmíliaAinda não há avaliações
- Texto 10 - Veresk - A Psicologia Histórico Crítica PDFDocumento17 páginasTexto 10 - Veresk - A Psicologia Histórico Crítica PDFEmíliaAinda não há avaliações
- BorboletasdoCerrado PDFDocumento11 páginasBorboletasdoCerrado PDFEmíliaAinda não há avaliações