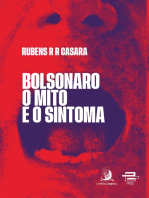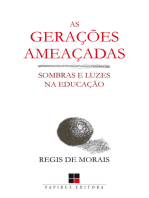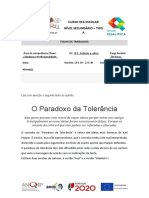Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Lógica e Trapaça
Enviado por
Izaias AlvesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Lógica e Trapaça
Enviado por
Izaias AlvesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
--- Navigation ---
Monthly archive for junho 2001
Lógica e trapaça
Em 30 de junho de 2001 / Artigos
Tags: 2001, comunista, ditaduras, Época,
silogismo
Olavo de Carvalho
Época, 30 de junho de 2001
O abuso da palavra sofisma tornou-se
hábito consagrado nos debates
nacionais
Dois instrumentos usuais da patifaria
intelectual são o entimema erístico e o
sofisma. Entimema é um silogismo do
qual uma das premissas, considerada
óbvia ou de domínio público, vem
omitida. Por ser leve e prestar-se bem à
expressão literária, é o meio preferencial
da persuasão retórica, a argumentação
jornalística por excelência, que, não
podendo demonstrar o certo ou o
razoável, se contenta com o verossímil,
isto é, com aquilo que, por afinar-se com
as crenças do público, é aceito como
verdadeiro sem maiores discussões. O
verossímil, com freqüência, é também
verdadeiro, mas às vezes não o é. O
único meio de testá-lo é explicitar a
premissa oculta, transformando o
entimema num silogismo completo. Ao
fazer isso, não raro descobrimos que a
premissa oculta não era óbvia nem de
domínio público, mas sim alguma
estupidez infame, encoberta para poder
extorquir a anuência sonsa da platéia
distraída. Neste caso o entimema é dito
erístico: erística é a arte da
argumentação capciosa, a retórica
pervertida dos charlatães.
Já o sofisma é um silogismo
aparentemente perfeito, mas construído
sobre premissas falsas difíceis de
impugnar ou ardilosamente desviado na
passagem crucial das premissas à
conclusão.
Um público afeito à discussão vulgar, mas
sem treino filosófico específico, engolirá
sem a menor objeção doses maciças de
entimemas erísticos, porém, diante de
qualquer raciocínio lógico mais elaborado,
facilmente será persuadido a armar-se de
desconfiança caipira e a rejeitar como
“sofismas” as provas mais sérias e
fundamentadas, pelo simples fato de
serem mais sutis que seu alimento
discursivo habitual. Daí a freqüência com
que o rótulo de “sofisma” é usado
levianamente pelos patifes para impugnar
qualquer raciocínio que leve a conclusões
que os desagradem.
Nesses casos, caracteristicamente, jamais
a acusação de sofisma vem acompanhada
da devida indicação dos erros que a
justificariam. Ou o rótulo vem sozinho,
solto no ar como uma fórmula mágica, na
esperança de que exerça automático
efeito difamatório, ou sustenta-se em
alegações que nada têm de uma
refutação em regra e não passam em
geral da expressão sumária de uma
opinião antagônica à do argumento
rejeitado, isto quando não são, elas
próprias, entimemas erísticos da mais
baixa qualidade.
Sofisma é termo técnico de lógica e seu
uso legítimo requer a explicitação dos
erros sofísticos correspondentes. Se, em
vez disso, alguém o emprega
informalmente como figura de linguagem,
só pode ser para rebaixar como sofisma
algo que não é sofisma.
Um exemplo recente é o do jovem redator
de editoriais num grande jornal, que,
nomeando-me “rei do sofisma”, dispara
sobre mim a seguinte cobrança: “Por que,
em vez de quantificar o placar das
mortes, Olavo de Carvalho simplesmente
não condena todas as ditaduras (chinesa,
cubana, brasileira, chilena etc.)?”
Bem, a resposta é que não faço isso
porque regimes de força que matam 300
pessoas em 20 anos, como a ditadura
militar brasileira, e regimes que matam
3.200 pessoas por dia – tal foi a média da
China comunista – simplesmente não são
espécies do mesmo gênero, malgrado a
comunidade do nome que os designa. O
termo “ditadura”, indicando uma
estrutura formal de governo e não o
concreto modus agendi pelo qual esse
governo se impõe e se mantém – numa
gama de opções que vai do simples golpe
parlamentar ao holocausto –, não dá
conta de uma diferença essencial.
Correspondendo à de autoritarismo e
totalitarismo, essa diferença é consagrada
na distinção entre homicídio e genocídio,
entre a violência esporádica e a extinção
planejada de uma raça, classe ou nação.
Deduzir da pura coincidência de nomes a
identidade de fenômenos tão diversos é
óbvia trapaça erística, tanto mais
perversa se usada para legitimar o
nivelamento moral de males
incomensuráveis, clássico expediente
erístico da propaganda totalitária.
Back to Top
Aviso de Alberto Dines &
considerações sobre a
universidade
Em 30 de junho de 2001 / Leituras
30 de junho de 2001
1. Após recalcitrar um pouco, no aguardo
de provas que lhe enviei em seguida, o
jornalista Alberto Dines me avisou por e-
mail, ontem, estar persuadido de que não
fui o autor dos ataques contra ele, e
prometeu publicar isso na próxima edição
do Observatório da Imprensa, terça-feira
que vem, cancelando portanto as
referências ofensivas que fez à minha
pessoa.
Para documentar o que se passou
realmente por ocasião da querela entre a
UniverCidade e o prof. Gianotti, enviei a
Alberto Dines e publico logo abaixo o
ensaio, infelizmente incompleto, “Crise da
universidade ou eclipse da consciência?”,
que foi a minha resposta a Gianotti,
publicada parcialmente na revista Livro
Aberto, de São Paulo. Essa resposta,
assinada, era de teor bem diverso
daquela que logo a seguir saiu no Jornal
do Brasil e que terminou por desencadear
o conflito entre a UniverCidade e Alberto
Dines. Não fui, não sou nem serei nunca o
ghost writer de ninguém.
2. Como se depreenderá da leitura desse
ensaio, minha posição no debate
universidade pública versus universidade
privada não coincide plenamente nem
com a da UniverCidade nem com a da
comissão Gianotti, endossada por Alberto
Dines.
No meu entender, embora haja lugar
tanto para a universidade empresa
quanto para a universidade repartição
pública, nenhuma dessas duas fórmulas
atende satisfatoriamente ao objetivo
essencial da idéia de universidade, que é
a preparação da elite intelectual. A
primeira é orientada para o mercado de
trabalho, a segunda para um conceito
gramsciano, vil e oportunista, de “elite
intelectual” compreendida como o novo
“Príncipe” de Maquiavel, sinistro
planejador de tramóias revolucionárias.
Dito de outro modo, a primeira faz
empregados, a segunda militantes.
Nenhuma das duas pode produzir o tipo
de cientista e erudito acadêmico que o
país necessita para se afirmar como
potência cultural – o primeiro passo (e
não o último, como o concebe a miserável
imaginação uspiana) da construção de
uma autêntica soberania nacional.
A fórmula que tenho em vista, e que
nunca cheguei a expor satisfatoriamente
por escrito, mas só oralmente nas minhas
aulas, dá o marco orientador das
atividades do Seminário de Filosofia, que
concebi como um laboratório com a
ambição de aí produzir a semente, ao
menos teórica, dessa futura universidade
essencial, que provavelmente
permanecerá no reino das idéias, não
havendo no momento as condições sociais
que permitam realizá-la. Entre essas
condições, a primeira é a existência de
uma elite econômica e política consciente
da verdadeira função da cultura superior
– isto é, de uma elite que seja
precisamente o contrário daquela que
temos no Brasil.
Sobre o mesmo tema, peço também a
atenção do leitor para o artigo “De volta à
Academia”, que será publicado
proximamente no Jornal da Tarde de São
Paulo.
Olavo de Carvalho
30/6/01
Crise da universidade ou eclipse da
consciência?
Olavo de Carvalho
PARTE I
Não é nada mau que um diagnóstico, por
superficial que seja, do estado de coisas
na universidade brasileira venha
precedido, a título de aquecimento, por
um breve retrospecto da idéia de
universidade em sua evolução histórica.
E a primeira coisa que, nesse retrospecto,
salta aos olhos, é a seguinte: quem
busque retraçar, ao longo dos registros da
história, o desenho das relações entre
universidade e cultura superior, descobre
que não apenas inexiste qualquer
identidade entre esses dois termos, mas
que sua oposição dialética é uma das
principais alavancas do progresso cultural
no Ocidente.
Poder universitário e vigor cultural são
pólos que ora se atraem, ora se repelem,
mas jamais chegam a identificar-se por
completo.
Para começo de conversa, as
universidades não surgem como
instituições oficiais, mas como clubes de
aficionados, que, movidos pelo puro
anseio de conhecimento, se cotizavam e
mandavam vir os melhores professores de
onde estivessem.
O entusiasmo dessa época pelo estudo e
pela ciência é hoje coisa tão difícil de
imaginar, que buscamos explicá-lo por
motivações secundárias e acidentais de
ordem utilitária e política. Dizemos, por
exemplo, que as universidades “se
destinavam” a formar funcionários, a
produzir a legitimação ideológica do
status quo, etc. etc. [1] Deformamos a
perspectiva, projetando sobre homens
bem diferentes a hierarquia de
prioridades de nossos contemporâneos.
As prioridades típicas da nossa época,
pelas quais os homens matam, morrem e
– o que às vezes é pior – escrevem, são
no fundo duas e apenas duas: a eficácia
do aparato tecno-econômico, a divisão do
poder político. Quase tudo o que fazemos,
pensamos e dizemos em público tem uma
destas duas finalidades: azeitar a
máquina da produtividade, alterar a
constituição do Estado. Essa alternativa
expressa o conflito entre a burguesia
capitalista e a intelligentzia de classe
média, tantas vezes mais poderosa que
ela; este conflito, por sua vez, se
expressa na dupla concepção da cultura
como mercado e da cultura como
militância, oposição que por fim vai gerar
as duas idéias de universidade que
esgotam o repertório do que geralmente
se diz a respeito nos debates nacionais: a
universidade como formadora de mão-de-
obra especializada, a universidade como
berçário de teóricos e militantes da
revolução. É fatal que os adeptos da
primeira concepção enfatizem a
praticidade imediata, enquanto os da
outra lhes opõem argumentos de
natureza fingidamente ética e idealística,
fundados no pressuposto absurdo de que
a fome de poder político é coisa
essencialmente mais nobre que o desejo
de riquezas. A constelação das idéias em
debate esgota-se em dois lindos sistemas
de racionalizações pro domo sua, ambos
baseados no princípio de que a
universidade deve “servir” a alguma
classe, e divergindo apenas quanto a
quem deve levar o prêmio: os senhores
do capital ou a vanguarda autonomeada
das “forças populares”. Que ambas as
classes em disputa devam, elas sim,
servir a algo que as transcenda (e
transcendendo unifique na busca do bem
comum); e que este algo possa estar
simbolizado precisamente na idéia mesma
de universidade, eis algo que escapa ao
horizonte visual do debate universitário
brasileiro; e esta limitação, por sua vez,
projeta-se retroativamente sobre quanto
digam uns e outros da universidade de
outros tempos.
Mas a universidade medieval era criação
nova e, como tal, fruto tenro da
inventividade pessoal ainda não fixada na
cristalização entrópica das idéias no
molde das ideologias de classe. Tudo o
que é obra humana, afinal, nasce na
intimidade de consciências livres e
generosas, para depois ser usurpado
pelos porta-vozes de ambições coletivas
que, por si, nada criam. E quando ex post
facto um intelectual de aluguel vem
explicar as criações pelo interesse de
classe a que acabaram servindo à revelia,
age como o ladrão que fizesse de seu
próprio interesse pessoal a razão e o
propósito dos trabalhos de sua vítima.
Muito do que chamamos “ciência social” é
pura racionalização da mentira existencial
de seus beneficiários. Eles não podem
compreender que alguém sirva a
propósito mais alto que o interesse deles
ou de seus adversários. Eis por que não
compreendem a universidade medieval.
Para os homens do fim da Idade Média, o
estudo era parte inerente da devoção
religiosa que absorvia suas almas num
movimento para o alto. É tão estúpido
explicar a universidade medieval pela sua
função econômica, administrativa e
política, quanto explicar o impulso
religioso pelo desejo de subir na
hierarquia eclesiástica.
A identidade da “cultura” e do “culto”
remontava à época em que os limites
entre o clero e o restante da sociedade
eram fluidos. Data desse tempo a
ambigüidade da palavra francesa clerc
(inglês clerk), que designa ao mesmo
tempo um sacerdote e um funcionário,
um escrevente. Após a dissolução do
Império Romano, a Igreja acumulou as
funções de guiamento religioso, ensino
básico e administração civil informal. De
um lado, só os membros do clero sabiam
ler e escrever; de outro, qualquer um que
soubesse ler e escrever tinha
automaticamente o estatuto de clérigo [2]
. O clero incluía uma multidão de
sacerdotes virtuais, que exerciam todas
as funções de padres, exceto a
administração dos sacramentos. A paixão
da filologia, da conservação e decifração
dos documentos antigos, foi ainda
alimentada pelo profundo sentido de
consciência histórica inerente à fé
católica, tal como já aparece, por
exemplo, em Sto. Agostinho e sua Cidade
de Deus. São homens animados por esse
espírito de devoção intelectual que, a
partir do século XII, fundam as
universidades.
De início, elas não têm nenhuma função
senão facilitar o acesso dessas pessoas
aos conhecimentos que desejavam. A
massa de estudantes de todos os países
que aflui aos primeiros centros
universitários é designada como discere
turba volens (“massa dos que querem
aprender”).
Mais característica ainda da mentalidade
que inspirava esses primeiros
universitários foi justamente a
importância central que, após algumas
resistências iniciais de ordem eclesiástica,
veio a assumir na nova instituição a
doutrina aristotélica, que celebrava a
contemplação, a vida teorética, como o
mais alto estado humano, subordinando-
lhe as atividades práticas, políticas
inclusive [3] .
E se outra prova fosse preciso para
demonstrar o infinito respeito que se
tinha então pelo conhecimento como tal,
independentememente de qualquer
integração útil de seus resultados na
prática coletiva, basta notar o estatuto
privilegiado que então se concedia ao
estudante, e que importava, no fim das
contas, em isentá-lo de quase todas as
obrigações civis para que pudesse ocupar-
se tão somente de seus estudos. Esse
fato mostra-se ainda mais relevante na
medida em que a maioria dos estudantes
era constituída de estrangeiros, que findo
o período escolar iriam voltar para suas
terras de origem e em nada poderiam
beneficiar a sociedade local. Não obstante
essa sua ostensiva “inutilidade” social –
assim a chamaríamos hoje –, todo aluno
estrangeiro tinha sempre a certeza de
poder contar com a ajuda dos ricos
cidadãos locais para custear seus
estudos: o mecenato era geral e
corriqueiro (como ainda hoje o é, por
exemplo, na sociedade indiana para os
estudantes de Vedanta das academias
tradicionais), e não implicava a
expectativa de nenhuma recompensa
prática.
A universidade desse tempo é, por um
lado, instituição estritamente privada,
com estatuto similar ao de uma
corporação de estrangeiros. Os
professores vivem das contribuições de
seus alunos e, em parte, da ajuda das
dioceses. Nenhum governo local pensa,
de início, em subordinar a universidade a
seus interesses e objetivos, nem consta
ter algum governante olhado com revolta
e escândalo o crescimento do poder e da
influência daquela massa turbulenta de
mentalidade ferozmente independente e
contestadora [4] . A condição privilegiada
do estudante e do professor, mesmo
pobres, mesmo estrangeiros, reflete uma
sociedade onde o conhecimento ainda é
tido como finalidade e valor em si mesmo,
independentemente de seu uso em
benefício de terceiros.
Por outro lado, a noção de universitas
scientiarum, da universidade como
detentora e transmissora do sistema total
do saber, está completamente ausente
durante os três primeiros séculos, a
contar da fundação da Universidade de
Bolonha, reconhecidamente a pioneira
(1143). Essa pretensão só surgirá mais
tarde, quando, com o aparecimento do
Estado nacional absolutista, são fundadas
as primeiras universidades estatais, já
com ambição totalitária, prenunciando a
esclerose do gênio acadêmico. No início,
no período áureo, “universidade” é
apenas universitas magistrorum et
scholiarum, “o conjunto dos professores e
estudantes” – é o nome de uma
corporação, não de uma teoria sistêmica
[5] . E, em retribuição talvez das
atenções maternais que a sociedade em
torno lhe dedica, essa corporação tem
uma concepção muito modesta acerca da
própria autoridade intelectual. Ela não
abarca todo o saber, nem dá a última
palavra quanto à verdade ou falsidade
nas discussões correntes. Acima e em
torno dela há outras instâncias que sabem
e opinam – a começar pela autoridade
eclesiástica que, detentora da tradição
revelada, é reconhecida espontaneamente
como guardiã de um fundo comum de
crenças e valores a que se recorre, em
última instância, para arbitrar as questões
que o confronto dialético se veja
impotente para resolver. Há também a
palavra, não oficial mas poderosamente
convincente, dos religiosos isolados, dos
místicos, dos monges, que exercem,
praticamente à margem de todo controle
hierárquico, uma influência direta sobre a
opinião pública. Há os poetas, os
trovadores errantes, que de cidade em
cidade vão levando novas idéias, novos
sentimentos. Há os sábios
independentes, muitos deles alquimistas,
a ocupar-se de investigações nas quais só
com muita prudência um universitário se
arriscaria a opinar [6] . Há as corporações
de ofícios, detentoras de conhecimentos
espirituais, científicos e técnicos que
escapam ao domínio universitário. A
universidade é, no meio de todas essas
fontes de ensino, apenas a maior em
número de membros, mas não a mais
poderosa ou importante. Nem mostra
qualquer pretensão de tornar-se tal.
As relações entre a universidade e essas
outras fontes exemplifica de maneira
particularmente clara a concepção
tipicamente medieval de um equilíbrio
dinâmico entre poderes múltiplos,
concepção que se perderá com o advento
do absolutismo, para só ressurgir nas
democracias do século XIX, mas agora
apenas como um ideal e não como uma
prática real e cotidiana.
A universidade não apenas não surgiu
para atender a qualquer necessidade do
establishment, como foi a interferência
cada vez maior dos poderes externos que
provocou, entre os séculos XIV e XVII, as
sucessivas mudanças mais ou menos
traumáticas que afastaram o ambiente
universitário do centro da vida intelectual.
Essas crises manifestaram-se a partir do
momento em que a população
universitária, crescendo muito, se revelou
um depósito potencial de apoio político
que passou a ser disputado entre a Igreja
e os poderes civis: de um lado, o Sacro
Império, de outro, os Estados nacionais
nascentes. Esta disputa fez com que
novas concepções de ensino se
implantassem de fora para dentro, de
cima para baixo, sufocando a criatividade
que tinha sua raiz na iniciativa
espontânea da discere turba volens – os
homens desejosos de aprender.
Se, por um lado, a autoridade eclesiástica
passou a exigir cada vez mais que o
ensino se impusesse limites doutrinais
que seriam mais próprios à pura
catequese – o que mais tarde o grande
teólogo John Henry Newman viria a
excluir da definição mesma de
universidade [7] –, por outro lado as
novas monarquias não apenas fundaram
universidades oficiais, de cuja direção a
massa dos estudantes estava alijada
quase que por hipótese, mas também
foram forçando para fazer das já
existentes instrumentos para a expressão
culta de valores e crenças nacionais, até o
ponto em que se perdeu por completo um
dos valores essenciais da idéia original de
universidade: o internacionalismo. Junto
com ele perde-se também o sentido do
conhecimento como finalidade, adotando-
se em seu lugar o ponto de vista (hoje
aceito como verdade de evangelho) de
que a universidade deve “servir” a algum
fim prático: ao progresso social, à
indústria, à identidade nacional, à
manutenção ou à alteração do status quo,
e mil e um outros interesses em disputa.
A idéia criadora fragmenta-se: terminou a
era da universidade, começa a história
das universidades. A fragmentação vai
mais longe ainda quando, com a Reforma
protestante, as novas facções religiosas
(logo imitadas pela Igreja velha)
convocam as universidades para torná-las
guardiãs de suas respectivas ortodoxias.
Não por coincidência, a concepção
totalizante do sistema do saber, e da
universidade como seu depósito
privilegiado, aparece justamente nessa
época. Sua aceitação generalizada e
quase automática (ao ponto de o novo
sentido da palavra universitas como
universitas scientiarum acabar se
sobrepondo ao antigo no vocabulário
corrente das classes letradas) reflete de
um só golpe a queda e a ascensão das
universidades: a queda de sua capacidade
criativa, a ascensão, provavelmente
compensatória, de suas ambições ao
poder intelectual, ao guiamento ideológico
de toda a sociedade. Tal como ensinam as
antigas escrituras hindus, a perda do
impulso ascensional (sattwa) é seguida de
uma expansão “horizontal” (rajas) que a
compensa de maneira mais ou menos
ilusória; será preciso aguardar o século
XX para que o movimento se complete,
:
Você também pode gostar
- Fichamento - Homo Hierarchicus, de Louis DumontDocumento4 páginasFichamento - Homo Hierarchicus, de Louis Dumontremobastos100% (1)
- As ilusões do pós-modernismo segundo Terry EagletonDocumento3 páginasAs ilusões do pós-modernismo segundo Terry EagletonMarina CastroAinda não há avaliações
- Crítica à filosofia ficcional e ao multiculturalismoDocumento4 páginasCrítica à filosofia ficcional e ao multiculturalismomarconcelos75% (4)
- Letras e Humanidades Depois Da Crise-2Documento14 páginasLetras e Humanidades Depois Da Crise-2abelbbAinda não há avaliações
- 4 Folha de S.Paulo - À Cata de Bodes Expiatórios - 30 - 6 - 1996Documento3 páginas4 Folha de S.Paulo - À Cata de Bodes Expiatórios - 30 - 6 - 1996nícollas ranieriAinda não há avaliações
- A Crítica Política e Social Nas Tiras de ArmandinhoDocumento14 páginasA Crítica Política e Social Nas Tiras de ArmandinhoDaniMarinoAinda não há avaliações
- Análise de Olavo de Carvalho e seu livro O mínimo que você precisa saber para não ser um idiotaDocumento4 páginasAnálise de Olavo de Carvalho e seu livro O mínimo que você precisa saber para não ser um idiotaWagner DornellasAinda não há avaliações
- Olavodecarvalho Entrevista RepublicaDocumento8 páginasOlavodecarvalho Entrevista RepublicaDélio De Carvalho DelmaestroAinda não há avaliações
- Filosofia, Ação e Filosofia Política, Renato Janine RibeiroDocumento7 páginasFilosofia, Ação e Filosofia Política, Renato Janine RibeirogustavotoutAinda não há avaliações
- O delírio irracionalista da crítica literáriaDocumento2 páginasO delírio irracionalista da crítica literáriakaio-felipeAinda não há avaliações
- Alquimia Da IslamizaçãoDocumento6 páginasAlquimia Da IslamizaçãoGustavo HenriqueAinda não há avaliações
- Bosco. O Diálogo Possível Reconstrução Do BrasilDocumento433 páginasBosco. O Diálogo Possível Reconstrução Do BrasilSilvio José BenelliAinda não há avaliações
- Meira Penna, psicólogo social brasileiroDocumento4 páginasMeira Penna, psicólogo social brasileiroAndréa MartinsAinda não há avaliações
- O Dialogo Possivel - Francisco BoscoDocumento461 páginasO Dialogo Possivel - Francisco BoscoKathiaMarcelaDonansan100% (2)
- 04 - A Liberdade de Pensamento Crítico No Presente para A Construção Do Futuro - Tipo Textual Dissertação Argumentativa EM3 PVDocumento3 páginas04 - A Liberdade de Pensamento Crítico No Presente para A Construção Do Futuro - Tipo Textual Dissertação Argumentativa EM3 PVRedação FlemingAinda não há avaliações
- Wagner Carelli Entrevista Olavo de CarvalhoDocumento9 páginasWagner Carelli Entrevista Olavo de CarvalhoAndreia Cristiane Lourenco Bianchi crislourencoAinda não há avaliações
- Cinco Teses Equivocadas Sobre A CriminalDocumento25 páginasCinco Teses Equivocadas Sobre A CriminalLeandro OliveiraAinda não há avaliações
- Dicas de Olavo de Carvalho para estudantes sériosDocumento6 páginasDicas de Olavo de Carvalho para estudantes sérioskelpiusAinda não há avaliações
- A Miopia de SchwartzmanDocumento13 páginasA Miopia de SchwartzmanDouglas Carvalho RibeiroAinda não há avaliações
- O negacionismo científico olavista: a radicalização de um regime epistemológicoDocumento19 páginasO negacionismo científico olavista: a radicalização de um regime epistemológicocarolinaAinda não há avaliações
- Soberania, direito e violência: democracia e(m) estado de exceção permanenteNo EverandSoberania, direito e violência: democracia e(m) estado de exceção permanenteAinda não há avaliações
- 0440 PDFDocumento98 páginas0440 PDFdsui78Ainda não há avaliações
- Dokumen - Pub - Sobre o Relativismo Pos Moderno e A Fantasia Fascista Da Esquerda Identitaria 8574752894 9788574752891Documento98 páginasDokumen - Pub - Sobre o Relativismo Pos Moderno e A Fantasia Fascista Da Esquerda Identitaria 8574752894 9788574752891Tiago Cesar SantosAinda não há avaliações
- A alma brasileira segundo Paulo MercadanteDocumento9 páginasA alma brasileira segundo Paulo MercadanteDavi AlbuquerqueAinda não há avaliações
- Crítica Política - Terry EagletonDocumento17 páginasCrítica Política - Terry EagletonCamila AlexandriniAinda não há avaliações
- Ideologia Trabalho de FilosofiaDocumento9 páginasIdeologia Trabalho de FilosofiaMichael Vinicius de AlmeidaAinda não há avaliações
- Estudar Antes de FalarDocumento164 páginasEstudar Antes de FalarLaurindo PanzoAinda não há avaliações
- 2015 - João Pereira Coutinho - Colunistas - Folha de S2Documento5 páginas2015 - João Pereira Coutinho - Colunistas - Folha de S2Caio MarchiAinda não há avaliações
- A Tirania Dos Especialistas - Uma Entrevista Com Martim Vasques Da CunhaDocumento12 páginasA Tirania Dos Especialistas - Uma Entrevista Com Martim Vasques Da CunhaChristian SchwartzAinda não há avaliações
- Cult 222 Antonio Gramsci (Autores,...Documento43 páginasCult 222 Antonio Gramsci (Autores,...lourenildoAinda não há avaliações
- GOLDENBERG, R. Da Psicanalise em Risco de RegulamentaçãoDocumento17 páginasGOLDENBERG, R. Da Psicanalise em Risco de RegulamentaçãoGabriel LimaAinda não há avaliações
- Resposta Às Objeções Teóricas - LatourDocumento14 páginasResposta Às Objeções Teóricas - LatourRafael SantosAinda não há avaliações
- Aula 2 - Curso de Filosofia JuridicaDocumento20 páginasAula 2 - Curso de Filosofia JuridicaVH VictorAinda não há avaliações
- Para Compreender A Política BrasileiraDocumento66 páginasPara Compreender A Política BrasileiraMarceloRossa100% (2)
- Sobre o Relativismo Pã S-Moderno e A Fantasia Fascista Da Esquerda Identitã¡ria - NodrmDocumento197 páginasSobre o Relativismo Pã S-Moderno e A Fantasia Fascista Da Esquerda Identitã¡ria - NodrmGabriel PradinesAinda não há avaliações
- Miséria Intelectual Sem FimDocumento6 páginasMiséria Intelectual Sem FimdiscipulumAinda não há avaliações
- Como Intelectuais Franceses Arruinaram o OcidenteDocumento8 páginasComo Intelectuais Franceses Arruinaram o OcidenteAdriano BoaventuraAinda não há avaliações
- O Que Realmente É o Conservadorismo - Resposta Ao Site Valor EconômicoDocumento15 páginasO Que Realmente É o Conservadorismo - Resposta Ao Site Valor Econômicofabricio arrudaAinda não há avaliações
- O Mínimo Que Você Precisa Saber para Não Ser Um IdiotaDocumento6 páginasO Mínimo Que Você Precisa Saber para Não Ser Um IdiotaHpnf FilhoAinda não há avaliações
- O Paradoxo da Tolerância segundo Karl PopperDocumento4 páginasO Paradoxo da Tolerância segundo Karl PopperSergioAinda não há avaliações
- Artigo - Rubens Correia JR - Por Que A Criminologia Explica (8p)Documento8 páginasArtigo - Rubens Correia JR - Por Que A Criminologia Explica (8p)Rubens Correia JuniorAinda não há avaliações
- Apostila Prof. Olavo de Carvalho IIDocumento87 páginasApostila Prof. Olavo de Carvalho IIVinicivs AsorAinda não há avaliações
- Desculpe Me Socialista Desmascarando As 50 Mentiras Mais ContadasDocumento192 páginasDesculpe Me Socialista Desmascarando As 50 Mentiras Mais Contadasismaeljoao100% (1)
- Importância da alfabetização corretaDocumento3 páginasImportância da alfabetização corretaMozias quimasAinda não há avaliações
- ArquivoDocumento10 páginasArquivodoxib40033Ainda não há avaliações
- Intelectuais em tempos de incertezaDocumento8 páginasIntelectuais em tempos de incertezaAuana DinizAinda não há avaliações
- O Pensamento Social e Político Latino-AmericanoDocumento23 páginasO Pensamento Social e Político Latino-AmericanoCláudio ZarcoAinda não há avaliações
- Uma análise da ideologiaDocumento5 páginasUma análise da ideologiaYuri YungAinda não há avaliações
- O Que É o Liberal-Totalitarismo - (Parte 1) - Dicta & ContradictaDocumento4 páginasO Que É o Liberal-Totalitarismo - (Parte 1) - Dicta & ContradictaMatheus Dorneles FavaroAinda não há avaliações
- Educação após Auschwitz: resenha do texto de AdornoDocumento6 páginasEducação após Auschwitz: resenha do texto de AdornoLuciana RamosAinda não há avaliações
- Filosofia e Política para A IntroduçãoDocumento7 páginasFilosofia e Política para A Introduçãojonatas.2021803062Ainda não há avaliações
- Colen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Documento15 páginasColen, J.a., Vecchio, Cap Karl Popper in A. Porque Pensamos Como Pensamos. Uma História Das Ideias Sociais e Políticas, Porto, Aster, 2022Thays BatistaAinda não há avaliações
- Antropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)Documento13 páginasAntropologia e Imaginao Da Indisciplinaridade (Viveiros de Castro)mariapaulapmAinda não há avaliações
- Os novos movimentos sociais e a rearticulação cosmopolítica contra o poder colonialDocumento5 páginasOs novos movimentos sociais e a rearticulação cosmopolítica contra o poder colonialLucasAinda não há avaliações
- Dissertacao Completa Mari PDFDocumento162 páginasDissertacao Completa Mari PDFIzaias AlvesAinda não há avaliações
- Técnica Do Desmonte EsculturalDocumento10 páginasTécnica Do Desmonte EsculturallucasproducaoAinda não há avaliações
- Bacia Do AraripeDocumento14 páginasBacia Do AraripeIzaias AlvesAinda não há avaliações
- Erros Na Aplicação Das ClassificaçõesDocumento36 páginasErros Na Aplicação Das ClassificaçõesIzaias AlvesAinda não há avaliações
- Instruções normativas para execução de sondagens em solosDocumento70 páginasInstruções normativas para execução de sondagens em solosCristiano CominAinda não há avaliações
- Fundamentos geológicosDocumento27 páginasFundamentos geológicosIzaias AlvesAinda não há avaliações
- Descricao Petrografica Rochas IgneasDocumento8 páginasDescricao Petrografica Rochas IgneasDanilo AndradeAinda não há avaliações