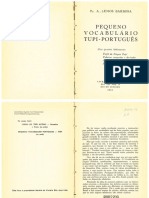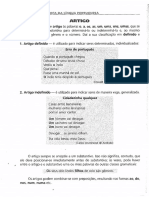Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Alexander Kluge: Temos de Arrancar A Madeira Dos Salões e Construir Jangadas - Electra Magazine
Enviado por
cleliaTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Alexander Kluge: Temos de Arrancar A Madeira Dos Salões e Construir Jangadas - Electra Magazine
Enviado por
cleliaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Sobre Edições Mais Comprar Pesquisar EN
edições / edição 4
primeira pessoa
Alexander Kluge:
«Temos de arrancar a
madeira dos salões e
construir jangadas»
António Guerreiro
Alexander Kluge é uma figura excepcional da cultura alemã desde
os anos 60 do século passado. Enquanto escritor, cineasta e
ensaísta foi sempre, e continua a ser, uma consciência crítica, não
apenas em relação à Alemanha, obrigando-a a confrontar-se com
os traumas da sua história, mas também em relação a muitos
aspectos da vida mutilada no mundo em que vivemos.
Alexander Kluge, Paris, 2018
© Fotografia: Sandra Rocha
Alexander Kluge, enquanto figura importante da cultura alemã desde os anos 60 do
século passado, só pode ser apresentado com o recurso a uma pluralidade de
nomes: escritor, cineasta, realizador e produtor de programas culturais para
televisão, ensaísta, autor de livros de teoria social que nasceram do círculo
intelectual e de investigação sociológica e filosófica de que fez parte — a Escola de
Frankfurt. Foi nesse círculo que manteve uma proximidade intelectual e uma
amizade com Adorno que marcam decisivamente a sua obra. Um livro de 1972,
escrito com Oscar Negt, com um título longo (Öffentlichkeit und Erfahrung. Zur
Organizationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit; a
tradução inglesa chama-se Public Sphere and Experience. Analysis of the bourgeois
and proletarian public sphere), a prometer um discurso árido, com o sabor da
dialéctica tão requintadamente cultivada pela teoria crítica de Adorno e
Horkheimer, tem a marca evidente do ambiente teórico de onde nasceu. Mas a
herança da Escola de Frankfurt que Alexander Kluge sempre assumiu abertamente
foi elaborada na sua obra, com uma enorme inteligência, longe das cristalizações
do epigonismo. Para além da pluralidade de campos disciplinares e artísticos que
experimentou, está a singularidade da obra que em nenhuma das suas dimensões
se deixa apreender nas formas canónicas dos géneros. A sua obra literária integra a
ficção narrativa, a teoria, a crítica, a escrita memorialística, o apontamento
histórico e tudo o que um escritor, um leitor, um espectador e um observador
crítico da sociedade, dotado de finos instrumentos analíticos, pode convocar. O
resultado é uma assemblage sob a forma de um conjunto monumental de
fragmentos que vão constituindo constelações temáticas e convidam o leitor a fazer
percursos sinuosos, não lineares, nesse edifício de muitas entradas, muitas saídas
e virtualmente sem fim. De igual modo, os seus filmes (longas metragens, curtas
metragens e, mais recentemente, micro-metragens) foram feitos à margem e
contra os padrões da indústria cinematográfica. A sua primeira experiência no
cinema foi como estagiário ao lado de Fritz Lang (ao qual foi recomendado por
Adorno). Mas dessa iniciação iria emancipar-se com grande convicção, quando
filmou as suas primeiras curtas metragens, no início dos anos 60. E em 1962
assinou um documento colectivo, o famoso Manifesto de Oberhausen que
reclamava uma renovação do cinema alemão. A renovação fez-se e Alexander Kluge
bastante contribuiu para ela, ao impor um estilo de fragmentação narrativa
(criador de histórias cinematográficas é aquilo que nunca quis ser, enquanto
cineasta), inserindo imagens de arquivo, sobrepondo palavras nas imagens,
utilizando processos que desrespeitavam completamente os códigos da ficção
cinematográfica. Com alguma razão ele dirá que é um iconoclasta (mas acrescenta:
«um iconoclasta moderado»). E quando fez uma pausa longa nas lides
cinematográficas e se lançou, através de uma produtora que ele próprio fundou, no
audiovisual para a televisão (fornecendo aos canais privados programas culturais
que elas estavam, por lei, obrigados a difundir), também aí se revelou um inovador
que conseguiu subverter os códigos e os conceitos televisivos. Tiveram um enorme
sucesso, e permanecem como obras exemplares, os diálogos filmados (e entretanto
transcritos em livro) com outro escritor maior da literatura alemã contemporânea,
o seu amigo Heiner Müller. Nestes trabalhos de diálogo e cooperação (palavras
muito próprias do seu vocabulário teórico), integrou também, de várias maneiras e
em várias ocasiões, artistas alemães seus contemporâneos: Gerhard Richter,
Baselitz, Anselm Kiefer.
A passagem à literatura deu-se cedo e não se pode dizer que Kluge prosseguiu as
vias do cinema por outros meios. Sempre afirmou que há uma diferença irredutível
entre a arte das imagens e a arte das palavras e que não transitou de uma para a
outra como se seguisse uma via contínua e directa. Os milhares de páginas da sua
escrita literária são feitas de toda a matéria do mundo: a história, a política, a
cultura, a literatura contemporânea e de todos os tempos (a literatura latina, e
muito especialmente Ovídio, ocupa um lugar importante no seu panteão e na sua
oficina textual), tudo faz parte dessa sinfonia monumental, em vários volumes, que
se chama Crónica dos Sentimentos. E assumindo a responsabilidade de se
confrontar com os fantasmas alemães do pós-guerra, Alexander Kluge fez um
trabalho de analista e arqueólogo que desenterra o que está submerso. Iniciou
quase sozinho essa tarefa de lidar com o passado alemão. Não apenas o passado
mais recente: ele achou que devia contar a história infeliz da Alemanha, seguindo
esta convicção: «A história alemã, até nas suas raízes, é um laboratório da
infelicidade ». Mas a história alemã não é um território delimitado na crónica que
acompanha o curso da vida e das histórias infinitas de que é feita a história da
Europa, da Antiguidade grega aos nossos dias. Alexander Kluge sente-se
contemporâneo de Ovídio e faz com que o poeta russo Mandelstam também o seja.
Toda a sua obra consiste na criação de cronologias que não são as do calendário
nem as da concepção linear da História. Ele estabelece sincronias paradoxais, faz
de Marx um contemporâneo de Joyce, continuando assim um projecto
cinematográfico de Eisenstein nesse filme singular, imenso, um filme-fleuve de 570
minutos, que se chama Notícias da Antiguidade Ideológica: Marx, Eisenstein, «O
Capital» (2008). Prosseguir o trabalho dos grandes autores que o antecederam,
fazer abreviações dos grandes romances da literatura ocidental: eis a tarefa que
Kluge assumiu com um sentido crítico em relação ao tempo em que vivemos que o
leva a diagnosticar uma «inquiétance» do tempo. Esta estranha palavra surge no
subtítulo da tradução francesa do Livro II da Crónica dos Sentimentos:
«Inquiétance du temps». E, em Paris, onde esteve no final de Setembro para
apresentar este livro que tinha acabado de ser publicado em França (uma edição
que não é meramente uma tradução, é uma reconstrução da sua obra literária)
repetia com grande entusiasmo a palavra «inquiétance» (ainda que falasse sempre
em alemão), como se fosse um conceito. Foi precisamente nessa ocasião, em Paris,
que esta entrevista foi feita.
Fotogramas de Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos [Os Artistas sob a Cúpula de Circo: Perplexos], 1968 (detalhes)
ANTÓNIO GUERREIRO Um dos seus livros, composto de textos e imagens, é uma
mistura de ficção e documentário sobre o raid aéreo que destruiu a sua cidade
natal, Halberstadt, em 1945. A tragédia da história alemã e europeia deste século
entra assim para o centro da sua obra.
ALEXANDER KLUGE Aquilo que constitui a matéria histórica desse
livro é actual. Se olharmos para a Síria, temos hoje a mesma coisa. Há
uma guerra por meios aéreos. Os aviões de guerra passam por cima e
atacam as pessoas em baixo. E é como se as pessoas fossem de uma
outra classe, de um outro mundo. São mundos paralelos que se
bombardeiam mutuamente.
AG Mas acha que se trata de uma tragédia semelhante?
AK Hoje é pior porque o automatismo das armas modernas é mais
sofisticado. As bombas e os drones actuais atacam a partir de grandes
distâncias, o que faz com que sejam mais perigosos. E as casas são
fabricadas em betão mais resistente e já não de tijolo, são menos
tradicionais. É um novo século. Terrível.
AG Chamou ao século XX o «século negro». Não é fácil pensar que é possível subir
nessa escala…
AK Não há de facto um negro mais negro do que o negro. Podemos é
falar de um negativo, o -1. Porque, entretanto, houve uma escalada. O
que o novo século nos mostra é a perda da realidade. No século
XX temos tragédias, mas também temos um solo sob os pés, sabemos
quem é o inimigo. Entretanto, isso tornou-se pouco claro. A realidade é
agora esponjosa. E é isso, a essa incerteza sobre o que é real, que chamo
«inquiétance» do tempo [embora falando em alemão, Alexander Kluge
cita o subtítulo da tradução francesa, dizendo «inquiétance» e não o
original Unheimlichkeit der Zeit]. A realidade mente, mostra-se como
um camaleão. Este é o desafio que ela coloca à poesia para a
representar.
"O que o novo século nos mostra é a perda
da realidade. No século XX temos
tragédias, mas também temos um solo sob
os pés, sabemos quem é o inimigo.
Entretanto, isso tornou-se pouco claro."
AG Tem uma visão muito pessimista da história.
AK Hoje à noite, haverá uma leitura cénica dos meus textos que se
chama O Conhecimento das Saídas de Emergência É o Melhor Teatro do
Mundo. Quando um teatro arde, há sempre uma saída de emergência.
Ser só pessimista não é nada. Não nos podemos dar ao luxo do
pessimismo. Por volta de 1900 podia-se ser pessimista, era uma moda.
Mas quando o Titanic se afunda e nós estamos no interior dele não nos
podemos permitir o pessimismo. Se não temos barcos de salvação,
temos de arrancar a madeira dos salões e construir jangadas.
AG Walter Benjamin, falou em «organizar o pessimismo». A sua ideia está próxima?
AK Mas ele também disse que não há épocas de decadência. Descreveu
o anjo da história a partir de um quadro de Paul Klee [mostra o quadro,
reproduzido num livro em inglês, embora publicado na Alemanha, que
acaba de sair, com o título The Snows of Venice, com textos do próprio
Kluge e do poeta americano Ben Lerner, e com imagens de Gerhard
Richter e Thomas Demand]. Mas há um outro quadro de Klee que é para
mim muito importante — Stachel, der Clown —, que representa não um
anjo melancólico, mas pragmático. Os dois em simultâneo são a minha
bandeira. Este último tem uma pá para escavar, é um arqueólogo.
AG Não percebo como se articulam, como se opõem ou completam estes dois
desenhos.
AK O segundo também é de Klee, também é um anjo, mas é um
comediante. Um, o anjo da história, situa-se no topo da tenda de circo e
o outro está em baixo, no solo, e tem utensílios, é um operativo. O
primeiro é um profeta. Os dois juntos são gémeos.
AG Um profeta que olha para trás…
AK Um olha para trás e outro para a frente, formam um rosto bifronte,
como Janus. Um é prático e trabalha com as mãos e o outro trabalha
com a cabeça.
AG Portanto, não um anjo de Klee, aquele a que Benjamin chamou o anjo da
história, mas dois anjos, são a configuração da sua concepção da história…
AK Eu sou um fiel servidor da teoria crítica da Escola de Frankfurt.
Benjamin tem um amigo muito jovem, é um pequeno pedaço de mim. E
Adorno está ao lado. Quando estão comigo entendem-se melhor.
AG Refere-se ao facto de eles nem sempre se terem entendido bem, de ter havido
desacordos filosóficos entre ambos?
AK Há diferenças radicais entre eles. E há também diferenças de tom.
São duas músicas diferentes, duas orquestras diferentes. Quanto a mim,
eu penso com a pele, penso com a cabeça, penso com o diafragma,
penso com todos os sentidos. São diferenças.
AG Mas o senhor é fiel a essas duas dimensões? Integra a diferença entre Benjamin
e Adorno?
AK Sempre. Eles estão em guerra civil e sou eu quem os reconcilia. Mas,
a propósito, é preciso dizer que a literatura faz outra coisa diferente
daquela que faz a teoria. A literatura também é teoria e há uma força
poética da teoria. Mas a literatura argumenta a partir do particular.
Somos advogados do particular, não do geral, do detalhe e não do geral.
AG Poderíamos citar Adorno: «O todo é a mentira.»
AK Exactamente, e em cada narrativa podemos exprimi-lo de maneira
precisa. O que eu faço é também teoria. As palavras não são cavalos com
selas, são livres, mas quando se encontram num discurso filosófico já
não são livres. Eu, por exemplo, posso partir de erros para fazer uma
narrativa, mas o filósofo não pode. Tenho necessidade de fazê-lo, senão
sou socrático. Preciso, em igual quantidade, de Dada e de sentido lógico
e racional. Mas a filosofia não conhece Dada. Mesmo Benjamin faz de
conta que tem em conta Dada e os dadaístas, mas assim que começa a
escrever Dada desaparece. O Stachel, der Clown, de Klee, é uma espécie
de Dada na Bauhaus.
AG Tentando definir o género a que pertence a escrita de Crónica dos
Sentimentos, podemos identificá-lo com uma tradição muito moderna e muito
alemã do Denkbild, da «imagem de pensamento», em que há uma mistura do
teórico e do narrativo.
AK O Denkbild é a mais importante forma dialéctica de expressão. É a
dialéctica intensificada; condensa a dialéctica. É o que a poesia pode
fazer, na medida em que não tem a obrigação de ser discursiva. Pode
formar labirintos. Ficar num estado impreciso, a precisão da indecisão,
isso é a literatura. De Ovídio até hoje, dos rabinos na Babilónia até hoje
há uma continuidade. As grandes fragatas da filosofia são belas. Belo é
Cícero, Platão, Aristóteles, os filósofos árabes, a universidade de Paris,
Abelardo, Kant, Horkheimer, Adorno. Todos eles são os grandes navios
de guerra. A literatura são os pequenos barcos, os submarinos que
procuram as minas. Somos os barcos da batalha de Salamina, muitos
barcos pequenos. E Darius, o rei dos Persas, tinha os grandes barcos.
AG A forma alegórica é uma constante no seu discurso…
AK Sim, sim. Os Denkbilder têm uma parte, por baixo, que é alegórica,
emblemática, metafórica. E têm uma parte superior que é cristalina,
exacta, precisa, sistemática. As coisas podem ser invertidas, é isso que a
poesia faz.
"Hoje, que vivemos sob um dilúvio de
imagens, sou iconoclasta, mas um
iconoclasta moderado, regresso aos filmes
de um minuto."
Paul Klee, Stachel, der Clown, 1931
© Fotografia: Scala, Florença / The Museum of Modern Art, Nova Iorque
AG Cultivando a forma breve dos Denkbilder, não parece conceder nenhum
privilégio à forma do romance, que é hoje a forma hegemónica da narrativa
literária.
AK O romance é importante para mim. Mas, numa constelação, um
romance pode tornar-se breve. Se eu tiver cem romances, e todos
tiverem força gravitacional, esta força faz com que eles se abreviem uns
aos outros. Anna Karenina é um dos meus romances favoritos, mas
depois de Ossip Mandelstam, que escreveu Tristia e esteve no mar
Negro, como Ovídio, do qual ele é sucessor, Tolstói continua a ser
exactamente tão bom como antes, mas é outro corpo celeste na força
gravitacional da Rússia de 1937. A força gravitacional encurtou-o, como
uma estrela que se aproxima de um buraco negro e muda a sua forma.
Aumenta a velocidade, torna-se mais pequena, tem o poder de dez sóis
apesar do seu tamanho não ser maior do que um campo de futebol. Não
digo que o sei realizar, mas o meu ideal é contar constelações de
romances e, para isso, é preciso concentrá- los. Dou-lhe um exemplo: há
uma história neste livro, uma Anna Karenina de 1915, que não se
apaixonaria por um cavaleiro louco como Vronsky. Na minha história,
no meu romance, o filho de Anna Karenina tem uma infecção terrível,
uma febre, e a mãe não o consegue deixar sozinho. O marido dela chega
e apercebe- se disso. O cavaleiro que tanto conseguia quebrar a espinha
dorsal dos cavalos como o coração de Anna Karenina é esquecido. Isto é
uma vitória do filho. Quem vence é quem mais precisa do amor da sua
mãe. Esta criança vence contra a tragédia. E agora Anna Karenina é
finalmente salva. Conto-lhe outro romance: Madame Butterfly, uma
ópera.
Quando essa bela mulher, como todas as sopranos, se suicida, o seu
filho é adoptado e chega a Boston. Em 1943, ele é comandante da força
aérea dos EUA e bombardeia Tóquio, e faz com que a cidade arda. E
incendeia a casa de madeira, o bungalow, onde foi concebido. Isto
também é um romance, é a continuação da ópera, para além do quinto
acto. Se eu agora retomasse e continuasse o maior romance que
conheço, a Ilíada, de Homero, tomaria a personagem de Eneias, que
tem a infelicidade de Tróia sob os seus pés. Ele chega a Cartago e mata
Dido e funda Roma. E Roma ocupa e incendeia Coríntia. Ópera de
Rossini. E agora, os gregos vivem o que eles mesmo fizeram aos
troianos. Eis o círculo da vingança. É uma história curta, posso contá-la
porque há a Ilíada. Para que as história e os romances não acabem, tem
de se contar para além do fim do romance. A Montanha Mágica acaba
em 1914 e Franz Castorp vai à Grande Guerra. Este é o método que uso
porque já existe a grande literatura. Não devo repetir Musil, embora ele
seja um dos meus ídolos. O segundo volume de O Homem Sem
Qualidades é tão volumoso como este [mostra o segundo volume de
Crónica dos Sentimentos], e é feito também de fragmentos. Adoro os
fragmentos. Coloco então este volume ao lado de Musil.
[...]
Este artigo encontra-se na sua íntegra na Edição 4 - Inverno 2018/19:
Comprar
Outros artigos desta
edição
editorial assunto portfolio
Primeira página Rezar pelo jornalismo William Kentridge: Blue
José Manuel dos Santos e António António Guerreiro Rubrics
Soares
José Manuel dos Santos
Newsletter
Avenida Brasília, Central Tejo Termos e condições Estatuto Editorial O seu nome*
1300-598 Lisboa
Política de Privacidade Ficha Técnica
+351 210 028 130/02
O seu email*
electra.edit@edp.pt Política de Cookies Pontos de venda
Português English
Subscrever
Você também pode gostar
- O cinema pensa: Uma introdução à filosofia através dos filmesNo EverandO cinema pensa: Uma introdução à filosofia através dos filmesAinda não há avaliações
- Tormenta 20 RPGDocumento13 páginasTormenta 20 RPGThiago Jotha25% (4)
- Pequeno vocabulário Tupi-PortuguêsDocumento101 páginasPequeno vocabulário Tupi-PortuguêsVeronica Dellacroce100% (1)
- Particípio Passado Regular e Irregular - CópiaDocumento3 páginasParticípio Passado Regular e Irregular - CópiaInês Marcelino83% (6)
- O Filme Ensaio e A Sua ContemporaneidadeDocumento10 páginasO Filme Ensaio e A Sua ContemporaneidadeSuz FigsAinda não há avaliações
- As ambivalências textuais de Roland BarthesDocumento10 páginasAs ambivalências textuais de Roland Barthesr_alengAinda não há avaliações
- Idiotismo - Psicopolítica de Byung-Chul HanDocumento9 páginasIdiotismo - Psicopolítica de Byung-Chul HanAngela NatelAinda não há avaliações
- ARTIGO - Jornalismo Literário PDFDocumento13 páginasARTIGO - Jornalismo Literário PDFCaroline NovaisAinda não há avaliações
- Expressão DramáticaDocumento6 páginasExpressão DramáticaoldgenAinda não há avaliações
- A constituição do sujeito em Judith ButlerDocumento9 páginasA constituição do sujeito em Judith ButlerIsaac Matheus Santos BatistaAinda não há avaliações
- Autoficção Feminina: A Mulher Nua Diante Do EspelhoDocumento12 páginasAutoficção Feminina: A Mulher Nua Diante Do EspelhoSsica_AvelinoAinda não há avaliações
- A história de Felpo Filva e CharlôDocumento16 páginasA história de Felpo Filva e CharlôAna Paula Almeida de MatosAinda não há avaliações
- Funções sintáticas e frasesDocumento4 páginasFunções sintáticas e frasesHelena100% (2)
- Apostila Português - Professora Glória Rocha para o SenaiDocumento131 páginasApostila Português - Professora Glória Rocha para o SenaiRynnardAinda não há avaliações
- Formas cinematográficas e contexto sócio-culturalDocumento69 páginasFormas cinematográficas e contexto sócio-culturalHenrique FincoAinda não há avaliações
- A distopia tecnológica de JudasDocumento14 páginasA distopia tecnológica de JudasAlexander Meireles da SilvaAinda não há avaliações
- Movimentos Da VanguardaDocumento19 páginasMovimentos Da VanguardaLarissa Martins100% (1)
- LINGUAGENS LÍQUIDAS NA ERA DA MOBILIDADE - Cap 3Documento18 páginasLINGUAGENS LÍQUIDAS NA ERA DA MOBILIDADE - Cap 3Eliaquim FerreiraAinda não há avaliações
- Crone M Berg CinemaDocumento95 páginasCrone M Berg CinemaCarmen Beatriz Cal Brandão100% (1)
- A Revolução da PsicologiaDocumento149 páginasA Revolução da PsicologiaAntonio Walmir Silverio BezerraAinda não há avaliações
- Religioes LivresDocumento77 páginasReligioes LivresMultiCabala100% (1)
- Deleuze - O Frio e o Cruel PDFDocumento13 páginasDeleuze - O Frio e o Cruel PDFRafael Kafka50% (2)
- Movimentos de vanguardaDocumento4 páginasMovimentos de vanguardaconect houseAinda não há avaliações
- A Lenda Da MatintaDocumento1 páginaA Lenda Da MatintaValdemir Vinagre MendesAinda não há avaliações
- CINEMA MUNDIAL REALISMODocumento23 páginasCINEMA MUNDIAL REALISMOramayana.lira2398Ainda não há avaliações
- O Expressionismo AlemãoDocumento3 páginasO Expressionismo Alemãowilhia100% (2)
- Rupturas - As Vanguardas Da Arte EuropeiaDocumento13 páginasRupturas - As Vanguardas Da Arte EuropeiaHadassa Rebeca rebecaAinda não há avaliações
- Vanguarda EuropéiasDocumento36 páginasVanguarda Européiasamandaferrarezi9230Ainda não há avaliações
- Notas sobre Leonilson e Bispo do RosárioDocumento8 páginasNotas sobre Leonilson e Bispo do RosárioWalerie GondimAinda não há avaliações
- Peter J Carroll Principia CaoticaDocumento4 páginasPeter J Carroll Principia CaoticaadebiseAinda não há avaliações
- A Ordem Da DiscordiaDocumento190 páginasA Ordem Da DiscordiaGuilherme Ribeiro HimmlerAinda não há avaliações
- AULA - Foucault, A Ciência e o SaberDocumento21 páginasAULA - Foucault, A Ciência e o SaberJhully OliveiraAinda não há avaliações
- DOMARCHI, Jean - MurnauDocumento7 páginasDOMARCHI, Jean - Murnaumudei de nome CastroAinda não há avaliações
- Lev ManovichDocumento73 páginasLev ManovichMaurício Pezzi CasiraghiAinda não há avaliações
- Surrealismo e CinemaDocumento44 páginasSurrealismo e CinemaMarcelo RibaricAinda não há avaliações
- Panofsky. Erwin. Iconografia e Iconologia. Armanelli, LuizaDocumento3 páginasPanofsky. Erwin. Iconografia e Iconologia. Armanelli, LuizaAlexandre Vander VeldenAinda não há avaliações
- A EVOLUCAO DA LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA Arthur Tuoto PDFDocumento4 páginasA EVOLUCAO DA LINGUAGEM CINEMATOGRAFICA Arthur Tuoto PDFtatakae comixAinda não há avaliações
- Vanguardas Dos Anos 1920Documento24 páginasVanguardas Dos Anos 1920Gue MartiniAinda não há avaliações
- O Impressionismo Francês No CinemaDocumento9 páginasO Impressionismo Francês No CinemaLucas ScalonAinda não há avaliações
- Identidades e Realidades Múltiplas - Os Estranhos No Meio de Nós (João Crlos Correia)Documento32 páginasIdentidades e Realidades Múltiplas - Os Estranhos No Meio de Nós (João Crlos Correia)0-DrixAinda não há avaliações
- 2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroDocumento31 páginas2 Modernidade e Identidade - o Caso BrasileiroJuarez PsiAinda não há avaliações
- Iconografia e Iconologia na Arte RenascentistaDocumento3 páginasIconografia e Iconologia na Arte RenascentistaPedro Sanches100% (1)
- Pessoa e A Visão Gnóstica Do Tempo - Armando Nascimento RosaDocumento31 páginasPessoa e A Visão Gnóstica Do Tempo - Armando Nascimento RosaSonia WeilAinda não há avaliações
- Personagem de RPG fantásticoDocumento257 páginasPersonagem de RPG fantásticoBruno Ribeiro SilvaAinda não há avaliações
- O Afastamento de Tibério em Caligula (1979)Documento3 páginasO Afastamento de Tibério em Caligula (1979)Murilo Henrique GarciaAinda não há avaliações
- Redes sociais e a liquidez na era digitalDocumento13 páginasRedes sociais e a liquidez na era digitalvla.r6019Ainda não há avaliações
- O fracasso do pensamento simbólico e a necessidade de uma alternativa à vida alienadaDocumento24 páginasO fracasso do pensamento simbólico e a necessidade de uma alternativa à vida alienadaJoão JorgeAinda não há avaliações
- O Desvio Pela Ficção: Contaminações No Cinema Brasileiro ContemporâneoDocumento20 páginasO Desvio Pela Ficção: Contaminações No Cinema Brasileiro ContemporâneoAnna AzevedoAinda não há avaliações
- Platao e A Caverna Digital PDFDocumento2 páginasPlatao e A Caverna Digital PDFjeguim7471Ainda não há avaliações
- Afectos PictóricosDocumento20 páginasAfectos PictóricosLucas MurariAinda não há avaliações
- Diana KlingerDocumento13 páginasDiana KlingerMirnagac23100% (1)
- Autorretrato em FugaDocumento6 páginasAutorretrato em FugaCarlos MéloAinda não há avaliações
- Derrida e o CinemaDocumento13 páginasDerrida e o CinemaAparecidoBenitaAinda não há avaliações
- Sociedade EspetáculoDocumento14 páginasSociedade EspetáculoleilavercosaAinda não há avaliações
- Guia para as vanguardas cinematográficasDocumento16 páginasGuia para as vanguardas cinematográficasClara BalbiAinda não há avaliações
- Sem Ítaca Não Terias PartidoDocumento13 páginasSem Ítaca Não Terias PartidoRenato RoqueAinda não há avaliações
- Entrevista com W. J. T. Mitchell sobre iconologia críticaDocumento17 páginasEntrevista com W. J. T. Mitchell sobre iconologia críticaLeonardo Guarani Kaiowá Silva DiasAinda não há avaliações
- Fotografia e desaparecimento do mundoDocumento9 páginasFotografia e desaparecimento do mundoprofpelegriniAinda não há avaliações
- TJ Clark Ars 8 PDFDocumento9 páginasTJ Clark Ars 8 PDFAdrienne FirmoAinda não há avaliações
- RESENHA - CRARY, Jonathan - 24-7 PDFDocumento5 páginasRESENHA - CRARY, Jonathan - 24-7 PDFjose.costajuniorAinda não há avaliações
- O nascimento e a morte do sujeito modernoDocumento5 páginasO nascimento e a morte do sujeito modernoJosé Carlos Freitas LemosAinda não há avaliações
- Marcelo Antonelli, Deleuze, Três Perspectivas Sobre o NiilismoDocumento18 páginasMarcelo Antonelli, Deleuze, Três Perspectivas Sobre o NiilismoFilosofia PaulistaAinda não há avaliações
- A pornochanchada como revolução sexual à brasileiraDocumento13 páginasA pornochanchada como revolução sexual à brasileiraMario RighettiAinda não há avaliações
- A biblioteca infinita e o mapa perfeito: Duas imagens borgianas que anteciparam as novas tecnologias de comunicaçãoDocumento13 páginasA biblioteca infinita e o mapa perfeito: Duas imagens borgianas que anteciparam as novas tecnologias de comunicaçãoBruno DornelesAinda não há avaliações
- Elfriede JelinekDocumento14 páginasElfriede Jelinekyukujr100% (1)
- Metodologia - Luciano MarcioDocumento14 páginasMetodologia - Luciano MarcioCafa SorridenteAinda não há avaliações
- 160062-Texto Do Artigo-421244-1-10-20200716Documento19 páginas160062-Texto Do Artigo-421244-1-10-20200716Luciano ValeAinda não há avaliações
- O legado do ensaio literário na cinevideografia ensaiística de GodardDocumento8 páginasO legado do ensaio literário na cinevideografia ensaiística de GodardPatrick CavalcanteAinda não há avaliações
- Filme Noir - Uma Compreensão FilosóficaDocumento189 páginasFilme Noir - Uma Compreensão FilosóficaDeborah BorimAinda não há avaliações
- Uerj 2007Documento8 páginasUerj 2007redacaocriativapontocomAinda não há avaliações
- Cruzou Por Mim - Álvaro de Campos - Fernando PessoaDocumento2 páginasCruzou Por Mim - Álvaro de Campos - Fernando PessoaPedro LituraterreAinda não há avaliações
- Cora CoralinaDocumento4 páginasCora CoralinaKellen CruzAinda não há avaliações
- Guiao Menina MarDocumento2 páginasGuiao Menina MarBarbara OlaioAinda não há avaliações
- Jakob Von Gunten Se Confunde Com Robert WalserDocumento6 páginasJakob Von Gunten Se Confunde Com Robert WalsertrituraAinda não há avaliações
- Fichamento O Grotesco - KayserDocumento5 páginasFichamento O Grotesco - KayserClara PedrosaAinda não há avaliações
- Notícias sobre linguagem do humor e piadasDocumento3 páginasNotícias sobre linguagem do humor e piadasVagner AméricoAinda não há avaliações
- As 42 Jornadas No Deserto 1 Estação RamessesDocumento6 páginasAs 42 Jornadas No Deserto 1 Estação RamessesRonaldo Nunes100% (3)
- Orações subordinadas adverbiaisDocumento12 páginasOrações subordinadas adverbiaisGraziela AlbuquerqueAinda não há avaliações
- A Raposa e as Uvas - Ensinamentos de Fábulas ClássicasDocumento3 páginasA Raposa e as Uvas - Ensinamentos de Fábulas ClássicasGabriel ZakalukAinda não há avaliações
- Gênero PoemaDocumento24 páginasGênero PoemaLeonardo CorrêaAinda não há avaliações
- Flexao NominalDocumento5 páginasFlexao NominalFilipa DraiblateAinda não há avaliações
- Arte Com Palavras e LetrasDocumento25 páginasArte Com Palavras e LetrasJoyce JoyAinda não há avaliações
- As TroianasDocumento113 páginasAs TroianasTatiana Vieira de LimaAinda não há avaliações
- 01.lingua Portuguesa.01.48 PDFDocumento48 páginas01.lingua Portuguesa.01.48 PDFclaudia wurmAinda não há avaliações
- RPGs para uso pedagógicoDocumento7 páginasRPGs para uso pedagógicojeffersonfriasAinda não há avaliações
- A ficção como antropologia especulativaDocumento2 páginasA ficção como antropologia especulativaLaura James MenezesAinda não há avaliações
- ArtigoDocumento9 páginasArtigoMiller SilvaAinda não há avaliações
- Artigo - CifefilDocumento20 páginasArtigo - CifefilMarília VieiraAinda não há avaliações
- Luciola para Ser Lida 1995 PDFDocumento11 páginasLuciola para Ser Lida 1995 PDFSales CoimbraAinda não há avaliações
- Análise da crônica De quem são os meninos de ruaDocumento12 páginasAnálise da crônica De quem são os meninos de ruaMarcia FerreiraAinda não há avaliações