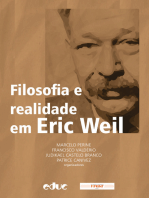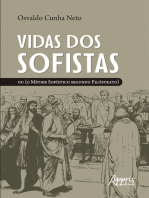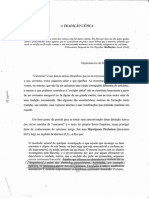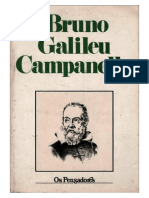Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Historia Da Filosofia 6
Enviado por
Rita AndradeTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Historia Da Filosofia 6
Enviado por
Rita AndradeDireitos autorais:
Formatos disponíveis
HIstria da Filosofia Volume seis NicolA Abbagnano DIGITALIZAO E ARRANJOS: ngelo Miguel Abrantes.
HISTRIA DA FILOSOFIA VOLUME VI TRADUO DE: ANTNIO RAMOS ROSA CAPA DE: J. C. COMPOSIO E IMPRESSO TIPOGRAFIA NUNES R. Jos Faldo, 57-Porto EDITORIAL PRESENA - Lisboa 1970 TITULO ORIGINAL STORIA DELLA FILOSOFIA Copyright by NICOLA ABBAGNANO Reservados todos os direitos para a lngua portuguesa EDITORIAL PRESENA, LDA. - R. Augusto Gil, 2 cIE. - Lisboa
VII AS ORIGENS DA CINCIA
388 LEONARDO O resultado ltimo do naturalismo do Renascimento a cincia. Nela confluem: as pesquisas naturalsticas dos ltimos Escolsticos que tinham dirigido a sua ateno para a natureza, desviando-a do mundo sobrenatural considerado desde ento inacessvel pesquisa humana; o aristotelismo renascentista, que elaborara o conceito da ordem necessria na natureza; o platonismo antigo e novo, que insistira na estrutura matemtica da natureza; a magia, que havia patenteado e difundido as tcnicas operativas destinadas a subordinar a natureza ao homem; e, finalmente, a doutrina de Telsio, que afirmara a autonomia da natureza, a exigncia de explicar a natureza por meio da natureza. Por um lado, todos estes elementos so integrados pela cincia mediante a reduo da natureza pura objectividade mensurvel: a um complexo de formas ou coisas constitudas essencialmente por determinaes quantitativas e sujeitas por isso a leis matemticas. Por outro lado, os prprios elementos so purificados pelas conexes metafsicoteolgicas, que os caracterizavam nas doutrinas a que originariamente pertenciam. Assim a cincia elimina os pressupostos teolgicos a que permaneciam vinculadas as investigaes dos ltimos Escolsticos; elimina os pressupostos metafsicos do aristotelismo em que assentavam a magia e a filosofia de Telsio. Nesta direco, pode dizer-se que a cincia da natureza foi orientada pelas intuies antecipadoras de Leonardo de Vinci. Leonardo de Vinci (1452-1519) considerou a arte e a cincia como tendentes a um nico escopo: o conhecimento da natureza. A funo da pintura a de representar para os sentidos as obras naturais; e por isso ela estende-se s suas superfcies, s cores, s figuras daqueles objectos naturais de que a cincia procura conhecer as foras intrnsecas (Tratt. della
pitt. ed. Ludwig, n. 3-7). Arte o cincia assentam ambas em dois pilares de todo o conhecimento verdadeiro da natureza: a experincia sensvel e o clculo matemtico. De facto, as artes, e em primeiro lugar a pintura, que Leonardo coloca acima de todas as artes, procuram nas coisas a proporo que as faz belas e pressupem um estudo directo que procura descobrir nas coisas, mediante a experincia sensvel, aquela mesma harmonia que a cincia exprime nas suas leis matemticas. O vnculo entre arte e cincia no , portanto, acidental na personalidade de Leonardo: fruto da faina nica que Leonardo se prope: buscar na natureza a ordem mensurvel que ao mesmo tempo proporo evidente, o nmero que tambm beleza. Leonardo exclui da pesquisa cientfica toda a autoridade e toda a especulao que no tenha o seu fundamento na experincia. "A sabedoria filha da experincia" (ed. Richter, n. 1150). A experincia jamais engana; e os que se lamentam dos seus logros deveriam antes lamentar-se da sua ignorncia porque pedem experincia aquilo que est para l dos seus limites. Em contrapartida, pode o juzo enganar-se sobre a experincia; e para evitar o erro no h outra via seno reduzir todos os juzos a clculos matemticos o servir-se exclusivamente da matemtica para entender e demonstrar as razes das coisas que a experincia manifesta (Cod. atl., fol. 154 r). A matemtica o
fundamento de toda a certeza. "Quem censura a suma certeza da matemtica padece de confuso, e nunca por termo s contradies das cincias sofsticas com as quais se aprende um eterno estridor" (ed. Richter, n. 1157). Por isso Leonardo faz seu o autntico esprito de Plato e a legenda que se encontrava entrada da Academia: "No entre nesta casa quem no for matemtico." Ub., n. 3). A experincia e o clculo matemtico revelam a natureza na sua objectividade, isto , na simplicidade e na necessidade das suas operaes. A natureza identifica-se com a prpria necessidade da sua ordenao matemtica. "A necessidade tema e inventora da natureza, freio e regra eterna" (Ib., n. 1135). Nestas palavras reconhecida claramente a essncia ltima da objectividade da natureza: a necessidade que lhe determina a ordem mensurvel e se exprime na relao causal entre os fenmenos. precisamente esta necessidade que exclui toda a fora metafsica ou mgica, toda a interpretao que prescinda da experincia e que queira submeter a natureza a princpios que lhe so estranhos. Tal necessidade, enfim, identifica-se com a necessidade prpria do raciocnio matemtico, que exprime as relaes de medida que constituem as leis. Entender a "razo" na natureza significa entender a "proporo" que no se encontra apenas nos nmeros e nas medidas, mas tambm nos sons, nos pesos, nos tempos, nos espaos e em qualquer potncia natural (ed. Ravaisson, fol. 49 r ). Foi precisamente a identificao da natureza com a necessidade matemtica que conduziu Leonardo a fundar a mecnica e a pr em luz pela primeira vez os seus princpios. " admirvel e estupenda necessidade, tu compeles, com a tua lei, todos os efeitos, por brevssima via, a participarem das suas causas e, com suma e irrevogvel lei, todas as aces naturais
te obedecem" (Cod. ad., fol. 345 v). Ele pde assim chegar a formular a lei de inrcia, o principio da reciprocidade da aco e da reaco, o teorema do paralelogramo das foras, o da velocidade e outros conceitos fundamentais da mecnica que deviam encontrar em Galileu a sua forma definitiva- A mole imensa dos seus manuscritos contm 10 uma soma de intuies felizes, de descobertas, de sinais precursores nos campos mais dispares da cincia, da anatomia paleontologia, e testemunha a perseverana com que Leonardo prosseguiu no estudo da natureza, no j com o fim de a enquadrar em frmulas metafsicas ou teolgicas ou de a vergar s operaes miraculosas da magia, mas unicamente com o intuito de a reduzir objectividade emprica e necessidade matemtica. 389. COPRNICO. KEPLER Nikolaus Copernicus (Kopernicki) partiu do princpio pitagricoplatnico da estrutura matemtica do universo para chegar a uma precisa formulao matemtica da nova cosmologia. Nascido em Thorn a 19 de Fevereiro de 1473, estudou na Universidade de Cracvia e depois em Bolonha, Pdua e Ferrara, onde se doutorou em direito cannico (1503). Aps uma segunda estada em Pdua (1503-06), voltou ptria, onde viveu entre os cuidados administrativos de um canonicato e os estudos astronmicos. Morreu em Frauenburgo a 24 de Maio de 1543. A sua obra fundamental De revolutionibus orbium celestium libri VI, foi
publicada poucos meses depois da sua morte. Dedicada ao pontfice Paulo IU, apareceu com um prefcio de Osiander, que limitava o alcance da doutrina de Coprnico apresentando-a como uma simples "hiptese astronmica", que no representava uma renovao relativamente concepo do mundo estabelecida pelos Antigos. E, na realidade, s mais tarde foi entendido o alcance revolucionrio da doutrina de Coprnico que assinala a destruio definitiva da cosmologia aristotlica. Coprnico, de facto, mostrou como todas as dificuldades que esta cosmologia encontrava na explicao do movimento aparente dos astros se resolveram facilmente admitindo que a terra gira em torno de si mesma, em vez de a considerar o centro imvel dos movimentos celestes, ele reconheceu trs movimentos da terra: o diurno em torno do prprio eixo, o anual em torno do sol e o anual do eixo terrestre relativamente ao plano da elptica (De rev. 1, 5). Coprnico mostrou que esta hiptese representava uma enorme simplificao no que concernia explicao dos movimentos celestes e por isso era conforme ao procedimento da natureza que tende a atingir os seus efeitos pelos meios mais simples (Ib., 1, 10). Mostrou tambm como, por sua vez, os clculos matemticos se simplificaram, prestando-se facilmente a explicar a observao astronmica. A doutrina de Coprnico foi atacada por motivos religiosos, quer por catlicos, quer por luteranos. Um astrnomo dinamarqus, Tycho Brahe (1546-1601), benemrito coleccionador de observaes astronmicas, sustentava que s a terra, a Dia e o sol giravam em torno do eixo terrestre, enquanto que os outros planetas giravam em tomo do sol. Mas das prprias observaes de
Tycho Brahe, o seu amigo e discpulo Kepler tirou a mais importante confirmao da doutrina copernicana, mediante a descoberta das leis reguladoras do movimento dos planetas. 12 Johannes Kepler nasceu a 27 de Dezembro de 1571 em Weil, perto de Estugarda, foi professor de matemtica e assistente de Tycho Brahe e morreu em Regensburgo a 15 de Novembro de 1630. Teve de lutar asperamente com protestantes e catlicos pelas suas ideias e s a custo logrou obter os meios para publicar as suas obras, uma vez, teve mesmo de empregar-se para salvar da fogueira sua me, acusada de bruxaria. Na sua primeira obra, Prodronws dissertationum cosmographicarum, continem mysterium cosmographicum de adnrabili proportione celestium Orbium (1596), exaltou firmemente a beleza, a perfeio e a divindade do universo e via nele a imagem da trindade divina. No centro do mundo estaria o sol, imagem de Deus Padre, do qual derivariam todas as luzes, todo o calor e toda a vida. O nmero dos planetas e a sua disposio em torno do sol obedeceria a uma precisa lei, de harmonia geomtrica. Os cinco planetas constituiriam de facto um poliedro regular e mover-se-iam em esferas inscritas ou circunscritas ao poliedro delineado pela sua posio recproca. Nesta obra, ele atribua o movimento dos planetas a uma alma motora ou alma motriz do sol; mas este mesmo esforo para encontrar nas observaes astronmicas a confirmao dos filosofemas pitagricos, ou neoplatnicos conduziu-o a abandonlos. Nos seus escritos astronmicos e pticos, substituiu as inteligncias por foras puramente fsicas; considera o mundo necessariamente participe da quantidade e a matria necessariamente ligada a uma ordem geomtrica. Permaneceu por
13 isso sempre fiel ao princpio de que a objectividade do mundo est na proporo matemtica implcita em todas as coisas. Era o mesmo principio que animara Leonardo; e a ele se deve a descoberta principal de Kepler: as leis dos movimentos dos planetas. As primeiras duas leis (as rbitas descritas pelos planetas em torno do sol so elipses de que um dos focos ocupado pelo sol; as reas descritas pelo raio vector (o segmento de recta que liga o planeta ao sol) foram publicados na Astronomia nova de 1609; a terceira lei (os quadrados dos tempos empregados por diversos planetas a percorrer as suas rbitas esto entre si como os cubos dos eixos maiores das elipses descritas pelos planetas) aparece pela primeira vez no escrito Harmonces mundi de 1619. Foram as observaes de Tveho Brahe que permitiram a Kepler descobrir as suas leis e corrigir assim a doutrina de Coprnico, que admitia o movimento circular dos planetas em torno do sol. Mas a descoberta de Kepler confirmava definitivamente a validade do procedimento que reconhece a verdadeira objectividade natural da proporo natural. 390. GALILEU: VIDA E OBRAS Galileu Galilei nasceu em Pisa a 15 de Fevereiro de 1564. Votandose a estudos de medicina, enquanto aprofundava o conhecimento dos textos antigos em conformidade com os quais esses estudos eram conduzidos, tambm se dedicava observao dos fenmenos naturais. Em 1583, a oscilao de uma lmpada na catedral permitia-lhe determinar a lei do isocronismo das oscilaes do pndulo, Nos anos seguintes chegou a formular alguns teoremas de geometria e de mecnica que
mais tarde deu estampa. O estudo de Arquimedes levou-o a descobrir a balana para determinar o peso especfico dos corpos (1586). A sua culturamatemtica proporcionou-lhe a estima e simpatia de muitos matemticos da poca e foi-lhe confiada em 1589 a cadeira de matemtica na Universidade de Pisa. Permaneceu nesta cidade trs anos, durante os quais fez vrias descobertas, nomeadamente, a seguir a repetidas experincias feitas por Campanile de Pisa, a da lei da queda dos graves. Em 1592, passou a ensinar matemtica na universidade de Pdua e a viveu dezoito anos, que foram os mais fecundos e felizes da sua vida. Das numerosas invenes de vrios gneros, feitas neste lapso de tempo, a mais importante a do telescpio (1609); esta inveno abre a srio das descobertas astronmicas. A 17 de Janeiro de 1610, Galileu descobriu o trs satlites de Jove, a que chamou planetas medicisianos em honra dos princpios toscanos, tendo-os anunciado no Sidereus nuncius publicado em Veneza a 12 de Maro do mesmo ano. Kepler dirigiu-lhe os seus aplausos a propsito desta descoberta e o Gro-Duque deu-lhe o lugar, que ele desejava, de matemtico do gabinete de Pisa. Com o seu telescpio Galileu pde dar-se conta de que a Via Lctea um conjunto de estrelas; pde descobrir os anis de Saturno, obser15 var as fases de Vnus em torno do Sol e reconhecer as manchas solares, as quais (como ele disse) foram o funeral da cincia aristotlica, porque desmentiam a pretensa incorruptibilidade dos cus. Mas, entretanto, as descobertas astronmicas levavam-no a considerar a estrutura do mundo celeste. Numa carta ao seu aluno Castoffi, datada de 21 de Dezembro de 1613, defendia a doutrina copernicana. Mas esta doutrina comeava precisamente ento a atrair a ateno da Inquisio de Roma, a qual move um processo contra Galileu. Em vo o cientista se dirige a Roma procurando evitar a condenao da doutrina copernicana. A afirmao da estabilidade
do sol e do movimento da terra condenada; e Galileu admoestado pelo cardeal Belarmino a abster-se de profess-la (26 de, Fevereiro de 1916). Poucos dias depois, a 5 de Maro, a obra de Coprnico De revolutionis orbium coefestium posta no ndice. Galileu continuou no entanto as suas especulaes astronmicas. Contra o padre jesuta Lotario Sarsi (Horacio Grassi), autor do to Libra astronmica ac philosophica dirigido contra o seu Discorso delle comete (1619), Galileu publicou em Roma (1623) il Saggiatore. E entretanto continuava a trabalhar nos Dilogos sobre os dois mximos sistemas do mundo, o ptolemaico e o copernicano, encorajado tambm pela subida ao pontificado do cardeal Barberini (Urbano VIII), que lhe havia sempre demonstrado a sua benevolncia. O Dilogo foi dado estampa em Fevereiro de 1632. Mas j em Setembro Gafileu fora citado pelo papa a comparecer perante o 16 Santo Oficio de Roma. O processo dura at 22 de Junho de 1633 e conclui-se com a abjurao de Galileu. Tinha ento 70 anos. Passou os ltimos anos da sua vida na solido da casa de campo de Arcetr, perto de Florena, alquebrado pelas doenas e diminudo pela cegueira, mas sem interromper o seu trabalho, escrevendo os Dilogos das novas cincias e mantendo numerosa correspondncia com amigos e discpulos. Morreu a 8 de Janeiro de 1642. As obras filosficas mais notveis so as j nomeadas: O Ensaiador, os dilogos. sobre os dois mximos sistemas e os Dilogos das novas cincias. Mas em todos os seus escritos esto disseminadas consideraes filosficas e metodolgicas. 391. GALILEU: O MTODO DA CINCIA Galileu pretende desimpedir a via da investigao cientfica dos obstculos da tradio cultural e teolgica. Por um lado, polemiza,
contra o "o mundo de papel" dos aristotlicos; por outro, quer subtrair a investigao do mundo natural aos Emites e aos estorvos da autoridade eclesistica. Contra os aristotlicos, afirmava a necessidade do estudo directo da natureza. Nada mais vergonhoso nas disputas cientficas, diz ele (Op., VII, p. 139), do que recorrer a textos que amide foram escritos com outro propsito e pretender utiliz-los para responder a observaes e experincias directas. Quem escolhe tal mtodo de estudo deveria pr de parte o nome de filsofo, uma vez que "no 17 convm que aqueles que deixaram de filosofar usurpem o honroso ttulo de filsofo". prprio de espritos vulgares, tmidos e servis dirigir antes os olhos para um mundo de papel do que para o verdadeiro e real, que, fabricado por Deus, est sempre diante de ns para nosso ensinamento. Tambm no se podem, por outro lado, sacrificar os ensinamentos directos que a natureza nos fornece s afirmaes dos textos sagrados. A Escritura Sagrada e a natureza procedem ambas do Verbo divino, aquela como ditado do Esprito Santo, esta como executora das ordens de Deus; mas a palavra de Deus teve de adaptar-se ao limitado entendimento dos homens aos quais se dirigia, ao passo que a natureza inexorvel e imutvel c nunca transcende os limites das leis que impe aos homens, porque no se importa que as suas recnditas razes sejam ou no compreendidas por eles./ Por isso o que da natureza nos revela a sensata experincia ou o que as demonstraes necessrias nos levam a concluir, no podo ser posto em dvida, ainda que divirja de algum passo da Escritura (Lett. alla duchessa Cristina, in Op., V,
p. 316). S o livro da natureza o objecto prprIo da cincia; e este livro interpretado e lido apenas pela experincia. A experincia a revelao directa da natureza na sua verdade, ela nunca engana: mesmo quando os olhos nos fazem ver o pau imerso na gua quebrado, o erro no est na vista, que recebe verdadeiramente a imagem quebrada e reflexa, mas no raciocnio que ignora que a imagem se refracta ao passar de um para outro meio trans18 parente (Op., 111, 397; XVIII, 248). A tarefa do raciocnio, porm, e especialmente do raciocnio matemtico, igualmente importante porque a da interpretao e transcrio conceitual do fenmeno sensvel. Por vezes, esta tarefa assume para Galileu uma importncia predominante: de modo que a confirmao experimental parece degradar-se a simples verificao, ocasional e no indispensvel, de uma teoria elaborada independentemente dela. Diz, por exemplo, Galileu a propsito das leis do movimento: "mas voltando ao meu tratado do movimento, argumento ex suppositione sobre o movimento, daquele modo definitivo; de maneira que, quando mesmo as consequncias no correspondessem aos acidentes do movimento natural, pouco me importaria, uma vez que em nada derroga s demonstraes o facto de no se encontrar na natureza nenhum mbil que se mova por linhas espirais" (Ib., XVIII, 12-13). Consideraes como esta que se repelem aqui e ali nas obras de Galileu, foram algumas vezes utilizadas para aproximar a investigao galileica da aristotlica: tal como Aristteles, Galileu
estaria mais interessado em encontrar as "essncias" dos fenmenos do que em descobrir as suas leis e as experincias servir-lhe-L,m to-s de pretexto ou de confirmao aproxiMativa da teoria. E por certo que a experincia, ou melhor, os resultados dela seriam, segundo Galileu, cegos, isto , sem significado, se no fossem iluminados pelo raciocnio, isto , sem uma teoria que lhes explicasse as causas. afirma que entender matemtica19 Galileu explicitamente
mente a causa de um evento "supera. por infinito intervalo o simples conhecimento obtido atravs de outras atestaes e mesmo de muitas reiteradas experincias" (Discorsi intorno a due nuove scienze, -IV, 5). Evidentemente, para Galileu s o raciocnio pode estabelecer as relaes matemticas entre os factos da experincia e construir uma teoria cientfica dos prprios factos. Mas do mesmo passo evidente que s a experincia pode fornecer, segundo Galileu, o incentivo para a formulao de uma hiptese e que as dedues que derivam matematicamente destas hipteses devem, por seu turno, ser confrontadas com a experincia e confirmadas com experimentos repetidos antes de poderem ser declaradas vlidas`.<Alm. disso, o raciocnio que tem essa funo sempre o raciocnio matemtico, dado que, quanto lgica tradicional, Galileu compartilha a opinio negativa dos escritores do Renascimento: ela no serve para descobrir coisa alguma mas s para saber se os discursos e as demonstraes j feitos e experimentados procedem de maneira concludente (Ib., VIII, 175). Por outro lado, a experincia no s o fundamento, mas tambm o limite do conhecimento humano...A este impossvel alcanar a essncia das coisas: deve limitar-se a determinar as suas
qualidades e as suas afeces- O lugar, o movimento, a figura, a grandeza, a opacidade, a produo e a dissoluo, so factos, qualidades ou fenmenos que podem ser apreendidos e utilizados para a explicao dos problemas naturais. A experincia purificada pelos elementos subjectivos e 20 variveis e reduzida aos permanentes e verdadeiramente objectivos. Galileu distingue as qualidades sensveis que so prprias dos corpos e aquelas que o no so porque pertencem apenas aos rgos dos sentidos. No se pode conceber uma substncia corprea seno limitada, provida de figura o de grandeza determinada, situada num corto lugar e num corto tempo, imvel ou em movimento, em contacto ou no, una ou mltiplice, mas, em contrapartida, pode-se conceb-la privada de cor, de sabor, de som e de cheiro. Assim, quantidade, figura, grandeza, lugar, tempo, movimento, repouso, contacto, distncia, nmero so qualidades prprias e inseparveis dos corpos materiais; enquanto que sabores, odores, cores, sons, subsistem apenas nos rgos sensveis mas no so caracteres objectivos dos corpos, se bem que sejam produzidos por estes. A objectividade reduz-se, portanto, exclusivamente s qualidades sensveis que so determinaes quantitativas dos corpos; enquanto que as qualidades no redutveis a determinaes quantitativas so declaradas por Galileu puramente subjectivas. Isto revela o ntimo mbil da investigao de Galileu, o qual conduz a uma extrema clareza a tese, j apresentada por Cusano e
Leonardo_ da -estrutura -matemtica da realidade objectiva. Galileu considera que o livro da natureza escrito em lngua matemtica e os seus caracteres so tringulos, crculos e outras figuras geomtricas. Por isso no se pode entender tal livro se antes no se tiver aprendido a lngua e os caracteres em que est 21
escrito (Ib., VI, p. 232). Sobro a estrutura matemtica do universo, repousa a Sua ordem necessria, que nica e nunca foi nem ser diversa (Ib., VII, p. 700). Para entender esta ordem necessrio que a cincia se constitua como um sistema de rigorosos procedimentos de medida. As determinaes genricas "grande" ou "pequeno", "prximo" ou <longnquo", no captam- coisa alguma da realidade natural: as mesmas coisas podem parecer grandes ou pequenas, prximas ou longnquas. A reflexo cientfica comea apenas quando se introduz uma unidade de medida e se determinam relativamente a ela todas as relaes quantitativas (Ib., VI, p. 263). Galileu fundou, deste modo em toda a sua clareza o mtodo da cinciaassegurou a medida como o instrumento fundamental da cincia e fez valer o ideal quantitativo como critrio para discernir na experincia os elementos verdadeiramente objectivos. o reconhecimento da subjectividade de certas qualidades sensveis no significa para ele a subjectivao parcial da experincia mas a sua objectivao perfeita e a sua reduo aos caracteres que correspondem estrutura matemtica da natureza., Galileu subtraiu explicitamente a investigao natural a todas as preocupaes finalsticas ou antropol gicas. As obras da natureza no podem ser julgadas com uma medida puramente humana, em
referncia quilo que o homem possa entender ou ao que se lhe torne til. arrogncia, e loucura mesmo, da parte do homem, declarar inteis as 22 obras da natureza de que no entenda a utilidade para os seus fins. Ns no sabemos para que serve Jove ou Saturno, nem to pouco sabemos para que servem muitos dos nossos rgos, artrias ou cartilagens, os quais nem suspeitaramos possuir se no nos tivessem sido mostrados pelos anatomistas. Em qualquer caso, para julgar da utilidade ou dos efeitos deles, seria mister fazer a experincia de tir-los e constatar ento as perturbaes rosultantes da sua falta. Mas qualquer antecipao em relao natureza impossvel, uma vez que os nossos pareceres ou opinies no lhe dizem respeito, nem tm valor para ela as nossas razes provveis. A subtileza da inteligncia e a fora da persuaso esto deslocadas nas cincias naturais; nelas Demstenes e Aristteles devem ceder a uma inteligncia medocre, que tenha sabido aceitar algum aspecto real da natureza (Op., VII, p. 80). Por isso qualquer discurso que ns faamos acerca das coisas naturais ou verssimo ou falsssimo; se falso, cumpre desprez-lo, se verdadeiro necessrio aceit-lo porque no h modo de lhe fugir (Ib., IV, p. 24). O que confirma que, no h filosofia que possa mostrar-nos a verdade da natureza melhor do que a natureza (Ib., IV, p. 166), a qual no antecipa a natureza, seno que a segue e a manifesta na sua objectividade. Com a eliminao de toda e qualquer considerao finalistica ou antropomrfica do mundo natural, Galileu realizou completamente a reduo da natureza objectividade mensurvel e conduziu a cincia moderna sua maturidade. 23
392. BACON: VIDA E ESCRITOS Se Galileu elucidou o mtodo de investigao cientfica, Bacon entreviu pela primeira vez o poder que a cincia oferece ao homem em relao ao mundo. Bacon concebeu a cincia como essencialmente destinada a realizar o domnio do homem sobre a natureza. O regnum hominis: viu a fecundidade das suas aplicaes prticas, de modo que podemos consider-lo o filsofo e o profeta da tcnica. Francis Bacon nasceu em Londres a 22 de Janeiro de 1561, sendo filho de Sir Nicholas Bacon, ministro da justia da rainha Elisabeth. Estudou em Cambridge e em seguida passou alguns anos em Paris, no squito do embaixador de Inglaterra, onde teve ensejo de completar e enriquecer a sua cultura. De regresso ptria, quis iniciar a carreira poltica. Enquanto viveu a rainha Elisabeth, no pde obter nenhum cargo 'importante, no obstante o apoio do conde de Essex. Mas com a subida ao trono de Jaime I, Stuart (1603), pde gozar do apoio do favorito do rei, Lord Buckingham, para obter cargos e honras. Foi nomeado advogado geral (1607), depois procurador geral (1613), e, finalmente, ministro das justias (1617) e Lord Chanceler (1618). Como tal, presidia s principais cortes de justia e tornava executrios os decretos do rei. Foi, alm disso, nomeado baro de Verulam e visconde de Slo Albano. Mas quando Jaime 1 teve de convocar em 1621 o Parlamento, inculpou Bacon de 24 corrupo, acusando-o de ter recebido ofertas de dinheiro no exerccio das suas funes. Bacon reconheceu-se culpado. Foi condenado ento a pagar quarenta mil esterlinos de multa, a
permanecer prisioneiro na Torre de Londres at que o rei o quisesse, e foi exonerado de todos os cargos do estado (3 de Maio de 1621). O rei perdoou a Bacon a multa e a priso, mas a vida poltica do filsofo estava acabada. Bacon retirou-se para Gorhw, nbury e a passou os ltimos anos da sua vida, entregando-,se ao estudo. Faleceu a 9 de Abril de 1626. A carreira poltica de Bacon foi a de um corteso hbil e sem escrpulos. No hesitou em sustentar a acusao como advogado do rei contra o conde Essex que o havia ajudado nos primeiro passos difceis da sua carreira, e que cara em seguida em desgraa. O processo a que foi submetido lana uma luz pouco simptica sobre a sua actividade de ministro, uma vez que ele no pde negar as acusaes de corrupo que lhe dirigiram. Mas este homem ambicioso e amante do dinheiro e do fausto teve uma ideia altssima do valor da cincia ao servio do homem. Todas as suas obras tendem a ilustrar o projecto de uma pesquisa cientfica que, aplicando o mtodo experimental em todos os campos da realidade, faa da realidade mesma o domnio do homem. Bacon quis tornar a cincia activa e operante colocando-a ao servio do homem e considerando como seu escopo a constituio de uma tcnica que devia dar ao homem o domnio de todo o mundo natural. Quando, na 25
Nuova Atlntida, pretende dar a imagem de uma cidade ideal, recorrendo ao pretexto, j empregado por Toms Moro na Utopia, da descrio de uma ilha desconhecida, no se deteve a sonhar com formas de vida sociais ou polticas perfeitas, mas imaginou um paraso da tcnica onde fossem postos em prtica as invenes e os achados do mundo inteiro. E, de facto, neste escrito (que no chegou a ser concludo) a ilha da Nova Atlntida descrita como um enorme laboratrio experimental, na qual os habitantes procuram conhecer todas as foras ocultas da natureza "Para estender os confins do imprio humano a todas as coisas possveis". Os numes tutelares da ilha so os grandes inventores de todos os pases; e as relquias sagradas so os exemplares de todas as grandes e mais raras invenes. Bacon, todavia, no dirigiu a sua ateno apenas para o mundo da natureza. A sua primeira obra, os Ensaios, publicados pela primeira vez em 1597 e depois traduzidos em latim com o ttulo Sermones fdeles sive interiora rerum, so subtis e eruditas anlises da vida moral e poltica nas quais a sapincia dos Antigos amplamente utilizada. Mas a sua ,principal actividade foi a que dedicou ao projecto de uma enciclopdia das cincias que devia renovar completamente a investigao cientfica colocando-a numa base experimental. O plano grandioso desta enciclopdia deu-no-lo ele no escrito De augmentis scientiarbim, publicado, em 1623, o qual compreende: as cincias que se fundam na memria, isto , a histria, que se dlivide em natural e civil; aquelas que se fundam na fantasia, isto , a poesia, que se 26 divide em narrativa, dramtica e parablica (a que serve para
ilustrar uma verdade); e as cincias que se fundam na razo, entro as quais, por um lado, a filosofia prima ou cincia universal, por outro as cincias particulares que concernem a Deus ou natureza ou ao homem. "A filosofia prima" considerada por Bacon como "a cincia universal e me das outras cincias", consistindo a sua tarefa em recolher "os axiomas que no so prprios das cincias particulares mas comuns a outras cincias" (De augm. sient., 111, 1). Este conceito devia permanecer tpico da interpretao da tarefa da filosofia segundo os mtodos positivistas, isto , segundo todo o mtodo que faa coincidir com a cincia a totalidade do saber. A Instauratio magna deveria dar as directivas de todas estas cincias e devia, consequentemente. compreender seis partes: 1.a Diviso das cincias; 2.a-Novo rgo ou indcios para a interpretao da natureza; 3 a Fenmenos do universo ou histria natural experimental para construir a filosofia; 4 a Escala do intelecto; 5 a - Prdromos ou antecipaes da filosofia segunda; 6 a - Filosofia segunda ou cincia activa. Deste vasto projecto Bacon &penas realizou adequadamente a segunda parte que precisamente o Novum organum, publicado em 1620. As outras obras podem-se considerar como esquissos ou esboos das outras partes: O progresso do saber (em ingls, 1605), De sapientia veterum (1609); Histria naturalis (1622)-, De dignitate et augmentis scientiarum (1623); este ltimo escrito representa a primeira parte da Instauratio nwgna. 27 Escritos menores, incompletos ou esboados foram publicados aps a sua morte: De interpretatione natura e proemium (1603), Valerius Terminus (1603); Cogitationes de rerum natura (1605); Cogitata e
visa (1607), Descriptio globi intelectualis (1612); Thema coeli (1612). Nos ltimos anos comps e publicou tambm uma Histria de Henrique VII. 393. BACON: O CONCEITO DA CINCIA E DA TEORIA DOS DOLOS Do projecto grandioso de uma Instauratio magna que devia culminar na Sciencia activa, isto , numa tcnica que aplicasse as descobertas tericas, muito pouco realizou Bacon. O que ele fez reduz-se substancialmente ao Novum Organum, isto , a uma lgica do procedimento tcnico-cientfico que polemicamente contraposta lgica aristotlica, que ele achava servir apenas para alcanar vitrias nas disputas verbais. Com a velha lgica vence-se o adversrio, com a nova conquista-se a natureza. Esta conquista da natureza a tarefa fundamental da cincia. "0 fim desta nossa cincia, diz Bacon (Nov. org., Distributio operis), o de encontrar no argumentos mas artes, no princpios aproximativos, mas princpios verdadeiros, no razes provveis mas projectos e indicaes de obras". A cincia posta assim inteiramente ao servio do homem; e o homem, ministro e intrprete da natureza, opera e compreende de acordo com o que observou na ordem 28 da natureza, quer mediante a experincia, quer mediante a reflexo: para alm disto, no sabe nem pode coisa alguma. A cincia e o poder humano coincidem: a ignorncia da causa toma impossvel conseguir o efeito. No se vence a natureza seno obedecendo-1he, e o que na observao est
como causa, na obra vale como regra (Ib., 1, 3). A inteligncia humana tem necessidade de instrumentos eficazes para penetrar na natureza e domin-la: semelhana das mos, no pode efectuar nenhum trabalho sem um instrumento adequado. Os instrumentos da mente so os seus experimentos: experimentos pensados e adaptados tecnicamente ao fim que se pretende alcanar. Os sentidos por si s no bastam para nos fornecer uni guia seguro: s os experimentos so os guardies e os intrpretes das respostas daqueles. O experimento representa, segundo a imagem de Bacon, w conbio da mente e do universo", conbio do qual se espera "uma prole numerosa de invenes e de instrumentos aptos a dominarem e a mitigarem, pelo menos em parte, as necessidades e as misrias dos homens" (lb., Distr. op.). Mas a unio entre a mente e o universo no se pode celebrar enquanto a mente permanea presa a hbitos e preconceitos que a impedem de interpretar a natureza. Bacon ope a interpretao da natureza antecipao da natureza. A antecipao da natureza prescinde do experimento e passa imediatamente das coisas particulares sensveis aos axiomas generalssimos, e, base destes princpios e da sua imvel verdade, tudo julga e encontra os chamados 29 axionas mdios, isto , as verdades intermdias entro os princpios ltimos e as coisas. Esta a via da antecipao, de que se serve a lgica tradicional, via que toca apenas de raspo a experincia porque se satisfaz com as verdades gerais. A interpretao da natureza, ao invs, adentra-se com mtodo e ordem na experincia e ascende, sem saltos e por graus de sentido, das coisas
particulares aos aXiomas, chegando s por ltimo aos mais gerais. A vila de antecipao estril, uma vez que os axiomas por ela estabelecidos no servem para inventar seja o que for. A via da interpretao fecunda, porque dos axiomas deduzidos com mtodo e ordem das coisas particulares facilmente brotam novas cognies particulares que tornam activa e produtiva a cincia (lb., 1, 24). A tarefa preliminar de Bacon, na sua tentativa de estabelecer o novo rgo da cincia, , por conseguinte, o de eliminar as antecipaes, e a tal dedicado substancialmente o primeiro livro do Novum organum. Este livro destina-se a purificar o intelecto de todos os dolos, para o que estabelece uma trplice crtica: (redargutio): crtica das filosofias, crtica das demonstraes e crtica da razo humana natural, respectivamente destinadas a eliminar os preconceitos que se radicaram na mente humana atravs das doutrinas filosficas ou atravs das demonstraes extradas de princpios errados, ou pela prpria natureza do intelecto humano. Ele quer "conduzir os homens Perante as coisas Particulares e as suas sries e ordena, afastandoos por algum tempo das noes 30 antecipadoras para que comecem a familiarizar-se com as coisas mesmas" (Ib., 1, 36). As antecipaes que se radicam na prpria natureza humana so as que Bacon denomina idola tribus e idola specus: os idola tribus so comuns a todos os homens, os idola specus so prprios de cada indivduo. O intelecto humano conduzido a supor que existe na natureza uma harmonia muito maior do que a que existe de facto, a dar mais importncia a certos conceitos do que a outros, a atribuir maior relevncia ao que, impressiona a fantasia do que ao que oculto e longnquo. Alm de ser impaciente, quer progredir sempre
para alm do que lhe dado, e pretende que a natureza se adapte s suas exigncias. rejeitando assim tudo o que nela no lhe convm. Todas estas disposies naturais so fontes de idola tribus,- e a principal fonte de tais idola a insuficincia dos sentidos aos quais escapam todas as foras ocultas da natureza. Os idola specus, ao invs, dependem da educao, dos hbitos e das circunstncias fortuitas em que cada qual se encontra. Aristteles, dei de ter inventado a lgica, sujeitou a ela completamente a sua fsica, tornando-a estril: isto foi devido por certo a uma particular disposio do seu intelecto. Gilbert, o descobridor do magnetismo, arquitectou sobre a sua descoberta toda uma filosofia. E assim, em geral, todo o homem tem as suas propenses para os antigos ou para os modernos, para o velho ou para o novo, paira aquilo que simples ou para aquilo que complexo, para as semelhanas ou para as diferenas; e todas estas propenses so fontes 31 de idola specus, como se cada homem tivesse no seu interior um antro ou uma caverna que refractasse ou desviasse a luz da natureza. Alm destas duas espcies naturais de dolos, existem os adventcios ou provenientes do exterior: idola fori e idola theatri. Os dolos da praa derivam da linguagem. Os homens crem impor .a sua razo s palavras: tambm sucede que as palavras retoram e repercutam a sua fora sobre o intelecto. Nascem assim as disputas verbais', as mais longas e insolveis, que se podem resolver apenas
com um recurso realidade. Os dolos que derivam das palavras so de duas espcies: ou so nomes de coisas que no existem ou so nomes de coisas que existem, mas que so confusos e mal determinados. primeira espcie pertencem os nomes de fortuna, primeiro mbil, rbitas dos planetas, elemento do fogo e quejandos, os quais tm a sua origem em falsas teorias. segunda espcie pertencem, por exemplo, a palavra hmido, que indica coisas diversissmas, as palavras que indicam aces como gerar, corromper, etc., e as que indicam qualidades, como grave, ligeiro, poroso, denso, etc. Tais so os idla fori, 'assim chamados porque gerados por aquelas convenes. humanas que as relaes entre os homens tornaram necessrias. o ltimo gnero de preconceitos o idola theatri que derivam das doutrinas filosficas ou de demonstraes erradas. Bacon denomina-os- assim porque compara os sistemas filosficos a fbulas, que so como mundos fictcios ou cenas de teatro. As doutrinas filosficas, e por conseguinte, os idola theatri, existem em pro32
fuso e Bacon no se prope confut-los um por um. Ele divde as falsas filosofias em trs espcies: a sofstica, a emprica e a supersticiosa. Da filosofia sofstica o maior exemplo Aristteles, que procurou adaptar o mundo natural a categorias lgicas predispostas e se preocupou mais em dar a definio verbal das coisas do que em procurar a verdade delas. Ao gnero emprico, pertence a filosofia dos alquimistas e tambm a de Gilbert, que tem a pretenso de explicar todas as coisas por meio de poucos e restritos experimentos. Finalmente, a filosofia supersticiosa a que se mistura com a teologia, como acontece em Pitgoras e Plato, e especialmente neste ltimo, que Bacon considera mais subtil e perigoso e ao qual no hesita em atribuir num seu escrito (Temporis partus musculus, Opere, M,
530-31) as qualificaes de "urbano trapaceiro, poeta enfatuado, telogo mentecapto". Finalmente, idola theatri derivam tambm de demonstraes errneas. E as demonstraes so errneas porque se fiam demasiado nos sentidos ou abstraem indevidamente das suas impresses ou tm a pretenso de passar de golpe dos pormenores sensveis aos princpios gerais. Entre as causas que impedem os homens de se libertarem dos dolos e progredirem no conhecimento efectivo da natureza, Bacon coloca em primeiro lugar a reverncia pela sabedoria antiga. A este propsito, observa ele que, se por antiguidade se entende a velhice do mundo, o termo deveria aplicar-se ao nosso tempo, e no quela juventude do mundo de que os Antigos foram quase um exemplo. 33 Essa poca antiga e fundamental para ns, mas relativamente ao mundo nova e menor; e como lcito esperar de um homem antigo um maior conhecimento do mundo do que de um jovem, assim deveremos esperar da nossa poca muito mais do que dos tempos antigos, porque ela se foi pouco a pouco enriquecendo no curso do tempo atravs de infinitos experimentos e observaes. A verdade, diz Bacon, filha do tempo, no da autoridade. Como Bruno, ele pensa que ela se revela gradualmente ao homem atravs dos esforos que se somam e se integram na histriaPara sair das velhas vias da contemplao improdutiva e empreender a via nova da investigao tcnicocientfica, necessrio colocarmo-nos no terreno do experimento. A simples experincia no basta, porque procede ao acaso e sem
directivas. semelhante, diz Bacon, (Nov. Org., 1, 82) a uma vassoura velha, ao avanar s cegas como quem andasse de noite procura do caminho, quando seria mais fcil e prudente esperar pelo dia ou acender uma luz, e assim enfiar pelo caminho. A ordem verdadeira da experincia consiste em acender a luz, ,iluminando desse modo a via, quer dizer, comear pela experincia ordenada e madura, e no por experincias irregulares e desordenadas. S assim o experimento pode levar a vida humana a enriquecer-se de novas invenes, a assentar as bases do poder e da grandeza humana e a alargar cada vez mais os seus horizontes. Alis, o objectivo prtico e tcnico que Bacon atribui cincia no a encerra num estreito utilitarismo. Aos experimentos que do 34 fruto (experimenta fructfera) acha que so preferveis os que do luz (experimenta lucifera), que nunca falham e nunca so estreis, porquanto revelam a causa natural dos factos (Ib., 1, 99). 394. BACON: A INDUO E A TEORIA DAS FORMAS A pesquisa cientfica no se funda s nos sentidos nem apenas no intelecto. Se o intelecto por si no produz seno noes arbitrrias e infecundas e se os sentidos, por outro lado, s do indicaes ordinrias e inconcludentes, a cincia no poder constituir-se como conhecimento verdadeiro e fecundo de resultados seno enquanto impuser experincia sensvel a disciplina do intelecto e ao intelecto a disciplina da experincia sensvel. O procedimento que realiza aquela exigncia , segundo Bacon, o da induo. Bacon
preocupa-se em distinguir a sua induo da aristotlica. A induo aristotlica, isto , a induo puramente lgica que no incide sobre a realidade, uma induo por simples enumerao dos casos particulares: Bacon considera-a uma experincia pueril que produz concluses precrias e continuamente exposta ao perigo dos exemplos contrrios que possam desmenti-la. Ao invs, a induo que a inveno e a demonstrao das cincias e das artes fundase na escolha e na eliminao dos casos particulares: escolha e eliminao repetidas sucessivamente sob o controle do experimento, at se atingir a deter35 minao da verdadeira natureza do fenmeno. Esta induo procede por isso sem saltos e por graus; quer dizer, remonta gradualmente dos factos particulares aos princpios mais gerais e s por ltimo chega aos axiomas generalssimos. A escolha e a eliminao em que se funda tal induo supem em primeiro lugar a recolha e a descrio dos factos particulares: recolha e descrio que Bacon denomina storia naturale sperimentale, porque no deve ser imaginada ou cogitada, mas recolhida da experincia, ou seja, ditada pela prpria natureza. Mas a histria natural e experimental to variada e vasta que confundiria o intelecto em vez de ajud-lo se no fosse composta e sistematizada numa ordem idnea. Para tal fim servem as tbuas que so recolhas de casos ou exemplos (instantiae) segundo um mtodo ou uma ordem que torna tais recolhas apropriadas s exigncias do intelecto (Nov. org., 11, 10). As tbuas de presena sero ento a recolha das instncias conhecidas, isto , das circunstncias em que uma certa "natureza", por exemplo, o calor, habitualmente se apresenta. As tbuas de ausncia recolhem, ao invs, aqueles casos que so
privados da natureza em questo, embora estando prximos ou ligados queles que a apresentam. As tbuas dos graus ou comparativas recolhero, pelo contrrio, aquelas instncias ou casos em que a natureza procurada se encontra em diferentes graus, maiores ou menores: o que deve fazer-se ou comparando o seu aumento e a sua diminuio no mesmo sujeito ou comparando a sua grandeza em sujeitos diferentes, 36 confrontados um com o outro. Formadas estas tbuas, comea o verdadeiro e prprio trabalho da induo, cuja primeira fase deve ser negativa, isto , deve consistir "em excluir as naturezas que no se encontrem em alguns casos em que a natureza dada presente ou se encontrem em algum caso em que ela ausente ou cresce em algum caso em que a natureza dada decresce ou decresce em algum caso em que a natureza dada aumenta". A parte positiva da induo **co~r apenas aps esta longa e difcil obra de excluso, com a formulao de uma hiptese promissria, acerca da forma da natureza estudada, que Bacon, denomina "primeira vindima". Esta hiptese guiar o desenvolvimento ulterior na pesquisa que consiste substancialmente em p-la prova em sucessivas confirmaes ou experimentos que Bacon chama instncias prerrogativas. Ele enumera vinte e sete espcies de tais instncias, designando-as com nomes pitorescos (instncias solitrias, migratrias, impressionistas, clandestinas, manipulares, analgicas, etc.). A ,instncia decisiva a instncia crucial, cujo nome Bacon deriva das cruzes que se erguem nas encruzilhadas para indicar as vias. O valor desta instncia consiste em que, quando se
no sabe ao corto qual das duas ou mais naturezas a causa da natureza estudada, a instncia crucial mostra que a unio de uma das naturezas com ela segura e indissolvel e assim permite reconhecer nesta natureza a causa da natureza estudada. Algumas vezes, acrescenta Bacon, instncias desta natureza apresentam-se por si; outras vezes, ao contrrio, devem ser 37
procuradas ou provocadas e constituem verdadeiros e prprios experimentos (M., 11, 36). No vigsimo stimo e ltimo lugar das instncias prerrogativas, Bacon coloca as instncias da magia, caracterizadas pela desproporo entre a causa material ou eficiente, que pequena ou insignificante, e o efeito produzido. Devido a esta desproporo, as instncias mgicas parecem milagres: na realidade, os efeitos mgicos so obtidos por via puramente natural, mediante a multiplicao das foras produtoras devida ou a estas foras mesmas ou s foras de outros corpos (Nov. org., H, 51). Deste modo, a magia, com todos os seus mirabolantes efeitos, foi includa por Bacon no plano do trabalho experimental. Todo o processo da induo tende, segundo Bacon, a estabelecer a causa das coisas naturais. E esta causa a forma. Ele faz seu o principio: vere scire est per causas scire, e aceita finalmente a distino aristotlica das quatro causas: material, formal, eficiente e final. Mas elimina logo a causa
final por ser mais nociva do que benfica cincia Ub., 11, 2). "A pesquisa das causas finais, diz ele (De augm., 111, 5), estril: como uma virgem consagrada a Deus, no pode parir coisa alguma". Bacon no nega que se possam legitimamente contemplar os fins dos objectos naturais e a harmonia geral do universo para se dar conta do poder e da sabedoria de Quem o criou. Mas esta pesquisa deve ser consagrada ao servio de Deus, no pode ser transposta para o plano da cincia natural, porque esta no contemplativa mas activa, e deve 38 descobrir as causas que permitem ao homem o domnio sobre o mundo (Ib., 111, 4). Quanto s outras causas aristotlicas, Bacon considera que a eficiente e a material so superficiais e inteis para a cincia verdadeira e activa por serem concebidas como separadas do processo latente que tendo forma. Resta a forma, que Bacon tem a pretenso de entender de um modo inteiramente diverso de Aristteles. E o que ele entende, verdadeiramente por forma o mais difcil problema da crtica baconiana. Bacon insiste em primeiro lugar na tese de que s a forma revela a unidade da natureza e permite descobrir o que nunca existiu antes e que nunca poderia passar pela cabea de ningum, e que nem os acontecimentos naturais nem as exploraes experimentais nem o acaso poderiam alguma vez produzir. "S da descoberta das formas, diz ele, nasce a contemplao verdadeira e a liberdade do operam (lb., 11, 3). Para entender o significado da forma necessrio uma observao preliminar. Bacon distingue em todos os fenmenos naturais dois aspectos diferentes: 1 o esquematismo latente (Iatens schematismus), isto , a estrutura ou a ordem intrnseca
dos corpos considerados estticamente; 2 o processo latente (latens processus ou processus ad formam), isto , o movimento intrnseco dos prprios corpos, que os conduz realizao da forma. De facto, ele distulgue (Ib., 11, 1) "o processo latente que em todas as geraes ou movimentos parte continuamente da causa eficiente e manifesta e da matria sensvel para a forma inata" e o 39 "esquematismo latente dos corpos quiescentes e no em movimento". E mais adiante considera o processo e o esquematismo em dois captulos separados, insistindo na conexo e na diversidade dos dois aspectos da natureza (Ib., 11, 6 e 7). Correspondentemente, distingue duas partes da fsica: a doutrina do esquematismo da matria e a doutrina dos apetites e dos movimentos (De augm., 111, 4). A primeira doutrina por ele comparada ao que a anatomia dos corpos orgnicos (Nov. org., 11, 7). Ora, a forma ao mesmo tempo o princpio do esquematismo e o princpio do processo: assim, ela conserva para Bacon uma duplicidade de significado que inerente duplicidade da funo que lhe atribui. deve ver na forma, por um lado, a estrutura que constitui essencialmente, e portanto individua e define, um determinado fenmeno natural; por outro lado, a lei que regula o movimento de gerao ou de produo do prprio fenmeno. "Indagar e descobrir a forma de um dado fenmeno natural (lb., 11, 1), isto , a diferena verdadeira ou a natureza naturante ou a fonte da emanao (so estes os vocbulos que exprimem melhor a coisa), tal o escopo e a inteno da cincia humana". Logo, evidente que a forma como diferena verdadeira constitui o princpio do esquematismo, isto , da ordem intrnseca das partes da matria, porque aquilo que individua a estrutura de uma realidade material; enquanto como natureza naturante ou fonte de
emanao a lei que regula o movimento de produo de um determinado fenmeno. E insiste ora num ora noutro significado do 40 termo forma. Por um lado, diz que "a forma tal que pode deduzir um dado fenmeno de uma qualquer essncia que inerente a vrios fenmenos. e mais geral do que o fenmeno dado" (Ib., 11, 4): chama forma " Minio verdadeira" do fenmeno (Ib., 11, 20) e descreve-a. como "a coisa mesma" na sua estrutura interna (Ib., 11, 13). Por outro lado, fala das leis fundamentais e comuns que constituem as formas" (Ib., 11, 17). E diz: "Se bem que na natureza no existam seno corpos individuais que produzam actos puros individuais segundo uma determinada lei, nas doutrinas essa mesma lei, a busca e a descoberta dela e o seu esclarecimento servem de fundamento quer ao saber quer ao operar. Esta lei, e os seus pargrafos, aquilo que ns designamos com o nome de forma, especialmente porque este vocbulo usado e se tornou familiar" (lb., 11, 2). Por vezes os dois significados so indicados ao mesmo tempo: "Quando falamos de formas no queremos indicar seno aquelas leis e aquelas determinaes do acto puro que ordenam e constituem qualquer simples fenmeno natural, como o calor, a luz, o peso, qualquer que seja a matria ou o substracto adaptado. Por isso a forma do calor ou a forma da luz a mesma coisa que a lei do calor ou a lei da luz" (lb., 11, 117). Assim se distinguem os dois significados fundamentais da forma, como lei do movimento e determinao do acto puro, isto , o esquematismo latente. No justo, por isso, exprobar a Bacon (como tantas vezes se tem feito) a ambiguidade do significado que ele atribui palavra forma. Na reali41
dade, este significado necessriamente duplo em virtude de uma distino que Bacon claramente estabeleceu e considerou. fundamental. Resta, porm, uma dvida: ser a doutrina da forma to original como o prprio Bacon a julgou e, sobretudo, distinguir-se- ela suficientemente da doutrina aristotlica? No h dvida de que Bacon contraps o seu conceito de forma ao do aristotelismo escolstico; mas a forma, tal como ele a concebeu, como princpio esttico e dinmico dos corpos fsicos, corresponde exactamente autntica forma de Aristteles: a substncia, como princpio do ser, do devir e da inteligibilidade de todas as coisas reais ( 73). Sem o querer e talvez sem o saber, Bacon reportou-se directamente ao genuno significado aristotlico, da forma substancial. onde, porm, se afasta de Aristteles na exigncia, tenazmente mantida, de que a forma seja sempre inteiramente resolvel em elementos naturais; isto , que a busca e a descoberta da forma no consiste em processos conceituais mas num processo experimental que chega, mediante o exame de cada caso, a determinar os elementos precisos e operantes da estrutura interna e do processo generativo de um dado fenmeno. Enxertou assim no tronco do aristotelismo a sua exigncia experimentalista. E isto explica a eficcia limitada e quase nula que a sua doutrina exerceu no desenvolvimento da cincia, a qual permaneceu inteiramente dominada pelas intuies metodolgicas de Leonardo, Kepler e Galileu, mas quase por completo ignorou O experimentalismo baconiano que de facto era para ela aproveitvel. O experimentalismo cientfico no 42 podia ser enxertado no tronco do aristotelismo; e a
teoria da nduo baconiana devia falir nossa tentativa. O experimentalismo cientfico havia j encontrado a sua lgica e com ela a sua capacidade de sistematizao. Esta lgica era, como se viu ( 391), a matemtica. significativo que a matemtica no encontre lugar na induo baconiana. Bacon preocupou-se, certo, em situar a matemtica na sua enciclopdia das cincias, agregandoa umas vezes metafsica (Advancement, 11, 82), outras vezes fsica (De augm., 111, 6, Nov. org., 1, 96); mas no atribuiu matemtica mesma nenhuma funo eficaz na investigao cientfica, e afirmou explicitamente que ela "est no termo da filosofia natural, mas no a deve gerar nem procriam (Nov. org., H, 96). Assim, ao mesmo tempo considera que a matemtica causa de corrupo da filosofia natural; e, alis, (De augm., 111, 4), diz que a astronomia foi includa entre as matemticas, no sem perda da sua dignidade (non sine dignitatis suae dispendio). Na realidade, o experimentalismo de Bacon mantm-se nos quadros da metafsica aristotlica, e no podia fornecer cincia um novo rgo de investigao. Alis, a cincia j encontrara (ou estava em vias de encontrar) o seu rgo, que precisamente a matemtica, e era por causa desse rgo que se desinteressava daquelas formas que Bacon considerava como termo ltimo da investi~ gao, e se dispunha a considerar nicamente a ordem mensurvel das coisas naturais, isto , as suas relaes matemticas. A grandeza de Bacon consiste sobretudo em ter reconhecido a estreita 43 conexo entre a cincia e o poder humano e em haver sido o profeta da tcnica, isto , da possibilidade de domnio que a investigao cientfica abre ao homem no mundo. NOTA BIBLIOGRFICA
388. Os manuscritos de Leonardo foram publicados com as reprodues fotogrficas por Ravisson-Mdllien, 6 vol. in fol., Paris, 1881-91; Codice atlantico, ed. Piumati, Milo, 1894-1903; 1 manoscritti e disegni di Leonardo da Vinci, publicados pela R. Comisso Vinciana, Roma, 1923 segs.-A mais rica de todas as seleces de RIGHTER, The Literary Works of Leonardo da Vinci Compiled and Edited from the Original manuscripts, 2 vol., Londres, 1883; 2.1 ed., 1939; Frammenti litterari e filosofici, se'eccionados pr E. Sdlmi, Florena, 1899.-Trattato della pittura, ed. 6udwig, Viena, 1882. Sobre os precedentes histricos das doutrinas de Leonardo: DUITEM; tudes sur L. de V., 3 val., Paris, 1906, 1908, 1913.-E. SOLM1; Leonardo, Florena 1900; CROCE, Leonardo filosofo, in Saggio, sullo Hegel, Bari, 1913; GENTILE, Leonardo, in Pe"ero del rinascimento, e. IV, Florena, 1940; 1d., Il pensiero di L., Florena, 1941. C. LuPORINi, Ta mente di L., Florena, 1953; E. GkRIN (Medioevo e renascimento, Ban, 1954, p. 311 segs.; La cultura filosofica del renascimento italiano, FIlorena, 1961, p. 388 segs.) combate, com razes vlidas, a tese de Duhem da dependncia de Leonardo para com Cusano, mostrando as conexes do pensamento de Leonardo com a cultura florentina do tempo. 389. O De revolutionibus de Coprnico foi publicado em Nuremberga, 1543; outras ed.: Basileia, 1566; Amsterdo, 1617; Varsvia, 1854; Thorn, 1991, 44 -- SCHIAPARELLI, I precursori di Copernico nell'antichit, Milo,
1873; NATORP; Die kosmolog. Reform des K. in ihrer Bedeutung fur d. Philos., in "Press. Jahr", 49.1, p. 355 segs. De Tycho Brahe: Opera omnia, Praga, 1611; Francoforte, 1648. De Kepler: Prodromus, Tubi-nga, 1596, 1621; Astronomia nova, Hedelberg, 1609; Harmonices mundi, Linz, 1619; Opera omnia, 8 vol., Francoforte, 1858-71.PRANTL nos "Atti dell'Accademia delle scienze di Monaco", olasse de histria, 1875. 390. A edi" nacional das obras de GaUleu (FlorenGa, 1890-1909) compreende 20 vi o 20., contm os ndices, o 11.1 os documentos, os vo,1s. 10.---18., a oorrespondncia. II saggiatore encontra-se no vol. 6.O; os Dialoghi sopra i due massimi sistemi encontram-se no 7.o vol.; os Dialoghi intorno a due nuove scienze no vol. 8., - So-bre a vida de Galficu, as numerosas investigaes de, A. FAVARO; BANFI, Vita di C. G., Milo, 1930. 391. FAVARO, G. G., Modena, 1910, GENTILE, TI pensiero dei rinascimento, Florena; L. OUCHIU, G. und seine Zeit, Halle, 1927; A. KOYR, tudes galiIennes, 3 vdl., Paris, 1939. A interpretao a que se faz referncia no texto, de um Galileu aparentado com Aristteles, devida precisamente a KOYR. Ver uma crtica muito equilibrada a esta interpretao: L. GEYMONAT, G. G., Turim, 1957. 392. Sobre a vida de Bacon: RMUSAT, Bacon, sa vie, son temps, sa phil. et son influence jusqu' nos jours, Paris, 1857; M. M. Rossi, Saggio su F. B., Npoles, 1935. A melhor ed. das obras de Bacon a de Ellis, Speliding e Hath, Works, 1857-59, em 5 vol.
-i2 boa ia precedente ed. de Bouillet, en 3 voL, Paris, 1834-35; Novuin org., ed. e com. de T. FowIer, Oxford, 1889; The Advancement of Learning, ao cuidado de 45 H. Morley, Londres, 1905, The New Atlantis, ao cuidado de G. C. Moore Smith, Cambridge, 1960. Como exemplo das frequentes desvalorizaes de que tem sido objsc,to a figura de Bacon, pode ver-se o escrito de L. VoN LIEBIG, Ueber F. B. und die Methode der Naturforschung, Mnaco, 1863; trad. frane., 1866 e 1877. 393. Sobre a doutrina de B.: K. -"SCHER, F. B, von V. Die Realphil.und ihre Zeitalter, Leipzig, 1853; 2,1 ed., 1875; HEUSSLER; F. B. und seine ge.-chichtliche Steilung, Breslan, 1889; LEVI, 11 pensiero di F. B., Turim, 1925; BROAD, The phil. of P. B., Cambridge, 1928; FAZIO ATLMAYER, Saggio su F. B., Pa:lermo, 1928; THEOBALD, F. B. Concealed and Revealed, Londres, 1930; M. M. ROSSI, Saggio su F. B., cit.; F. ANDERSON, The Phil. of. P. B., Chicago, 1948; B. FARRINGTON, F. B.: Philosopher of Industrial Science, Nova lorque, 1949, trad. ital. Turim, 1952; P. M. SCHUHL, La pense de B., Paris, 1949; PAOLO Rossi, F. B., Dalla. magia alla sci"za, Bari, 1957 (esta ltima obra destinada especialmente ilustrao das relaes entre o pensamento de Bacon e o pensamento escolstico e renascentista). 394. As vrias interpretaes da teoria das formas so expostas
e discutidas nas monogratias mais recentes; LEvi, op. cit., p. 243; ROSsi, op. cit., p. 195 segs. 46 QUINTA PARTE FILOSOFIA MODERNA DOS SCULOS XVII E XVIII 1 DESCARTES 395. DESCARTES: VIDA E ESCRITOS A personalidade de Descartes marca a decisiva viragem do Renascimento para a idade moderna, Os temas fundamentais da filosofia do Renascimento, o reconhecimento da subjectividade humana e a exigncia de aprofund-la e esclarec-la com um retorno a si mesma, o reconhecimento da relao do homem com o mundo e a exigncia de a resolver em favor do homem, tornam-se, na filosofia de Descartes, os termos de um novo problema em que so envolvidos a um tempo o homem como sujeito e o mundo objectivo. Ren Descartes nasceu a 31 de Maro de 1596 em Haia, na Touraine. Foi educado no colgio dos Jesutas em La nche, onde permaneceu de 1604 a 1612. Os estudos que fez neste perodo foram por 49 ele prprio submetidos a crtica na primeira parte do Discurso: eles
no bastaram para lhe dar uma orientao segura e revelaram-lhe a profunda vacuidade da cultura escolstica da poca. Descartes, contudo, manteve sempre relaes afectuosas com os seus mestres jesutas, e com um deles, o padre Marino Marsenne, correspondeuse e manteve relaes de amizade por toda a vida. A incerteza em que a primeira educao o havia deixado levou-o a viajar "para ler no grande livro do mundo". Em 1618 alistou-se nos exrcitos do prncipe de Nassau, que participou na Guerra dos Trinta Anos. Era um costume militar da poca deixar aos jovens ampla liberdade, e Descartes pde viajar a seu talante por toda a Europa, dedicando-se aos estudos de matemtica e de fSica e continuando a procurar o fundamento seguro de todo o saber humano. Em 1618 conheceu o mdico holands Isaac Beekman e desta amizade colheu novo incentivo para prosseguir as suas investigaes matemticas e fsicas. No ano seguinte, a 10 de Novembro, numa pequena cidade alem, teve a grande iluminao em que fez a sua descoberta fundamental. Foi uma verdadeira crise de entusiasmo, que induziu o filsofo a fazer o voto de ir em peregrinao ao santurio de Loreto. Em 1622 voltou a Frana e no ano seguinte viajou ainda pela Sua e pela Itlia. Em 1628 fixou a sua residncia na Holanda. Este era ento o pas da liberdade e da tolerncia filosfica e religiosa, e esse foi decerto o motivo principal que levou Descartes a instalar-se a, se bem que tambm pesasse na sua deliberao um outro motivo (que ele 50 explicitamente aduz), a saber: o de subtrair-se s obrigaes sociais que em Frana lhe tomavam muito tempo. Pde, assim, nesse pas gozar aquela solido isenta de isolamento que constituiu o ideal de toda a sua vida.
Desde 1619, ano da "iluminao", Descartes estava de posse da ideia central do seu mtodo. Mas s em 1628, provvelmente, comeou a pr em prtica a sua ideia num escrito e a redigir as regras do mtodo nas Regulae ad directionem ingetui que, no obstante, no chegou a publicar em vida: elas s foram dadas estampa alguns anos aps a sua morte. (1701). Na Holanda comeou a compor um tratado de metafsica que ser o prottipo das Meditaes; e em 1633 terminava o Tratado do Mundo, ao qual pretendia dar o ttulo menos ambicioso de Tratado da Luz. Mas enquanto se preparava para public-lo, teve notcia da condenao de Galileu de 22 de Junho de 1633. Como tambm ele aceitava, no seu tratado, a hiptese copernicana, renunciou desde logo sua publicao para evitar entrar em conflito aberto com a Igreja. A sua natureza cauta e prudente levou-o a ladear o obstculo. Tirou do tratado original algumas partes fundamentais e publicou em 1637 trs ensaios: A Diptrica, Os Meteoros e A Geometria, antepondo-lhes um prefcio que foi o Discurso sobre o Mtodo. Em seguida retomou o tratado de metafsica que esboara em 1629 e deu-lhe a redaco definitiva. Antes de public-lo, Descartes mandou-o ao padre Marsenne para que ele o sobmetesse ao parecer dos maiores filsofos e telogos da poca. Como 51 se dirigia aos doutos, a obra (diversamente do Discurso) era escrita em latim, foi publicada no ano seguinte (1641), seguida de uma srie de Objeces a que Descartes acrescentou as suas Respostas, com o ttulo Meditationes de prima philosophia in qua Dei existentia et animae immortalitas demonstranTur. Esta obra foi publicada em francs em 1641X A matria integral do Mundo foi depois reelaborada por Descartes numa nova obra em que compendiava. a sua filosofia, e que publicou em latim com o ttulo Principia
philosophiae. A obra composta de breves artigos seguindo -o modelo dos manuais escolares da poca, pois Descartes quis dedicla precisamente s escolas onde desejava v-la superar o ensino aristotlico, ainda dominante. Cinco anos depois, desgostoso com a hostilidade que a sua doutrina encontrava nos ambientes universitrio holandeses (o que havia provocado a sua Epistola ad Gisbertum Voetium, 1643), pensava em retirar-se para Frana, quando recebeu o convite da rainha Cristina da Sucia para se dirigir a Estocolmo a fim de a instruir na sua filosofia. Encorajado pelo seu amigo Chanut, embaixador de Frana junto da rainha, Descartes partiu para a Sucia, depois de ter mandado para o prelo o manuscrito da sua ltima obra As Paixes da Alma (1649). A rainha Cristina gostava de ter as suas conversaes com Descartes s cinco da manh; uma manh de Fevereiro de 1650, o filsofo, ao deixar a corte, apanhou uma pneumonia que, aps uma semana de delrio e de sofrimentos, lhe foi fatal. Os ltimos escritos do filsofo foram uma comdia 52 francesa (que se perdeu), e a letra de um balet, O nascimento da paz, destinado a celebrar o tratado de Westflia, cujo esprito se patenteia na seguinte quadra: Qui voit comme nous sommes fates Et pense que la guerre est belle Ou quelle vaut mieux que la paix Est estropi de cervelle 1 Aps a morte do filsofo, foram publicadas cartas ou escritos que ele deixara -inditos: Compendium musicae (1650); Tratado do Homem, primeiro em latim (1662) e depois em francs (1664); O Mundo ou Tratado da Luz (1664), Cartas (1657-67), entre as quais se destacam as dirigidas princesa Elisabeth do Palatinado, Regulae ad directionem ingenii (1701); Inquisitio veritatis per lumen
naturale (A investigao da verdade atravs da luz natural) (1701). 396. DESCARTES: A UNIDADE DA RAZO O problema que domina toda a especulao de Descartes o do homem Descartes. O procedimento de Descartes essencialmente autobiogrfico, mesmo quando (como nos Princpios) tem a pretenso de no-lo expor em forma objectiva e escolar. O seu 1 Quem v como o homem / E penm que boa a guerra / Ou que ela melhor que a paz / No regula bem da cabea. 53 p~ente e o seu exemplo Montaigne. "O meu escopo, diz Descartes (Disc., 1), no o de ensinar o mtodo que cada um deve seguir para bem conduzir a prpria razo, mas to-s fazer ver de que modo procurei conduzir a minha". Como Montaigne, Descartes no quis ensinar mas descrever-se a si mesmo e teve por isso de falar na primeira pessoa. O seu problema emerge da necessidade de orientao que ele sente ao sair da escola de La Flche, quando, embora tivesse assimilado brilhantemente o saber da sua poca, se d conta de que no est de posse de nenhum critrio seguro que lhe permita distinguir o verdadeiro do falso e que tudo o que aprendeu de pouco ou de nada lhe serve para a vida. O problema do homem Descartes e o problema da recta razo ou da bona mens (isto , da sabedoria da vida) so, na realidade, um s e mesmo problema. Descartes no procurou seno resolver o seu prprio problema; porm, a verdade que a soluo encontrada por ele no vale apenas para si mas para todos
os homens, porque a razo que constitui a substncia da subjectividade humana igual em todos os homens, uma vez que a diversidade entre as opinies deriva apenas dos diversos modos de conduzi-la e da diversidade dos objectos a que se aplica. Este principio da unidade d razo, que , por conseguinte, a substancial unidade dos homens na razo, foi a primeira grande iluminao de Descartes, a de 1619. Nas Regulae, que so, sem dvida, o primeiro escrito em que a iluminao 54 referida, o filsofo afirma claramente a unidade do saber humano, fundado na unidade da razo. "Todas as diversas cincias, diz ele, no so outra coisa seno a sabedoria humana, a qual permanece sempre una e idntica por muito que se aplique a diferentes objectos, e no recebe destes maior distino do que recebe a luz do sol da diversidade das coisas que ilumina "A nica sabedoria humana, a que todas as cincias se reportam, denominada por Descartes bona mens (Reg., 1) e , ao mesmo tempo, a sageza pela qual o homem se orienta na vida e a razo pela qual decide do verdadeiro e do falso.- um princpio simultaneamente terico e prtico, que a prpria substncia do homem. Esta substncia , como tal, nica o universal. "A faculdade de julgar bem e distinguir o vero do falso, que propriamente aquilo que se chama bom senso ou razo, , naturalmente, igual em todos os homens", diz Descartes no incio do Discurso. Esta universalidade da razo , sem dvida, a maior herana que Descartes recebeu da filosofia clssica e, em particular, do estoicismo. Mas, enquanto que para os Esticos a razo a Prpria substncia divina o o homem dela participa s na
medida em que Deus nele opera, para Descartes a razo uma faculdade especificamente humana a que Deus oferece apenas alguma garantia, subordinada de resto ao respeito de regras precisas. E, como faculdade humana, a razo no opera descobrindo ou manifestando a ordem divina no mundo, mas produzindo e estabelecendo a ordem nos conhe55 cimentos o nas aces dos homens. Descartes leva a efeito aquela mundanizao e humanizao da razo que a filosofia do Renascimento havia parcialmente iniciado. Porque para Descartes o primeiro fruto da razo a cincia, e, em particular, a matemtica, sobre a qual funda a descoberta do mtodo. A razo, todavia, no se identifica inteiramente com o seu mtodo, mas participa da prpria natureza dos elementos sobre que o mtodo se exerce: tais elementos so racionais s na--medida em que possuam clareza e evidncia. A clareza e evidncia dos elementos conhecidos (isto , das ideias) constituem a condio preliminar de todo o procedimento racional; e no por acaso que o reconhecimento desses caracteres prescrito pela primeira regra do mtodo. Porque Descartes nrivi;.2gia as matemticas que se servem apenas de semelhantes elementos, mas tal privilgio, tem, como sua contraparte negativa, a rejeio de uma quantidade de noes aproximativas, "perfeitas ou fantsticas que Descartes se recusa a tomar em considerao porque as considera insusceptveis de tratamento racional. O ideal da clareza e da distino, ou seja, o ideal da filosofia como cincia rigorosamente conceptual, um dos
ensinamentos cartesianos que mais poderosamente influram na tradio ocidental. Este ideal, alm disso, no constitua para Descartes um empobrecimento do horizonte da filosofia ou a sua reduo a uma tarefa puramente especulativa. Como Bacon, Descartes tinha em mira uma filosofia "no puramente especulativa mas tam56 bm prtica, pela qual o homem possa tornar-se dono e senhor da natureza". Esta filosofia deve pr disposio do homem dispositivos que lhe permitam gozar sem fadiga dos frutos da natureza e de outras comodidades, e visar conservao da sade, o primeiro bem paira o homem nesta vida. E Descartes francamente optimista sobre a possibilidade e sobre os resultados prticos de uma semelhante filosofia, que, segundo pensa, poderia conduzir os homens a ficarem isentos "de uma infinidade de doenas, tanto do corpo quanto do esprito, e talvez mesmo da decadncia da velhice" (Disc., VI). Por isso torna pblicos os resultados das suas investigaes: sabe que a sua vocao o chama ao servio da humanidade e que, das suas descobertas, a humanidade pode esperar o benefcio e o equilbrio da vida. Mas tais resultados so condicionados pela posse do mtodo. necessrio um mtodo que seja fundado na unidade e na simplicidade da razo humana e que, portanto, seja aplicvel a todos os domnios do saber e a todas as artes. A descoberta e a justificao deste mtodo o primeiro escopo da actividade especulativa de Descartes. 397. DESCARTES: O MTODO
Descartes descobriu o seu mtodo mediante a considerao do processo matemtico. "As longas cadeias de raciocnios to simples e fceis, de que os gemetras costumam servir-se para chegar s 57 V suas mais difceis demonstraes, proporcionaram-me o ensejo de imaginar que todas as coisas de que o homem pode ter conhecimento se seguem do mesmo modo e que, desde que se abstenha de aceitar por verdadeira uma coisa que no o seja e que respeite sempre a ordem necessria para deduzir uma coisa da outra, nada haver to distante que no se chegue a alcanar por fim nem to <)culto que no se possa descobrir (Disc., 11). As cincias matemticas encontram-se portanto j, praticamente, de posse do mtodo. Mas no se trata &penas de tomar conscincia deste mtodo, isto , de extra-lo das matemticas e de formul-lo em geral, (para o poder aplicar a todos os ramos do saber. Tal aplicao- no seria possvel se no se tivesse previamente justificado o valor universal do mtodo. Cumpre, por conseguinte, justificar o prprio mtodo e a possibilidade da sua aplicao universal, reportando-o ao seu fundamento ltimo, isto , subjectividade do homem, como pensamento ou razo. O facto de as matemticas estarem j de posse da prtica do mtodo facilitou decerto a tarefa de Descartes, mas tal tarefa s comea verdadeiramente com a justificao (ou fundao) das regras metdicas, justificao que s consente e autoriza a aplicao delas a todos'os domnios do saber humano. Descartes devia portanto: 1.'-formular as regras do mtodo tendo sobretudo presente o procedimento matempico no
qual elas estariam j presentes e em aco; 2.'-fundar mediante uma investigao cientfica o valor absoluto e universal do mtodo; 3.o - demonstrar a fecundidade do 58 mtodo nos vrios ramos do saber. Tal foi de facto a sua tarefa. Descartes define o mtodo como o conjunto de "regras certas e fceis que, por. quem quer que sejam exactamente observadas, lhe tornam impossvel tomar o falso pelo verdadeiro e, sem nenhum esforo mental intil, antes aumentando sempre gradualmente a cincia, conduziro ao conhecimento de tudo o que ele ser capaz de conhecer" (Reg. IV). O mtodo deve conduzir o homem, de um modo fcil e seguro, no s ao conhecimento verdadeiro, mas tambm "ao ponto mais alto" (Disc., 1) a que ele pode chegar, isto , simultaneamente ao domnio sobre o mundo e sabedoria da vida. Nas Regulae ad directionem ingenii,' Descartes expusera no s as regras fundamentais mas tambm as modalidades ou as particularidades da sua aplicao: tinha assim enumerado vinte e uma regras e depois interrompera, desencorajado, a sua obra. Na 11 parte do Discurso sobre o mtodo reduz a quatro as regras fundamentais. A primeira a da evidncia. "A primeira era a de jamais aceitar alguma coisa por verdadeira se no a reconhecssemos evidentemente como tal: ou seja, evitar diligentemente a participao e a preveno; e compreender nos meus juzos to-s o que se apresentasse to clara e distintamente ao meu
esprito que eu no tivesse nenhuma possibilidade de o pr em dvida". Descartes ope a evidncia conjectura, que aquilo cuja verdade no se apresenta ao esprito de modo imediato. O acto com que o esprito atinge a evidncia a intuio. Des59 cartes entende por intuio "no o flutuante testemunho dos sentidos ou o juzo falaz da imaginao nas suas erradas combinaes, mas um conceito da mente pura e atenta to fcil e distinto que nenhuma dvida permanea acerca do que pensamos; ou seja, -- precisamente o mesmo, um conceito no duvidoso da mente pura e atenta que nasce s da luz da razo e mais certo do que a prpria deduo" (Reg. III). A intuio , portanto, o acto puramente racional com o qual a mente colhe o seu prprio conceito e se torna transparente a si mesma. A clareza e a distino constituem os caracteres fundamentais de, uma ideia evidente: entendendo-se por clareza (Princ. phil., I,, 21 e 45) a presena e a abertura da ideia mente que a considera e por distino a separao de todas as outras ideias de modo que ela no contenha nada que pertena s outras., A evidncia define assim um acto fundamental do esprito humano, a intuioo que Descartes nas Regras coloca antes da deduo e a par dela, como os dois nicos actos do intelecto. A intuio o prprio acto da evidncia, o transparecer da mente a si mesma e a certeza inerente a este transparecer. Veremos que a busca metafsica de Descartes ser, fundamentalmente, uma justificao do acto intuitivo. A segunda regra a da anlise. "Dividdir cada uma das dificuldades a examinar no maior nmero de partes possveis e necessrias para melhor as resolver". Uma dificuldade um complexo de problemas em que o falso se mistura com o verdadeiro. A regra implica em primeiro lugar que um pro60
blema seja absolutamente determinado e, portanto, que seja libertado de qualquer complicao suprflua, e, em segundo lugar, que seja dividido em problemas mais simples que se possam considerar separadamente (Reg., 13). A terceira regra a da sntese. "Conduzir os meus pensamentos por ordem, comeando pelos objectos mais simples e mais fceis de se conhecer, para pouco a pouco me elevar, como por graus, at aos conhecimentos mais complexos,, supondo que haja uma ordem tambm entre-os objectos que no procedem naturalmente uns dos outros". Esta regra supe o procedimento ordenado que prprio da geometria e supe, outrossim, que todo o domnio do saber seja ordenado ou, ordenvel de modo anlogo. A ordem assim pressuposta , segundo Descartes, a ordem da deduo, que o outro acto fundamental do esprito humano. Na ordem dedutiva, esto primeiro as coisas que Descartes chama absolutas, isto , providas de uma natureza simples e, como tais, quase independentes das outras, so, ao invs, relativas as que, devem ser deduzidas das primeiras atravs de uma srie de raciocnios (Ib. 6). A exigncia da ordem dedutiva implica que, quando uma ordem semelhante no se encontre naturalmente, ela deva ser a seu tempo cogitada; assim, no caso de uma escrita em caracteres desconhecidos, que no revele nenhuma ordem, se comea por imaginar uma e p-la prova (Ib., 10). A regra da ordem para a deduo to necessria como a evidncia o para a intuio. 61 A quarta (regra da enumerao. "Fazer sempre enumeraes to completas e revises to gerais que se fique certo de no omitir
nenhuma". A enumerao controla a anlise, enquanto que a reviso controla a sntese. Esta regra prescreve a ordem e a continuidade do procedimento dedutivo e tende a reconduzir este procedimento evidncia intuitiva. De facto, o controle completo que a imaginao estabelece ao longo de toda a cadeia das dedues faz desta cadeia um todo completo e totalmente evidente (Ib., 7). Estas regras no tm em si mesmas a sua justificao. O facto de as matemticas se servirem delas com sucesso no constitui uma justificao, porque elas poderiam ter uma utilidade prtica para os fins da matemtica e serem, no obstante, destitudas de validade absoluta e por isso inaplicveis noutros domnios. Descartes deve, pois, elaborar uma pesquisa que as justifique remontando raiz delas; e essa raiz no pode ser seno o princpio nico e simples de toda a cincia e de toda a arte: a subjectividade racional ou pensante do homem. 398. DESCARTES: O COGITO Encontrar o fundamento de um mtodo que deve ser o guia seguro da investigao em todas as cincias s possvel, seguindo Descartes; mediante uma crtica radical de todo o saber. necessrio suspender, pelo menos uma vez, o assentimento a todo o conhecimento Comummente aceite, duvidar de tudo 62 e considerar provisoriamente como falso tudo o que seja susceptvel de ser posto em dvida. Se, persistindo nesta atitude de crtica radical, se chegar a um princpio sobre o qual no seja
possvel a dvida, esse principio dever ser considerado extremamente slido e tal que possa servir de fundamento a todos os outros conhecimentos. Em tal princpio se encontrar a justificao do mtodo. A dvida cartesiana implica dois momentos distintos: 1 reconhecimento do carcter incerto e problemtico dos conhecimentos sobre os quais recai; 2.'-a deciso de suspender o assentimento a tais conhecimentos e de consider-los provisoriamente falsos. O primeiro momento de carcter terico, o segundo de carcter prtico e implica um acto livre da vontade doutrina cartesiana do livre-arbtrio est j 4nplcita neste segundo momento ( 401). Evidentemente, a suspenso do juizo ou epoch (segundo o termo dos antigos cpticos), se abole todo o juzo que afirme ou negue a verdade de uma ideia, no abole todavia as prprias ideias. Ela diz respeito existncia, no essncia, das coisas. Recusar-se a afirmar a realidade dos objectos sensveis no significa negar as ideias sensveis de tais objectos. A epoch suspende a afirmao da realidade das ideias enquanto possudas pelo homem, mas reconhece essas ideias corno puras ideias ou essncias. O que implica uma indicao precisa do sentido em que se move o processo da dvida., Este processo ser bem sucedido se, reduzido mediante a epoch o mundo da conscincia a um mundo de puras ideias ou essncias, se encontrar uma ideia 63 ou essncia que seja a imediata. revelao de, uma existncia. E tal ser o caso do eu. 1 Ora, Descartes afirma que nenhum grau ou forma de conhecimento se subtrai dvida. Pode-se, por isso se deve,
duvidar dos conhecimentos sensveis, seja Porque os sentidos algumas v= nos enganam, embora nem sempre nos enganem, seja porque no sonho se tm- conhecimentos semelhantes aos da viglia sem que se possa encontrar um critrio seguro de distino entre uns e outros. bem certo haver conhecimentos verdadeiros quer no sonho, quer na viglia, como os conhecimentos matemticos (dois mais trs so sempre cinco, quer se esteja a dormir ou acordado), mas nem mesmo estes se subtraem dvida, porque tambm a certeza relativa a eles pode ser ilusria. Enquanto nada de certo se souber acerca de ns prprios e da nossa origem, pode-se sempre supor que o homem foi criado por um gnio mau ou por uma potncia maligna que se, tenha proposto engan-lo fornecendo-lhe conhecimentos aparentemente certos mas desprovidos de verdade. Basta fazer uma tal hiptese (e pode-se faz-la, dado que no se sabe nada) para que mesmo os, conhecimentos subjectivamente mais certos se revelem duvidosos e capazes de esconder o engano. Assim, a dvida se estende a todas as coisas e se torna absolutamente universal. Porm, mesmo no carcter radical desta dvida se apresenta o princpio de uma primeira certeza. Eu posso admitir que me engano ou que estou enganado de todo em todo. Posso supor que no h Deus, nem o cu, nem os corpos, e que eu 64 DESCARTES
prprio no tenho coipo. Mas para que me engane ou para que seja enganado, para duvidar e para i WL41 9 eu que penso seja qualquer coisa e no nada. A proposio penso, logo existo a nica absolutamente verdadeira porque a prpria dvida a confirma. Toda a dvida, suposio ou engano, pressupor sempre que eu que duvido, suponho ou me engano, exista?(A afirmao existo ser portanto verdadeira todas as vezes que a concebo no meu esprito. Ora, esta proposio contm tambm, evidentemente, uma certa indicao acerca do que sou eu que existo. No posso dizer que existo como corpo, j que nada sei da existncia dos corpos, a respeito dos quais a minha, dvida permanece. Eu s existo como uma coisa que duvida, isto , que pensa. A certeza do meu existir liga-se apenas ao meu pensamento e s suas determinaes: o duvidar, * compreender, o conceber, o afirmar, o negar, * querer, o no querer, o imaginar, o sentir e, em geral, a tudo quanto existe em mim e de que sou imediatamente consciente (H Resp., Def. 1). As coisas pensadas, imaginadas, sentidas, etc. podem no ser reais; mas real decerto o meu pensar, sentir, etc. A proposio eu existo significa apenas eu sou uma coisa .pensante, isto , esprito, intelecto, razo. A minha existncia de sujeito pensante certa como o no a existncia de nenhuma das coisas que penso. Pode ser que aquilo que eu percepciono (por exemplo, um
pedao de cera) no exista; mas impossvel que no exista eu que penso que percepciono esse objecto. Sobre esta certeza * 65 originria, que ao mesmo tempo uma verdade necessria, deve fundar-se todo e qualquer outro conhecimento. Sobre tal certeza assegura Descartes poder fundar em primeiro lugar a validez da regra de evidncia. "Tendo notado, &z ele (Disc., IV; d. Med. 111) que no h nada nesta afirmao: eu penso, logo existo, que me assegure que eu diga a verdade, seno que vejo clarissimamente que para pensar necessrio existir, julguei poder tomar por regra geral que as coisas que concebemos de um modo claro e distinto so todas verdadeiras". Porm, j a alguns contemporneos de Descartes (por exemplo, HUET, Cens. phil cartes, H, 1) esta relao entre o cogito e a regra da evidncia se apresentara problemtica. Se o princpio do cogito aceite porque evidente, a regra da evidncia anterior ao prprio cogito como fundamento da sua validade: e a pretenso de justific-la em virtude do cogito torna-se ilusria. Mas o cogito e a evidncia sero verdadeiramente dois princpios diversos entre os quais seja necessrio estabelecer a prioridade? Ser o cogito apenas uma entre as variadssimas evidncias que a regra da evidncia garante serem verdadeiras? Na realidade, o cogito no uma evidncia mas antes a evidncia no seu fundamento metafsico: a evidncia de que a existncia do sujeito pensante tem por si mesma, a transparncia absoluta que a existncia humana, como esprito ou razo, possui no seu prprio mbito. A evidncia do cogito urna relao intrnseca ao ou e pelo
qual o ou se liga imediatamente prpria existncia. Esta relao 66 no recebe a sua validez de nenhuma regra mas tem o princpio e a garantia da sua existncia unicamente em si mesma. A regra da evidncia, provisoriamente deduzida da considerao das matemticas, nela encontra a sua ltima raiz e a sua justificao absoluta; torna-se assim verdadeiramente universal e susceptvel de ser aplicada em todos os casos. Diz de facto Descartes, respondendo a uma objeco anloga (Lett. Clercelier, Junho-Julho 1646, Oeuvr., IV, 443): "A palavra porincpio pode-se tornar em diversos sentidos: uma coisa procurar uma noo comum que seja to clara e geral que possa servir como princpio para provar a existncia de todos os seres, os entia, que se conhecero depois; outra coisa procurar um ser, a existncia do qual nos seja mais conhecida do que a dos outros de modo que possa servir como princpio para os conhecimentos. Isto permite responder outra questo (tambm ela tradicional na crtica cartesiana), se o cogito ou no um raciocnio. Em tal caso, suporia uma premissa maior: "tudo o que pensa existe" o (como Gassendi observava) no seria um primeiro princpio. O prprio Descartes afirmou decididamente contra os seus crticos o carcter imediato e intuitivo do cogito. E, na realidade, a identidade entre a evidncia (no seu princpio) e o cogito'
estabelece tambm a identidade entre o cogito e a intuio, que o acto da evidncia. Se a inteno, como se viu ( 397), o acto com que a mente se torna transparente a si mesma, a intuio primeira e fundamental aquela com que se toma transparente 67 a si mesma a existncia da mente, ou seja, do sujeito pensante. O cogito, como evidncia existencial originria a intuio existencial originria do sujeito pensante. O sujeito pensante, definido pela auto-evidncia existencial , segundo Descartes, uma substncia (Disc., IV; Resp., II def. 5; Resp., III). Descartes aceita aparentemente a noo escolstica de substncia e por ela entende o sujeito imediato de qualquer atributo de que tenhamos uma ideia real. Mas, na realidade, tal noo sofre nele uma metamorfose radical. A substncia pensante no outra coisa seno o pensamento existente. A substancialidade do ou no implica o reconhecimento de um qualquer seu desconhecido subjectum, mas apenas exprime a intrnseca relao pela qual o eu evidncia da sua prpria existncia. De modo anlogo, o carcter substancial da extenso (a que se reduz a corporeidade das coisas) significar apenas a objectividade da extenso relativa aos outros caracteres dos corpos, mas excluir todo o substracto recndito. A substncia pensante no seno o pensamento, enquanto existncia evidente a si mesma. A aparente aceitao por parte de Descartes do termo aristotlico-escolstico de substncia , na realidade, uma nova definio do prprio termo, cujo significado se exaure na intrnseca relao existencial do eu. As consideraes precedentes permitem estabelecer a
originalidade do princpio cartesiano do cogito. Descartes indubitavelmente repetiu (se conscientemente ou no impossvel diz-lo) um movimento 68 de pensamento que remonta a S.to , Agostinho ( 160), que de Santo Agostinho o passou para a Escolstica, e foi retomado e renovado por Campanella quase ao mesmo tempo que por Descartes ( 385). Mas no h dvida de que, como o prprio Descartes afirmou (Resp., IV), S.to Agostinho se servira do cogito para fins bastante diversos dos dele. Ele visava ao reconhecimento da presena transcendente de Deus no homem, e na tradio medieval o cogito agustiniano conserva o mesmo valor. Quanto a Campanella, viu-se que o principio vale para ele unicamente como fundamento de uma teoria naturalstica da sensao. Mas o que torna evidente a separao radical que existe entre os precedentes histricos do cogito cartesiano e o prprio cogito que neste falta o carcter problemtico que merc do cogito vem a assumir toda a realidade diversa do eu. pela primeira vez, Descartes fez valer o cogito como relao do eu consigo mesmo, portanto como principio que torna problemtica qualquer outra realidade e que ao mesmo tempo permite justific4a. S Descartes compreendeu o pleno valor do cogito em todas as suas implicaes e o utilizou como principio nico e simples para uma reconstruo metafsica que tem como seu ponto de partida a problematicidade do real. 399. DESCARTES: DEUS O principio do cogito no encerra o homem na interioridade do seu eu. um principio de abertura ao mundo, a uma realidade que est para alm do
69 eu. Certamente, base dele, ou s estou seguro da minha existncia; mas a minha existncia a de um ser pensante, isto , de um ser que tem ideias. O uso do termo ideia para indicar qualquer objecto do pensamento em geral uma novidade terminolgica de Descartes. Para os escolsticos ideia era a essncia ou arqutipo das coisas subsistentes na mente de Deus (o universal ante rm). Descartes definiu a ideia como "a forma de um pensamento, pela imediata **pe~o da qual sou consciente de tal pensamento" (Resp., II, def. 2). Isto significa que a ideia exprime esse carcter fundamental do pensamento pelo qual ele imediatamente consciente de si mesmo. Qualquer ideia tem, em primeiro lugar, uma realidade como acto do pensamento, e tal realidade puramente subjectiva ou mental. Mas, em segundo lugar, tem tambm uma realidade a que Descartes chama escolsticamente objectiva, porquanto representa um objecto; neste sentido, as ideias so "quadros" ou imagens" das coisas. Ora o cogito torna-me seguro de que as ideias existem no meu pensamento como actos do prprio pensamento, j que fazem parte de mim como sujeito pensante. Mas no me tornam seguro do valor real do contedo objectivo delas, isto , no me diz se os objectos que elas representam existem, ou no na realidade. Ideias so para mim a terra, o cu, os astros e todas as coisas percebidas pelos sentidos: como ideias, existem no meu esprito. Mas existem realmente as coisas correspondentes fora do meu
pensamento? Este o problema ulterior que se apresenta investigao cartesiana. Descartes divide 70 em trs categorias todas as ideias: as que me parece haverem nascido em mim (inatas); as que me parecem estranhas ou vindas do exterior (adventcias); e as formadas ou encontradas por mim prprio (factcias). primeira classe de ideias pertence, a capacidade de pensar e de compreender as essncias verdadeiras, imutveis e eternas das coisas; segunda classe pertencem as ideias das coisas naturais; terceira, as ideias das coisas quimricas ou .inventadas (Med., 111, Lett. Mersenne, 16 de Junho de 1641, Oeuvr., 111, 383). Ora, entre todas estas ideias no h nenhuma diferena' se as considerarmos do ponto de vista da sua verdade subjectiva, isto , como actos mentais; mas se se consideram do ponto de vista da sua realidade objectiva, isto , das coisas que representam ou de que no so imagens, so diferentssimas umas das outras. Deste ponto de vista, podem ser examinadas para se descobrir a causa que as produz. Ora, as ideias que representam outros homens ou coisas naturais nada contm de to perfeito que no possa ter sido produzido por mim. Mas no que se refere ideia de Deus, isto , de uma substncia infinita, eterna, omnisciente. omnipotente e criadora, difcil supor que possa eu prprio t-la. criado. A ideia de Deus a nica ideia em que h alguma coisa que no poderia vir de mim prprio, na medida em que eu
no possuo nenhuma das perfeies que esto representadas nessa ideia. Descartes afirma, em geral, que a causa de uma ideia deve sempre ter pelo menos tanta perfeio quanto a que a ideia representa. Por isso a causa da ideia de uma substncia 71 infinita s pode ser uma **sub~ia infinita. e a simples presena em mim da ideia de Deus demonstra a existncia de Deus. Esta demonstrao cartesiana modela-se decerto **jiclas demonstraes escolsticas fundadas sobre o princpio de causalidade; mas, ao contrrio delas, no parte das coisas sensveis para chegar, atravs da impossibilidade de remontar ao infinito, causa primeira; mas parte, sim, da simples ideia de Deus e ascende imediatamente do seu contedo representativo sua causa. A prova , assim, unicamente fundada sobre a natureza que Descartes atribui s ideias e tpica do cartesianismo. Em segundo lugar, posso chegar a reconhecer a existncia de Deus, merc da mesma considerao da finitude do meu eu. Eu sou finito e imperfeito, como demonstrado pelo facto de que duvido. Mas se eu fosse a causa de mim mesmo, teria concedido a mim prprio as perfeies que concebo e que esto precisamente contidas na ideia de Deus. , pois, evidente que no fui criado por mim e que devo ter sido criado por um ser que possui todas as perfeies de que eu tenho a simples ideia. Tambm o ponto de partida desta segunda prova a presena no homem da ideia de Deus; alm disso, esta segunda prova fundada sobre o reconhecimento da prpria finitude por parte do homem. Descartes estabelece uma estreita conexo entre a natureza finita do homem e a ideia de Deus. "Quando reflicto
sobre mim, diz ele (Med., IU), no somente sei que sou uma coisa imperfeita, incompleta e dependente de outro, que tende e aspira sem descanso 72 a algo de melhor e de superior, mas sei tambm ao mesmo tempo que Aquele de que dependo possui em si todas as grandes coisas a que aspiro e de que encontro em mim as ideias, e as possui no indefinidamente em potncia, mas na realidade, actualmente e infinitamente, e que por isso Deus". No seria possvel que a minha natureza fosse tal qual , isto , finita mas dotada da ideia do infinito, se o ser infinito no existisse. A ideia de Deus , pois, "como a marca do artfice impressa na sua obra e nem sequer necessrio que tal marca seja alguma coisa de diferente d prpria obra". Por outros termos, a prpria finitude constitutiva do homem implica a relao causal do homem com Deus, relao de que a ideia de Deus a expresso e a revelao imediata. Ambas as provas que acabamos de expor assumem como ponto de partida a ideia de Deus. Mas j a Escolstica havia fornecido uma prova que pretendia ir da simples ideia de Deus existncia de Deus: a prova de Santo Anselmo de Aosta ( 192). Tal prova cabia perfeitamente na lgica do procedimento de Descartes. E Descartes f-la sua, apresentando-a provida da mesma necessidade que uma demonstrao matemtica. Como no possvel conceber um tringulo que no tenha os ngulos internos iguais a dois rectos, assim no possvel conceber Deus no existente. O ser soberanamente perfeito no pode ser pensado privado daquela
perfeio que a existncia: a existncia pertence-lhe, pois, com a mesma necessidade com que uma propriedade do tringulo pertence ao 73 tringulo. evidente que esta prova diferencia-se das duas precedentes porque considera a ideia de Deus, no em relao ao homem e sua finitude, mas em si mesma, o enquanto essncia de Deus. E sobre esta essncia versam os esclarecimentos que Descartes deu sobre, a prova (Resp., 1). A necessidade da existncia de Deus deriva da superabundncia de ser que prpria da sua essncia. Atravs desta superabundncia pe-se Deus a si mesmo na existncia comportando-se de algum modo para consigo como uma causa eficiente. Conquanto no haja em Deus distino entre a existncia e a causa eficiente (que seria absurda), a causalidade eficiente torna de algum modo inteligvel a necessidade da sua existncia. Deus existe em virtude da sua prpria essncia, pela superabundncia de ser, por consequncia da perfeio, que o constitui. Como as provas da existncia de Deus tm todas como ponto de partida comum a ideia de E0eus, constituem a simples; explicao da natureza finita do homem. No acto de duvidar e de se reconhecer imperfeito, reporta-se o homem necessariamente ideia da perfeio e da causa dessa ideia, que Deus. A afirmao de Descartes de que a ideia de Deus como a marca que o artfice imprime na sua obra e que no necessrio que tal marca seja algo de diverso da prpria obra significa precisamente que a pesquisa mediante a qual o homem chega certeza de si idntica investigao mediante a qual o homem atinge a certeza de Deus. Uma vez reconhecida a existncia de Deus, o
critrio da evidncia encontra a sua ltima garantia. 74 Deus, pela sua perfeio, no pode enganar-me: a faculdade de juzo que dele **rweb no pode ser tal que me induza em erro, se for aplicada correctamente. Tal considerao tira todas as possibilidades de dvida sobre todos os conhecimentos que se apresentem ao homem como evidentes. A possibilidade de dvida permanece, ao invs, para o ateu; pois que, quanto menos poderoso for aquele que ele reconhea como autor do seu ser, tanto mais poder supor que a sua natureza seja to imperfeita que o engane mesmo nas coisas que lhe paream mais evidentes. O ateu no poder, pois, alcanar a cincia, isto , o conhecimento certo e seguro, se no reconhecer ter sido criado por um verdadeiro Deus, princpio de toda a verdade, que no pode ser enganador (Resp., VI, 4).)@Assim, a primeira e fundamental funo que Descartes atribui a Deus a de ser o princpio e o garante de toda a verdade. E, na realidade, o conceito cartesiano de Deus desprovido de todo o carcter religioso. Como notar Pascal (Penses, 556), o Deus de Descartes no tem nada a ver com o Deus de Abrao, de Isaac, de Jacob, com o Deus Cristo; , simplesmente, o autor das verdades geomtricas e da ordem do mundo. Assim se poderia esperar que um Deus invocado como garante das verdades evidentes estivesse de algum modo vinculado a estas verdades; e que elas fossem reconhecidas por Descartes como sendo independentes de Deus. Mas a doutrina cartesiana sobre este ponto precisamente o contrrio. As chamadas verdades eternas que exprimem a
essncia imutvel das coisas no so de modo algum 75 independentes da vontade de Deus: foi Deus que as criou, como criou todas as outras criaturas. Disse Descartes: "Perguntais quem obrigou Deus a criar tais verdades; e ou digo que ele foi livre para fazer que no fosse verdade que todas as linhas que partem do centro para a circunferncia fossem iguais como foi livre para no criar o inundo. E certo que estas verdades no esto ligadas sua essncia mais necessariamente do que outras criaturas" (Leares Mersennes de 27 de Maio de 1630. Cf. tambm as cartas ao mesmo Mersennes de 15 de Abril e de 6 de Mao de 1630). Esta doutrina liga-se estreitamente, por muito que parea paradoxal, ao ncleo contra do cartesianismo. As verdades eternas poderiam ser independentes de Deus se fossem para ele prprio necessrias; e poderiam para ele ser tais que fizessem parte da necessidade da sua natureza. Mas em tal caso a razo que nelas se manifesta seria a Prpria razo divina; e a razo humana e divina coincidiriam, segundo o velho conceito do estoicismo. Descartes afirma, ao invs, que a razo uma faculdade especificamente humana; v em Deus antes uma potncia inexaurvel, isto , uma infinidade de entendimento; reconhece-lhe, no entanto, a mais ampla faculdade de arbtrio mas ao mesmo tempo confia s ao homem a responsabilidade e a razo como gula. Como a reduo das verdades eternas a decretos de Deus no mais que a transcrio teolgica do postulado da sua imutabilidade, tal transcrio evita a identificao da razo humana com Deus.
76 400. DESCARTES: O MUNDO Com a demonstrao da existncia de Deus e do seu atributo de veracidade, as regras do mtodo encontraram a sua confirmao definitiva. Descartes pode, passar terceira parte da sua tarefa que a de demonstrar a sua fecundidade no domnio do saber cientfico. E, em primeiro lugar, a regra de evidncia, agora plenamente justificada e garantida, permite eliminar a dvida que havia sido levantada em princpio sobre a realidade das coisas materiais. De facto, eu no posso duvidar de que h em mim uma certa faculdade passiva de sentir, isto , de receber e de reconhecer as ideias das coisas sensveis. Mas ela ser-me-ia intil se no houvesse em mim ou noutros uma faculdade activa capaz de formar ou produzir as prpria ideias. Ora, esta faculdade activa no pode existir em mim, porque eu sou apenas uma substncia pensante, e ela no pressupe de modo algum o meu pensamento, j que as ideias que ela produz me so amide representadas sem que eu para isso contribua, antes contra a minha prpria vontade. Da que tenha, necessariamente, de pertencer a uma substncia diversa, a qual s pode ser ou um corpo, isto , uma outra natureza corprea na qual esteja contido realmente aquilo que nas ideias est contido representativamente, ou ento o prprio Deus, ou enfim alguma outra criatura mais nobre do que o corpo. Mas evidente que Deus, no sendo enganador, no me envia essas ideias **im"tamente, nem sequer por 77 meio de qualquer criatura que no as contenha realmente. Ele infundiu-me uma forte inclinao para crer que elas me so enviadas
por coisas corpreas, e por isso enganar-me-ia se elas fossem produzidas por outro. Cumpre reconhecer que h uma substncia pensante que sou eu prprio: substncia divisvel, precisamente porque extensa, ao passo que o esprito indivisvel e no tem partos. A substncia extensa no possui todavia todas as qualidades que ns percepcionamos. A grandeza, a figura, o movimento, a situao, a durao, o nmero, so decerto as suas qualidades prprias; mas a cor, o cheiro, o sabor, o sono, etc., no existem como tais na realidade corprea e correspondem nesta realidade a alguma coisa que ns no conhecemos. Descartes estabelece, elo tambm, a distino entre qualidades objectivas e subjectivas, j estabelecida por Galileu. Pelo mesmo motivo, isto , em virtude da veracidade divina, devo admitir que tenho um corpo, que s-1 sente mal disposto quando tenho dores, que tem necessidade de comer quando tenho as sensaes da fome, da sede, etc. Tais sensaes demonstram que ou no estou alojado no meu corpo como um piloto no seu navio, mas que lhe estou to estreitamente ligado que formo um s todo com ele. Sem esta unio eu no poderia perceber o prazer ou a dor que me advm de tudo o que acontece no corpo, mas conheceria as sensaes de prazer ou de dor, de fome, de sede, etc., com o puro intelecto, como coisas que no concernem ao meu ser. Tais sensaes so, na realidade, "modos con78 fusos de pensar" que provm da prpria unio do esprito com o corpo (Med., VI). Alm disso, esta unio pressupe uma distino real entre o esprito e o corpo, na medida em que posso pensar existir como pura substncia espiritual sem admitir em
mim nenhuma parte, ou elemento de outra natureza; e, por outro lado, devo reconhecer no corpo caracteres (como a divisibilidade) que a substncia espiritual recusa. Este dualismo substancial da alma e do corpo tem sido frequentemente considerado como um dos aspectos mais deficientes da filosofia cartesiana. Na realidade, o que h de novo em tal filosofia o reconhecimento da substancialidade do corpo, o qual, na concepo tradicional (aristotlica) era considerado no como substncia mas como rgo ou instrumento da substncia alma, ou como dotado (segundo o agustianismo medieval, 307) de uma substancialidade parcial ou imperfeita. Reconhecer que o corpo substncia, significa, em primeiro lugar, para Descartes tornar possvel a considerao e o estudo do corpo como tal, isto , sem referncia alma ou aos seus poderes: de modo que esse reconhecimento aparece a Descartes como a primeira condio para o estudo cientfico do corpo humano e em tal sentido influi no desenvolvimento dos estudos biolgicos. De qualquer modo, seja corno corpo humano, seja como corpo natural, a substncia corprea tem, segundo Descartes, um nico carcter fundamental, isto , a extenso. A matria pode ser concebida como sendo privada de todas as qualidades que lhe 79 possamos atribuir (peso, cor, etc), mas no como sendo privada da extenso em comprimento, largura e profundidade: este , pois, o seu atributo fundamental (Princ. phil., 11, 4). O conceito do espao
geomtrico identifica-se com a extenso; fruto da abstraco pela qual se eliminam dos corpos todas as suas propriedades reduzindo-as ao seu atributo fundamental (Ib., II, II). A reduo cartesiana da corporeidade extenso o fundamento do rigoroso mecanismo que domina toda a fsica cartesiana. Todas as propriedades da matria reduzem-se sua divisibilidade em partes o mobilidade dessas partes (lb.,, 11, 23). O movimento das partes extensas deve ser, portanto o nico princpio de explicao de todos os fenmenos da natureza. Descartes afirma que a causa prima do movimento o prprio 'Deus, que ao princpio criou a matria com uma determinada quantidade de repouso e de movimento, e que em seguida mantm em si, imutvel, esta quantidade. Deus, de facto, imutvel, no s em si mesmo, mas tambm em todas as suas operaes, visto que, exceptuadas aquelas mutaes reveladas pela experincia, que no supem nenhuma mutao nos d~ de Deus, no devemos supor qualquer outra variao nas suas obras (Ib., 11, 36). Deste princpio da imutabilidade divina Descartes tira as leis fundamentais da sua fsica. Da imutabilidade divina segue-se de facto como primeira lei da natureza o princpio de inrcia: todas as coisas, enquanto simples e indivisas, perseveram sempre no mesmo estado o s podem ser mudadas por uma causa externa (Ib., 80 11, 37). A segunda lei, tambm ela derivada da imutabilidade divina, a de que todas as coisas tendem a mover-se em linha recta (Ib., 11, 39). A terceira lei o princpio da conservao do movimento, graas qual, no choque dos corpos entre si, o movimento no se perde, mantendo-se a sua quantidade constante. (Ib., 11, 40).
Bastam estas trs leis, segundo Descartes, para explicar todos os fenmenos da natureza e a estrutura de todo o - universo, o qual uma maquina gigantesca, de que se exclui qualquer fora animada ou qualquer causa final. Tal como Bacon, Descartes acha legtimo considerar o finalismo da natureza no domnio da tica, mas assegura ser tal considerao "ridcula e estpida", na fsica, "uma, vez que, segundo diz (Ib., 111, 3), no duvidamos que existam, ou existissem durante um tempo e tenham j deixado de existir muitas coisas que nunca foram vistas ou compreendidas pelos homens, e que por isso no lhes foram de qualquer utilidade". por isso um simples acto de soberba imaginar que tudo tenha sido criado por Deus para exclusivo benefcio do homem. Pela nica aco destas trs leis, Descartes afirma poder explicar como se formou a ordem actual do mundo a partir do caos. A matria primitiva era composta de partculas iguais em grandeza e em movimento; estas partculas moviam-se quer em torno do prprio centro quer umas, em relao s outras, de modo a formarem turbilhes fluidos que, compondo-se de modos vrios entre si, deram origem ao sistema solar e depois terra. 81 No s o universo fsico mas tambm as plantas e os animais e o prprio corpo litiniano so mquinas. Para explicar a vida dos corpos orgnicos no h necessidade de admitir uma alma vegetativa (Nu sensitiva, mas avenas. as prprias foras mecnicas que actuam no resto do universo. Descartes v uma confirmao do carcter puramente mecnico do organismo humano na circulao do sangue, que atribui maior quantidade de calor que existe no corao (Disc., V). A circulao havia j sido estudada e descrita por Harvey 1628) que indicara como sua causa a contraco e distenso do msculo cardaco. Mas Descartes cr
(erradamente) corrigir a explicao de Harvey, porque, segundo diz "supondo que o corao se move do modo com,) Harvey descreve, preciso imaginar alguma faculdade que produza esse movimento, a natureza da qual muito mais difcil de conceber-se do que tudo o que se pretende explicar com ela" (Description du corps humain, 18; Oeuvr., XI, 243). 401. DESCARTES: O HOMEM A presena da alma racional estabelece a diferena radical entre o homem e os animais. A unio entre a alma e o corpo, que torna possvel a aco reciproca de um sobre outro, ocorre no crebro e precisamente na glndula pineal que a nica parte do crebro que no dupla e pode por isso unificar as sensaes que vm dos rgos dos sentidos, que so todos duplos (Paixes, 1, 32). No 82 bratado Les passions de 1'me, Descartes distingue na alma aces e afeces: as aces dependem da vontade, as afeces so involuntrias e so constitudas por percepes, sentimentos ou emoes causadas pelos espritos vitais, isto , pelas foras mecnicas que actuam no corpo (lb., 1, 27). Evidentemente, a fora da alma consiste em vencer as emoes e deter os movimentos do corpo que as acompanham, enquanto que a sua debilidade consiste em deixar-se dominar pelas emoes, que sendo amide contrrias entre si, solicitam a alma para aqui e para ali, levando-a a combater contra si mesma e reduzindo-a ao estado mais deplorvel. Isto, alis, no quer dizer que as emoes sejam essencialmente nocivas. Elas relacionam-se todas com o corpo e so dadas alma enquanto esta
est ligada quele, de modo que tm a funo natural de incitar a alma a consentir e a participar nas aces que servem para conservar o corpo e torn-lo mais perfeito. Neste sentido, a tristeza e a alegria so as emoes fundamentais. Pela primeira, de facto, a alma advertida das coisas que prejudicam o corpo e assim experimenta dio por o que lhe causa tristeza e o desejo de se libertar disso. Pela alegria, ao invs, a alma advertida das coisas teis ao corpo e assim experimenta amor por elas e desejo de conquist-las e conserv-las (Ib., 11, 137). s emoes est ligado, todavia, um estado de servido de que o homem deve tender a libertar-se. Elas fazem quase sempre com que o bem e o mal se representem muito maiores e importantes do que so realmente, mas induzem a fugir de um e a 83 procurar o outro com mais ardor do que conviria (lb., 11, 138). O homem deve deixar-se guiar, tanto quanto possvel, no por elas, mas pela experincia e pela razo, e s assim poder distinguir, no seu justo valor, o bem do mal, e evitar os excessos. neste domnio das emoes que consiste a sabedoria, a qual se obtm estendendo o domnio do pensamento claro e distinto e separando, tanto quanto possvel, este domnio dos movimentos do sangue e dos espritos vitais, dos quais dependem as emoes e aos quais habitualmente est ligado (Ib., 111, 211). este progressivo domnio da razo, o qual restitui ao homem o uso total do livre arbtrio e o torna senhor da sua vontade, que constitui o trao Saliente da moral cartesiana. Na terceira parte do
Discurso sobre o Mtodo, antes de principiar pela dvida a anlise metafsica, Descartes estabelecera algumas regras de moral provisria, destinadas a evitar que "ele permanecesse irresoluto nas suas aces enquanto a aco o obrigava a s-lo nos seus juzos". Ele no fez, nem mesmo posteriormente, a exposio da sua moral definitiva, ou seja, fundada no mtodo, e assim inteiramente justificada. Mas as Cartas Princesa Elisabeth e as Paixes da Alma permitem determinar os limites em que a moral provisria do Discurso pode ser considerada definitiva. A primeira regra provisria ora obedecer s leis e aos costumes do pas, conservando a religio tradicional e regulando-se a cada passo pelas opinies mais moderadas e mais afastadas de quaisquer excessos. Com esta regra renunciava preliminarmente a toda a extenso da sua crtica ao domnio da moral, da religio e da poltica. E, na realidade, esta regra exprime um aspecto, no provisrio, mas definitivo da personalidade de Descartes caracterizada pelo respeito para com a tradio religiosa e poltica. "Tenho a religio d meu rei", "Tenho a religio da minha alma", responde ele ao ministro protestante Revius que o interrogava a esse respeito. Na realidade, ele distinguia dois domnios diversos: a vida prtica e a contemplao da verdade. Na primeira, a vontade tem a obrigao de decidir-se sem esperar a evidncia; na segunda, tem a obrigao de no decidir seno quando se alcanou a evidncia
(Resp., 11). No domnio da contemplao o homem s pode contentar-se com a verdade evidente; no domnio da aco, o homem pode contentar-se com a probabilidade (Disc., 111). A primeira regra da moral provisria tem assim, dentro de certos limites, para Descartes, um valor permanente e definitivo. A segunda mxima consistia em ser-se o mais firme e resoluto possvel na aco e seguir com constncia mesmo a opinio mais duvidosa, uma vez que houvesse sido aceita. Tambm esta regra sugerida pelas necessidades da vida que obrigam muitas vezes a agir na falta de elementos seguros e definitivos. Mas, evidentemente, a regra perde todo o carcter provisrio se a razo j entrou de posse do seu mtodo. Nesse caso, de facto, ela implica "que haja uma firme e constante resoluo em seguir tudo o que a razo aconselha sem que nos deixemos desviar 85 pelas paixes ou pelos apetites" (Lett. Elisabeth, 4 de Agosto de 1645, Oeuvr., IV, 265). A terceira regra consistia em procurar vencer-se antes a si mesmo do que a fortuna e mudar antes os pensamentos do que a ordem do mundo. Descartes afirma constantemente que nada est inteiramente em nossas mos excepto os nossos pensamentos, que dependem apenas do nosso livre arbtrio (Med., IV); ele atribui todo o mrito e dignidade do homem ao uso que souber fazer das suas faculdades, uso que o torna semelhante a Deus (Pass. 111, 152). Esta regra permanece a pedra angular da moral de Descartes. Ela exprime, na frmula tradicional do preceito estico, o esprito do cartesianismo, o qual exige que o homem se deixe conduzir unicamente pela prpria razo e delineia o prprio ideal Ia moral
cartesiana, o da sageza. "No h nada, diz Descartes (Lett. Elisabeth, 4 de Agosto de 1645, Oeuvr., IV, 265), que nos impea de estarmos contentes excepto o desejo, a pena ou o arrependimento: mas se fizermos sempre tudo o que nos dita a nossa razo, nunca teremos nenhum motivo para nos arrependermos mesmo que os acontecimentos nos mostrem em seguida que nos enganmos sem culpa nossa. Ns no desejamos ter, por exemplo, mais braos ou mais lnguas do que as que temos, mas desejamos ter mais sade ou mais riqueza: isso acontece porque imaginamos que tais Z.@ coisas poderiam ser adquiridas com a nossa conduta ou que so devidas nossa natureza, o que no verdadeiro das outras. Poderemos livrar-nos desta Opinio considerando que, por ter sempre seguido 86 o conselho da nossa razo, nada esquecemos do que estava em nosso poder e que os infortnios no so menos naturais para o homem do que a prosperidade e a sade". este o nico meio para alcanar o supremo bem, a felicidade da vida. "Como um pequeno vaso pode estar cheio do mesmo modo que um vaso grande, mesmo que contenha uma menor quantidade de lquido, assim, se cada um se entregar com satisfao ao cumprimento dos seus desejos regulados pela razo, favorecido pela fortuna e pela satisfeito, embora gozando de (Ib., IV., 264). O preceito estico recebe aqui mesmo o mais pobre e o menos natureza poder viver contente e uma menor quantidade de bens". o seu significado genuno da regra
cartesiana do pensar claro e d4stinto, regra que impe o ter em conta os limites das possibilidades humanas e adequar a tais limites os desejos e as aspiraes. Que a razo humana se encontra de sbito diante da necessidade de reconhecer os seus prprios limites, j o vira bem claro Descartes ao considerar o problema do erro. O homem no tem apenas uma ideia positiva de Deus, isto , de um ser soberanamente perfeito, mas tem tambm uma corta ideia negativa do nada, isto , daquilo que infinitamente alheio a toda a perfeio. Ele posto entre o ser e o no-ser; considera-se que foi criado pelo ser perfeito, no encontra nada em si que possa conduzi-lo ao erro; mas se considera que participa do nada, enquanto no ele prprio o ser supremo, acha-se exposto a uma infinidade de defeitos entre os quais a possibilidade do erro (Med., IV). Ora, 87 o erro depende, segundo Descartes, do concurso de duas causas: o entendimento e a vontade. Com o entendimento, o homem no afirma. nem nega coisa alguma. Mas concebe apenas as ideias que pode afirmar e negar. O acto da afirmao ou da negao prprio da vontade. E a vontade livre. Como tal, bastante mais extensa do que o entendimento e pode por isso afirmar ou negar mesmo o que o entendimento no consegue perceber clara e distintamente. Nisto reside a possibilidade de erro. Se eu afirmasse ou negasse, isto , usasse o meu juzo, s acerca do que o entendimento me faz conceber com suficiente clareza e distino e se me abstivesse de dar o meu juzo acerca de todas as coisas que no tm clareza e
distino suficientes, nunca poderia enganar-me. Mas, j que a minha vontade, que sempre livre, pode fugir a esta regra e dar assentimento mesmo ao que no claro e evidente, surge a possibilidade do erro. Eu poderei adivinhar por mero acaso; mesmo assim, terei usado mal do meu livre arbtrio. Mas poderei tambm afirmar o que no verdadeiro, e nesse caso terei caldo imediatamente no erro. O erro, portanto, no depende de nenhum caso de Deus, o qual deu ao nosso intelecto a mxima extenso compatvel com a sua finitude, e nossa vontade a mxima perfeio fazendo-a livre. Depende apenas do mau uso que faamos do nosso livre arbtrio, no nos abstendo do juzo nos casos em que o entendimento no nos iluminou o bastante (Med., IV; Pritic. Phil., 1, 34). 88 A possibilidade do erro fundada no livre arbtrio, como sobre o livre arbtrio fundada tambm a possibilidade da epoch, da suspenso do juizo de que Descartes se valeu no incio do seu procedimento. Em que consiste exactamente o livre arbtrio? Responde Descartes que consiste no seguinte (Med., IV): "que ns possamos lazer uma coisa ou no faz-la (isto , afirmar ou negar, seguir ou fugir), ou antes to-s nisto: que, para afirmar ou negar, seguir ou fugir s coisas que o entendimento nos prope, ajamos de modo que no sintamos
nenhuma fora exterior a coagir-nos". Descartes acrescenta que, para se ser livre no necessrio que se seja indiferente na escolha entre um ou outro de dois contrrios. Tal indiferena antes "o mais baixo grau de liberdade" e mais defeito do conhecimento do que uma perfeio da vontade. O grau mais alto da liberdade alcana-se quando a inteligncia est provida de noes claras e distintas que dirigem. a escolha o a deciso da vontade. Neste caso, de facto, conhece-se' claramente o que verdadeiro e o que bom, e no se est na situao penosa de ter de deliberar acerca do juizo e da escolha a fazer (Ib., IV). Na doutrina cartesiana do livre arbtrio viu-se, algumas vezes, a oscilao entre dois conceitos diversos e exclusivos da liberdade: a liberdade como indiferena a actos opostos e a liberdade como determinao racional. Na realidade, aquilo em que Descartes v a substncia da liberdade (como o indica o passo citado) " o agir de modo a no sentir-se coagido por 89 existncia de uma ** fora exterior". A liberdade um facto ntimo constitutivo da conscincia, de tal modo que Descartes indica como nica e fundamental testemunha dela a experincia interior (Princ. phil., 1, 39). Ora, evidente que, quando o homem age base do juizo da prpria razo, age de modo a no sentir-se coagido por nenhuma fora estranha, porque a razo ele prprio, a sua subjectividade pensante. A liberdade , neste caso, perfeita porque a razo o princpio autnomo do eu. Em virtude do cogito, que reconheceu na razo a substncia mesma do homem, o poder da razo sobre a vontade o poder do homem sobre as suas prprias aces. Quando, pelo contrrio, a noo evidente da razo no
surge, a vontade v-se obrigada a decidir em estado de indiferena. Ora, se nesta situao o homem suspende o juizo e no decide, conforma-se mais uma vez com a razo e com a primeira das suas regras fundamentais. Se, ao invs, decide, ter sido sempre levado a decidir por alguma percepo obscura ou paixo, j que a indiferena considerada por Descartes apenas no mbito da razo e no no dos outros mbiles que continuam a actuar sobre o homem. Nesse caso dever o homem sentir-se menos livre, porque uma fora estranha sua subjectividade racional interveio na deciso; em alguns casos extremos, porm, a sua liberdade ser nula. Por conseguinte, em Descartes no subsistem dois conceitos heterogneos de liberdade, mas um s conceito: a ausncia da coaco exterior - entendendo-se por coaco exterior toda a fora estranha subjectividade 90 racional do homem. E este conceito prende-se estreitamente com o princpio fundamental do cartesianismo. Se esta ou aquela frmula adoptada por Descartes se encontra tambm nos textos de S. Toms, nem por isso a doutrina cartesiana menos original, uma vez que supe o princpio da autonomia racional do homem, princpio que no pode encontrar-se no tomsmo. Descartes abordou o velho problema da relao entre a liberdade humana e a preordenao divina (Pritic. phil, 1, 40-41; Lett, a Elisabeth, Janeiro de 1646, Oeuvr., IV, 352 segs.). Se a liberdade humana , infalivelmente, testemunhada pela experincia interior, a preordenao divina uma verdade evidente, j que no se pode conceber a omnipotncia de Deus limitada ou deficiente em nenhuma parte do mundo e, por isso, to pouco no homem. Nos Princpios de Filosofia, Descartes limita-se a contrapor as duas
faces do problema, aduzindo como justificao da sua aparente inconciabilidade a finitude da mente humana. Nas Cartas Rainha Elisabeth. tenta, pelo contrrio, uma soluo. Se um rei que proibiu os duelos, por alguma razo procede de modo que dois gentis-homens do seu reino, que se odeiam de morte, possam encontrar-se, ele sabe que no deixaro de bater-se e de infringir a proibio; mas nem este seu saber, nem a vontade que ele tem de que eles se encontrem, tirar o carcter voluntrio e livre ao acto dos dois gentis-homens, que podero por isso ser justamente punidos. Ora, 91 Deus, pela sua prescincia o seu poder infinitos, conhece todas as inclinaes da nossa vontade, pois que elo prprio as criou; e ele prprio cria e determina as circunstncias ou as ocasies que favoreceram ou no tais inclinaes. Mas nem por isso Deus quis obrigar-nos a agir de um modo determinado. necessrio distinguir nele "uma vontade absoluta e independente pela qual quer que todas as coisas aconteam tal como acontecem e uma vontade relativa, que se relaciona com o mrito ou o demrito dos homens, pela qual ele quer que se obedea s suas leis". Tem-se aparentado esta seduo (ou pseudosoluo) cartesiana cincia mdia, com a qual, segundo Molina ( 373), Deus prev infalivelmente as aces dos homens, embora sem as determinar. Na realidade, trata-se da soluo tomstica que retornar tambm, com algumas variantes de linguagem, com Leibniz (Teodiceia, 165). No discurso sobre o Mtodo, depois de ter exposto a moral
provisria, Descartes insiste na importncia que tem para o homem a escolha da ocupao a seguir na vida, Ele prprio declara ter escolhido deliberadamente, e depois de ter considerado a fundo as vrias ocupaes dos homens, a de cientista. "Experimentara to extremas satisfaes, diz ele (Disc., 111), desde que comeara a servir-me deste mtodo, que no julgava poder obter outras mais doces, nem mais inocentes, nesta vida; e descobrindo todos os dias alguma verdade que me parecia bastante importante e comummente ignorada pelos outros homens, a satisfao que isso me 92 dava enchia de tal modo o meu esprito que nada mais me importava-". Todavia, no fim do Discurso, o prprio Descartes revela-se consciente dos limites das suas possibilidades, devidos sobretudo brevidade da vida e falta de um nmero suficiente de experincias. Descartes partiu de princpios muito mais gerais para explicar os fenmenos simples da natureza, mas reconhece que, as mais das vezes, os fenmenos podem ser explicados de modos diversos fundados nos mesmos princpios, e qual destes modos ser o verdadeiro algo que s a experincia pode decidir. A possibilidade de fazer experincias , portanto, o limite da explicao cientfica. "Eu vejo bem, diz ele (lb., VI), qual o caminho a seguir, mas vejo tambm que as experincias, necessrias a tal objectivo so tais e tantas que nem as minhas mos nem as minhas riquezas, mesmo que multiplicadas por mil no poderiam bastar para todas; deverei contentar-me em progredir no conhecimento da natureza no mbito limitado das experincias que posso realizar". A experincia para Descartes mais a confirmao de uma doutrina cientfica do que o seu ponto de partida. Nisso o seu
mtodo difere do de Galileu, que se atm estritamente aos resultados da experincia. O desenvolvimento ulterior da cincia devia ser mais conforme ao mtodo de Galileu do que ao de Descartes. Mas a obra de Descartes, abria, por um lado, mais amplas perspectivas explicao mecnica do mundo natural, por outro estabelecia, com o princpio da subjectividade racional do homem, o primeiro pressuposto do pensamento moderno. 93 NOTA BIBLIOGRFICA 395 A edio fundamenta, das obras de Descartes a de ADAM e TANNERY; OeuVres, 12 V., Paris, 1897-1910. O 12.- volume uma monografia de CHARLES ADAM sobre a vida e as obras de Descartes. Quanto a edies parciais, a nica fundamental a do Discours de la mthode, ao cuidado de Etine Gilson, peJo seu riqussimo comentrio histrico (2.1 ed., Paris, 1939). Esit em curso de publicao a recolha completa das Cartas ao cuidado de Adam e Milhaud, 6 vol., 1936-56. -Algumas trad. !tal.: Discorso deil metodo e Meditazion filosofiche, trad. Tfigher, Bari, 1949; Le pa&,sioni delVanima e Lettere sulla morale, trad. Garin, Bari, 1954; 11 mondo, trad. Cantelli, Turim, 1960; L'uomo, trad. Cantell, Turim, 1960. 396. Sobre a funo central que a ideia da unidade das cincias tem no cartesianisnio: CASSIRER, Descartes, EstGcoImo, 1939, p. 39 segs. Sobre "Descartes, leitor de Montaigne": BRUNSLCHVIGG, D. e Pascal lecteurs de Montaigne, Neuchatel, 1945. 397. Sobre omtodo e, -em geral, sobre os temas fundamentais da filos. crist: G. GALLI, Studi cartes@ani, Turim e as seguintes
monografias: K. FiSCHER, CeSchichte der nemern Philosophie, 1, 5.a ed., Heidelberg, 1912; LIARD, D., Paris, 2.a ed., 1903; HAMELIN, Le systme de D., Paris, 1911; GIBSON, The Phiosophy of D., Londres, 1932; OLGIATI, C., Milo, 1934; KEELING, D., Londres, 1934; LAPORTE, Le racionalisme de D., Paris, 1945; M. GUROULT, D. selon Pordre des raisons, 2 vol., Paris, 1953. 398. A tese de que o cogito um raciocin-lo sustentada no is pior alguns contemporneos de Descartes (por ex. GASSENDI, Objections), mas tiambm por HAMELIN, op. cit. p. 131-135; e GALLI, op. Cit., p. 95 segs. 94 Sobre os precedentes histricoe do cogito: BLANCHET, Les antcdents historiques du "Je Peme", donc @@e suis", Paris, 1920; e GILSON, ed. cit. do Disc., p.294 segs. 399. Sobre as provas da existncia de Deus: 1<-OYR, Essai sur Nde de Dieu et sur les preuves de son existence chez Descartes, Paris, 1922. 400. Sobre as doutrinas cientficas de Descartes: G. MILTIAUD, Descartes savant, Paris, 1922; LoRiA e DREYFUS-LE FoYER, in tudes sur D., fascculo da "Revue de Mtaphysique et de Morale", Paris, 1937. P. MONY, Le dvelopement de Ia physique cartsienne, Paris, 1934; R. LENOBLE, Mersenne ou Ia naissance du mcanisme, Paris, 1943. 401.' Sobre a moral cartesiana: BOUTROUX; tUdes d'histoire de Ia phil., Paris, 1891; A. ESPINAS, D. et Ia morale, 2 vol., Paris,
1925; J. SEGOND, La sagesse cartsienne et Nda1 de Ia science, Paris, 1932; P. ME.S@NARD, Essa! sur Ia morale de D., Paris, 1936. Sobre o pensamento religioso: H. GOU111ER, L(,, pense rligieuse de D., Paris, 1924; J. RuSSIER, Sagesse cartsienne et reZigion, Paris, 1958. Sobre o conceito de liberdade: GILSON, La libert ch--- Deccartes et Ia Thologie, Paris, 1913. A oscilao de Dwcartes na sua doutr`na da liberdade afirmado, por GILSON foi, POS, admitida por quase todos os historiadores cotemporneos (GoUI-IIER, GiBSON, KEELING, OLGIATI); S. LAPORTE, La Zibert selon D., tudes, cit., p. 102 segs. Sobre a bibliografia caxtesiana: J. BOORSKH, Etat prsent des tudes sur D. Paris, 1937; G. LEWIS, in "Revue philosophique", Abril-Junho, 1951. 95 II HOBBES 402. HOBBES: VIDA E OBRAS A filosofia de Hobbes representa, em comparao com a de Descartes, a outra grande alternativa a que . elaborao do conceito de razo deu incio no sculo XVII. E isso no s porque est ligada a pressupostos materialistas e nominalsticos, enquanto que a de Descartes est ligada a uma metafsica. espiritualista, mas tambm e sobretudo porque v na razo uma tcnica, sob muitos aspectos diversa ou
oposta que lhe atribura Descartes. Thomas Hobbes nasceu em Westport a 5 de Abril de 1588. Fez os seus estudos universitrios, que o decepcionaram, no Magdalena Hall de Oxford, e dedicou-se a leituras e estudos Literrios, apaixonando-se sobretudo por Tucdides, de que fez uma traduo (publicada. em 1629). Mas a formao de 97 Hobbes foi devida sobretudo aos contactos com o ambiente cultural europeu que ele estabeleceu durante -as suas viagens e estadias no continente. Estas viagens foram-lhe proporcionadas primeiro pelas suas tarefas de tutor de um jovem conde (Wilham Cavendish) e do filho deste, e em seguida pelos acontecimentos polticos que tornaram por algum tempo, insegura a sua permanncia na Inglaterra. Em 1640 fazia circular entre os amigos Os elementos de legislao natural e poltica nos quais sustentava a teoria da indivisibilidade do poder soberano sem direito divino. Temendo as reaces negativas ao seu escrito, deixou a Inglaterra e -instalouse em Paris, onde permaneceu at 1651. A entrou em contacto com O padre- Marsenne atravs do qual fez chegar s mos -de Descartes as suas Objeces s Meditaes. J nas viagens precedentes se apaixonara pela geometria de Eucliides, nas quais viia o prprio modelo da cincia e tornara-se em 1636 amigo de Galileu. Em Paris tornou-se amigo de Gassendi e frequentou os ambientes libertinos franceses. Em Paris, em 1642, publcou o De cive, que deveria ser a ltima parte de um sistema filosfiCo que comeara a elaborar em 1637. Em 1651, aps a publicao do Leviato, ou seja a matria, a forma e o poder de um estado eclesistico e civil regressou a Inglaterra, onde publicou em 1655 o Deo Corpore e em 1658 o De homine, as
outras duas obras que constituem, como o De cive, a base terica do seu sistema. Os ltimos anos da sua vida foram ocupados com vrias polmicas, bastante infrutuosas, entre as quais uma de natureza teolgica com o 98 bispo Bramhall e outras sobre argumentos matemticos e cientficos, a que Hobbes era levado por uma avaliao optimista da sua competncia. Morreu em Londres, a 4 de Dezembro de 1679, aos 91 anos. 403. HOBBES: A TAREFA DA FILOSOFIA A filosofia de Hobbes, declaradamente, inspirada num intento prtico-poltico. O seu escopo o de assentar os fundamentos de uma comunidade ordenada e pacfica e de um governo, esclarecido e autnomo. No captulo 46 do Leviato, intitulado "Sobre a obscuridade que deriva da v 0osofla e das tradies. fabulosas", exige Hobbes que o filsofo civil assuma como seu ponto de partida uma filosofia racional, em vez da velha metafsica "fabulosa", mostrando as consequncias perigosas que tal metafsica, com a sua doutrina das "essncias absolutas" ou "formas substanciais", tem no terreno poltico, bem como no domnio cientfico. Tal metafsica, levando a considerar a virtude e, da, tambm a obedincia poltica como "infusa no homem" ou nele "ins@2ada" pelo cu, torna problem@tica a obedincia lei e coloca os padres, que administram essa infuso, acima do magistrado civil. Alm disso, tende a estender a **f,@rqa da lei que apenas "uma regra de aco" aos pensamentos e s conscincias dos homens e a inquirir sobre as suas intenes, no obstante a
conformidade das suas pa@lavras e das suas aces s leis. Ora, "forar algum (a acusar-se a si mesmo de ms opinies quando as suas aces no so 99 proibidas pela lei; contrrio lei da natureza." E, alm disso, querer impr a povos diversos, alm da lei civil, itambm uma determinada lei reliigiosa significa "eliminar uma liberdade legtima, o que o contrrio, dadoutrina do governo civil". Por outros termos, a metafsica tradicional , segundo Hobbes, contrria liberdade de conscincia e de tolerncia, que so as verdadeiras condies da comunidade civiil. O filsofo que indaga os fundamentos desta comunidade no pode por isso deixar de partir de uma filosofia que se funde nicamente na razo: quer dizer, que exclua os erros, a revelao sobrenatural, a autoridade dos livros e se atenha nicamente natureza. Deste ponto de vista, define Hobbes a filosofia como "o conhecimento adquiriido com o raciocnio, que vai do modo como uma coisa se gera s propriedades da coisa ou destas propriedades a qualquer possvel modo comoa coisa se gere, e que tem por fim produzir, nos limites em que a matria e a fora o permitam, efeitos que sejam requeridos pela vida humana". (Lev., 46; De corp., 1, 2). Uma filosofia assim entendida coincide necessariamente com a cincia; e uma cincia como a entendia Bacon, isto , que vise a acrescer o poder do homem sobre a natureza (De cive, 1, 5, 6). Tal como Bacon, porm, Hobbes no nega que haja uma Philosophia prima "da qual todas as outras filosofias devem depender", mas atribui a esta filosofia a tarefa de "limitar os significados daqueles
apelativos ou nomes que so, os mais universais de todos, Emitaes. que servem para evitar ambiguidades e equvocos nos raciocnios e que so comum100 mente chamadas definies, tais como: as definies do corpo, do tempo, do lugar, da matria, da forma, da essncia do sujeito, da substncia, do acidente, da fora, do acto, do finito, do infinito, da quantidade da qualidade, do movimento, da aco, da paixo e de todas as outras coisas necessrias para explicar as concepes do homem que concernem natureza e gerao, dos corpos" (Lev., 46). Assim, a filosofia prima no tem por objecto um mundo de "formas" ou de "essnciias" que estejam para l das aparncias sensveis ou corpreas das coisas, mas tem apenas como escopo definir os termos que podem ser utlizados na descrio das aparncias sensveis, para evitar a ambiguidade ou os erros do raciocnio, e no faz mais do que fornecer o aparelho conceptual da .investigao natural. Tal investigao , por outro lado, a nica possvel que se apresenta razo porquanto a nica que gira em torno da realidade acessvel ao homem. S os corpos existem, segundo Hobbes: todo o conhecimento por isso conhecimento dos corpos. A ~fsica materialista serve a Hobbes para reduzir estatuto ao homem, obra do homem na natureza, o domnio do conhecimento humano. 404. HOBBES: A NATUREZA DA RAZO O ponto focal da filosofia de Hobbes o seu conceito de razo. Para Hobbes, como para Descartes, a razo o atributo prprio do homem; mas para Hobbes, diversamente de Descartes, a razo no 101
a manifestao de uma substncia que s o homem possua mas uma funo que, a nveis inferiores, tambm os animais possuem. Esta funo substancialmente a da previso. Tambm os animais participam desta funo que lhes permite regular a sua conduta em vista do desejo ou desgnio; tambm os animais so, portanto, capazes do que Hobbes chama "experincia" ou "prudncia", isto, , de uma certa ",previso do futuro mediante a experincia do passado". Mas no homem esta possibilidade de previso, que ao mesmo tempo e na mesma medida possibilidade de contrle dos acontecimentos futuros, de grau muito superior. De facto, os homens no so apenas capazes de procurar as causas ou os meios que podem vir a produzir no futuro efeito calculado. coisa que tambm os animais podem fazer - mas so, outrossim, capazes de procurar todos os possveis efeitos que podem ser produzidos por uma coisa qualquer; ou, por outros termos, so capazes de prever e planear a longo prazo a sua conduta e a consecuo dos seus fins (Lev., 3). Esta capacidade s se encontra nos homens. Mas tal capacidade requer a linguagem, que o uso arbitrrio,ou convencional dos sinais. Um sinal , em geral, "o antecedente evidente doconsequente,ou, ao invs, o consequente do antecedente quando consequncias semelhantes hajam sido observadas antes" (lb., 3). Enquanto tais, os sinaiS so naturais e no constituem linguagem: so, antes meios com os quais o animal (e o prprio homm enquanto animal) induz o seu semelhante a um certo comportamento, por exemplo pastagem ou fuga, ao 102 canto, ao amor, etc.. Os sinais s se tornam palavras quando so institudos arbitrriamente para significar os conceitos das coisas que se pensam. Neste sentido, a linguagem definida por Hobbes
como "um conjunto de vocbulos estabelecidos arbiitrriament@-, para significar uma srie de conceitos das coisas que se pensam." E neste sentido identifica-se a linguagem com a funo do entendimento e pode dizer-se que os outros animais carecem de entendimento. "o entendimento, diz Hobbes, ~a espcie de imaginao que nasce do significado das palavras institudo arbitrariamente" (De hom., 10, 1). A faculdade racional do homem identifica-se com a possibilidade de criar sinais artificiais, isto , as palavras. Um homem que, fosse privado de linguagem podia, segundo, Hobbes, se posto. diante da figura de um tringulo, dar-se conta de que os ngulos internos so iguais a dois rectos; posto, porm, diante de outro tringlo, deveria comear de novo porque o seu raciocnio, no passaria do caso particular. Ao invs, a criao da palavra "tringulo" permite, graas ao seu significado, a generalizao de que "todos os tringulos ,tm os ngulos internos iguais a dois rectos", possibilitando assim passar daquilo que verdadeiro aqui e agora para aquilo que verdadeiro em todos os tempos e lugares (Lev., 4). Neste sentido,, afirma Hobbes que "a faculddade de raciocinar uma consequncia do uso da linguagem" (Ib., 46); e a definio que os filsofos do hoje do homem como animal simblico, exprime bem o ponto de vista de Hobbes. 103 Mas uma faculdade de raciocinar que consista essencialmente no uso de sinais artificiais ou convencionais, item caracteres particulares A sua actividade especfica o clculo. Diz Hobbes: "Por raciocnio (raciocinatio) entendo o clculo. O clculo consiste em reunir vrias coisas para fazer delas uma soma ou em subtrair uma coisa da outra para conhecer o resto. Raciocinar a mesma coisa que adicionar e subtrair; e se se quisesse acrescentar a estas operaes tambm as de multiplicar e dividi, eu no estaria de acordo porque a multiplicao a mesma
coisa que a adio de partes iguais e a diviso a mesma coisa que a subtraco de partes iguais tantas vezes quanto possvel. Todo o processo do raciocnio se reduz, portanto, a duas operaes mentais: a adio e a subtraco." (De corp., 1, 2). Tais operaes, no entanto, no concernem ,somente aos nmeros. "Do mesmo modo que os aritmticos ensinam a somar e a subtrair nmeros, assim os gemetras ensinam a somar e subtrair linhas, figuras slidas superficiais, ngulos, propores, tempos, velocidade, fora, ete., os lgicos ensinam a mesma coisa a propsito das consequncias das palavras juntando dois nomes para fazer a afirmao e duas afirmaes para fazer um silogismo e muitos silogismos para fazer umademonstrao, e, da soma ou concluso de um silogismo, subtraem uma proposio para encontrarem outra. Os escritores polticos adicionam pactos para encontrar os deveres dos homens, e os advogados leis e factos para encontrar o lcito e o ilcito nas aces dos particulares. Em suma, em todos os campos em que h lugar para a 104 adio ca subtraco, h tambm lugar para a razo; e onde tais operaes no encontrem lugar, a razo nada tem a fazer" (Lev., 5). Neste ponto de vista, a nica forma lcita de que a razo, e portanto a filosofia, pode fazer uso a que consiste na adio ou subtraco dos nomes; isto , a proposio ou enunciado. Hobbes define aproposio como o "discurso que consta de dois nomes discurso com o qual aquele que fala entende que o segundo nome nome da mesma coisa de que o primeiro nome"; de sorte que, quando se diz "o homem animal" entende-se que o nome "animal" pertence mesma coisa a que pertence o nome "homem" ou, o que o mesmo,
que o nome "homem" est contido no segundo nome "animal" (De corp., 3, 2). Esta teoria da proposio substancialmente a da lgica nominalstica e, em particulr, de Occam: os dois nomes, ligados, na proposio, consistem na mesma coisa. Uma conexo entre iestas trs proposies constitui o silogismo; e neste campo a propenso nominalstica da lgica, de Hobbes revela-se na reduo do silogismo categrico ao hipottico. Assim, o silogismo categrico "Todo o homem animal; todo o animal corpo; todo o homem corpo" teriam a mesma fora que o silogismo hipottico "Se al-guma coisa homem, -tambm animal; se alguma coisa animal, tambm corpo; se alguma coisa homem, tambm corpo". (Ib., 4, 13). Entendida como faculdade de calcular, a razo no nem infalvel nem inata;. uma capacidade que se obtm com o exerccio e que consiste em 105 primeiro lugar em -impor os nomes e em segundo lugar em possuir um mtodo para se passar dosconhecimentos, que so prezsamente os nomes s asseres obtidas; mediante a ligao de uns com os outros, aos silogismos, que so as conexes de uma assero com outra, at ao conhecimento de todas as consequncias dosnomes quepertencem ao sujeito em causa: conhecimento a que os homens chamam cincia (Lev., 5). A cincia , portanto, segundo Hobbes, no j conhecimentos dos factos que so, ao invs, objecto dos sentidos e da memria, mas conhecimento das consequncias e da dependncia causal de um facto em relao ao outro. O conhecimento desta dependncia, com base no princpio de que causas semelhantes produzem efeitos semelhantes, d aos homens a possibilidade de prever os factos e de tirarem proveito de talpreviso.
405. HOBBES: A CINCIA Cincia e filosofia coincidem perfeitamente, segundo Hobbes, e coincidem ~bem naquela parte da filosofia. que se chama "filosofia prima", filosofia que considera os conceitos fundamentais comuns a todas as cincias. E o nico objecto da cincia e da filosofia -a gerao (generatio),isto, o processo causal mediante o quall as coisas se originam. Hobbes nterpreta o conceito tradicional da cincia como sendo o conhecimento das causas em sentido restritivo, isto como sendo o conhecimento das causas geradoras: das causas que podem produzir a coisa considerada. 106 Dado este sentido restrito, deve excluir-se do mbito da cincia (e da filosofia) a teologia, j que no se pode decerto aduzir a causa geradora de Deus; deve excluir-se tambm dela a doutrina dos anjos e, em geral, das coisas incorpreas, em que no h gerao. Estas excluses so fundadas no princpio de que "onde no h gerao, no h tambm filosofia" (De corp. 1, 8). Por um outro motivo fundamental, isto , porque no tm carcter raciocinativo, so excludas da cincia: a histria, quer seja natural quer poltica, a qual, por muito til que seja a filosofia, um conhecimento que depende da experincia ou da autoridade, no do raciocnio; toda a doutrina que nasce de uma inspirao ou revelao divina, porque no adquirida com a razo, a doutrina do culto divino, que depende da autoridade da igreja e pertence f e no cincia; e, enfim, as doutrinas falsas ou mal fundamentadas, como a astrologia e, em geral, as actividades diviinatrias. (lb., 1, 8). A concatenao das proposies no discurso cientfico exprime, segundo Hobbes, a conexo, causal mediante a qual por uma causa determinada se gera um efeito determinado. Hobbes chama a este
tipo de demonstraes, demonstraes a priori e sustenta que elas so possveis para os homens apenas em relao queles objectos cuja gerao depende do livre arbtrio dos prprios homens (De hom., 10, 4). So demonstrveis neste sentido os teoremas da geometria, que concernem quantidade. "De facto, diz Hobbes, as causas das propriedades das simples figuras geomtricas so inerentes quelas linhas que ns prprios traamos, e a gnese das 107 prprias figuras depende apenas do nosso arbtrio; de modo que, para conhecer a propriedade de uma figura, temos apenas de considerar tudo o que concorre para a construo que fazemos ao desenh-la. Precisamente porque somos ns prprios que criamos as figuras, h uma geometria, e esta demonstrvel" (lb., 10, 5). So alm disso, susceptveis de demonstrao a priori a poltica e a tica, isto , a cincia do justo * do Injusto, ido equitativo e do unvoco; de facto, os princpios dela, os conceitos do justo e do equitativo e dos seus ramos, so-nos conhecidos porque ns prprios criamos as causas da justia, ou seja, as leis e as convenes (1b.) Em todos esses casos podemos formular ou aceitamos por conveno a definio da causa geradora, dado que esta causa geradora uma operao realizada por ns prprios; e desta equao posta como princpio deduzimos os efeitos gerados pela causa. Mas para as coisas naturais, que so produzidas, por Deus e no por ns, semelhantes demonstraes a priori no so, possveis. So possveis apenas demonstraes a posteriori que ascendem dos efeitos, Isto , dos fenmenos s causas que os possam ter gerado. As nossas concluses neste caso no so necessrias mas apenas provveis, porque um mesmo efeito pode ter sido produzido de diversos modos (De corp., 25 1). A fsica. , segundo Hobbes, cincia demonstrativa no
verdadeiro sentido do termo. Ela tem, todavia, necessidade da matemtica, porquanto o seu conceito fundamental o de movimento, e o movimento no se pode 108 entender sem o conceito de quantidade que prprio da matemtica. E enquanto se vale da matemtica torna-se susceptvel de demonstraes a priori e pode chamar-se uma matemtica mista, em comparao com a matemtica pura, que se ocupa da quantidade em abstracto e no tem necessidade de considerar outras qualidades. As partes da fsica como a astronomia, a msica, diversificam-se, pelo contrrio, entre si segundo a variedade das espcies e das partes do universo (De hom., 10, 5). 406. HOBBES: O CORPO Como se viu, a tese fundamental de Hobbes a de que a razo, pode exercer-se apenas relativamente a objectos gerveis porque a sua funo a de determinar as causas geradoras dos objectos. A consequncia (imediata, desta tese que, quando no se trata deobjectos gerais, a razo no tem a possibilidade de exercer-se e, por consequncia, nesse caso no h nem cincia nem filosofia. Ora, os nicos objectos gerveis so os corpos, ou seja, os objectos extensos ou materiais, sendo por isso que, para Hobbes, os corpos so os nicos objectos possveis da razo, Nesta ltima tese consiste o materialismo de Hobbes. Este materialismo mais um empenho ontolgico do que uma doutrina de natureza metafsica. Hobbes no afirma que fora da matria no haja nada e que a causalidade da matria seja a nica possvel; reconhece de facto a causalidade de Deus,
109 embora negando (como veremos) que Deus seja o Mundo ou a alma do mundo; mas sustenta que s matria se estendem os poderes da -razo humana e que, portanto, o que no matria cai fora das possibilidades de investigao da filosofia e da cincia. Deste ponto de vista, o corpo o nico sujeito (subjectum) de que se pode falar e de que se podem considerar as propriedades e investigar as gneses. Hobbes sustenta em absoluto uma das teses fundamentais dos antigos Esticos: que s o corpo existe porque s o corpo pode agir ou sofrer uma a~ ,(D,og. L, LII, 56). A palavra <incorpreo", afirma Hobbes, destituda de significado, e mesmo quando referida a Deus, nada exprime a no ser a fiel inteno de o honrar com um atributo honorfico que dele afaste a grosseria dos corpos visveis. (Lev., 12). Na polmica com o bispo Bramhall, Hobbes chega a dizer que asseverar que Deus incorpreo equivale, a dizer que de facto no existe (Works, IV, p. 305,). Por isso, no certamente **meo,oprco o esprito ou o intelecto do homem. A este respeito significativa a crtica que Hobbes faz ao cogito ergo sum cartesiano. Segundo Hobbes, do "eu penso" segue-se decerto ",logo exiisto" porque o que pensa no pode ser nada. Mas quando Descartes acrescenta que o que pensa "um esprI@to -uma alma, um intelecto, uma razo" como se dissesse, "eu estou passeando, logo sou um passeante.Por outros termos, Descartes identifica a coisa inteligente com a inteleco que o acto dela; enquanto que, segundo Hobbes, " todos
os filsofos distinguem o sujeito das suas faculdades e dos seus
actos, isto das suas propriedades e das suas essncias; j que outra coisa aquilo que e outra coisa a sua essncia. (Troisimes objections, 11). Se se faz esta objeco, pode muito bem ser que a coisa que pensa, isto , o sujeito do esprito, da razo ou do intellecto, seja alguma coisa de corpreo; e deve ser alguma coisa de corpreo, porque "todos os actos parecem poder ser entendidos apenas como uma razo corprea ou como uma razo de matriia" (lb., 11). O que quer dizer que todos os actos e todas as essncias podem ser expl-icados racionalmente, segundo Hobbes, apenas mediante um processo gentico que tem incio num corpo. Ao corpo, portanto, refere Hobbes todas as categorias ontolgicas. Enquanto extenso, o corpo chama-se corpo; enquanto independente do nosso pensamento chama-se subsistente por si; enquanto existe fora de ns chama-se existente; enfim, enquanto parece estar por sob o espao imagimrio, que a razo concebe chama-se suposto ou sujeito. Por-tanto, o corpo pode definir-se como sendo "tudo o que no dependendo do nosso pensamento, coincide com alguma parte do espao". (De corp., 8, 1). Por outro lado, o acidente "a faculdade do corpo pela qual ele imprime em ns o seu conceito," (Ib., 8, 2). E o principal acidemte do corpo o movimento com que se podem explicar todas as geraes dos corpos. Sendo assim, todas as partes da filosofia tm por objecto corpos e a diMso a filosofia modela-se 111 pela DIVISO dos corpos. Como os corpos podem ser naturais e artificiais, A filosofia ser ou filosofia natural que tem por objecto os corpos naturais, ou filosofia civil que tem por objecto os corpos artificiais, isto as sociedades. humanas. E como para conhecer as propriedades das
sociedades humanas necessrio conhecer preliminarmente as mentes, as emoes e os costumes dos homens, a filosofia civil dividiir-se- em duas partes, a primeira das quais, a tica, tratar desses argumentos e a segunda, -a poltica, tratar dos deveres civis (Ib., 1. 9). Quanto teologia, Hobbes exclui-a, (como se viu) do nmero das disciplinasracionais. O que no quer dizer, no obstante, que Deus seja um puro objecto de f. Existe um trmite puramente racional atravs do qual Deus d a conhecer ao homem a sua lei e este trmite o "ditame da recta razo" (De cive, 15, .3). Mas por este ditame pode conhecer-se apenas que Deus existe, que no pode ser identificado com o mundo oucom aalma do mundo e queno s governa o universo fsico como tambm o gnero humano. Podese conhecer tambm que no se lhe devem atribuir atributos finitos ou que, de qualquer modo, lhe limitem a perfeio, mas s atributos ou nomes negativos (como infinito, eterno, incompreensvel, etc.) ou indefinidos (como justo e forte, etc.), com os quais no se significa. o que ele , mas apenas se exprime a admirao e obedincia para com ele (lb., 15, 14). Quanto aio resto, a noo de Deus pertence ao domnio da f; e ia f faz parte da lei civil. "A religio, diz Hobbes, no filosofia, mias 112 HOBBES sim lei em todas as comunidades: por conseguinte, no para discutir mas para cumprir (De hom., 14, 4). 407. HOBBES: OS CORPOS NATURAIS
As partes da filosofia natural que so susceptveis de demonstrao a priori so, segundo, Hobbes, as que trajuam dos conceitos da lgica, os atributos comuns a todos os corpos e os atributos geomtricos dos prprios corpos (movimento e grandeza), isto , respectivamente a lgica, a filosofia prima e a geometria. A fsica pelo contrrio, segundo Hobbes, susceptvel apenas de demonstraes a posteriori: por isso assume como ponto de partida os fenmenos dos quais procura ascender s causas possveis. Para isolar os objectos da filosofia, prima, isto , os atributos fundamentais comuns a todos os corpos naturais, prope Hobbes **chminaride~te do universo todas as coisas percebidas e considerar to-s as imagens mentais que podem tambm ser consideradas como as espcies das coisas **exwmas. Se se efectuar esta operao fictcia, o primeiro, conceito que se encontra o de espao que est ligado prpria noo gera de alguma coisa que existe fora da alma e por isso se pode definir como ",a imagem (fantasma) de uma coisa existente enquanto existente" (De corp., 7, 2). O segundo conceito o do tempo que Hobbes define nos mesmos termos que Aristteles ( 79). Nem o espao nem o tempo nem o prprio mundo podem dizerse: infinitos. Tambm neste ponto retoma as correspondentes doutrinas 113 de Aristteles. E bem pouco tambm se distinguem da tradio aristotlica-escolstica, ou pelo menos, das alternativas que tal tradio apresenta, o uso que Hobbes faz dos conceitos de causa e de efeito, de potncia e de facto, identidade e diversidade, analogia, figura, das noes de recto, de curvo e de ngulo (Ib., 814). Pode-se sublinhar todavia a interpretao megrica que Hobbes
nos d do conceito de potncia, afirmando, com Diodoco Crono, que aquilo que no se verifica no possvel. " impossvel o acto para cuja produo nunca haver uma potncia plena; porquanto, sendo plena a potncia para a qual concorre tudo o que se requere para a produo do acto, se a potncia nunca for plena fal@tar sempre alguma coisa sem a qual o acto no se pode produzir; por isso, nunca poder ser produzido e ser um acto impossvel (Ib., 10, 4). Desta interpretao da potncia deriva uma tese fundamental: a necessidade de tudo o que acontece, "O acto que impossvel que no seja um acto necessrio; portanto, qualquer acto futuro necessriamente futuro, j que no deve ser impossvel que seja futuro e porque, COMO, se demonstrou, todo o acto possvel se produz algumas vezes". De modo que a proposio "o futuro futuro", no menos necessria do que a proposio o homem homem" (lb., 10 5). A teoria do movimento e da grandeza, que constitui a terceira parte de De corpore, e que Hobbes chama "ge~rja", mas que uma espcie de mecnica geral, reproduz, com variaes insignificantes, concepes comuns na cultura cientfica do ,tempo. E a quarta parte do mesmo escrito a fsica 114 propriamente dita, em que Hobbes estuda as sensaes e o movimento dos animais, a ordenao astronnca, ia luz, o calor, as cores, os meteoros, o som, os corpos e, por ltimo, a gravidade, que, segundo Hobbes, a tendncia que os corpos pesados tm para se mover para o centro da terra, tendncia que ele atribui no, a um "apetite" dos corpos mas a uma certa fora exercida pela prpria terra (Ib., 30, 2). 408. HOBBES: O HOMEM Ao estudar o homem, vale-se Hobbes das mesmas categorias que
adoptou ao estudar as outras coisasnaturais, principalmente as de corpo e de movimento. A sensao no seno a imagem aparente do objecto corpreo, que a produz nos rgos dos sentidos. Quer o objecto quer a sensao no so mais que movimentos: movimentos so as qualidades sensveis que existem no objecto, assim como as sensaes que tais qualidades produzem no homem. A sensao , portanto, um crescente entre dois movimentos: daquele que vai da coisa ao rgo do sentido e daquele que vai do orgo da coisa ao orgo do sentido, da coisa, que constitui a reaco ao primeiro. (De corp., 25, 2). Movimento tambm a imaginao que conserva as imagens dos sentidos e , por -isso, uma espcie de inrcia dos movimentos que se originam no exteriior com a sensao (Lev., 2). Quando no homem, ou em qualquer ~a criatura dotada de imaginao, a actividade desta estimulada por palavras ou por outros sinais, 115 tem-se o intelecto que por isso comum ao homem * a todos os animais ca@pazes (como, por exemplo, o co) de reagir a chamados ou a censuras. Todavia, tem o homem a peculiaridade de um intelecto, capaz de formar sries ou conexes, , dando -lugar a afirmaes ou negaes e a outras frmulas lingusticas, em que o clculo, ou a razo, consiste. (Ib., 2). Deste peculiiar intelecto j se -vi~ os caracteres. Tal como as sensaes, as emoes originam-se dos movimentos que provm dos objectos externos. Enquanto que a sensao consiste na reaco do orgo aco do objecto, reaco que -se dirige ao exterior, a emoo consiste numa reaco anloga que, pelo contrrio, se dirige, ao interior do corpo que a experimenta (De hom., 11, 1). Por conseguinte, a fora de que todas as emoes dependem o apetite @(ou instinto) que leva a procurar o prazer e a fugir dor. Bem e mal so os nomes que se do, respectivamente,
aos objectos da apetncia e da averso. Chama-se bem aquilo que se deseja, mal aquilo que se odeia; e no se deseja. qualquer coisa por ser um bem nem se a desama por ser um mal, mas pelo contrrio, chama-se bem a qualquer cosia que se deseja e mal que se odeia, O bem e o mal so coisas, relativas s pessoas, aos lugares, aos tempos. "A natureza do bem e do mal segue a syntucchia [ = circunstncia]" (Ib., 11, 4), diz Hobbes. A apetncia e a averso no dependem do homem, pois so determinadas directamente pelos objectos externos. A fome, a sede, os desejos em geral no so voluntrios. Quem deseja qualquer 116 coisa pode decidir agir livremente mas pode deixar de desejar aquilo que deseja (lb. 11, 2). A prpria vontade no passa de um desejo e, como todos os desejos, necessariamente determinada. pelas coisas. Quando na mente do homem se alternam, desejos diversos e opostos, esperanas e temores, e se apresentam as consequncias boas ou ms de uma aco possvel, tem-se aquele estado que se chama deliberao: e o termo de deliberao, isto , "o apetite ou averso ltima a que imediatamente se segue a aco ou omisso da aco" o que se chama vontade (Lev., 6). A vontade pe termo temporariamente s dvidas, s oscilaes, s incertezas do homem, mas estas renascem logo porque o homem no pode alcanar um estado definitivo de tranquilidade ou de quietude. No existe, por isso, segundo Hobbes, um sumo bem ou um fim ltimo na presente vida do homem. Um fim ltimo geria aquele que depois do qual nada mais deveria ser desejado. Mas uma vez que o ~o se acompanha necessariamente da sensibilidade, o, homem que tivesse alcanado o fim ltimo no s no desejaria mais nada como
nem sequer s~ia, pT congegwnte no viveria verdadeiramente. "0 mximo dos bens, diz Hobbes, progredir sem impedimento para novos fins sempre. O prprio gozo daquilo que se desejou um desejo, isto , o movimento da alma que goza. atravs das partes da coisa de que goza. A ~ um movimento perptuo, que, quando no pode progredir em linha recta, se transforma em movimento circular" (De hom., 11, 15). 117 Com estas ltimas anlises, pretendeu Hobbes -2ustrar o mecanismo da natureza humana. Nesse mecan~0, como se 6sse, no, h lugar para a liberdade. A liberdade entendida por Hobbes, como <Q ausncia de todos os impedimentos da aco que no seriam contidos na natureza. e na intrnseca qualidade do agente". Tal definio reduz a liberdade liberdade de aco que existe quando a vontade no impedida nas suas manifestaes exteriores, mas nega a liberdade do querer. Quando um homem tem apetite ou vontade de alguma coisa de que no instante anterior no tinha nenhum desejo, a causa da sua vontade no a prpria vontade, mas algo de diverso, que no depende Me. A prpria vontade , portanto, causada necessariamente por outras coisas: enquanto consequncia de causais necessrias, as aces humanas so necessrias (Works, IV, p. 264).Hobbes, que defendeu o determinismo na sua polmica com o bispo **BrambaM, insiste no facto de que a vontade intrinsecamente requerida pelas causas e motivos que lhe so inerentes, motivos que, em ltima anlise, se devem totalidade da natureza, visto que todos; os actos do e~ humano **(lineltiWa a deliberao e a von-tade) so movimentos conexos com os movimentos. dos objectos externos. "Dificilmente h alguma aco que, por muito que parea casual, no seja produzida por itudo o que
existe na natureza." (Ib., p. 267). Sobre o mecanismo da natureza humana pretende Hobbes fundar os princpios da sociedade civil. S inserindo-se neste mecanismo de facto possvel conduzir o homem a uma conscincia onesta.. 118 Hobbes, prope-se a construo de uma geometria da poltica, isto , de uma cincia da sociedade humana que alcance a mesma objectividade e necessidade que a g~ ~.. "Se, diiz ele, se conheceissem as regras das ~ts humanas com certeza igual certeza com. que se conhecem as regras das grandezas em geornetiria, a ambio e a avidez (cuja fora baseada sobre as falsas opinies que o viigo tem dos conceitos de idw~ e de errado) seriam. impotentes e a humanidade gozaria um perodo de paz constante que ha~ de pare= que nunca mais se combateria a no ser por razes t=llor&tis, ou seja, paira a mu@@tpEcao dos homens" (De cive dedicatria). Hobbes pretende itier reunido as noes indispensveis para a construo de uma geometria poltica e por isso prossegue com confiana nessa construo. 409. HOBBES: O ESTADO DE GUERRA E O DIREITO NATURAL So dois, segundo Hobbes "os postulados certssimos da natureza humana dos quais procede toda a cincia poltica: 1 -o desejo natural (cupiditas naturalis) pelo qual cada um pretende gozar exclusivamente dos bens comuns; 2 - a razo natural, (ratio naturalis) pela qual todos fogem da morte violenta como do pior dos males naturais (De cive, dedicatria). O primeiro destes postulados exclui que o homem seja por natureza
um "animal poltico". Hobbes no nega, a este respeito, que os homens tenham necessi119 dade uns dos outros ("Assim como as crianas tm necessidade da ajuda de outrem para viverem, assim os adultos precisam dos outros para viver bem", diz ele); mas nega que os homens tenham por natureza um instinto que os leve benevolncia e concrdia recprocas. O objectivo polmico da sua crtica da velha definio do homem como animal poltico , provvelmente, a interpretao que dela havia dado Grcio: segundo este, mesmo que os homens no trouxessem nenhuma utilidade ao viver comum deveriam igualmente aceit-lo por uma exigncia @a prpria razo natural ( 348). Por outros termos, o que Hobbes nega a exigncia de um amor natural do homem pelo seu semelhante. "Se os homens chegam a acordo para comerciar, diz ele, cada um interessa-se no pelo scio mas pelos seus prprios bens. Se, por dever de oficio, nasce entre elos uma amizade formal, que mais temor recproco do que amor, talvez nasa uma faco, nunca a benevolncia. Se se associam por prazer ou a fim de se divertirem, cada um compraz-se sobretudo naquilo que excita o riso para se sentir superior (como prprio da natureza do ridculo) em relao fealdade ou doena de outrem". Portanto, no a benevolncia, segundo Hobbes, a origem das maiores e mais duradouras sociedades, mas apenas o temor recproco. A causa deste temor , em primeiro lugar, a igualdade natural entre os homens pela qual todos desejam a mesma coisa, isto , o uso exclusivo dos bens comuns. Em segundo lugar, a vontade natural
de se prejudicarem mutuamente, ou mesmo o anta120 gonismo, que deriva do contraste das opinies e da insuficincia do bem. O direito de todos a tudo, que inerente igualdade natural, e a igualmente natural vontade de se prejudicarem mutuamente fazem com que o estado natural seja um estado de guerra incessante de todos contra todos. Neste estado, nada h de justo: a noo do direito e do errado, da justia e da injustia, nasce onde h uma lei e a lei nasce onde h um poder comum: onde no h nem lei nem poder falta a possibilidade da distino entre o justo e o injusto. Cada um tem direito a tudo, incluindo a vida dos outros (Ib., 1, 14, Lev., 13). Este "direito" no tem, obviamente, nada a ver com a lei natural, que, como veremos, consiste antes na eliminao ou, pelo menos, na radical limitao daquele. antes um instinto natural insuprimvel, pois que, nota Hobbes, "cada um levado a desejar aquilo que para si um bem e a fugir do que para si o maior de todos os males naturais, que a morte; e isto com uma necessidade por natureza no menor do que aquda com que a pedra impelida para baixo" (De cive, 1, 7). Mas este instinto natural no , dadas as circunstncias, contrrio razo, porque no contrrio razo tudo fazer para sobreviver. E j que o direito em geral precisamente "a liberdade que cada um tem de usar das faculdades naturais segundo a r~ razo" (lb., 1, 7), assim o instinto que leva cada homem a fazer tudo o que est em seu poder para se defender e prevalecer sobre os outros, pode bem chamar-se um direito, enquanto o homem, obedecendo ainda razo, no haja
121 encontrado outro instrumento mais eficaz e mais cmodo para a prpria sobrevivncia. Todavia, precisamente do exerccio inevitvel deste direito que resulta a condio de contnua guerra de todos contra todos. Esta condio (que por isso no deriva de uma malvadez inata nos homens) no pode todavia realizar-se e estabilizar-se de modo total porque coincidiria Obviamente com a destruio total do gnero humano. Disto se podem encontrar exemplos parciais em algumas sociedades, como se podem encontrar confirmaes do temor que o homem tem dos outros homens em certos comportamentos habituais ou quotidianos como o de se armar quando viaja em regio pouco conhecida ou o de fechar a porta da casa a cadeado mesmo quando est protegido pela lei e pelos agentes pblicos. De qualquer modo, a simples ameaa potencial do estado de guerra impede a actividade industrial ou comercial, a agricultura, a navegao, a construo de casas, e em geral a arte e a cincia, e pe o homem ao nvel de um animal solitrio embrutecido pelo temor e incapaz de dispor do seu tempo (Lev., 13; De cive, 1, 13). Se o homem fosse destitudo de razo, a condio de guerra total seria insupervel e o embrutecimento ou a destruio da espcie humana seria o princpio e o fim da sua histria. Mas a razo humana , como se viu, a capacidade de prever e de prover, mediante um clculo consciente, s necessidades e s exigncias do homem. assim * razo natural que sugere ao homem a norma ou * princpio geral de que decorrem as leis naturais do viver comum, proibindo a cada homem fazer 122 o que causa a destruio da vida, ou lhe tira os meios de a evitar, e
deixar de fazer o que serve para conserv-la melhor (Lev., 14). Este princpio , portanto, o fundamento da lei natural. Como se v, a lei natural de que fala Hobbes nada tem a ver com a ordem divina e universal nos termos em que a conceberam os Esticos, os Romanos e toda a tradio medieval. Para Hobbes, como para Grcio e para todo o subnaturalismo moderno, a lei natural um produto da razo humana. Mas a razo humana, que para Grcio ainda uma actividade especulativa ou terica capaz de determinar de modo absolutamente autnomo, isto , independentemente de todas as condies ou circunstncias e da prpria natureza humana, o que bem ou mal em si mesmo , pelo contrrio, para Hobbes. uma actividade sujeita ou condicionada pelas circunstncias em que opera, uma calculadora capaz de prover as circunstncias futuras e de exercer as escolhas que sejam mais convenientes em tais condies. Assim, a "naturalidade" do direito significa, para Hobbes como para a tradio do direito natural, a "racionalidade" de tal direito. Mas esta racionalidade estritamente correlativa do significado que para Hobbes tem a "razo" como faculdade de previso e de escolhas oportunas. Portanto, as normas fundamentais do direito natural destinam-se, segundo Hobbes, a subtrair o homem ao jogo espontneo e autodestrutivo dos instintos e a impor-lho uma disciplina que lhe proporcione pelo menos uma segurana relativa e a 123 possibilidade de se dedicar s actividades que tornam cmoda a sua
vida. Por conseguinte, a primeira norma a seguinte: "Procurar obter a paz enquanto se tem a esperana de obt-la; e, quando no se pode obt-la, procurar servir-se de todos os benefcios e vantagens da guerra" (Lv., 14; De cive, 2, 2). Desta lei fundamental derivam as outras, a primeira das quais esta: "O homem, espontaneamente, desde que os outros o faam tambm e durante o tempo que achar necessrio para a sua paz e defesa, deve renunciar ao seu direito a tudo e contentar-se em ter tanta liberdade relativamente aos outros quanta a que ele prprio reconhea aos outros relativamente a s" (De cive, 2, 3; L--V., 14). Esta segunda lei no , nota Hobbes, seno o prprio preceito evanglico: no fazer aos outros aquilo que no queres que te faam a ti. Sa significa o abandono ou a transferncia do direito ilimitado a tudo e por isso permite sair do estado natural, isto , da permanente guerra de todos contra todos, e implica que os homens firmem entre si pactos mediante os quais renunciem ao seu direito originrio ou o transfiram a pessoas determinadas. Mas, obviamente, os pactos, para o serem, devem ser mantidos: de modo que a segunda lei natural precisamente a que diz que " necessrio respeitar os pactos, isto , observar a palavra dada" (Lv., 15; De cive, 3, 1). A seguir Hobbes enuncia outras 18 leis naturais (que so ao todo 20), nomeadamente: 3 a, a que probe a ingratido; 4.a, a que prescreve o ser til aos outros; 5.a , a que prescreve a
misericrdia, 124 6 a, a que limita as penas ao futuro; 7 a que condena as injrias; 8.a, a que condena a soberba; 9-8, a que prescreve a moderao; 10.a , a que contra a parcialidade; 1 1..a , a que diz respeito s propriedades comuns; 12.a, a que trata das coisas * dividir sorte; 13.a a que trata da primogenitura * do direito do primeiro ocupante; 14 a a que diz respeito incolumidade dos medianeiros; 15.a a que concerne insttuio dos rbitros; 16.1,, a que prescreve que ningum juiz da sua prpria causa; 17.11, a que proibe aos rbitros aceitarem ddivas dos litigantes; 18.11, a que prescreve o recurso a testemunhas para a prova dos factos; 19.a , a que proibe firmar pactos com o rbitro; 20 a, a que condena tudo o que impede o uso da razo (De cive, I11; Lev., 15). Estas leis naturais so tambm leis morais e constituem, segundo Hobbes, "a smula da filosofia moral". So leis enquanto prescries da razo: so-no tambm como frmulas expressas em palavras, como as que se encontram nas Sagradas Escrituras, como preceitos de vida promulgados por Deus. 410. HOBBES: O ESTADO O acto fundamental que marca a passagem do estado natural ao estado civil aquele que efectuado em conformidade com a segunda lei natural: isto , a estipulao de um contrato mediante o qual os homens renunciam ao direito ilimitado do estado natural e o transferem a outros. Esta transferncia indispensvel a fim de que o contrato possa consti125 tuir uma defesa estvel para todos. S se cada homem submeter a
sua vontade a um nico homem ou a uma nica assembleia. e se obrigar a no resistir ao indivduo ou assembleia a que se submeteu, se obter uma defesa estvel da paz e dos pactos de reciprocidade em que ela consiste. Desde que esta transferncia efectuada, tem-se o estado ou sociedade civil, dito tambm pessoa civil, porque, conglobando a vontade de todos, pode considerar-se uma s pessoa. Pode dizer-se assim que o estado "a nica pessoa por cuja vontade, em virtude dos pactos firmados reciprocamente por muitos indivduos, se deve regular a vontade de todos estes indivduos: da que se possa dispor das foras e dos haveres dos particulares para a paz e para a defesa comum" (De cive, 5, 9). Aquele que representa esta pessoa (que pode ser indivduo ou assembleia) o soberano e tem poder soberano; todos os outros so sbditos. "Isto, diz Hobbes, a origem daquele grande Leviato ou, para usar de maior respeito, daquele Deus imortal ao qual devemos paz e defesa: de modo que, pela autoridade que lhe conferida por todos os homens da comunidade, tem tanta fora e poder que pode disciplinar, com o terror, a vontade de todos, com vista paz interna e ajuda recproca contra os inimigos externos" (Lev., 17). A teoria hobbesiana do estado uma caracterstica tpica do absolutismo poltico. Hobbes, de facto, insiste em primeiro lugar na irreversibilidade do pacto fundamental. Uma vez constitudo o Estado, os cidados no podem dissolv-lo negando-lhe o seu consenso: o direito do Estado nasce, com efeito, 126 dos pactos que os sbditos estabelecem entre si e com o Estado, no de um pacto entre os sbditos e o Estado que poderia ser revogado por parte dos primeiros (Lev., 18-, De cive, 6, 19). Em
segundo lugar, diz Hobbes, o poder soberano indivisvel no sentido em que no pode ser distribudo entre poderes diversos que se limitem reciprocamente. Segundo Hobbes, tal diviso no garantiria sequer a liberdade dos cidados, porque se os poderes divididos agissem de acordo essa liberdade sofreria e, se fossem discordes, depressa se chegaria guerra civil (De cive, 7, 4). Em terceiro lugar, pertence ao Estado, e no aos cidados, o juzo sobre o bem e sobre o mal: uma vez que a regra que permite distinguir entre bem e mal, entre justo e injusto, etc., dada pela lei civil e no pode ser confiada ao arbtrio dos cidados. Se isto acontecesse, a obedincia ao Estado seria condicionada pela variedade dos critrios individuais e o Estado dissolver-se-ia (lb., 121, 1). Em quarto lugar, faz parte da soberania a prerrogativa de exigir obedincia a ordens reputadas injustas ou criminosas; e em quinto lugar, a prpria soberania exige que se exclua a legitimidade do tiranicdio (lb., 2, 3). Mas o trao mais caracterstico do absolutismo de Hobbes a sua negao de que o Estado esteja de qualquer modo sujeito s leis do Estado, tese que ele defende. o argumento de que o Estado no se pode obrigar nem para com os cidados, cuja obrigao unilateral e irreversvel, nem para consigo prprio porque ningum pode contrair uma obrigao seno para com outro (Ib., 121, 4). 127 Tudo isto, porm, no significa que a teoria poltica de Hobbes no ponha alguns limites aco do Estado. Nem mesmo o Estado pode ordenar a um homem que se mate ou se fira a si prprio, ou mate ou fira uma pessoa que lhe seja querida, que no se defenda ou no tome alimentos, deixo de respirar ou fazer qualquer outra coisa
necessria vida; nem pode ordenar-lho que confesse um delito porque ningum pode ser coagido a acusar-se a si prprio (Lev., 21, De cive, 6, 13). No que se refere a todas as outras coisas, o sbdito s livre naqueles domnios em que o soberano se tenha esquecido de regulamentar mediante a lei; por isso, a sua liberdade em diversos lugares e tempos maior ou menor consoante os critrios seguidos pelo Estado Soberano. O Estado, pelo contrrio, sempre livre porque no tem. obrigaes e uma espcie de "alma da comunidade", uma vez que se esta alma se afastasse do corpo, os seus membros deixariam de receber movimento dela (Lev., 21). Do mesmo modo que a alma da comunidade, o Estado tambm congloba em si a autoridade religiosa e no pode reconhecer uma autoridade religiosa independente: portanto, a Igreja e o Estado coincidem. A diversidade entre Estado e Igreja , por isso, puramente verbal, segundo Hobbes. "A matria do Estado e da Igreja a mesma, so os mesmos homens cristos, e a forma que consiste no legtimo poder de convoc-los tambm a mesma, dado que os cidados so obrigados a apresentar-se onde quer que o Estado os convoque. Por isso se chama 128 Estado enquanto consta de homens e Igreja enquanto consta de cristos" (De cive, 17, 21). Com esta ltima identificao, deu Hobbes a ltima demo teoria absolutista do Estado. NOTA BIBLIOGRFICA 402. Hobbes: The Elements of Law, Natural and Politic (,ed.
Tormies, segundo os manuscritos), Londres, 1889; Elementorum philosophiae sectio tertia de cive, Paris, 1642; Leviathan, Londres, 1651; Elem. phil. sectio prima de corpore, Londres, 1655; Elem. phil. sectio, secunda de homine, Londres, 1658; The Qestions Concerning Liberty, Necessity and Chance (polmica com o bispo Brarnha.11), Londres, 1656. Edies completas das obras: em latim, Opera philosophica, Amsterdo, 1668; Works, Londres, 1750; Opp. philosophica, ed. Molesworth, 5 vol., Londres, 1839-45; English Works, ed. Molesworth, 11 vol., Londres, 1839-45. Leviatham, ed. W G. Pogson Smith, Oxford, 1909; ed. M. Gakeshott, Oxford, 1946; trad. ital. Vinciguerra, Bari, 1911-12; R. Giammanco, Turim, s. a.; Opere politiche di T. H. ao cuidado de N. Bobbio, I, De cive, dialogo fra un filosofo e uno studioso, del diritto commune d'Inglhilterra, Turim, 1959 (com bibl.). Sobre as obras: G. SORTAIS, La phil. moderne d6puis Bacon jusqu1 Leibniz, II, Paris, 1922, p. 298 segs. 403. Sobre a doutrina: TNNIEs, T. H., Estugarda, 1896; LEMIE STEPHEN, H., Londres, 1904; TAYLOR, T. H., Londres, 1908; P. BRANDT, T. H.'s Mechanical Conception of Nature, Londres, 1928: A. LEvi, La fil. de T. H., Milo, 1929; B. LANDRY, H., Paris, 1930; J. LAIRD, H., Londres, 1934; VIANo, ALEssio, DAL PRA, WARRENDER; POLIN; 130P1310, CATTANEO, 129 GARIN, in. "Rivista critica di atoria de-la filosofiw, 1962, 4.
406. A interpretao metodolgica do materialismo de Hobbes, no sentido do neokantismo, foi iniciada por P. NATORP, Des cartes Erkenntnistheorie, -qaxburg, 1882, p. 144 segs. Sobre esta ver especialmente: R. MNIGSWALD, H. und die Staatsphi.",osophie, Mnchen, 1924; CASTRER, D" Erkenntnisproblem, II, Berlim, 1922, p. 46 segs. 409. Sobre o pensamento poltico: L. STRAUSS, The political Philosophy of H., OxfoTd, 1936, 2., ed., Chicago, 1952; R. POLIN, Politique et philosophie chez T. H., Paxis, 1953, que a obra fundamental; H. WAR- RENDER, The Political Philosophy of H., Oxford, 1957. Bibliografia in "Revue Internationale de PhilosopMe", 1950; A. PACCHI; en "Pivista critica di storia della filwofia", 1962, 4. 130 III A LUTA PELA RAZO 411. RACIONALISMO E CARTESIANISMO A filosofia de Descartes pode ser considerada sob dois aspectos diversos. Sob um primeiro aspecto, uma tcnica racional que procede de modo autnomo e geometricamente, isto , utilizando apenas as ideias claras e distintas numa ordem rigorosa. Sob este aspecto, em primeiro lugar o empenho em realizar a autonomia da razo empregando a tcnica desta em todos os campos em que a sua aplicao possvel; e, em segundo lugar, o empenho em respeitar as exigncias
internas desta tcnica, pondo de lado o que no pode ser reduzido a ideias claras e distintas e ordem de tais ideias. Sob o outro aspecto, pelo contrrio, a filosofia de Descartes um conjunto de doutrinas metafsicas e 131 fsicas que concernem principalmente dualidade das substncias (alma e corpo), s provas da existncia de Deus, espiritualidade e liberdade da alma, mecanicidade da substncia extensa, e portanto do mundo vegetal e animal. O prprio Descartes parece empenhar-se mais no sucesso deste segundo aspecto da sua filosofia do que no primeiro, talvez porque o sucesso do primeiro lhe parecia garantido. Todavia, foi precisamente o primeiro aspecto da sua filosofia que lhe assegurou a eficcia histrica e fez dela a protagonista das disputas filosficas do sculo XVII. Por este aspecto, de facto, o cartesianismo surge como o episdio capital dessa luta pela razo que se pode considerar o caracterstico da cultura filosfica do sculo XVII. Esta luta tende a fazer prevalecer a razo, e a sua autonomia de juzo, no s no domnio cientfico como nos domnios moral, poltico e religioso, e tende, paralelamente, a esclarecer o prprio conceito de razo. Sobre o primeiro ponto, tal luta vai muito alm dos intentos de Descartes, que se recusara a estender a investigao racional para l das fronteiras da cincia e entendera a sua filosofia como uma substancial confirmao da metafsica, da moral e da religio tradicionais.
Sobre o segundo ponto, o cartesianismo constitui apenas uma das alternativas que a luta pela razo suscita: precisamente, a que v na razo uma fora nica, infalvel e omnipotente que como tal no tem necessidade de nada, salvo de si, para se organizar e exercer o seu poder orientador. Frente a esta alternativa delineia-se, a partir de Gassendi e 132 de Hobbes, uma outra, para a qual a razo uma fora finita ou condicionada, cuja esfera de aco se circunscreve aos vrios campos da sua actividade e que em cada um destes campos subjacente a limites ou a condies diversas. Ambas estas alternativas compartilham o ideal geomtrico da razo e vem nos Elementos de Euclides o maior monumento antigo desta e na cincia galilaica a sua mais recente expresso. Alm disso, uma e outra alternativa reconhecem na razo o nico guia autnomo do homem e procuram por isso fazer valer os ensinamentos desta no prprio domnio da f religiosa. Sob muitos aspectos, no entanto, o seu contraste radical. Inspiram-se fundamentalmente no cartesianismo, alm de Espinosa e de Leibniz (o primeiro dos quais, no entanto, acusa fortemente a influncia de Hobbes nas suas doutrinas polticas), uma pliade de pensadores e cientistas que amide polemicaram contra Descartes no campo das suas doutrinas especficas e especialmente sobre a mecanicidade dos corpos viventes, sobre a relao entre alma e corpo, sobre a relao entre Deus e o mundo e outros temas similares. Algumas vezes, estes pensadores e cientistas proclamavam-se "anticartesianos", como anticartesianos foram sob muitos aspectos, Espinosa e
Leibniz; mas a herana captal de Descartes nem por isso se perdera. A verdadeira aco anticartesiana foi aquela que viu no cartesianismo a ponta extrema do racionalismo invasor e que portanto lhe ops a tradicional escolstica que permanece dominante ainda por muito tempo nas universidades europeias e nos colgios dos religiosos. De facto, excepo 133 das universidades holandesas, em que Descartes encontrou frequentemente expositores e sequazes [em Utrecht ensinou um dos seus primeiros alunos, Henry le Roy ou Regius (1598-1679)], as universidades europeias pouco ou nada sofreram o influxo do cartesianismo. Em Frana, a Sorbonne no lhe abriu as portas porque o ensino das novas doutrinas havia sido proibido pelo Parlamento de Paris, em 1625. Por vezes, no entanto, o cartesianismo penetrava nos baluartes da velha escolstica como objecto de refutao; outras vezes, tambm, a refutao restringia-se a esta ou quela doutrina enquanto que outras eram acolhidas. A literatura anticartesiana da segunda metade do sculo XVII rica de refutaes, de crticas, de rectificaes e de aceitaes parciais que, no seu conjunto, demonstram a importncia crescente que o cartesianismo assumia na cultura da poca. Ele comeava tambm a constituir um outro fenmeno caracterstico deste sculo, a escolstica ocasionalista, e era utilizado pelo jansenismo, como uma defesa da espiritualidade religiosa, situada para l da razo cartesiana, num domnio inacessvel a ela. Por outro lado, o racionalismo no cartesiano dava lugar a outro
fenmeno caracterstico do sculo, o libertinismo erudito, que utilizava, para a crtica das crenas religiosas tradicionais, motivos extrados do Renascimento italiano, e encontrava na obra de Gassendi a sua principal expresso filosfica. A obra de Hobbes pode ser considerada, no seu conjunto, como a primeira formulao rigorosa do conceito da razo finita, conceito que, retomado por Locke, 134 devia constituir o fundamento do empirismo e do iluminismo setecentista. Relativamente independente destas duas alterna. tivas (contra as quais, todavia, ocasionalmente polemizou) foi o neoplatonismo ingls que se inseriu na luta pela razo com a sua defesa do racionalismo religioso, defesa cujos instrumentos vai buscar ao platonismo do Renascimento italiano. 412. A ESCOLSTICA CARTESIANA: O OCASIONALISMO Todos os grandes movimentos do pensamento da Idade Moderna so acompanhados por uma forma de escolstica, isto , pela tentativa de os utilizar para uma justificao da f religiosa. Como perodo histrico, a Escolstica tem o seu termo em meados do sculo XIV quando, com o humanismo e o Renascimento, se iniciou a Idade Moderna. Porm, como forma de filosofia, a escolstica no tem poca determinada. Assim como a escolstica medieval consiste essencialmente na utilizao da filosofia antiga para justificao e sistematizao das crenas, crists, assim tambm escolstica a utilizao de uma filosofia qualquer para o mesmo fim. A escolstica cartesiana o ocasionalismo: ela vale-se da filosofia e da linguagem
de Descartes assim corno a escolstica medieval se valia da filosofia e da linguagem dos neoplatnicos ou de Aristteles. O problema de que se origina a escolstica cartesiana o das relaes entre alma e corpo. Descar135 tes considerara a alma e o corpo como duas substncias diversas e admitira como um facto, mas sem lhe dar explicao, a aco de uma substncia sobre outra. Esta aco recproca das duas substncias fora declarada impossvel pelo cartesiano francs Louis de la Forge no seu Tratado do esprito do homem (1666), em que fora estabelecida a distino entre as causas principais e as causas ocasionais da aco recproca. O movimento dos corpos era considerado como "causa ocasional" da sensao correspondente, enquanto que a causa verdadeira e principal ora atribuda aco de Deus. Uma doutrina anloga era defendida por Graut de Cordemoy (1620-84) e pelo cartesiano alemo Johann Clauberg (1622-1665). Mas o ocasionalismo encontrava a sua melhor formulao por obra de Ceulinex. Arnold Ceulinex, nascido em Anturpia, em 1627, falecido em 1669, foi autor de numerosas obras, das quais s algumas foram publicadas durante a sua vida. Foi editada em 1662 uma Mgica e em 1664 uma tica; as suas obras pstumas foram Physica Vera e Metaphysica Vera, publicadas respectivamente em 1688 e em 1691. Geulinex parte do princpio de que o homem no autor do que ocorre de um modo que ele no chega a compreender (quod nescis
quomodo flat id non facis). Ora, eu no conheo o modo como a minha vontade produz o movimento do meu corpo ou como o meu corpo produz os movimentos dos outros corpos: isto sinal de que eu sou o espectador, no o actor deste movimento. Por outro lado, e pelo mesmo motivo, o corpo no a causa das sensa136 es que se verificam na conscincia. Deve-se ento reconhecer que o acto da vontade, a que se segue o movimento do corpo, a mutao do corpo a que se segue a sensao no nosso esprito, so apenas causas ocasionais desse movimento e dessa sensao, e que a causa verdadeira , pelo contrrio, o prprio Deus. Daqui deriva o nome de ocasionalismo, dado teoria. No o corpo a causa das sensaes, nem a vontade a causa dos movimentos corpreos. Deus produz, directamente, na alma, a sensao por ocasio de uma modificao corprea ou o movimento corpreo por ocasio de uma volio da alma. A nica causa verdadeira Deus; as outras so apenas ocasies. Esta doutrina tem um alcance religioso imediato porque tira ao homem toda a possibilidade de aco no mundo e atribui a Deus todo o poder. O homem no verdadeiramente uma realidade, uma substncia, segundo Geulincx, mas somente o modo da substncia, que Deus. O nosso corpo um modo do infinito e indivisvel corpo, como o nosso esprito um modo do esprito infinito. Por isso o homem no pode fazer nada e deve limitar-se a ser o espectador do que Deus opera nele. A sua virtude fundamental deve ser a humildade, a qual inevitavelmente o conduz ao conhecimento de si. Encontra-se o mesmo carcter limitativo e negativo em relao ao homem na teoria do conhecimento de Geulincx, segundo a qual o
nico conhecimento corto para o homem o reconhecimento de que as coisas no so em si mesmas coisas como elo as conhece. Deste ponto de vista, as percepes 137 sensreas so puramente subjectivas e o prprio conhecimento evidente fica apenas superfcie das coisas, a fim de que ns, necessariamente, possamos apreender das coisas s o que entra nas categorias do nosso pensamento. O homem s pode adquirir uma cincia corta das suas prprias aces e paixes (amor, dio, afirmao e negao), ao passo que deve reconhecer a Deus a sapincia infinita e a cincia de tudo o que existe, desde o movimento e os corpos at ao esprito e ao prprio homem (Metaph. vera, 111, 6). O ocasionalismo iria encontrar a sua melhor formulao na teoria da "viso em Deus" de Malebranche. 413. MALEBRANCHE: RAZO E F Nicolas Malebranche nasceu em Paris em 1638 e foi desde 1660 padre da Congregao do Oratrio, congregao fundada pelo cardeal Berulle, amigo de Descartes, com o fim de promover a elaborao cientfica da doutrina da Igreja. Os estudos do Oratrio eram orientados mais para Sto. Agostinho do que para S. Toms e quando, em 1668, Malebranche, leu o Tratado do Homem de Descartes, pareceu-lhe ter descoberto uma via que, conjugandose com o agustianismo, lhe podia permitir a defesa e a ilustrao da verdade da f. Em 1674-75 publicava a sua obra fundamental Procura da verdade, e em seguida, as Conversaes crists (1676); o Tratado da
Natureza e da Graa (1680), o Tratado 138 de Moral (1683); as Meditaes crists e metafsicas (1683); os Dilogos de um filsofo cristo e de um filsofo chins sobre a natureza de Deus (1708). Alm destes, so notveis os escritos polmicos de Malebranche contra Arnauld, que havia criticado a sua doutrina no livro Sobre as verdadeiras e falsas ideias. Malebranche faleceu a 13 de Outubro de 1715, depois da visita de Berkeley, que fatigara e irritara o filsofo j velho (77 anos) e enfermo. Malebranche atribui razo o mesmo valor absoluto que Descartes lhe conferira. "A razo de que eu falo, diz ele (Trait de Mor., 1, 2) infalvel, imutvel, incorruptvel. Ela deve ser sempre soberana. O prprio Deus a segue". Os lamentos sobre a corrupo da razo humana, sobre a debilidade que a toma sujeita ao erro, baseiam-se num equvoco: necessrio habituarmo-nos a distinguir a luz das trevas ou das falsas luzes, isto , a recorrer a verdadeira razo, a razo cartesiana da evidncia necessria, da imaginao e do verosmil. "A evidncia, ou seja, a inteligncia, prefervel f. Porque a f h-de passar, mas a inteligncia subsistir eternamente". A f um bem porque conduz a inteligncia e porque sem ela no se podem alcanar certas verdades, necessrias virtude e felicidade eterna. Mas a f sem a inteligncia no torna o homem virtuoso, uma vez que no o ilumina nem o conduz verdade. Deste modo, a razo cartesiana assume em Malebranche um significado religioso e torna-se no instrumento mais adaptado para a ilustrao e defesa da verdade religiosa. Male139
branche plenamente consciente do carcter escolstico da sua filosofia. O problema que ele se prope o de conciliar as exigncias da razo com os dogmas teolgicos, e ele, pe em confronto este problema com o da fsica, que pretende estabelecer o acordo entre a razo e a experincia. "Os que estudam a fsica no raciocinam nunca contra a experincia mas tambm no concluem nunca pela experincia contra a razo. Hesitam quando no vem o meio de passar de uma a outra; hesitam, digo, no sobre a certeza da experincia nem sobre a evidncia da razo, mas sobre o meio de conciliar uma com a outra, Os factos da religio, ou os dogmas estabelecidos, so as minhas experincias em matria de teologia. Mas eu ponho-as em dvida e assim me regula e conduz a inteligncia. Mas, quando, procurando segui-las, sinto que vou contra a razo, detenho-me de sbito, sabendo bem que os dogmas da f e os princpios da razo devem estar de acordo na verdade, qualquer que seja a oposio com que se apresentem ao meu esprito" (Entr. sur Ia mt., 14). O ponto de vista aqui expendido de um acordo intrnseco e essencial entre a f e a razo o mesmo de S. Toms, mas a novidade que a razo de que fala Malebranche no a aristotlica (de que falava S. Toms) mas a cartesiana. O mtodo, as regras, os problemas da razo so, segundo Malebranche, os que Descartes esclareceu. E da que Malebranche pea ao cartesianismo a resposta ao problema escolstico do acordo entre razo e f. 140
414. MALEBRANCHE: A VISO EM DEUS A utilizao dos pontos de referncia fundamentais da filosofia cartesiana para a construo de uma filosofia escolstica devia incluir uma reelaborao desses pontos de referncia. Os aspectos originais da filosofia de Malebranche reduzem-se a uma reelaborao desse gnero. Malebranche aceita o princpio fundamental da filosofia cartesiana: o objecto imediato da conscincia a ideia. O homem no conhece directamente e em si mesmos os objectos que esto fora dele: s os conhece atravs dos trmites das ideias. Ora as ideias so, segundo Malebranche, "seres reais" e, alm disso "seres espirituais" assaz diferentes dos corpos que representam e superiores a esses corpos, tanto quanto o mundo inteligvel mais perfeito do que o mundo material. Porm, mesmo que elas fossem seres pequenssimos e desprezveis, nunca poderiam ser produzidas nem pelas coisas exteriores (segundo a doutrina aristotlica que faz da ideia a espcie impressa da prpria coisa na alma) nem pela alma. Produzir as ideias significa criar, e nenhuma criatura, nem mesmo o homem, tem o poder de criar. Malebranche nega terminantemente que o homem participe, sob este aspecto, da natureza de Deus. Afirma, de acordo com o ocasionalismo, que a nica verdadeira causa de tudo o que acontece Deus e que o homem toma por causas as ocasies de que a vontade divina se serve para levar a efeito os seus decretos. uni 141 prejuzo crer que uma bola em movimento que se choca com ou-tra
seja a verdadeira e principal causa do movimento que lhe comunica; ou que a vontade da alma seja a verdadeira e principal causa do movimento do brao. Este prejuzo assenta no facto de que a bola sempre posta em movimento pelo choque com outra bola e que os nossos braos se movem todas as vezes que o quisermos. Mas este facto explicado de modo completamente diverso. Significa apenas que, na ordem da natureza, certos factos so necessrios a fim de que ocorram outros, embora no sejam a causa destes outros. O embate das duas bolas apenas a ocasio para o autor do movimento da matria executar o decreto da sua vontade comunicando outra bola urna parte do movimento da primeira. E assim a nossa vontade de mover o brao ou de rememorarmos determinadas ideias apenas urna ocasio de que Deus se serve para levar a efeito o seu decreto correspondente (Rech. de la vr., 111, 11, 3). Consequentemente, a tese de Malebranche a de que a alma humana v directamente em Deus a causa de todas as coisas. Em primeiro lugar, de facto, necessrio que Deus tenha em si a ideia de todos os seres que criou, de outro modo no o poderia ter criado. Em segundo lugar, Deus est intimamente unido s nossas almas pela sua presena, de modo que se pode dizer que ele o lugar dos espritos, do mesmo modo que se diz que o espao o lugar dos corpos. Da que o esprito possa ver em Deus as obras de Deus, no caso de Deus lhe querer revelar aquilo que em si existe (lb., 111, 11, 6). Aqui se v 142 como Malebranche concilia a tese cartesiam de Deus garante da verdade das nossas ideias com a tese agustiniana da presena de Deus no homem como
luz e guia da sua razo. As ideias so eternas, imutveis, necessrias: portanto, s podem encontrar-se numa natureza imutvel. Deus v em si mesmo a extenso inteligvel, o arqutipo da matria de que o mundo formado e em que habitam os nossos corpos; o ns vemo-la nele, porquanto os nossos espritos habitam na regio universal, na substncia inteligvel que encerra as ideias de todas as verdades que descobrimos, seja em consequncia das leis gerais que regulam a unio do nosso esprito com a razo absoluta, seja em consequncia das leis gerais que regulam a unio da nossa alma com o nosso corpo (Entr. sur Ia mth., 1, 10). Isto constitui a primeira prova fundamental da existncia de Deus. Deus deve de facto conter a ideia da extenso infinita e ser o arqutipo de uma infinidade de mundos possveis, Mas o ser infinito e perfeito implica necessariamente a prpria existncia; e a proposio "h um Deus" a mais clara de todas as proposies que afirmam a existncia de qualquer coisa e tem a mesma certeza que o princpio: eu penso, logo existo (Ib., 2). verdade que ns no vemos Deus em si mesmo mas apenas em relao com as criaturas materiais, isto , s enquanto a substncia de Deus pode participar delas ou ser representada por elas. Contudo, a viso que ns temos de Deus a nica fonte do nosso conhecimento e a nica fora da nossa razo. Malebranche tira todo o partido possvel 143 da reconhecida incapacidade das criaturas para criar, para produzir
e agir de outro modo que no seja como passivos instrumentos de um decreto de Deus. No h qualquer relao de casualidade entre o corpo e o esprito, nem entre um corpo e outro ou entre um esprito e outro. "Nenhuma criatura pode agir sobre outra por uma eficcia que lhe seja prpria". A unio entre a alma e o corpo fruto de um decreto divino, de um decreto imutvel, que nunca fica sem efeito. Deus quis e quer incessantemente que as diversas modificaes d crebro humano sejam sempre seguidas por pensamentos diferentes do esprito que lhe est unido; e s esta vontade constante e eficaz do criador estabelece a unio das duas substncias. Deus, porm, no exerce a' sua vontade desordenadamente, mas segundo uma ordem que ele prprio estabeleceu que w ordem ds causas ocasionais (Ib., 7). @ Este o motivo mais forte, segundo Malebranche, para reconhecer a realidade das coisas, de que o nosso. esprito no tem conhecimento directo j que nada. conhece imediatamente a no ser ideias. Malebranche repete, a propsito da existncia de uma realidade exterior s ideias, argumentao cartesiana de que, se aquela realidade no existisse, a nossa tendncia para crer nela seria falaz e Deus teria assim permitido que ns vivssemos num perfeito engano Mas' evidente que esta argumentao cartesiana perdeu muito do seu valor do ponto de vista de Malebranche. Se o homem v todas as suas ideias em Deus, a verdade destas ideias no consiste na sua correspondncia a uma realidade 144 MALEBRANCHE e i mente em serem elas parlies ou xtenor, mas nica elementos daquela extenso inteligvel que subsiste na razo divina. Do ponto de vista de Malebranche, as ideias para serem
verdadeiras, no tm necessidade de terem um objecto exterior, porque a verdade delas garantida pelo facto de os arqutipos subsistirem na razo divina. Daqui deriva a mais acentuada problematicidade que a afirmao da realidade externa tem em Malebranche relativamente a Descartes. Segundo Malebranche, a cidade exterior no possui uma evidncia total, similar que concerne existncia de Deus e do nosso esprito. Alm disso, a existncia do mundo no necessria relativamente a Deus, mas depende de um decreto divino livre e indiferente. Por isso s Deus a pode garantir; e para nos convencermos da existncia dos corpos "h que demonstrar no s que h um Deus e que Deus veraz, mas tambm que Deus nos garantiu que efectivamente nos criou" (Rech. de la vr., VI, cl.). Mas esta prova de facto, segundo Malebranche, est feita, porque a f, efectivamente, ensina-nos que Deus criou o mundo corpreo. O carcter problemtico que a crena na realidade exterior conserva em Malebranche e que eliminado apenas com um explcito apelo f, levou a pensar certos crticos antigos e modernos que o desenvolvimento lgico da tese de Malebranche deveria conduzir negao da realidade dos corpos externos, como se encontra em Berkeley Q 465). Mas tal concluso , na realidade, contrria lgica do pensamento de Malebranche. O apelo f faz parte essencial desta lgica, que visa stibstandal145 mente esclarecer os princpios da prpria f, utilizando a problemtica cartesiana; e neste caso o apelo f servido por uma razo filosfica conexa prpria natureza do ocasionalismo. Diz Malebranche: "Se bem que se possa formular contra a existncia dos corpos objeces que parecem insuperveis,
principalmente para os que no sabem que Deus deve agir em ns por meio de leis gerais, eu no creio que ningum possa alguma vez duvidar delas seriamente" (Entr. sur la mt., 6, 7). Aqui est indicado o motivo fundamental que garante a realidade dos corpos externos. A ordem e a sucesso das ideias no homem seguem as leis gerais que no teriam sentido nem valor se se prescindisse da ordem e da sucesso das coisas a que as ideias se referem. Se Deus torna visveis ao homem as simples ideias segundo uma ordem estabelecida imutvelmente, essa ordem concerne tambm aos objectos de tais ideias- e por isso pressupe a realidade desses objectos. As leis da aco divina implicam as causas ocasionais; se as causas ocasionais das ideias faltassem por completo, a aco divina, suscitadora das ideias, no teria uma lei e seria em absoluto arbitrria. O que contrrio a um ponto essencial do pensamento de Malebranche. 415. MALEBRANCHE: AS VERDADES ETERNAS Trata-se de um ponto capital que estabelece uma ntida diferena entre a doutrina de Malebranche e a de Descartes e demonstra a diversidade de inspi146 rao e de finalidade das duas doutrinas. Para Descartes, as verdades e as leis eternas so garantidas por Deus, uma vez que so decretos livres do seu arbtrio ( 399). Para Descartes, Deus no um princpio religioso, mas um princpio filosfico: ele no tem outra funo que no seja a de garantir a imutabilidade das verdades eternas e dos princpios fundamentais da natureza. Descartes movido predominantemente pelo interesse filosfico e cientfico, e recorre a Deus unicamente a fim de encontrar na sua vontade imutvel uma garantia dos princpios da filosofia e da fsica. Da que
afirme que tais princpios so livros decretos de Deus e como tais imutveis. Em Malebranche, pelo contrrio, predomina o interesse religioso: o objecto da sua filosofia no consiste em encontrar garantias para os princpios cientficos e filosficos, mas antes em conduzir o homem a uma clareza racional no tocante a Deus e s verdades da f. Por isso Malebranche teve de inverter a tese de Descartes: no a vontade de Deus que garante ao homem a verdade dos princpios e das verdades eternas, mas antes as verdades eternas que revelam ao homem a vontade divina nas suas regras necessria. Assim se explica o paradoxo de que para o racionalista Descartes as verdades eternas sejam decretos arbitrrios de Deus, ao @passo que para o pio Malebranche so independentes de Deus e regras da sua actividade. A crtica que Malebranche faz s teses de Descartes sobre este ponto consiste em mostrar que ela no garante nem a cincia nem a religio. Se as verdades e as leis fossem estabelecidas s 147 por um acto livre da vontade criadora de Deus, se, numa palavra, a razo que o homem consulta no fosse necessria, no poderia haver verdadeira cincia. J no haveria diferena entre uma verdade eterna (,por exemplo, que duas vezes quatro igual a oito e que os trs ngulos de um tringulo so iguais a dois rectos) e uma qualquer proposio dotada de verdade apenas aparente. O recurso imutabilidade do decreto divino no basta, j que se a vontade de Deus livre para estabelecer verdades deste gnero,
tais verdades permanecem privadas de uma intrnseca necessidade. "Eu no posso conceber, diz Malebranche, a necessidade na indiferena, no posso conciliar entre si duas coisas to opostas". Alm disso, a tese cartesiana tira religio o seu melhor fundamento. "Se a ordem e as leis eternas no fossem imutveis por necessidade da sua prpria natureza, as provas mais claras e mais fortes da religio seriam, ao que me parece, destrudas no seu prprio princpio, assim corno a liberdade e as cincias mais slidas... Como se poder provar que uma desordem que os espritos estejam sujeitos aos corpos, se no se tiver uma ideia clara da ordem e da sua necessidade e se no se souber que o prprio Deus obrigado a segui-la pelo amor necessrio que dedica a si mesmo?" (Rech. de Ia vr., X sc.). Este ltimo argumento para Malebranche decisivo. Descartes preocupara-se em estabelecer o carcter necessrio das verdades eternas apenas relativamente ao homem e considerara por isso suficientemente garantido este carcter da imutabilidade de Deus. Mas se aquelas verdades (pensa Malebranche) 148 no so tambm necessrias em relao a Deus, no oferecem nenhum meio para chegar at ele e para se dar conta da vontade divina no que respeita ordem que Deus entende que seja respeitada pelos homens. Se, ao invs, essas verdades so para o prprio Deus necessrias, oferecem a melhor via para chegar a Deus e para se dar conta claramente das suas vontades no que respeita ao homem. A preocupao que domina Malebranche neste ponto crucial portanto religiosa, ao passo que a preocupao que dominava Descartes ora filosfica e cientfica. Por outros termos, a tese de Descartes levava ao agnosticismo perante os desgnios de Deus que concernem ao homem, isto , perante os problemas
religiosos. A tese de Malebranche conduz justificao absoluta da ordem do mundo e da atitude religiosa que nela assenta. Segundo Descartes, Deus poderia ter construdo o mundo de um outro modo qualquer e o mundo teria sido igualmente admirvel: o que quer dizer, nota Malebranche, que o Mundo de modo algum admirvel. Segundo a tese de Malebranche, Deus devia construir o mundo como o construiu, porque s desse modo ele realiza da melhor maneira a finalidade que Deus se propunha. Qual essa finalidade? Deus criou o mundo "para se conceder uma honra digna de si". Como um arquitecto se compraz na obra que fez cmoda e bela, assim Deus goza da beleza do universo, o qual traz em si os caracteres das qualidades de que se gloria, das qualidades que estima e ama (Ib., IX sc.). Assim o mundo se justifica do ponto de vista divino porque a obra 149 em que Deus se reflecte a si mesmo, e de que ele se honra. E esta justificao possvel precisamente porque as verdades eternas sobre as quais se funda a ordem do mundo no so indiferentes a Deus, mas obrigatrias tanto para ele como para o homem. A inverso do procedimento cartesiano realiza, no pensamento de Malebranche, uma justificao religiosa que era total mente estranha ao pensamento de Descartes. Da soberania do criador sobre as suas criaturas derivam as regras da moral, os deveres do homem para com Deus. O poder divino faz ser e conserva
o homem criando-o de instante a instante; ilumina-o com a sua luz e actua nele, condu-lo incessantemente para o bem, de sorte que a primeira e fundamental norma do homem o amor para com Deus que , pois, tambm amor para consigo mesmo. Assim Malebranche faz falar o Verbo nas Md. crt. (XII, 5): " o -meu poder que faz tudo, tanto o bem como o mal. As causas naturais no so seno causas ocasionais, as quais determinam a eficcia das leis que eu estabeleci para agir sempre de um modo digno de mim. Por isso deves s amar-me a mim, j que ningum alm de mim produz em ti os prazeres que experimentas em tudo o que ocorre no teu corpo". Um contemporneo de Malebranche, Dortous de Mairan (16781771), com que Malebranche manteve uma correspondncia filosfica, pe a Malebranche o dilema entre o espinosismo e o imaterialismo. Se ns s vemos em Deus a extenso inteligvel, isto , uma pura ideia que no tem qualquer objecto ou 150 realidade correspondente nem em Deus nem fora de Deus, tem de se concluir que os corpos no existem de facto e que a revelao nos engana quando fala da existncia deles. Para fugir a esta concluso no se tem de admitir que a extenso existe como realidade no prprio Deus, como atributo deste, que a tese de Espinosa. Malebranche responde a este dilema reportando-se sua doutrina da viso em Deus. Ns vemos em Deus as ideias de que o prprio Deus se serviu como arqutipos da sua criao. No conhecemos por isso com absoluta certeza a existncia dos corpos que Deus criou em conformidade com arqutipos, mas podemos estar seguros da sua existncia pela prpria revelao de Deus. Por outro lado, a viso em Deus supe a diversidade absoluta entre o Deus o os entes criados, sejam eles arqutipos ou corpos. E, na
realidade, nada mais estranho a Malebranche do que a tese pantesta de Espinosa, segundo a qual toda a realidade um modo ou uma manifestao de Deus. Malebranche mantm-se fiel transcendncia de Deus relativamente ao mundo, e a sua "viso em Deus" no mais que a tese do agustianismo tradicional, repensada no plano do racionalismo cartesiano. 416. ARNAULD E A LGICA DE PORT-ROYAL A escolstica ocasionalstica no foi a nica utilizao religiosa do cartesianismo. Uma utilizao para o mesmo fim, porm mais livre e mais ajustada aos seus princpios, encontrou-a o cartesianismo no mbito do jansenismo por obra do seu maior representante, Antoine Arnauld (1612-1694), a quem ainda o cartesianismo deve a forma institucional que debalde o seu fundador lhe procurara dar. Os jansenistas, como se ver, ( 420), viam no agustianismo a fonte da sua doutrina sobre a graa; Arnauld procura conciliar o cartesianismo com o agustianismo. Esta conciliao, porm, no assume para ele a forma que recebeu na doutrina de Malebranche, isto , uma escolstica em que o cartesianismo, convenientemente modificado, utilizado para uma defesa das verdades religiosas. Arnauld aceita todas as teses do cartesianismo preocupando-se em mostrar a coincidncia do princpio cartesiano do cogito com a posio fundamental de S.to Agostinho. Esta , de facto a substncia das Quartas objeces (1641) s Meditaes de Descartes. O cartesianismo, segundo Arnauld, abrange o domnio inteiro do conhecimento que o homem pode conseguir com os seus meios naturais: para l deste domnio, a f, como o prprio Descartes dissera, pode ter livre curso, Arnauld por isso hostil
tentativa de Malebranche de fazer intervir Deus a cada passo no curso das operaes cognitivas do homem; e a sua teoria do conhecimento formulada em ntida anttese com a de Malebranche contra o qual se dirige polemicamente o escrito em que ela vem exposta: Sobre as verdadeiras e falsas ideias (1683). Se o conhecimento para Male5ranche uma viso em Deus, para Arnauld a per152 cepo imediata de um objecto. A ideia , segundo Arnauld, precisamente tal percepo. No uma imagem no sentido em que um quadro representa o original ou uma palavra falada ou escrita representa um pensamento, mas imagem no sentido em que a coisa mesma representatvamente ou objectivamente presente no espirito. Por seu turno, * esprito, ao perceber o objecto, percebese tambm * si mesmo: por isso conscincia no sentido cartesiano ou reflexo no sentido lockiano. (Des vraies et des fausses ides, V). Este ponto de vista, que seria felizmente retomado por Locke, o fundamento da Lgica de Porto Real ou arte de pensar que Arnauld escreveu em colaborao com outro pensador de Port-Royal, Pierre Nicole (1625-95) e foi publicada em 1662. Trata-se de uma obra que teve. uma influncia imensa sobre a lgica e sobre a gnoseologia subsequentes e que constitui a mais perfeita codificao da filosofia cartesiana. Como a lgica tradicional e, em particular, a nominalstica. (a nica ainda viva na poca), a lgica de Port-Royal tem em primeiro lugar um escopo normativo; mas diversamente da lgica tradicional, este
propsito normativo incide sobretudo na inveno ou na descoberta, mais do que na sistematizao dos conhecimentos. Assim se toma nota da critica que os escritores do Renascimento e especialmente Ramus ( 342) tinham feito lgica tradicional, denunciando-lhe a esterilidade. Mas a diferena, fundamental entre esta lgica e a tradicional reside no objecto que ela toma em cons;.de153 rao. A lgica tradicional tinha por objecto os termos ou os sinais, isto , as palavras com os seus significados e as relaes entre estes significados. A lgica de Port-Royal ao invs, tem por objecto as operaes do esprito: mais precisamente, do esprito enquanto pensamento, quer dizer, actividade cognitiva ou teortica. Estas operaes so quatro: o conceber, que a Aluso das coisas que se apresentam ao esprito e d lugar ideia; o julgar, que consiste em unir ou desunir as ideias conforme concordem ou no entre Si: a unio constitui a proposio afirmativa, a desunio a proposio negativa; o raciocinar, que consiste em formar uni juizo partindo de outros juzos; e, enfim, o ordenar, que consiste em dispor diversos juzos e raciocnios segundo um mtodo (Logique, Discurso, 1). Deste modo, a lgica vinha assumir aquele carcter (corno hoje se diz) mentalstico, pelo qual as operaes que ela considera so actos ou actividades do esprito pensante, carcter este que ela conservou por muito tempo at ao surgir da nova lgica matemtica
cerca de meados do Oitocentos. E, por outro lado, o esprito ora concebido corno actividade que une ou divide um certo material, mas que sobretudo o une, ordenando-o segundo certos procedimentos ou esquemas. Este conceito do esprito, que estava decerto implcito na filosofia de Descartes e que a lgica de Port-Royal tornou explcito o mesmo que ser retomado por Locke, e, atravs dele, pelo empirismo ingls, por Kant e por 154 grande parte da filosofia oitocentista. Num sentido estritamente derivado dele, Kant dir que a actividade do esprito actividade sinttica. 417. GASSENDI A primeira tentativa para opor ao conceito cartesiano da razo um conceito que tivesse em conta os limites que ela encontra nos vrios campos em que deve exercer-se, a de Gassendi. A instncia que Gassendi ope ao cartesianismo a antiga, renascentista, do cepticismo. O cepticismo foi a caracterstica dominante daquela corrente libertina em que se insere a obra de Gassendi; mas para o prprio Gassendi foi apenas o instrumento para limitar as pretenses da razo, e por outro lado, para reconduzir razo as crenas religiosas tradicionais. Pierre Gassendi (nascido a 22 de Janeiro de 1952 e falecido a 24
de Outubro de 1655), foi
padre e
cnego de Dijon, professor de filosofia na Universidade de Aix e de matemtica no Colgio Real de Paris. Inspirando-se em Charron ( 344), assumiu Gassendi uma atitude crtica e cptica em relao a todas as principais tendncias filosficas do seu tempo, a saber: a escolstica aristotlica, contra a qual escreveu Exerccios paradoxais contra Aristteles (1624); o ocultismo e a magia, que criticou na pessoa de Fludd (Epistolica dissertatio in qua praec7pua princi .pia philosiphiae Fluddi deteguntui [16301); e o cartesianismo, contra o qual formulou as Quintas objeces s Meditaes, reiteradas numa Disquisitio metaphysica seu dubitationes et instantiae 155 adversus Renali Cartesii nwtaphysicam (1644). Entretanto, vinha-se interessando cada vez mais pela filosofia de Epicuro e os frutos deste interesse foram o De vita et moribus Epicuri (1647), as Aninwdversiones in decimium librum Diogenis Iaertii (1649), o Sywagma philosophiae Epicuri (1649), e um volumoso Syntagma philosophicum que veio a lume postumamente (1658). Uma defesa da religio no sentido de uni expedit credere (no de urna escolstca), assim se pode definir o escopo principal da actividade filosfica de Gassendi. Para esta defesa, no considerava til nem o aristotelismo (que era ainda utilizado pela filosofia acadmica) nem o cartesianismo (que seria utilizado por Malebranche e Arnauld), porquanto contra ambas estas doutrinas Gassendi considerava prevalecentes as instncias cpticas que lhe minavam os fundamentos. A tais instncias resistia, segundo Gassendi, a alternativa materialista, em que, portanto, havia que
assentar a possibilidade da f religiosa. Da a tarefa que Gassendi assumiu relativamente a Epicuro, a qual consiste em libertar (como diz o ttulo completo do Synlagma) a filosofia de Epicuro de tudo o que contra a f crist. Para tal fim contribuiu Gassendi com uma srie de correces aos fundamentos da filosofia epicurista. Epicuro considerava os tomos como inegveis e incorruptveis: Gassendi considera-os como tais s no que respeita s foras naturais mas afirma que foram criadas por Deus e podem ser por ele aniquiladas. Epicuro sustentava que o movimento inerente aos tomos e por isso eterno; Gassendi afirma 156 que o movimento e a fora, que a causa dele, derivam de Deus. Epicuro asseverava que a ordem do mundo uma ordem mecnica, devida ao movimento dos tomos e s suas aces causais; Gassendi assevera que uma ordem finalsta, querida por Deus e governada pela sua providncia. Epicuro assegurava que a alma composta por tomos e por isso corprea e mortal; Gassendi admite, alm da alma vegetativa e sensvel que corprea, uma alma intelectiva que uma substncia imortal e incorprea e para a qual as imagens sensveis so apenas " ocasies" para se ascender ao entendimento das coisas que nada tm a ver com o mundo sensvel (Obra, II, p. 447). Epicuro dissociara a crena na divindade de toda e qualquer considerao fsica; Gassendi considera possvel chegar a conhecer a existncia de Deus a partir da considerao do finalismo, com base no principio de que "toda a ordem supe um ordenador". Como se conclui destas simples anotaes, Gassendi falhou.
inteiramente como restaurador do materialismo epicreo. E, no obstante as exigncias empiristas e experimentalistas que ele amide apresentou, falhou tambm inteiramente como conciliador da nova cincia com a metafsica materialista. A nova cincia tinha de facto como condio negativa a eliminao do finalismo, sobre a qual insistiam igualmente Galileu e Bacon, Descartes, Hobbes e Espinosa; e como condio positiva o reconhecimento da funo da matemtica na interpretao da natureza, reconhecimento esse que no se encontra na filosofia de Gassendi. Mas no 157 foram estas, como se disse, as tarefas que tal filosofia assumiu. Na sua parte sistemtica pretendeu ela ser a conciliao da concepo atomstica do mundo com a religio. E na sua parte polmica foi a defesa de certas exigncias que se revelaram particularmente fecundas nas suas filiaes histricas. A Descartes que (muito erradamente, como se viu) lhe dava na sua resposta o apelativo de "carne", Gassendi respondia assim: "Chamando-me carne, vs no me tirais o esprito, e chamando-vos eu esprito, vs no abandonais a vossa carne. Basta para tanto permitir-vos falar de acordo com o vosso gnio. Basta que, com a ajuda de Deus, eu no seja de tal modo carne que deixe de ser esprito e que vs no sejais de tal modo esprito que deixeis de ser carne; de modo que nem vs nem eu estamos abaixo nem acima da natureza humana. Se vs vos envergonhais da humanidade, eu no me envergonho dela" (Ib., III, p. 864). Esta reafirmao da natureza humana nos seus limites e nas suas imperfeies no , para Gassendi, um puro motivo polmico: implica, ao invs, para ele o reconhecimento do valor da
experincia, dos limites da razo, e portanto do carcter descritivo ou, como ele diz, "histrico" da cincia e da validade do conhecimento provvel. O primeiro escrito de Gassendi, os Exerccios paradoxais contra Aristteles, apela, contra a metafsica aristotlica, para o empirismo nominalista e sobretudo para Occam, repetindo as doutrinas fundamentais do filsofo ingls, principalmente a doutrina do conhecimento intuitivo que est na base 158 da gnoseologia de Occam. Deste ponto de vista, a cincia no pesquisa ou determinao das essncias mas descrio ou, como diz Gassendi, "histria" dos acontecimentos naturais tais como so atingidos pelo conhecimento sensvel. No prprio epicurismo v ele uma defesa dos direitos da experincia e, por conseguinte, do procedimento indutivo r, contra o dedutivo, da razo problemtica, que se vale de premissas provveis ou verosmeis, contra a razo dogmtica que pretende valer-se apenas de premissas necessrias, e da origem emprica de todas as ideias contra o inatismo racionalista (Syntagnw, 1, p. 92 segs.). Com estes instrumentos disposio, o homem, segundo Gassendi, no pode avanar para l dos fenmenos cujo crculo constitui o limite dos seus conhecimentos: mas com isto no se pretende negar as substncias que esto por sob ou para l dos fenmenos cujo conhecimento reservado a Deus como aquele que seu autor. Para o homem, ao
invs, o conhecer e o fazer coincidem nos limites da experincia sensvel, nos quais pode compor e decompor, com os instrumentos preparados pelas vrias cincias, os corpos naturais e assim dar conta da construo total da mquina do mundo (Ib., I, p. 122 b segs.). Com estas doutrinas, com o tom genericamente cptico das suas consideraes, (deduzidas amide de Charron), com a via prudentemente aberta para uma integrao sobrenatural, graas f, dos conhecimentos naturais do homem, com urna tica que defende igualmente o prazer mundano (considerado como ataraxia) e a felicidade ultramundana, a figura 159 de Gassendi uma boa imagem das tendncias, das aspiraes e das confuses conceptuais de uma larga parte da cultura filosfica do seu tempo. O libertinismo aceitou o materialismo de Gassendi sem as correces que o filsofo lhe veio trazer. Outras teses de Gassendi passaram para Hobbes, e Locke e encontraram por obra deles aquela formulao rigorosa que as devia tornar eficazes na histria da filosofia. Mas no seu domnio prprio Gassendi foi sobretudo um erudito, um literato e um retrico, e no era sem alguma razo que Descartes, em resposta s suas objeces, dizia: "Continuais a divertir-vos com os artifcios e os truques da retrica, em vez de nos dardes boas e slidas razes" (Resp., V,'1). 418. O LIBERTINISMO A palavra "libertino" permaneceu no uso corrente apenas com o sentido de dissoluto" ou "vicioso": uma conotao que lhe vem dos
opositores polmicos do libertinismo que (nem sempre de boa f e na esteira dos escritores medievais) consideraram indissolveis cepticismo religioso e imoralidade e interpretaram a tese de que o prazer o bem como; uma indicao da conduta moral dos seus defensores. Na realidade, "libertino" significou no sculo'XVII "livre pensador e por libertinismo, nesse sculo, deve entender-se o conjunto das doutrinas ou das atitudes que foram prprias, especialmente em Frana, de literatos, magistrados, pol160 GASSENDI t;cos filsofos e moralistas a que se deve a crtica das crenas tradicionais e por isso a preparao ou o incio da exploso iluminista. Esta crtica. foi em boa parte subterrnea, quer dizer, no se cingiu apenas aos escritos, mas estendeu-se tambm s conversaes e discusses privadas das quais, no entanto, permanecera traos na rica literatura annima ou clandestina do tempo. E foi, alm disso, sempre exercida com o pressuposto de que devia permanecer apangio de poucos, para no pr em perigo, com a sua difuso, instituies ou costumes considerados indispensveis ordem social e ao governo poltico. Neste ponto, o libertinismo, enquanto se liga cultura do Renascimento, est em anttese com o iluminismo que tem como programa a difuso da verdade entre todos os homens. O libertinismo no uma filosofia ou um corpo coerente de doutrinas, mas um movimento cultural compsito que uti@liza e faz suas, como instrumentos de crtica ou de libertao, doutrinas de diversa ascendncia. Filosoficamente, o libertinismo importante como episdio da luta pela razo que domina a filosofia dos sculos XVII e XVIII, um episdio que se liga ao predomnio poltico que o catolicismo conquistara nos pases latinos, com o seu cortejo de condenaes e de intolerncias.
J se disse que Gassendi pertence aos crculos libertinos de Paris, mas foi sobretudo com Franois de la Mothe le Vayor (1588-1672), Gabriel Naud (1600-53) e Elie Diodati, um dos quatro grandes eruditos que constituem o centro de atraco do libertinismo francs. Estes amigos de Gassendi foram 161 mais literatos do que filsofos: no partilharam o interesse religioso de Gassendi, mas partilhavam com ele, e em dose importante, a sua atitude cptica. Uma figura caracterstica do libertinismo foi a de Savinien de Cyrano, conDek@ido como Cyrano de Bergerac (1619-55), autor de uma comdia intitulada Le pdant jou, representada em 1645, de uma tragdia La mort d'Agrippine, representada em 1654, e de dois romances filosficos (os primeiros do gnero) intitulados Os estados e os imprios da lita (1657) e os Estados e os imprios do sol (1662). Cyrano inspira-se sobretudo em Campanella, que ele conhecera e frequentara em Paris, e dele recolhe o princpio da universal animao das coisas. "Representaivos, diz ele, o universo como um grande animal: as estrelas so mundos neste grande animal e so, por sua vez, grandes animais que servem de mundos a outros seres, por exemplo, ns, aos cavalos, etc.; e ns, por nossa vez, somos mundos em relao a certos animais incomparavelmente mais pequenos do que ns como certos vermes, os piolhos, os insectos; estes so ainda a terra de outros animais mais imperceptveis, de
modo que cada um de ns em particular aparece como um mundo grande a estes pequenos seres. Talvez a nossa carne, o nosso sangue, os nossos espritos no sejam mais do que um tecido de pequenos animais que se reagrupam, nos emprestam o seu movimento e, deixando-se cegamente conduzir pela nossa vontade que lhes serve de guia, nos conduzem a ns prprios e produzem todos juntos aquela aco a que chamamos vida" (Ies tats et empires de Ia lune, p. 92-95). 162 O universo assim um grande animal e todas as suas partes so, por seu turno, animais compostos de animais mais pequenos. Os mais pequenos destes animais so os tomos: assim, o atomismo epicurista se combina com o pampsiquismo renascentista italiano. Mas trata-se de um atomismo no expurgado do ponto de vista cristo como o de Gassendi. Os tomos so eternos. A sua disposio deve-se s foras que os animam e no obedece a um desgnio providencial. A alma composta de tomos, conhece s atravs dos sentidos e mortal. Os milagres no existem. Trata-se, como se v, de filosofemas que no tm nenhuma originalidade mas que so empregados, em obras em que a derriso e a stira do mundo contemporneo assumem uma parte importante, como instrumentos de destruio dos pilares conceptuais desse mundo. Ainda mais radicais so as negaes contidas numa vasta obra intitulada Theofrastus redivivus, composta provavelmente em 1659. Aqui todos os temas subterrneos do libertinismo esto claramente expressos com extrema nitidez. Deus no existe, a menos que se queira indicar com o nome de Deus o sol, que d vida e
calor a todas as coisas e que, juntamente com os outros astros, dirige o destino dos seres vivos. O Deus dos telogos uma mera entidade racional: o Deus do povo apenas a expresso do temor humano. A religio no passa da inveno de um legislador para refrear os homens e os poder governar; e, a este propsito, o autor do escrito retoma a velha tradio dos trs impostores, atribuindo-a ao imperador Federico da Sucia. 163 Todas as religies tm por isso o mesmo valor e @;@_, igualmente boas, isto , igualmente teis do ponto de vista poltico. Quanto ao homem, um animal entre outros, e como toda a espcie animal possui uma faculdade peculiar, assim o homem tem a da palavra interior e do discurso, j que a "razo no outra coisa do que o discurso com o qual discernimos o verdadeiro do falso e o bem do mal". Deste ponto de vista, entender, raciocinar e sentir so a mesma coisa. A conduta do homem dirigida, como a de qualquer outro animal, pelo seu desejo de se conservar, tal a lei da natureza que revelada experincia, No que se refere sociedade, a primeira lei no fazer aos outros o que no quererias que te fizessem a ti. As outras leis derivam das tradies que se formam nas diferentes sociedades humanas e que levam a julgar as aces segundo se conformam ou no aos costumes tradicionais. Atravs da obra de Fontenelle e de Bayle, o libertinismo prosseguir com o iluminismo, purificando-se dos seus
elementos mais grosseiros ou fantsticos e renegando o seu carcter de seita ou de contra-religio subterrnea. Mas a fim de que o iluminismo alcanasse, com a sua maturidade, a posse de meios conceptuais adequados, devia, por um lado, fazer sua a obra de Locke, na qual muitos temas renascentistas e libertinos encontraram a sua clareza racional; e, por outro, extrair de Newton uma concepo da natureza que deixasse definitiva mente de parte as velhas especulaes do animismo e da magia. 164 419. O PLATONISMO INGLS Uma boa parte da filosofia inglesa permanece, at ao aparecimento da obra de Locke, estranha influncia do cartesianismo. Mas nem por isso permanece estranha luta pela razo que a insgnia da filosofia no ~o XVII, sendo o terreno preferido, sobre que conduz esta luta, o da religio. O objectivo da luta libertar a religio da superstio das superstruturas inteis e das crenas irracionais e reduzi-la ao seu ncleo necessrio e necessariamente racional: ncleo idntico em todas as religies para que a ele os homens possam chegar unicamente merc das foras da razo, independentemente de qualquer revelao. Boa parte do pensamento filosfico ingls deste sculo dedica-se por isso construo de uma "teologia racional, ou melhor, descoberta de uma religio racional fiel aos podem naturais do homem e portanto tambm "natural". Esta religio foi
tambm, em seguida, denominada desmo. Como fundador do desmo ingls (que no entanto tem na Utopia de Thomas More um precedente importante) costuma-se considerar Edward Herbert de Cherbuiry (1583-1648), autor de unia obra intitulada De Veritate, prout distingui a revelatone, a verisinle, a possibili et falso (1624) assim como de escritos menores: De causis errorum (1624); De religione laici (1624); De religione Gentliwn (pstumo, 1663) e de uma autobiografia, tambm edio pstuma (1764).-0 intento de Herbert , declaradamente, o de solar nas vrias tradies refigio165 sas (entre as quais considera tambm a pagi), o ncleo racional de uma religio nica e universal Para a descoberta deste ncleo vale-se Herbert de conceitos esticos e neoplatnicos e, em primeiro lugar, da noo de um nico instinto universal que presidiria tanto formao dos minerais, das plantas, dos animais como ao pensamento e conduta dos homens. Este instinto o solo que a Sapincia divina imprimiu em ns e graas ao qual podemos distinguir o verdadeiro do falso, o bem do mal. Sobre ele assentam as verdades inatas ou noes comuns, as quais so independentes da experincia dos objectos (como a faculdade da vista independente da vista deste ou daquele objecto), e que so as condies da prpria experincia. "0 esprito diz Herbert, no uma tbua rasa mas um livro fechado, o qual embora se abra sob a aco dos objectos externos, s em si mesmo encerra o contedo inteiro do saber". As noes comuns do-nos os princpios gerais de todo o saber, noes que condicionam as verdades deste, e ao mesmo tempo fornecem os artigos da religio natural que prpria de todos os homens enquanto tais. Segundo
estes artigos h um ser supremo, que deve ser adorado por todos, que comina a pena pelo mal cometido e estabelece o prmio ou castigo numa vida futura. Estes artigos fundados na religio, que uma em todos os homens, tornam possvel uma Igreja universal, uma unidade religiosa superior particularidade dos vrios cultos; e oferecem ao mesmo tempo o critrio para discernir o que h de verdadeiro nos sistemas dogmticos das vrias religies. 166 A defesa de uma religio racional ou de uma racionalidade religiosa o mbil principal das especulaes dos filsofos pertencentes escola de Cambridge. Esta escola representa um renascimento do platonismo, e como o platonismo italiano do Renascimento (a cujas figuras, e esp~ ente a Ficino, estreitamente se vincula), v ela no platonismo a nica originria concepo religiosa do universo: essa concepo que, permanecendo substancialmente nica na multiplicidade da f e das filosofias, assegura a paz religiosa do gnero humano, isto , o fim da intolerncia teolgica. O mais notvel dos platonistas de Cambridge Ralph Cudwor(h (1617-1688) cuja obra fundamental O verdadeiro sistema do universo (1678). A posio de Cudworth determina-se polemicamente: em anttese com o materialismo de Hobbes que interpretado como atesmo tpico. Segundo Cludworth, a verdadeira distino entre tesmo e atesmo pode-se estabelecer apenas base das suas respectivas doutrinas gnoscelgicas. O pressuposto do atesmo que a coisa produza o conhecimento e no o conhecimento a coisa e portanto o esprito seja no o Senhor mas o criado do universo (The True Intellec. .ad tual System of the Utdverse, 1, 4). Ora, tal pressuposto falso, segundo Cudworth: o conhecimento no deriva da coisa mas precede-a. O homem no
ascende das coisas singulares ao universal, mas, pelo contrrio, tendo em si prprio os universais, desce a aplic-los s coisas simples; de modo que o conhecimento no vem aps os corpos particulares como se fosse qualquer coisa de secundrio e derivado 167 deles, mas precede-os e prolfero em relao a eles. o pressuposto do conhecimento a presena no intelecto humano das eternas essncias das coisas. Essas eternas essncias no tm uma realidade substancial fora do intelecto. Elas implicam apenas que "o conhecimento eterno e que h um eterno esprito que compreende as naturezas inteligveis e as ideias das coisas, quer elas existam realmente, quer sejam apenas inteligveis; e compreende outrossim as suas relaes necessrias e todas as verdades imutveis que lhes concernem" (Ib., 1, 5). Cudworth sustenta que estas eternas essncias so inatas nos homens o que as verdades eternas, e portanto inatas, so tambm os princpios morais que tm a mesma necessidade que as verdades matemticas. E aplica esta tese numa crtica doutrina calvinista da predestinao, segundo a qual Deus condena os homens ao ~o ou salvao segundo o seu exclusivo bemplcito. O bem e o mal como eternas essncias fazem parte de Deus e determinam as suas decises. Nem Deus de algum modo limitado pelas normas do bem e do mal, porquanto no se pode dizer ser
limitado por aquilo que essencialmente o constitui (Ib., IV, 6). A Par de Cudworth notvel entre os representantes da escola de Cambridge Henry More (1614-87), cujas especulaes sobre o espao o prprio, Newton fez suas. No seu Manual metafsico (Enchiridium metaphysicum, 1679), More concebe a extenso espacial como o fundamento de todas as relaes que se estabelecem entre os objectos corpreos, porm como algo imvel, infinito, 168 eterno, que penetra todas as coisas e de todas distinta. O fundamento deste eterno e imutvel espao Deus, uma vez que s a ele podem ser referidos os predicados absolutos (uno, simples, eterno, imbil, etc.) que so referidos ao espao. "0 objecto espiritual, diz More, a que ns chamamos espao, apenas uma sombra evanescente que a verdadeira e universal natureza da ininterrupta presena divina produz na dbil luz do nosso intelecto, at que estejamos altura de a ver com olhos despertos e bastante mais de porto" (Ench. nwt., 1, 8). A extenso percebida pelos sentidos o smbolo da realidade inteligvel que se oculta por detrs dela. A matemtica que considera o puro esquema espacial d j um passo do smbolo para a realidade inteligvel. O passo ulterior e definitivo, dado pela filosofia que na realidade inteligvel do espao reconhece o prprio Deus. Alm de Cudworth e de More, devem recordar-se entre os filsofos
pertencentes escola de Cambridge, Benjamim Whicheote (160983), John Smith (1618-1652) e especialmente Nathaniel Culversvel (falec@do provvelmente em 1650 ou 51) e autor de um Discurso sobre a natureza da luz, publicado postumamente em 1652. significativa nesta obra a tese da identidade entre lei divina e lei natural. A lei natural, revelada ao homempela razo, no mais do que a aplicao e a adaptao da lei eterna de Deus natureza particular do homem; por isso o homem a traz impressa em si prprio. "Existem gravados e impressos no ser do homem alguns princpios claros e indelveis, algumas noes primas e alfabticas, 169 mediante cuja combinao o homem formula as leis da natureza" (Discourse, 7). Assim, uma vez mais o velho conceito esticoneoplatnico da razo utilizado para uma defesa da racionalidade da f. NOTA BIBLIOGRFICA 411. Sobre o cartesianismo: BOUILLIER, Hi-StotrP de Ia philosophie cartsionne, Paris, 1863; SAISSFT, Prcurseurs et disciples de Descartes, Paris, 1862; G. SoizTAIN, La philosophie moderne depuis Bacon jusqu' Leibniz, Paris, 1922. 413. De Malebranche: Oeuvre8, Paris, 11 vol., 1712; Oeuvres, ed. Genoude e I~doueix, 2 vol., Paris, 1837; Oeuvres, ed. Simon, 2 vol., Paris, 1842; uma nova ed. das obras completas foi iniciada com a publicao dos primeiros dois livros da Recherche ao cuidado de Schrehker, Pai4s, 1938.
Numerosas edies parciais recentes da editora Vrin de Paris. Correspondence avec J. J. Dortous de Mairan, ao cuidado de J. MORE;AU, Paris, 1947. Bibliografia de A. DrL NOCE; in M. nel terzo centenrio della nascita, Mlano, 1938@ 414. 0LLP-LAPRUNE; La phil. de M., 2 vol., Paris, 1870-72; 1-1. JoLY, M., Paris, 1901; J. VIDGRAIN, Le christianisme dans Ia phil. de M., Paris, 1923; DELBOS, tude sur Ia phil. de M., Paris, 1924; M. G0UMER, La phil de M. et son exprience religieuse, Paris 1926; R. W. CHURCE, A Study in the Phil. of M., Londres, 1931: A. DEL NOCE, in "Rivista di filos. neo-scolastica", 1934 e 1938; GuROULT, M.. 3 V&., ParJ.13, 1955-59. 416. De Arnauld: Oeuvres, 43 vol., Lausana, 1775-84; Lettres, 9 vol., Naney, 1729; Omures philosophiques, ed. Jourdan, Paris, 1843, ed. Simon, Pars, 1843. 170 OLU-LAPRuNF; La phil, de Malebranche, H, Paris, 1870; DELBOS, tudes de Ia phil. de Malebranche, Paris, 1924, cap. IX-X; A. DEL NOCE, lu "Rivista di ftl. neo-selwtica", 1937, supl.; LAPORTE, La doetrine de Port-Royal, 4 vol., 1923-52. 417. De Gassendi: Opera, ed. Sorbire, Lyon, 1658; Florena, 1727; F. THOMAS, La philosophie de G., Paris, 1889; G. S. BRETT, The Phil of G., L,,>ndres, 1908; G. HEss, P. G. Iena, Leipzig, 1930; P. G., Sa vie et son oeuvre, 1592-1655, vol. colectivo, Paris, 1955; Actes dt& Congrs du Tricentenaire de P. G., vol. co'ectivo, Dinnie, 1957; T. GREGORY, Scetticismo ed empirismo, Studio su G., Bari, 1961.
418. Sobre o dibertinismo: CHARBONNEL, La p~e italienne et le courant libertin, Paris, 1917; R. PINTARD, Le libertinage rudit dans Ta premire maitM du &icIe XVII, Paris, 1943; J. S. SPINK, French Pree-Thought from Gassendi to Voltaire, L-j@ndres, 1960. Para a bibliografia. ver especialmente o livro de Pint&rd. De Cyrano, L'histolre comique des tats et Empires de Ia Lune et du Saleil, ao cuidado de C. METTRA e J. SuyEux, Paris, 1962. Sobre Cyrano e sobre Theofrastus redivivus: SPINK, op. cit, cap. III e IV. Sobre a passagem para a era do iluminismo: P. HAZARD, La crise de Ia conscience europenne (1680-1715), Paris, 1935. 419. De Herbert: De veritate, Paris, 1924; De religione laici, ed. H. R. Hutcheson, New-Haven-Londres, 1944. - RmuST, Lord H. d. C., Sa vie et ses oeuvres, Paris, 1853; M. M. Rossi, La vita, le opere e i tempi di E. H. d. C., 3 vol., Florena, 1947. Sobre os Platnicos de Cambridge: J. TULLOCH, Rational Theology and Christian Philosophy in the Seventeenth Century, 2 vol., Londres, 1872; F. H. POWICKE, The Cambridge Platonist, Londres, 1926; CASSIRER, Die ptatonische Renaissance in England und die 171 Schule von Cambridge, lpsia, 1932, J. H. MUIRMEADI The Platonic Tradition in Anglo-Saxon Philosophy, Londres, New York, 1931. Uma antologia dos escritos de Whicheote, Smith, Culverwel e CAMPAGNAc, Th6 Cambridge Platonists, Londres, 1901. Sobre Cudworth: J. A. PAF~0RE, R. C., ClPI-1bridge, 1951, com bibl,
Sobre More: P. R. ANDERSON, H. M., New York, 1933. 172 IV PASCAL 420. PASCAL E PORT-ROYAL Na luta pela razo, em que se resume a tarefa da filosofia no sculo XVII, a voz de Pascal constitui uma nota discordante. E no porque ele pretenda defender com os meios tradicionais as crenas tradicionais: a figura de Pascal no se pode confundir na multido daqueles que insistiam nas velhas posies da metafsica escolstica ou defendiam as velhas instituies e crenas opondo razo o peso e a autoridade da tradio. Pascal aceita e faz seu o racionalismo no domnio da cincia, embora reconhecendo os limites que a razo encontra tambm nesse domnio; mas no afirma que o racionalismo se possa estender esfera da moral * da religio. Pascal sustenta que, nesse campo, * primeira e fundamental exigncia a compreen173 so do homem como tal, e que a razo incapaz de chegar a essa compreenso.
Blaise Pascal nasceu em Glermont a 19 de Junho de 1623. Os seus primeiros interesses encaminham-no para a matemtica e para a fsica. Aos dezasseis anos comps o Tratado das seces cnicas; aos dezoito inventou uma mquina calculadora; em seguida, fez numerosas experincias sobro o vcuo, (descritas no Tratado sobre o peso da massa de ar e no estudo Sobre o equilbrio dos lquidos), que se tornaram clssicas. Mesmo quando a vocao religiosa decidiu do rumo da sua vida, o interesse pela cincia no o abandonou: a teoria da roulette, o clculo das probabilidades e outras invenes ocuparam-no nos anos da plena maturidade. Em 1654 a vocao religiosa torna-se clara nele. Num escrito (23 de Novembro de 1654) que foi encontrado depois da sua morte cosido roupa, deixou-nos o documento da iluminao que se fez no seu esprito. Eis algumas frases desse documento: Deus de Abrao, Deus de Isaac, Deus de Jacob. No dos fi16sofos e dos cientistas. Certeza, certeza, sentimento, alegria, paz. Deus de Jesus Cristo. A partir desse momento, Pascal comeou a fazer parte dos solitrios de Port-Royal, entre os quais havia uma sua irm que lhe era extremamente querida, Jaqueline. A abadia de Port-Royal havia sido reconstruda em 1636 pelo Abade Saint Cyran (1581-1643) sob a forma de uma
comunidade reli174 giosa, privada de regras determinadas, cujos membros se dedicavam meditao, ao estudo e ao ensino. Com Antnio Arnauld ( 416) as ideias do bispo Cornlio Jansnio afirmaram-se decisivamente entre os solitrios de Port-Royal. O Augustinus (1641) de Jansnio uma tentativa de reforma catlica mediante um retorno s teses fundamentais de Santo Agostinho, sobretudo da graa. Segundo Jansnio, a doutrina implica que o pecado original tirou ao homem a liberdade do querer e o tornou incapaz do bem e inclinado necessariamente ao mal. Deus s concede aos eleitos, pelos mritos de Cristo, a graa da salvao. Os eleitos so portanto poucos. disseminados em todo o mundo; e so tais unicamente pela graa salvadora de Deus. Estas teses eram contrapostas por Jansnio ao relaxamento da moral eclesistica, especialmente a jesutica, segundo * qual a salvao est sempre ao alcance do homem, * qual, se vive no seio da Igreja, possui uma graa suficiente, que o salva se for auxiliada pela boa vontade. Era esta a tese do jesuta espanhol Molina ( 373), tese que os jesutas tinham escolhido para fundamento do seu proselitismo, com o intuito de conservar no seio da Igreja o mximo nmero de pessoas, mesmo aquelas dotadas de escassa religiosidade interior. Contra esta tese, o jansenismo preconizava um rigorismo moral e religioso alheio a todo o compromisso, fazendo depender a salvao apenas da aco eficaz da graa divina reservada a raros. O jansenismo suscitava uma viva reaco nob ambientes eclesisticos e a 31 de Maio de 1653 uma bula de Inocncio X conJenava a doutrina do Augus175 tinus de Jansnio. Arnauld e os sequazes de Jansnio aceitaram a
condenao das cinco proposies, mas negaram que, na realidade, elas pertencessem a Jansnio e se encontrassem na sua obra; por isso sustentaram que a condenao no respeitava prpria doutrina de Jansnio. Passados alguns anos, a disputa foi retomada na Faculdade Teolgica de Paris, e nela interveio Pascal. A 23 de Janeiro de 1656, publicou Pascal, com o pseudnimo de Luis de Montalto, a sua Primeira carta a um provincial por um dos seus amigos acerca das disputas actuais da Sorbonne; e a esta seguiramse outras dezassete cartas, a ltima das quais tem a data de 24 de Maro de 1657. As Cartas provinciais de Pascal so uma obra-prima de profundidade e de humorismo e constituem um dos primeiros monumentos literrios da lngua francesa. Nas primeiras cartas bate em brecha a doutrina molinista. "Mas, enfim, padre, tal graa concedida a todos os homens suficiente? Sim, diz ele. E, no entanto, no tem efeito sem graa eficaz? - Isso verdade, diz ele. - todos os homens tm a suficiente, continuei eu, e nem todos tm a eficaz? - verdade, diz ele. - Isso equivale a dizer, digo-lhe eu, que todos tm bastante graa e que no entanto no tm bastante; quer dizer que tal graa basta, conquanto de facto no baste; o que o mesmo que dizer que ela suficiente de nome e insuficiente de facto". A partir da quinta carta as crticas de Pascal visam as praxes dos jesutas, a sua conduta acomodatcia de estenderem os braos a todos: pem em regra facilmente a 176 conscincia dos pecadores mediante uma casustica emoliente, vo, por outro lado, melindrar as almas verdadeiramente religiosas com os seus severos directores. Mas j que as almas religiosas so
raras, "eles no precisam do muitos directores severos para as conduzir. Tm-nos poucos para os poucos, enquanto que a multido dos casustas complacentes se oferece multido daqueles que procuram a complacncia" (Lett., V). Na ltima carta, Pascal retoma a doutrina agustiniana da graa. Entre os dois pontos de vista opostos, o de Calvino e o de Lutero, segundo os quais. no cooperamos de modo nenhum para obter a nossa sade, e o do Molina, que no quer reconhecer que a nossa cooperao se deve prpria fora da graa, cumpre, segundo Pascal, reconhecer, como S.to Agostinho, que as nossas aces so nossas por causa do livre arbtrio que as produz; o que elas so tamb6m de Deus, por causa da graa divina, a qual faz, no obstante, com que o nosso arbtrio as produza. Assim, como S.to Agostinho diz, Deus leva-nos a fazer o que lhe aprouve, fazendo-nos querer o que poderemos no querer de facto. Nesta doutrina, Pascal v a verdadeira tradio da Igreja, de S.to Agostinho a S Toms e a todos os tomistas, assim como o verdadeiro significado do jansenismo. Enquanto publicava as Cartas e se aplicava ao seu trabalho cientfico, ia Pascal trabalhando numa Apologia do Cristianismo que deveria ser a sua grande obra. Mas no chegou a terminar o seu trabalho. A sua sade, frgil desde a infncia, tornava-se cada vez mais dbil: morreu a 19 de Agosto de 177 1662, aos 39 anos. Os fragmentos da sua obra apologtica foram recolhidos e ordenados pelos seus
amigos de Port-Royal e publicados pela primeira vez em 1669 com o ttulo de Pensamentos. 421. PASCAL: LIMITES DA RAZO NO CONHECIMENTO Cientfico Descartes abrira razo humana todas as vias e todos os domnios possveis; Pascal, ao invs, reconhece-lhe os limites. Fora da razo e das suas possibilidades, encontra-se, segundo Pascal, o mundo propriamente humano, a vida moral, social e religiosa do homem. Mas tambm no mundo da natureza, onde a razo rbitra, o seu poder encontra um duplo limite. O primeiro limite a experincia. A experincia no vale, corno sustentava Descartes, s para decidir qual das diversas explicaes possveis, que a razo apresenta de um dado fenmeno, a verdadeira: ela tambm o ponto de partida e a norma das explicaes racionais. Diz Pascal no Prefcio ao tratado do vazio (um fragmento de 1647): "Os segredos da natureza esto ocultos, se bem que ela actue sempre, nem sempre se lhe descobrem os efeitos: o tempo restabelece-os de poca para poca e, conquanto ela seja em si mesma sempre igual, nem sempre igualmente conhecida. As experincias que no-los tornam inteligveis multiplicam-se continuamente e, uma vez que estas constituem os nicos princpios da fsica, as consequncias 178 multiplicam-se proporcionalmente". As experincias constituem
assim, "os nicos princpios da fsica"; mas a elas cabe tambm o controle das hipteses explicativas. Quando se formula uma hiptese para encontrar a causa de muitos fenmenos, podem-se dar trs casos, segundo Pascal: ou da negao da hiptese se infere um absurdo manifesto, e ento a hiptese verdadeira e comprovada: ou um absurdo manifesto decorre da afirmao dela, e ento a hiptese falsa; ou ento no se pde ainda derivar um absurdo nem da sua afirmao nem da sua negao, e ento a hiptese permanece duvidosa. Deste modo, acrescenta Pascal, "para verificar se uma hiptese evidente no basta que dela se sigam todos os fenmenos, enquanto que, pelo contrrio, para nos assegurarmos da falsidade de uma hiptese basta que dela decorra algo de contrrio a um s dos fenmenos" (Carta ao padre Noel, de 29 de Outubro de 1647). Nesta atitude, Pascal est bastante mais prximo de Galileu do que de Descartes; e uma atitude que permite a Pascal reconhecer que a experincia um primeiro limite daquela razo que Descartes considerava suficiente em si mesma. O outro limite da razo no campo das cincias determinado pela impossibilidade de deduzir os primeiros princpios. Os princpios que constituem o fundamento do raciocnio escapam ao raciocnio, o qual no os pode demonstrar nem refut-los. Os cpticos que procuram confut-los no o conseguem. A impossibilidade em que- a razo se encontra de os demonstrar prova, segundo Pascal, no a incerteza desses 179
princpios, 1na@ @ debilidade da razo. E, de facto, o c 'onhecimet't0 desses princpios primordiais (o espao, o ter@P0@ o movimento, os nmeros) segui, como o @@0 nenhum dos conhecimentos que os nossos raciocnios nos do. Somente, trata-se de uma se-guran,, que tais princpios vo buscar 10 IraO e ao instinto no razo. O corao sente que h trs dimenses no espao, que os nmeros so jIIfi@jtos; em seguida, a razo demonstra que no existem dois nmeros quadrados de que um seja o duplo , outro, etc. Os princpios sentem-se, as ProPosies concluem-se; umas e outras tm a mesma certeza, mas obtida por vias diversas. E intil e ridculo que a razo pea ao corao as provas dos seis primeiros princpios, do mesmo modo que seria ridculo que o corao pedisse razo o sentimento de todas as proposies que ,existem. Melhor teria sido para o homem conhecer tudo mediante o instinto e o sentimento. Mas a natureza recusou_lhe tal privilgio: deu-lhe Poucos conhecimentos dessa espcie, e todos os outros os tem de adquirir pelo raciocnio (Penses, ed. Brunschvigg, 282). No Mesmo domnio que lhe prprio, o do conhecimento da natureza, a razo encontra portanto limites, e tais limites so os prprios limites do homem* Todavia> no mbito destes limites, a razo rbitra. Pascal rejeita do domnio do conhecimento natural toda , intruso metafsica ou teolgica. Onde a razo demonstra a sua total e congnita incapacidade no domnio do homem. 180 422. PASCAL: A COMPREENSO DO HOMEM E O ESPIRITO DE FINURA
"Tinha-me entregue longo tempo ao estudo das cincias abstractas, mas a escassa comunicao que dai se pode extrair havia-me desgostado. Quando iniciei o estudo do homem, vi que as cincias abstractas no so prprias do homem e que eu, progredindo nelas, me afastava da minha condio mais do que os outros ignorando-as. Perdoei aos outros que as conhecessem pouco; julguei contar com muitos companheiros para o estudo do homem, que o estudo que lhe verdadeiramente prprio. Mas enganei-me: so ainda em menor nmero do que os que estudam a geometria" (144). Estas palavras de Pascal exprimem a sua atitude fundamental. Pascal empenha-se no estudo do homem pela necessidade da comunicao, que no apenas comunicao com os outros, mas tambm comunicao consigo, isto , clareza e sinceridade consigo prprio. O homem, que foi feito para pensar, devia comear a pensar em si prprio (146). Mas tal no acontece e procura-se de preferncia a cincia das coisas exteriores. Ora, esta cincia no pode consolar o homem da ignorncia da vida moral, no momento da aflio, enquanto que a cincia dos costumes o pode consolar da ignorncia das cincias exteriores (67). O homem deve portanto comear por si, a sua tarefa essencial e primeira a de conhecer-se a si mesmo. Mas para tal tarefa a razo no serve de nada. Como guia do homem, a razo dbil. intil e incerta. Ela submete-se facilmente 181 imaginao, ao costume, ao sentimento. Todo o raciocnio neste campo se reduz a ceder ao sentimento. A fantasia e o sentimento impelem o homem para extremos opostos; e a razo, que deveria instituir a regra, flexvel em todos os sentidos e incapaz de a instituir (274). Nada existe, portanto, de to conforme razo como o desconhecimento da razo(272), desconhecimento que ao
mesmo tempo um reconhecimento, o reconhecimento de uma outra via de acesso realidade humana que o corao. O corao, diz Pascal, tem razes que a razo desconhece (277): entender e fazer valer as razes do corao a tarefa do esprito de finura. O antagonismo entre a razo e o corao, entre o conhecimento demonstrativo e a compreenso instintiva expresso por Pascal como um antagonismo entre o esprito de geometria e o esprito de finura. No esprito de geometria os princpios so palpveis, alheios ao uso comum e difceis de ver, mas, uma vez vistos, impossvel que no fujam. No esprito de finura os princpios esto no uso comum, perante os olhos de todos. No necessrio dar voltas cabea nem usar de quaisquer esforos para os ver, mas necessrio ter boa vista porque so to subtis e to numerosos que quase impossvel que algum no escape,. As coisas relativas finura sentem-se mais do que se vem; requer-se um esforo imenso para as fazer sentir aos que no as sentem por si e no se podem demonstrar completamente porque no se conhecem Os seus princpios como se conhecem os da geometria. 182 O esprito de finura v o objecto de um lance e de um s golpe de vista, e no atravs do raciocnio (1). Pode-se exprimir exactamente a diferena estabelecida por Pascal entre esprito de geometria e esprito de finura, dizendo que o primeiro raciocina, enquanto que o segundo compreende. Claro que para fundar ou rejeitar devidamente um raciocnio geomtrico se requer tambm um certo grau de finura, isto , de compreenso; mas tambm evidente que o esprito de finura tem como seu objecto prprio o mundo dos homens, ao passo que o esprito geomtrico tem como objecto prprio o mundo exterior. A
eloquncia, a moral, a filosofia, fundam-se no esprito de finura, isto , na compreenso do homem, e quando dele prescindem, tomam-se incapazes de atingir os seus objectivos. Por isso a verdadeira eloquncia se ri da eloquncia geomtrica, a verdadeira moral ri-se da moral geomtrica; e o 1@r-se da filosofia torna-se a verdadeira filosofia (4). Apenas o esprito de finura (o juzo, o sentimento, o corao, o instinto) pode compreender o homem e realizar uma eloquncia ,persuasiva, uma moral autntica e uma verdadeira filosofia. O homem no pode conhecer-se como objecto geomtrico, no pode comunicar consigo mesmo e com os outros mediante uma cadeia de raciocnios. A razo cartesiana encontra-se no mundo humano completamente deslocada. Este reconhecimento o verdadeiro incio da compreenso do homem. "Rir-se, da filosofia verdadeiramente filosofar". 183 423. PASCAL: A CONDIO HUMANA Toda a investigao de Pascal uma anlise da condio do homem no mundo. Pascal continua a obra de Montaigne: para ele, tal como paira Montaigne, o homem o nico tema da especulao filosfica o esta especulao determina-o incessantemente nos seus procedimentos. Pascal reprova a Montaigne "o ter complicado tanto as coisas e ter falado demasiado de si" e diz que o que ele tem de bom pode ser adquirido dificilmente. O filosofar de Pascal uma continuao directa do filosofar de Montaigne, mas uma continuao que tem por fim, ltimo a f. ao passo que Montaigno tinha por fim ltimo a filosofia. Toda a obra de Pascal a tentativa de alcanar a clareza no tocante ao prprio. destino do homem: uma clareza, no objectiva
nem racional, mas subjectiva e empenhada, de modo a constituir o homem naquilo que ele verdadeiramente deve ser. Como parte da natureza, o homem est situado entre dois infinitos, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno e incapaz de compreender seja um, seja outro. Ele um nada em relao ao infinito, um todo em relao ao nada, um intermdio entre o todo e nada. Infinitamente longe de compreender os extremos, o fim dos fins e o princpio deles esto-41he ocultos num segredo impenetrvel. igualmente incapaz de ver o nada donde veio e o infinito em que est mergulhado. Esta condio do homem determina toda a sua natureza. Ns somos qualquer coisa, mas no somos 184 PASCAL tudo: o que temos do ser esconde-nos o conhecimento das primeiras origens que nos radicam no nada, e o pouco que possumos do ser oculta-nos a vista do infinito. A nossa inteligncia ocupa, na ordem inteligvel das coisas, o mesmo lugar que o nosso corpo tem na extenso da natureza. Todas as nossas capacidades so limitadas por dois extremos, para alm dos quais as coisas nos escapam porque esto demasiado acima ou demasiado abaixo delas. Os nossos sentidos no percebem nada de extremo: e demasiada juventude ou demasiada velhice tornam o esprito trpego, e o mesmo faz a demasiada ou a pouca instruo. As coisas
extremas so para nos como se no existissem, e ns somos relativamente a elas como se no existssemos: elas fogem-nos e ns a elas. Assim o nosso verdadeiro estado toma-nos incapazes de sabermos com segurana e de ignorarmos em absoluto. Movemo-nos num mar vasto, sempre incertos e ondulantes, atirados de um extremo para outro. Seja qual for o termo a que nos agarremos para nos mantermos firmes, ele rompe-se e larga-nos; e se ns o seguimos, escapa-se-nos e foge numa fuga eterna. Tal o estado que nos natural e que todavia o mais contrrio nossa inclinao: ardemos do desejo de encontrar um assento estvel e uma base ltima, para sobre ela edificarmos, uma torre que se eleve ao infinito. Mas hoje o nosso fundamento rui e a terra abre-se at aos abismos (72). Nestes termos define Pascal a condio de instabilidade que prpria do homem e pela qual ao mesmo tempo o ser e o nada fogem ao homem, de 185 modo que ele se encontra por cima do nada, pelo menos tanto quanto se encontra por sob o ser. A posio do homem entre o ser e o nada: , inevitavelmente, uma posio de incerteza e de instabilidade. A funo do pensamento a de fazer-lhe reconhecer claramente essa posio. O pensamento decerto a nica dignidade prpria do homem. Por isso s o homem est acima do resto do universo; e mesmo que o
universo o esmagasse, o homem seria mais nobre do que o que o mata, pois ele sabe, que morre e sabe a vantagem que o universo tem sobre ele, ao passo que o universo nada sabe (347). E todavia o pensamento no serve para nada se no fizer compreender ao homem a sua misria. A grandeza do homem consiste unicamente em reconhecer-se miservel: uma rvore no pode reconhecer-se miservel (397). perigoso mostrar ao homem que ele demasiado igual aos animais, visto que os animais no podem resgatar-se da misria, pois no se apercebem dela. perigoso tambm mostrarlhes demais a sua grandeza porque isso equivaleria a faz-los esquecer que ela consiste unicamente no saber recordar a sua prpria misria. E ainda ser mais perigoso deix-los ignorar uma e outra coisa. preciso que ele no julgue ser igual nem aos animais nem aos anjos (418). Se o homem pretende ser anjo, ser na realidade animal (358). Por isso, se o homem se vangloria necessrio rebaix-lo, se se rebaixa necessrio exalt-lo e sempre contradiz-lo a fim de que compreenda que um monstro incompreensvel. "Eu censure igualmente, diz Pascal, os que 186 decidem louvar o homem e os que decidem censur-lo, assim como os que resolvem distrair-se. Eu s posso aprovar os que procuram gemendo" (4211). Assim, a primeira aproximao da natureza do homem faz-nos compreender a sua incompreensibilidade, revela-nos a sua originalidade absoluta que o faz no ser nem anjo nem animal. Mas o reconhecimento desta originalidade difcil: s se alcana no termo de uma busca que faz sofrer e gemer. Por isso os homens recalcitram, tentam de todos os modos desviar o olhar de si e da sua natureza, e procuram divertir-se. 424. PASCAL: O DIVERTIMENTO
"Os homens, no tendo podido destruir a morte, a misria, a ignorncia, acharam melhor no pensar, para serem felizes" (168). Tal o princpio que Pascal denomina divertimento (divertissement), isto , a atitude que recua perante a considerao da sua prpria condio e procura por todas as formas distrair-se dela mediante as ocupaes incessantes da vida quotidiana. Nada to insuportvel ao homem como estar em pleno repouso, sem paixes, sem nada que fazer, sem divertimento, sem ocupao. Sente ento o seu nada, o seu abandono, a sua insuficincia, a sua dependncia, a sua impotncia, o seu vazio. Imediatamente sair-lhe- do fundo da alma o tdio, a disposio sombria, a perfdia, a tristeza, o desgosto, o despeito, o desespero (131). O valor fundamental de todas as ocupaes que 187 elas distraem o homem da reflexo sobre si e a sua condio. De a que o jogo, a conversao, a guerra, os cargos elevados sejam to procurados. Estas coisas no so procuradas com o intuito de alcanar a felicidade, nem se julga verdadeiramente que a verdadeira beatitude consista no dinheiro que se pode ganhar ao jogo ou na lebre que se persegue numa caada: so coisas que no se quereria que nos fossem oferecidas. No se busca o uso tranquilo e adamado das coisas, que nos faz ainda pensar na nossa desgraada condio, no se procuram os
perigos da guerra e as fadigas dos empregos, mas busca-se o tumulto que nos desvia do pensar naquela condio e nos distrai (139). Ns no procuramos nunca as coisas, mas a busca das coisas. Assim, nas comdias, as cenas alegres nada valem e nada valem as misrias extremas sem esperana, os amores brutais, os cruis rigores (135). No se poderia aliviar o homem de todas as ocupaes de que est sobrecarregado desde a infncia sem lhe fazer sentir imediatamente o peso da sua misria. Se fosse substrado aos seus cuidados, ver-se-ia a si mesmo, pensaria naquilo que , donde vem, para onde vai. Por isso nunca est bastante ocupado; e, depois de haver terminado o seu trabalho, se dispe de um pouco de tempo para repousar, aconselha-se-lhe que se divirta, que brinque e se ocupe sempre durante todo o tempo (143). Mas o divertimento no a felicidade. Como procede do mundo exterior, torna o homem dependente e sujeito a ser perturbado por mil acidentes que constituem as suas inevitveis aflies (170). E 188 assim a nica coisa que o pode consolar das suas misrias a maior das suas misrias. Sem o divertimento cairamos no tdio, e o tdio levar-nos-ia a procurar um meio mais slido para lhe fugir. Mas o divertimento torna-se agradvel e assim nos extravia e nos faz chegar insensivelmente morte (171). O divertimento no a alternativa prpria e digna do homem. O homem no deve fechar os olhos perante a sua misria porque desse modo renuncia ao seu
nico privilgio e sua dignidade: a de pensar. No se oferece portanto verdadeiramente ao homem outra alternativa seno o reconhecimento explcito da sua condio indigente e miservel; e tal reconhecimento pe-no directamente em face de Deus. 425 PASCAL: A F O homem no pode reconhecer-se no seu no ser seno em referncia ao ser; no pode reconhecer-se no seu erro, na sua dvida, na sua misria, seno em relao, verdade, ao bem e felicidade. O reconhecimento da prpria misria o incio de uma busca dolorosa (buscar gemendo), que o leva f. A f , para Pascal, uma atitude total que envolve todos os aspectos do homem at s suas razes. O problema da busca o de realizar a f, ou antes, de se realizar na f e mediante a f. Todas as actividades humanas devem ser orientadas paira esta busca. 189 A f no uma evidncia nem uma certeza inabalvel nem uma posse certa. A condio humana exclui tais coisas. Se o mundo existisse para instruir o homem acerca de Deus, a sua divindade esplenderia por toda a parte de um modo incontestvel, mas ele subsiste apenas graas a Jesus Cristo e para Jesus Cristo, isto para instruir os homens acerca da sua corrupo e da sua redeno. Isto no revela, portanto, nem uma excluso total nem uma presena manifesta da divindade. Se o homem visse no mundo bastantes sinais da
divindade, julgaria possu-la e no se daria conta da sua misria. Se o homem no visse nenhum sinal da divindade, no saberia o que perdeu e no aspiraria a reconquist-la. Para conhecer o que perdeu, deve ver e no ver: e tal , precisamente, o estado em que se encontra na natureza (556). Todas as coisas instruem o homem acerca da sua condio; mas no verdade que tudo revele Deus, nem verdade que tudo esconda Deus. verdade ao mesmo tempo que ele se esconde daqueles que o tentam e se revela aos que o procuram, porquanto os homens so todos indignos de Deus e ao mesmo tempo capazes de Deus: indignos na sua corrupo, capazes pela sua natureza originria (557). Tentar a Deus significa pretender chegar a ele sem a humildade da busca: Deus s se revela queles para quem a prpria f busca. Mas trata-se de uma busca que no concerne exclusivamente razo do homem. No se pode alcanar a f mediante demonstraes e provas. As 190 provas que se do da existncia de, Deus, partindo das obras da natureza, s podem valer para quem j possua a f, mas no podem produzir a f em quem ainda a no conhece (242). Por vezes, a prova o instrumento da f que o prprio Deus infunde no corao mas, de qualquer modo, a f diferente da prova. A prova humana, a f um dom de Deus (246). Ainda quando a prova servisse, serviria apenas no momento em que algum a v: uma hora depois recearia ter-se enganado (543). De qualquer modo, nenhuma prova pode impor outra concluso que no seja a existncia de um Deus autor das verdades geomtricas e da ordem dos elementos, mas esse o
papel que atribuem a Deus os pagos e os epicuristas. O Deus dos cristos tambm no um Deus que exera a sua providncia sobre a vida e os bens dos homens para conceder longos anos felizes aos que o adoram: esse o papel que lhe atribuem os hebreus. O Deus de Abrao, o Deus de Isaac, o Deus de Jacob, o Deus dos cristos um Deus de amor e de consolao, um Deus que enche a alma e o corao dos que ele possui e lhes faz sentir interiormente a misria que so e a sua misericrdia infinita (556). A um Deus semelhante no se chega atravs da razo: todavia, o homem deve decidir-se: no pode diferir o problema ou permanecer neutral perante as suas solues. Deve escolher entre o viver como se Deus existisse e viver como se Deus no existisse; no pode Subtrair-se a esta escolha, por191 quanto no escolher ainda uma escolha: a escolha negativa. Se a razo no o pode ajudar, impe-se4he que considere qual a escolha mais conveniente. Trata-se de um jogo, de unia aposta, em que necessrio considerar, por um lado, o valor da aposta, por outro, a perda ou a vitria eventual. Ora, quem aposta pela existncia de Deus, se ganha, ganha tudo, se perde, nada perde: cumpre, portanto, apostar sem hesitar. A aposta j se justifica quando se trata de uma vitria finita e pouco superior ao valor da aposta; mas torna-se tanto mais conveniente quanto a vitria infinita e infinitamente superior ao valor da aposta. No quer isto dizer que a infinita distncia entre a certeza do que se aposta e a incerteza do que se pode ganhar tome igual o bem finito que se arrisca. e que certo ao infinito que incerto. Todo o jogador arrisca o certo para ganhar o incerto; e arrisca pela certa o infinito para ganhar
incertamente o finito sem pecar contra a razo. Num jogo em que existem iguais probabilidades de vencer ou de perder, arriscar o finito para ganhar o infinito evidentemente uma medida da mxima convenincia. Pascal reconhece, todavia, que no se pode crer por imposio e que, mesmo reconhecendo o valor destas consideraes, se pode sentir as mos ligadas e a boca muda, incapaz de crer. Mas, nesse caso, a impotncia de crer deriva apenas das paixes. necessrio que a pessoa se esforce por se convencer, no aumentando as provas de Deus, mas 192 diminuindo as paixes; preciso assumir as atitudes exteriores da f e empenhar na f a mquina homem (233). O homem de facto, segundo Pascal, autmato, pelo menos tanto quanto esprito. Daqui deriva o valor da tradio ou costume que, justamente, a religio pe a par da razo e da inspirao como as trs vias da f (245). A tradio determina o homem enquanto mquina e arrasta o seu esprito sem que ele de tal se aperceba. Uma vez que o esprito viu onde est a verdade, precisa de adquirir uma crena mais fcil, que elimine o contnuo retorno da dvida, ou seja o hbito de crer e de manifestar nos actos exteriores a crena. A verdadeira f, a f total mobiliza no s o esprito mas o autmato que existe no homem (252). Daqui deriva a importncia dos actos exteriores da f. necessrio ajoelharmo-nos, rezar
com os lbios, etc. (250). necessrio fazer tudo como se se cresse: tomar gua benta, mandar dizer missa, etc. Isto vos levar a crer, diz Pascal, pois far calar o vosso esprito (vous abtisera) (233). Decerto que a f implica um risco; mas o que que no implica um risco? Nada, na realidade, certo: e h mais certeza na religio do que na espera do amanh. No certo, de facto, que veremos o amanh, mas certamente possvel que no o vejamos. No se pode dizer outro tanto da religio. No certo que ela exista, mas quem ousaria dizer que certamente possvel que ela no exista (234). A f no elimina o risco mas torna-o aceitvel. E o risco no inclui a ameaa: o benefcio da f alcana-se j nesta vida (233). 193 NOTA BIBLIOGRFICA 420. A -ed. fundamental das obras de Pascal a que foi @confiiada ao cuidado de Brunschvigg, Boutroux e Gazier, Oeuvres compZtes, 14 vol., Paris, 1904-14.-A ;ed. de uso mais comum Penses et Opuscules, ed. Brunschvigg, Paris, 1897, (muitas ed. suc~vaz). Trad. italianas: Pensieri, de M. F. Seitacca, Turim, 1956; Le provinciali, de G. Preti, Milo, 1945; Tratatto sulllequilibrio dei liquidi, de F. Nicol Di-Casella, Turim, 1958; Opuscoli e scritti vari, de G. Preti, Bar!, 1959. Sobre textos pascalianos, Recherches pascaliennes, Paris, 1949; Histoire des Penses de P., Paris, 1954; MAIRE, Bibliographie
gnrale des omvres de P., 5 vol., Paris, 1925-27 (at 1925). Sobre Pascal e Port-Royal: GAZIER, Port-Royca au XVII sicle, Paris, 1909. 421. BOUTROUX, P., Paris, 1900; BRUNSCHVIGG, P., Paris, 1932.-BLONDEL; BRUNSCHVIGG; CHEVALIER; H~DING; LAPORTE; RAUGII, DE UNAMUNO; in "Revue de Mtaph. et de Mor.". CHEVALIER, Pascal, Paris, 1922, apresenta Pascal na figura convencional de um santo. Muito unilateral o ensaio de CHESTov, La nuit de Gethsmani, Paris, 1923; SERINI, P., Turim, 1942; J. MESNARD, P., L'Homme et Voeuvre, Paris, 1951; H. LEFEBVRE, P., Paris, 1949-54-, J. STE1NMANN, P., Paris, 1954 194 v ESPINOSA 426. ESPINOSA: VIDA E ESCRITOS O cartesianismo, antes de ser um corpo de doutrinas, o empenho em se servir da autonomia da razo e respeitar a tcnica que lhe intrnseca, quer dizer o mtodo geomtrico. Os grandes sistemas. filosficos do sculo XVII respeitavam este emipenho, embora modificando-o ou abandonando os princpios basilares da metafsica, e da fsica de Descartes e, por vezes, como o fez Leibniz, renovando parcialmente o prprio conceito do mtodo geomtrico.
A figura de Espinosa, na sua personalidade de homem e de filsofo, est toda firmada neste empenho. Todavia, o interesse de Espinosa, como o de Hobbes, no fundamentalmente gnoseolgico ou metafsico, mas moral, poltico e religioso. 195 Baruch (Benedetto) de Espinosa nasceu em Amsterdo a 24 de Novembro de 1632 de uma famlia hebraica que foi obrigada a abandonar a Espanha em vista da intolerncia religiosa deste pas. Foi educado na comunidade israelita de Anisterdo, mas em 1656 foi por ela excomungado e expulso devido a "heresias praticadas e ensinadas". Alguns anos depois, abandonou Amsterdo e instalou-se primeiro na aldeia de Rijnsburg junto de Leida e depois em Haia, onde passou o resto da sua vida. Em observncia ao preceito rabnico que prescreve que todo o homem deve aprender um trabalho manual, aprendera a arte de fabricar e polir lentes para instrumentos pticos. Este mester permitiu-llhe suprir suficientemente s suas limitadas necessidades e deu-lhe uma certa fama de ptico que procedeu a sua celebridade de filsofo. De sade dbil, cioso da sua independncia espiritual, Espinosa levou vida modesta e tranquila. Quando um seu aluno e amigo, Simo De Vries, lhe quis dar de presente dois mil. florins, ele recusou; e quando, mais tarde, o mesmo De Vries lhe quis assegurar uma penso de 500 florins, Espinosa afirmou que era demais e no quis aceitar mais de 300. A primeira obra a que Espinosa lanou mos foi um Tractatus de
deo et homine eiusque felicitate (conhecido ento com o nome de Breve tratado) que se perdeu e foi reencontrado e publicado por meados de Oitocentos. Neste escrito podem j distinguir-se com clareza as duas componentes da filosofia de Espinosa, a neoplatnica e a cartesiana, como tambm o interesse fundamental desta filo196 sofia, que recai na vida moral, poltica e religiosa. A componente neoplatnica evidente no conceito de Deus como causa nica, directa e necessria de tudo o que existe; a componente cartesiana evidente no conceito de substncia e dos atributos; a esta obra falta no entanto a interpretao da necessidade natural ou divina como necessidade geomtrica. Em 1663, foi publicado o nico, escrito de Espinosa a que ele deu o seu nome, Renati Cartesi Principia philosophiae. Cogitata metaphisica. O escrito era, na origem, um sumrio dos Princpios de fil~ia de Descartes, que Espinosa. compusera para um seu aluno. A podido de alguns seus amigos, o escrito foi publicado com o apndice dos Pensamentos metafsicos em que vm apontadas as divergncias entre o autor e Descartes. Em 1670, apareceu annimo o Tractatus theologico-politicus que se destinava a demonstrar que "numa comunidade livre deveria ser permitido a cada um pensar o que quiser e dizer o que pensa". O livro foi logo condenado pelas igrejas protestante e catlica e Espinosa teve de impedir a publicao de uma traduo holandesa para evitar que fosse proibido na Holanda. Havia vrios anos que trabalhava na sua obra fundamental, a Ethica ordine geometrico demonstata que em 1674 estava concluda e comeava a circular em manuscrito entre as mos dos amigos. Espinosa preteriu a publicao da obra, pois teria imediatamente provocado a condenao; de modo que s foi
publicada depois da 197 sua morte, em 1677, num volume de Obras pstumas que compreendia, alm da Ethica, um Tractatus politicus, um Tractatus de intellectus emendatione, ambos inconclusos, e um certo nmero de Cartas. S muito mais tarde (1852), foi encontrado e publicado o Breve tratado sobre Deus e sobre o homem e a sua felicidade na traduo holandesa. A 21 de Fevereiro de 1677, Espinosa morria com 44 anos, de tuberculose. A sua vida foi a de um homem livre, sem paixes, dedicado exclusivamente filosofia e alheio a todas as atitudes heroicizantes ou retricas. Mas, logo aps a morte, a sua prpria figura de homem foi envolvida na condenao unnime que sofreu a sua filosofia, considerada como puro e simples "atesmo". O ncleo desta filosofia estava condensado na tese de que Deus "o conjunto de tudo o que existe" (cfr., por ex., Malebranche, Entretiens de mtaphysique, 1688, IX) e o atributo mais benvolo que se lhe dirigia era o de "miservel". J Pedro Bayle, nos Pensamentos sobre o cometa (1682), defendendo a tese de que se pode ser atu e de costumes perfeitos, asseverava ser esse o caso de Espinosa. Mas nem por isso renunciava a considerar e a criticar a doutrina de Espinosa exclusivamente sob o aspecto do atesmo. bviamente, uma interpretao do espinosismo que fugisse polmica religiosa s podia fazer-se quando a doutrina de Espinosa fosse abordada nos seus conceitos filosficos fundamentais. E tal s ocorreu com o romantismo que, a partir de Fichte, viu na substncia espinosana o prprio Infinito na sua expresso objectiva.
198 427. CARACTERISTICAS DO ESPINOSISMO Descartes reduzira a um rgido mecanismo, a Lima ordem necessria, o mundo inteiro da natureza; mas exclura o homem enquanto substncia pensante. A substncia extensa mecanismo e necessidade, segundo Descartes, mas a substncia pensante, a razo humana, liberdade, e como tal potncia absoluta de domnio sobre a substncia extensa. Espinosa fixou a sua ateno sobretudo no homem, na sua vida moral, religiosa, poltica, e a sua tentativa consistiu em reduzir toda a existncia humana mesma ordem necessria que Descartes reconhecera apenas no mundo da natureza. Necessidade e liberdade, mecanismo e razo distinguemse e opem-se, segundo Descartes; identificam-se, segundo Espinosa. Espinosa pretende assim restabelecer a unidade do ser que Descartes cindira com a separao das substncias o que lhe havia sido ensinada pela tradio neoplatnica ainda viva na comunidade judaica em que se formara. A realidade, a substncia, uma s, nica a sua lei, nica a ordem que a constitui. A caracterstica fundamental do pensa. mento espinosano a sntese que ele realizou entre concepo metafsico-teolgica e a concepo cientfica do mundo. A sua filosofia parte da noo da natureza e, da perfeio de Deus, mas chega a uma concepo do mundo que apaga todas as exigncias da cincia fsica. A tradicional teologia e a nova cincia da natureza fundem-
se intima199 mente na obra de Espinosa. O ponto de fuso, o conceito central que a torna possvel o da substncia. Descartes distinguira (Prine. phil. 1, 51) trs substncias, a pensante, a exterior e a divina, mas tivera de reconhecer que o termo substncia possui um significado diverso consoante referido a Deus ou s substncias finitas; porque enquanto referido a Deus significa uma realidade que para existir no tem necessidade de nenhuma outra realidade, referido alma e s coisas significa uma realidade que para existir somente tem necessidade de Deus. Mas para Espinosa s existe um significado autntico do termo, que o que ele tem referido a Deus. No h outra substncia, isto , outra realidade independente que no seja o prprio Deus. Deus torna-se ento a origem, a fonte de toda a realidade, a unidade absoluta (no sentido neoplatnico), a nica fonte donde pode brotar a multiplicidade das coisas corpreas e dos seres pensantes. Deste modo, reconduz Espinosa unidade neoplatnica e ordem necessria em que a substncia se manifesta os aspectos da realidade que Descartas distinguira e separara. Sobretudo procura reconduzir a ela o mundo humano: as paixes e a razo do homem e tudo o que nasce das paixes e da razo: a moralidade, a religio e a vida poltica. Da que tenda a anular toda a separao e distino entre a natureza e Deus e a identific4os, como j fizera Giordano Bruno ( 380), a considerar os decretos de Deus como leis da Natureza e reciprocamente, a retirar aco de Deus todo o carcter arbitrrio e voluntrio e, por isso, 200
recusando todo o carcter finalista da ordem do inundo; por ltimo, a identificar a Natureza e Deus com a ordem geomtrica do mundo. Porm, ao mesmo tempo Espinosa. pretende que esta filosofia da necessidade sirva liberdade do homem e, por isso, coloca essa liberdade no no livrearbtrio mas no reconhecimento da ordem necessria, reconhecimento em virtude do qual o homem deixa agir em si mesmo a necessidade da ordem divina do mundo. 428. ESPINOSA: A Substncia Em De intellectus emendatione, obra que deixou inconclusa porque os pensamentos que a esboara haviam encontrado a sua expresso definitiva na tica, mas que se apresenta como uma espcie de Discurso sobre o mtodo, declara Espinosa qual o escopo do seu filosofar. Esse escopo o conhecimento da unidade da mente com a totalidade da natureza. Para a obter, necessrio que o homem ao mesmo tempo se, conhea a si mesmo e conhea a natureza, que se aperceba das diferenas, das concordncias e das oposies que subsistem entre as coisas, a fim de que veja aquilo que elas lhe permitem ver e qual a sua prpria natureza e o seu prprio poder de homem (Op., ed. Van Vloten e Land, 1, p. 9). Com vista a isso, o nico conhecimento utilizvel aquele gnero de percepo em que o objecto percebido s atravs da sua essncia ou atravs da noo da sua causa prxima, enquanto que so inutilizveis os outros
tipos de 201 percepo, tais como a simblica, a produzida por uma experincia acidental e a deduzida inadequadamente de um certo efeito. O conhecimento que necessrio ao homem o que se adequa plenamente ideia do objecto e tem por isso em si a garantia necessria da sua verdade. O problema do mtodo o problema da via que leva a um conhecimento desse gnero. O mtodo no , segundo Espinosa, a procura de uma garantia da verdade que decorra da aquisio das ideias, mas antes a via para procurar na ordem devida a prpria verdade, isto , a essncia objectiva das coisas. Espinosa define por isso o mtodo como conhecimento reflectido ou ideia da ideia. E uma vez que no pode dar-se a ideia da ideia se antes no se deu a ideia, o mtodo ser a via atravs da qual a mente deve dirigir-se para alcanar a norma de uma dada ideia verdadeira. Mas de que ideia verdadeira j dada dever o mtodo procurar a norma? Evidentemente, da ideia mais excelente entre todas, que a do ser perfeitssimo. O melhor mtodo ser, portanto, o que mostra como a mente se deve orientar para descobrir a norma da ideia do ser perfeitssimo (Op., 1, p. 12). Deste modo, j a determinao do mtodo em De intelectus emendatione levava Espnosa a pr no centro da sua doutrina a concepo do ser perfeitssimo, ou seja, de Deus. E tal concepo o
ponto de partida da tica, cujo primeiro captulo se intitula "Deus". Espinosa concebe Deus como a nica substncia que existe em si e concebida por si, isto ., que para existir no tem necessidade de nenhuma outra realidade e que para ser concebida no necessita de nenhum outro conceito. Tal substncia causa de si mesma, no sentido de que sua essncia implica a sua existncia e que no pode ser concebida seno como existente. Ela infinita, uma vez que no h nenhuma outra substncia que a limite, e consta de infinitos atributos; entendendo por atributo o que o intelecto dela percebe como constitutivo da sua essncia. Devido a esta infinidade dos atributos, isto , da essncia divina, devem derivar de Deus infinitas coisas de infinitos modos: de sorte que, enquanto Deus no causado por nada e causa sui, causa eficiente de tudo o que existe. Cada coisa existente portanto um modo, isto , uma manifestao de Deus. Natura naturante a prpria substncia, isto , Deus, na sua essncia infinita; natura naturata so os modos, quer dizer, as manifestaes simples da essncia divina. Destas teses fundamentais decorre que nada pode existir fora de Deus e nada pode existir seno como um modo de Deus. Mas Deus no produz os infinitos modos mediante uma aco criadora arbitrria ou voluntria. Tudo procede de Deus devido unicamente s leis da sua natureza e a liberdade da aco divina consiste precisamente na sua necessidade, quer dizer, na sua perfeita conformidade com a natureza divina. Por via desta necessidade nas coisas no h nada de contingente, isto , nada existe que possa ser diverso daquilo que . Tudo necessrio enquanto necessariamente determinado pela necessria natureza de Deus. As coisas 203
no poderiam ter sido produzidas por Deus de outra maneira ou noutra ordem diferente daquela por que foram produzidas. Deus no tem vontade livre ou indiferente. A sua potncia identifica-se com a sua essncia e tudo aquilo que ele pode, existe necessariamente. 429. ESPINOSA: A NECESSIDADE Espinosa conclui a primeira parte da sua tica com uma negao categrica da vontade humana. Nada existe no mundo que no derive de um aspecto necessrio de Deus e que portanto no seja intrinsecamente determinado. O homem julga-se liberto porque consciente da sua vontade mas ignora a causa que a determina, ora esta causa o Prprio Deus, que determina a vontade humana, como todos os outros modos de ser, necessariamente. Nenhuma diferena existe sob esse aspecto entre o homem e a natureza. Tudo necessrio num como noutra. A propsito disto, Espinosa faz uma crtica radical ao finalismo, crtica cuja concluso assaz simples: no existem fins nem para o homem, nem para a natureza. Admitir na natureza causas finais um prejuzo devido constituio do intelecto humano. Os homens pretendem todos agir com vista a um fim, isto , a uma vantagem ou a um bem que desejam obter. E uma vez que encontram sua disposio um certo nmero de meios paira obterem os seus fins (por exemplo, os olhos para ver, o sol para iluminar, as ervas e os animais para se alimentarem, etc.) so
levados a considerar as coisas 204 naturais como meios para a obteno dos seus fins. E como sabem que tais meios no foram produzidos por si prprios, julgam que foram destinados ao uso deles por Deus. Assim nasce o preconceito de que a divindade produz e governa as coisas para uso dos homens, para ligar os homens a si e para ser honrada por eles. Mas, por outro lado, os homens observam que a natureza lhes oferece no s facilidades e comodidades, mas tambm incomodidades e desvantagens de toda a espcie (doenas, terremotos, intempries, etc.); e crem ento que estes infortnios derivam de no terem venerado devidamente a divindade que por isso se encoleriza. E, posto que a experincia de todos os dias denuncie e mostre com infinitos exemplos que as vantagens e os danos se distribuem igualmente por pios e mpios, os homens, em vez de abandonarem o seu preconceito, preferem recorrer a outro preconceito para escorar o primeiro; e admitem que o juizo divino supera em larga medida o do homem. Isto, nota Espinosa, teria bastado para que a verdade se ocultasse eternamente ao gnero humano, se a matemtica (a qual concorre no aos fins mas somente s essncias e s propriedades das figuras) no houvesse mostrado aos homens uma outra norma da verdade. Alm da matemtica, outras causas fizeram com que os homens se apercebessem destes preconceitos vulgares e fossem reconduzidos ao verdadeiro conhecimento das coisas. Esta anlise explicativa. dos preconceitos que se formam nos homens em virtude das tendncias constitutivas da sua
natureza, aparenta Espinosa com 205 os empiristas ingleses. A ela se segue a crtica das causas finais. Esta doutrina considera como causa o que efeito, e vice-versa: pe depois o que na natureza est antes e torna imperfeito o que perfeitssimo. , de facto, perfeitssimo o efeito que produzido imediatamente por Deus, imperfeito o que, para ser produzido, tem necessidade de causas intermdias. Evidentemente, se tais coisas fossem feitas por Deus como meios para obter um certo fim, seriam menos perfeitas do que as outras. Mas a doutrina das causas finais no s tira a perfeio ao mundo, como tira tambm a perfeio a Deus. Se Deus agisse para um fim, necessariamente quereria algo de que careceria. Espinosa afirma a este propsito, no ser vlida a distino teolgica entre o "fim de indigncia" e o "fim de assimilao". Se Deus no pde criar seno tendo-se a si prprio em vista, na realidade criou tendo em vista algo de que carecia. A concepo finalista do mundo no passa de um produto da imaginao: consiste na tentativa de explicar o mundo mediante noes como o bem, o mal, a ordem, a confuso, o calor, o frio, o belo, o feio, as quais no exprimem seno o modo como as coisas impressionam os homens e no tm valor objectivo nem podem de modo algum valer como critrios para entender a realidade mesma. Uma vez mais, a correco de tais preconceitos faz-se na matemtica, na qual j no valem as valorizaes individuais e que por isso subtrai o homem aos
prejuzos da imaginao. A perfeio das coisas, diz Espinosa (Et., 1, ap., Op., 1, p. 61) deve ser valorizada apenas pela natu206 reza e potncia delas, e as coisas no so mais ou menos perfeitas conforme agradem ou ofendam os sentidos dos homens ou conforme convenham ou repugnem natureza humana. No se procure por isso saber de :onde emanam as perfeies da natureza, dado que toda a natureza decorre necessariamente da essncia de Deus. No existem imperfeies na natureza. As leis da natureza divina so to amplas que bastam para produzir tudo o que pode ser concebido por um intelecto infinito. Do ponto de vista deste intelecto infinito e no j do ponto de vista dos indivduos e empricas valorizaes humanas, que cumpre colocar-se para entender verdadeiramente a natureza do universo em relao com a sua causa necessria e necessitante, que Deus. E o apelo matemtica evidencia a norma que, segundo Espinosa, deve seguir a autntica reflexo sobre o mundo. Ela deve visar exclusivamente ordem necessria em virtude da qual as coisas, como modos da substncia divina, se deixam deduzir necessariamente dela. 430. ESPINOSA: A ORDEM GEOMTRICA A substncia divina a primeira e nica realidade; o o conhecimento de Deus o primeiro e nico conhecimento verdadeiro. Estas teses fundamentais do espinosismo pem imediatamente em evidncia o problema da substncia. este, na realidade, o nico problema do espinosismo porque os outros se reduzem a ele, assim como todos os aspectos 207 da realidade se reduzem para Espinosa a modos ou manifestaes
da substncia. E um problema cuja soluo pode resultar apenas de uma vista total e completa da doutrina de Espinosa, mesmo nos seus aspectos ticos, polticos e religiosos. Porm, uma vez que o exame deste aspecto resultaria extremamente frgil e incerto sem uma preliminar soluo do problema da substncia, melhor defrontar neste ponto o problema mesmo, optando por pr prova, na subsequente exposio da doutrina, a soluo entrevista. . A primeira e mais evidente caracterstica da substncia espinosana que ela a coincidncia e a identidade da Natureza com Deus. J no Breve Tratado teolgico-poltico, comeando a tratar da profecia (isto , da revelao de Deus aos homens), Espinosa pe imediatamente a par dela o conhecimento natural: tambm ele divino, "porque a natureza de Deus, enquanto dela participamos, e os decretos dele quase a ditam a ns". A identificao da natureza com Deus leva-o a negar o milagre, O milagre assenta no prejuzo de que a natureza e Deus so duas potncias numericamente distintas e que a potncia de Deus a de um soberano sobre o seu reino. Espinosa afirma que "as leis universais da natureza so s@>mente decretos' de Deus que emanam da necessidade e da perfeio da natureza de- Deus". Por isso, se na natureza ocorresse algo de contrrio s leis naturais, isso seria necessariamente contrrio ao decreto, ao intelecto e natureza divinas. E se algum afirmasse que Deus poderia agir contra as leis da natureza, admitiria que Deus pode208 ESPINOZA
ria agir contra a sua prpria natureza. Em concluso, "a virtude e a potncia da natureza so a prpria virtude e potncia de Deus e as leis e regras da natureza os prprios decretos de Deus". No subsiste portanto o milagre como uma suspenso das leis da natureza, como se ele no a houvesse sabido criar bastante potente e ordenada para que servisse em todos os casos aos seus desgnios. O chamado milagre apenas um acontecimento ou um facto cuja causa natural nos escapa, porque fora do comum ou porque simplesmente aquele que o narra o no sabe ver. (Tract. teol.-pol., 6). A crena nos milagres pode conduzir ao atesmo, porquanto conduz a duvidar da ordem que Deus estabeleceu para a eternidade mediante as leis naturais. Destes textos do Tratado teolgico-poltico e do primeiro livro da tica (j exposto no 428) resulta que a identidade da natureza de Deus se realiza no mbito de um conceito que a ambos compreende e que o da ordem necessria. E a primeira caracterstica desta ordem necessria que ela no coincide com a ordem reconhecida e posta em vigor pela razo humana. ""A natureza, diz Espinosa (lb., 16), no se restringe s leis da razo humana, as quais tendem apenas utilidade e conservao dos homens, mas estende-se, a infinitas outras leis que concernem ordem eterna da natureza inteira de que o homem apenas uma parcela". O que na natureza nos parece ridculo, absurdo, mau, tal s pela nossa valorizao, pois ignoramos em parte a ordem e a conexo mxima da totalidade da natureza e julgamos apenas do ponto de vista da nossa 209
humana razo. O mal -o no em relao ordem e s leis da natureza universal mas apenas relativamente s leis da nossa natureza. Espinosa pretende superar o ponto de vista da razo humana e colocar-se no ponto de vista da ordem necessria. Ele declara no reconhecer nenhuma diferena entre os homens e os outros indivduos da natureza nem entre os homens dotados de razo e os que ignoram * verdadeira razo, e entre os ftuos, os delirantes * os sos. "De facto, seja o que for que um ser faa segundo as leis da sua natureza, f-lo por um seu sumo direito, isto , porque determinado a faz-lo pela natureza e no poderia fazer de outro modo". De sorte que o direito natural que para Grcio ( 348) era a norma da razo, para Espinosa definido exclusivamente pela necessidade, pela qual precisamente entra na ordem natural. "Por direito e instituio natural no entendo outra coisa seno as regras da natureza de cada indivduo, segundo as quais o concebemos naturalmente determinado a existir e a actuar de um certo modo" (Ib., 16; Tract. pol., 2, 18). Destas consideraes se pode concluir que para Espinosa a substncia como identidade da natureza com Deus, a ordem necessria do todo. Veremos que esta tese tambm torna inteligvel e clara a gnoseologia e a tica de Espinosa. Entretanto, evidente que ela exclui as duas teses opostas, que entraram em campo sobre a interpretao historiogrfica do espinosismo (e que foram protagonistas de uma famosa polmica), embora justificando estas teses na parcial verdade que contm. A substncia 210
espinosana no decerto razo, dado que a razo tem, segundo Espinosa, um campo bastante restrito, designando a ordem que tem o seu centro naquela parte da natureza que o homem. Por outro lado, todavia, verdade que a substncia, como ordem necessria, norma da razo e em geral o princpio a que ela deve adequar-se nas suas valorizaes para chegar ao terceiro gnero de conhecimento, isto , ao conhecimento pleno e perfeito ( 43 1). Em segundo lugar, a substncia no pode ser considerada como causa (segundo a outra das duas interpretaes fundamentais), porque a causa deixa fora de si aquilo de que causa; e a substncia ao mesmo tempo naturante e natureza naturada, porquanto, como ordem necessria, compreende ao mesmo tempo o necessitante e o necessitado, o atributo e os modos, o uno e o multplice. Por outro lado, implica um elemento dinmico e generativo que foi obscurecido pelo conceito de causa. Como se pode adequadamente exprimir este elemento? Estamos aqui perante a ltima determinao fundamental da substncia espinosana. Para esclarecer a dependncia dos modos simples da substncia, podia Espinosa valer-se dos dois modelos tradicionais: a doutrina da criao e a doutrina da emanao. Ele excluiu formalmente a doutrina da criao, porquanto, como se viu, assenta na impossvel reduo do modo de agir da substncia ao modo de agir do homem. A criao suporia intelecto, vontade, arbtrio, escolha, coisas que, segundo Espinosa, no tm sentido quando referidas substncia 211
divina. Mas a excluso da doutrina da criao significar que ele tenha aceite a doutrina da emanao? Na doutrina de Espinosa, no h vestgios de tal aceitao, que teria feito da sua doutrina a exacta repetio da doutrina de Bruno. preciso no esquecer que entre Espinosa e Bruno se encontram Galileu, Descartes, Hobbes: a primeira formao da cincia, inteiramente polarizada em torno do principio da estrutura matemtica do universo. Assim se explica por que que a matemtica explicitamente invocada por Espinosa como salvao dos preconceitos (Et., 1, ap.), assim como se explica a forma da sua obra mxima. A ordem necessria, constitutiva da substncia, unia ordem geomtrica. Este esclarecimento estabelece imediatamente a originalidade do espinosismo em relao a todas as formas de emanatismo. A substncia espinosana no a Unidade inefvel da qual brotam as coisas por emanao, conforme a doutrina tradicional do neoplatonismo. Nem to-pouco a natureza infinita que pela sua superabundncia de poder gera infinitos mundos, segundo o naturalismo de Giordano Bruno. Da substncia divina brotam os modos particulares como da geometria brotam os teoremas, os corolrios, os lemas. A forma exterior da tica no ditada a Espinosa por um preconceito matemtico, que ele tivesse extrado de Descartes, nem do desejo de macaquear, na ordem formal da exposio, o rigor do procedimento matemtico, mas da convico inabalvel de que a ordem geomtrica a substncia mesma das coisas, isto , Deus. A necessidade intrnseca da natureza divina uma necessi212 dade geomtrica, similar quela pela qual as proposies particulares da geometria se concatenam e se soldam no seu conjunto. Espinosa quis reproduzir na ordem da sua exposio a
prpria ordem da necessidade divina. Nesta ordem, a multiplicidade dos modos no contradiz a unidade porque a unidade a prpria conexo dos modos e os modos realizam no seu ser e no seu agir a ordem unitria. "Qualquer que seja o modo como concebamos a natureza, diz Espinosa (Et., H, 7, escol.), sob o atributo da extenso, ou sob o atributo do pensamento, ou sob qualquer outro, sempre encontraremos uma nica e mesma ordem, uma nica e mesma conexo de causas, isto , uma nica e mesma realidade". Esta ordem, esta conexo, esta realidade, o Deus sive natura, a Substncia. 431. ESPINOSA: PENSAMENTO E EXTENSO Do conceito da substncia como ordem geomtrica necessria do todo decorre imediatamente que, por muito diversos e infinitos que sejam os atributos da substncia, isto , os aspectos da essncia divina, devem todos apresentar no seio deles a mesma ordem e a mesma conexo dos modos em que se manifestam. Ora pensamento e extenso so, segundo Espinosa, dois atributos de Deus; as ideias so modos do pensamento, os corpos mo-dos da extenso. A ordem e o nexo das ideias devem ser pois idnticos ordem e ao nexo das coisas (Et., 11, 7). Isto implica que, a fim de que se considerem 213 as coisas como modos do pensamento, preciso explicar a ordem causal da natureza somente pelo atributo do pensamento; e enquanto se consideram as coisas mesmas como modos da extenso deve-se explicar esta ordem s pelo atributo da extenso. Por outros termos, importa procurar a causa de uma ideia noutra ideia,
e a causa destoutra numa outra ainda, e assim at ao infinito; e isto vlido tambm para os corpos, que so modos da extenso. Nunca se encontrar, portanto, uma ideia que seja causa de um corpo ou um corpo que seja causa de uma ideia: a causalidade concatena os modos s na unidade do prprio atributo. Alm disso, nunca se encontrar a casualidade divina seno sob a forma da causalidade finita dos modos particulares, uma vez que os modos no so seno Deus e Deus no seno os modos (Ib., 11, 9). Espinosa pretende aplicar estes principios " cognio da mente humana e da sua beatitude"; e por isso procura explicar por eles a natureza e o funcionamento da mente humana. A mente humana parte do infinito intelecto de Deus; uma ideia, um modo do atributo do pensamento. Mas uma ideia de uma coisa existente, de um objecto real. Esta coisa existente, este objecto real cuja ideia a alma humana, o corpo, que um modo da extenso. O homem consta portanto de mente e corpo. E uma vez que o corpo o objecto da ideia da mente, esta ter a ideia tambm de todas as modificaes que so produzidas no corpo pelos outros corpos. Assim, a ideia que constitui a alma humana no una mas multplice, j que implica 214 as ideias de todas as modificaes que o corpo, seu objecto, sofre, e por isso igualmente das dos outros corpos enquanto modificam o prprio corpo. Da que a mente humana considere como existente em acto no s o corpo que ela tem por objecto, mas tambm os
corpos exteriores que sobre ela actuam (lb., 11, 17). A mente no conhece os corpos exteriores seno por meio das ideias das modificaes do prprio corpo, e estas ideias so sempre confusas, porque no so situadas e reconhecidas na ordem necessria da sua derivao de Deus (da qual so modos) e portanto so, diz Espinosa, "consequncias sem premissas" (lb., 11, 28). O carcter confuso e inadequado das ideias no lhes tira todavia a necessidade, porque tambm as ideias inadequadas e confusas so modos de Deus e participam da sua absoluta necessidade. E uma vez que o erro consiste precisamente nas ideias inadequadas e confusas, tambm o erro necessrio e entra como tal na ordem do todo. Mas nesta ordem entra tambm, naturalmente, a verdade e o conhecimento adequados. Espinosa distingue a este propsito trs gneros de conhecimento. O conhecimento do primeiro gnero a percepo sensvel e a imaginao. A conscincia do segundo gnero a das noes comuns e universais que so o fundamento de todos os raciocnios; e este segundo gnero de conhecimento a razo. O terceiro gnero de conhecimento que Espinosa denomina cincia intuitiva aquele que parte da ideia adequada de um atributo de Deus para o conhecimento adequado das manifestaes ou dos 215 modos dele. S o conhecimento do segundo e do terceiro gnero os habilita a distinguir o verdadeiro do falso. S ele, com efeito, tira a ideia do seu isolamento e a li,,a s outras ideias, situando-@ ordem necessria da substncia divina. Ora se uma ideia concebida nesta ordem necessria ou, como Espinosa diz, sob o aspecto da
eternidade (sub specie aeternitatis), ela necessriamente verdadeira, porque necessriamente corresponder ao seu objecto corpreo, dado que a ordem das ideias e dos objectos uma s. Consequentemente, considerar as ideias na sua verdade significa considerar as coisas como necessrias, porquanto significa remontar com a razo ordem imutvel em que todas as coisas, ideias ou corpos, surgem como necessria. manifestao de Deus (Ib., 11, 14). De modo que tambm a anlise da mente a que Espinosa procede no segundo livro da tica chega mesma concluso da considerao metafsica de Deus que o filsofo estabelecera na primeira parte. No termo da segunda parte, depois de ter afirmado a identidade da vontade com o intelecto do homem e de ter negado que uma e outra sejam alguma coisa fora das volies e ideias particulares, Espinosa expe as vantagens que resultam para o homem das teses que afirma haver demonstrado. A primeira vantagem fundamental a de que o homem, convencendo-se de que age apenas conforme o querer de Deus, tranquiliza o seu esprito no reconhecimento da vontade a que est sujeito e abandona a pretenso de que Deus o recompense pela sua virtude. Alm disso, o homem comea a fazer face s vicissitudes da fortuna, por216 quanto se convence de que todas as coisas, mesmo as aparentemente mutveis, derivam da essncia divina pela mesma necessidade com que da essncia do tringulo resulta serem os seus ngulos iguais a dois rectos (Op., 1, p. 116). Comea assim a tornarse evidente a atitude de que a obra de Espinosa nasce
e que ela tende a sugerir e a consolidar no homem: uma atitude de tranquila aceitao do curso das coisas, considerado, mesmo nos mnimos pormenores, inevitvel e necessrio. 432. ESPINOSA: ESCRAVIDO E LIBERDADE DO HOMEM Esta atitude inspira o estudo das emoes nas ltimas partes da tica. Iniciando este estudo, declara Espinosa que ele considera as emoes no como coisas que esto fora da natureza, mas como coisas naturais e sujeitas s leis comuns da natureza. Espinosa est convencido de que a natureza sempre a mesma, que as suas leis valem em todos os campos, inclusivamente para o homem, que portanto nada possvel entender do homem e das suas emoes seno base destas leis. necessrio tratar de modo geomtrico as aces e os desejos dos homens, "tal qual como se se tratasse de linhas, de planos e de corpos". Sobre esta base construiu Espinosa a sua geot@7,etr,;(1 das emoes que ao mesmo tempo a anlise da escravido e da liberdade humana, dado que considera o poder das emoes sobre o homem 217 e o poder do homem sobre as emoes. Tal anlise baseia-se num reduzido nmero de princpios, que no so propriamente do homem mas pertencem a todos os entes em geral. O princpio fundamental o de que cada coisa tende a manter o seu prprio ser e que este esforo (conatus) de autoconservao constitui a essncia actual da coisa mesma (Et., M,
6-8). Quando este esforo se refere s mente chama-se vontade; quando se refere ao mesmo tempo mente e ao corpo chama-se apetite. O apetite a prpria essncia, do homem, de cuja natureza derivam necessariamente todas as aces que sorvem para a sua conservao e que por isso mesmo so pelo apetite necessariamente determinadas. Quando o apetite consciente de si denomina-se cupidel, (cupiditas). Da decorre, segundo Espinosa, que o homem no tem em vista, quer, deseja ou cobia uma coisa porque a tem em vista, a quer, a deseja e a cobia (Ib., 111, 9, esc.). Deste instinto do homem, instinto que no tem outro fim seno a conservao do prprio ser, derivam as emoes fundamentais. Por emoo entende-se, segundo Espinosa, a passividade da mente que consiste na inadequao e confuso das ideias. A mente sofre quando possui ideias inadequadas e confusas; age quando possui ideias adequadas. A ideia adequada a ideia que se sabe claramente ser derivada de Deus e de que se conhecem por isso os feitos que derivam claramente dela enquanto um modo da essncia divina. Quem tem uma ideia adequada realiza por isso necessariamente alguma coisa (lb., 111, 1). Posto isto, as emoes 218 fundamentais so a alegria e a tristeza. A alegria a emoo conexa conservao e ao aperfeioamento do prprio ser, a tristeza a emoo conexa a uma diminuio dele. Quando alegria e
tristeza so acompanhadas pela ideia de uma causa externa que a produz, do origem ao amor e ao dio, emoes pelas quais o homem procura o que lhe proporciona alegria e foge quilo que lhe proporciona tristeza (lb., 111, 13, esc.). Destas emoes fundamentais procedem todas as outras, as quais, de facto, Espinosa deduz geometricamente, sem estabelecer entre elas nenhuma distino moral mas considerando-as todas, quer sejam chamadas boas ou ms, como manifestaes naturais e necessrias do homem, portanto do prprio Deus que no homem e age. Sobre esta noo das emoes se funda a sua anlise da escravido humana. Espinosa corrobora a este propsito a relatividade e a insignificncia das valorizaes humanas. A natureza no tem nenhum fim, mas age apenas por uma necessidade intrnseca. Os conceitos de perfeio ou de imperfeio no tm significado para ela: so conceitos humanos, que o homem constri comparando entre si coisas do mesmo gnero e da mesma espcie. Isto aplica-se igualmente aos conceitos do bem e do mal. Uma mesma coisa pode ser boa ou m ou mesmo indiferente: a msica, por exemplo, boa para o melanclico, m para quem est de luto, nem boa nem m para o surdo. Sendo assim, com as palavras perfeio e imperfeio no se pode indicar outra coisa seno a realidade e a irrealidade. Pode dizer-se que 219 uma coisa adquire unia perfeio maior apenas no sentido de que aumenta o poder de agir que est implcito na sua essncia. Para o homem, por exemplo, a perfeio constituir no passar do conhecimento inadequado e confuso, pelo qual passivo, ao conhecimento adequado, pelo qual se torna activo e liberto.
Este ponto de vista faz do mal e do bem valores que so tais unicamente em relao com a natureza prpria do homem, isto , do instinto ou desejo fundamental que o constitui. E uma vez que este instinto visa a autoconservao, o bem ser aquilo que serve a tal conservao, o mal aquilo que a perjudica (Ib., IV, 8). Deste modo o bem identificado ao til, e a busca do til torna-se a forma fundamental da razo. "A razo, diz Espinosa" (Ib., IV, 18, esc.), nada exige contra a natureza; mas ela mesma exige que cada um se ame a si prprio e procure o bem prprio, que verdadeiramente seja tal, e deseje tudo o que verdadeiramente conduz o homem a uma maior perfeio; e, de um modo absoluto, que cada um se esforce, no que lhe, diz respeito, por conservar o seu prprio sem. A virtude no portanto algo diverso da natureza e, ainda menos, oposto a ela. a prpria tendncia natural para a autoconservao. Mas como no homem tal tendncia natural actua tanto mais eficazmente e melhor quanto se vale da razo, que precisamente a busca do til, assim a virtude humana est essencialmente ligada ao uso da razo. Por isso Espinosa diz que o bem ou o mal para o homem so verdadeiramente aquilo que 220 permite entender e aquilo que impede de entender Ub., IV, 26). E visto que o mais alto objecto que o homem pode entender Deus, o sumo bem da mente humana o conhecimento de Deus (lb., IV, 28). Seguir a razo significa para o homem ser activo, quer dizer ter
ideias adequadas. A emoo, ao invs, uma ideia confusa; e a emoo no nunca um absoluto poder do homem porque o homem uma parte da natureza e as suas emoes so determinadas tambm pelas outras partes da natureza. Sucede, assim, que uma emoo no pode ser reprimida ou destruda seno por uma emoo contrria e mais forte e que o prprio conhecimento do bem ou do mal no pode reprimir nenhuma emoo seno na medida em que se torna ele prprio emoo, e emoo mais forte do que as outras (Ib., IV, 14). Espinosa analisa as emoes com o intuito de descobrir quais delas so conformes razo e portanto prprias do homem livre. Existem emoes que por si mesmas so sempre boas, como a alegria, a jovialidade; outras que so em si mesmas ms, como a tristeza, a melancolia, o dio; outras que so boas ou ms, conforme a sua mistura, como o amor e o desejo. Consequentemente, o homem que vive de acordo com a razo no responde ao dio com o dio, ao desprezo com o desprezo, etc., mas ope o amor e a generosidade a essas emoes ms. "Quem sabe bem, diz Espinosa (Ib., IV, 50, esc.) que tudo deriva da necessidade da divina natureza e acontece segundo as leis e as regras eternas da natureza, 221 decerto nunca encontrar nada que seja merecedor de dio, de riso ou de desprezo, nem ter compaixo de ningum; mas, no que lhe compete, a virtude humana esforar-se- por agir bem, como se, diz, e por ser
alegre. de acrescentar que quem facilmente se deixa possuir pela compaixo e se comove com a misria e as lgrimas de outros, muita vezes faz coisas de que se arrepende; seja porque, pelo impulso da emoo, no fazemos nada que saibamos verdadeiramente ser bom, seja porque somos enganados facilmente pelas falsas lgrimas. E aqui eu falo expressamente do homem que vivo tendo por guia a razo. Visto que no induzido nem pela razo, nem pela compaixo a dar ajuda aos outros, justamente considerado desumano por parecer dissemelhante do homem." Neste passo to caracterstico de Espinosa patenteia-se o modo como ele entende substituir a emoo pela razo como guia do homem e como entende a razo como a recta considerao do til religando-a assim ao impulso da autoconservao e dando-lhe por isso o fundamento e a corporeidade da emoo. Por conseguinte, condena aquelas emoes que no se deixam transformar pela razo: a compaixo (como se viu) e depois a humildade, o arrependimento, a soberba e a abjeco, e, enfim, o temor e, em particular, o temor da morte. A este respeito afirma Espinosa que o homem livre em coisa alguma pensa menos do que na morte, e a sua sapincia uma meditao no da morte, mas da vida (lb., IV, 67). O pensamento da morte 'surge a Espinosa como temor da morte e portanto 222 como estranho a quem deseja "agir, viver, conservar o seu prprio ser tendo por base a busca do seu prprio bem". Tambm na
considerao da escravido humana, Espinosa optimista. O mal uma ideia inadequada porque a prpria tristeza que corresponde passividade e imperfeio do homem. Donde se segue que a mente humana no teria noo do mal, se tivesse apenas ideias adequadas (Ib., IV, 64, cor.) e que no haveria distino entre bem e mal se o homem nascesse livre e permanecesse livre, uma vez que quem livre tem apenas ideias adequadas. Espinosa nota logo que a hiptese no verdadeira, mas o t-la formulado revela a sua convico ntima de que o estado de escravido do homem, que ao mesmo tempo o de queda ou de decadncia no erro, provisrio e destinado a ser vencido e superado. Esta vitria, com efeito, celebrada na quinta parte da tica. O homem que domina as emoes, o homem livre, aquele que, tendo compreendido a natureza das emoes, capaz de agir independentemente delas. A emoo faz agir o homem com mira na alegria e na tristeza, mas a alegria e a tristeza servem na realidade para o conservar e revigorar no seu ser e dar-lhe uma maior realidade e perfeio. Ora o homem pode fazer isto tambm independentemente da alegria e da tristeza, agindo com vista ao til. Nesse caso abrir-se- diante dele a vida da razo e da liberdade. O homem compreender as suas prprias emoes e na medida em que as compreender deixar de ser escravo delas. Uma 223 emoo , de facto, uma ideia inadequada e confusa que a mente pode levar adequao e distino subtraindo-se assim
passividade que ela implica (Ib., V, 3). Mas compreender adequadamente uma razo significa compreender a sua necessidade, pela qual natural e inevitvel. O reconhecimento desta necessidade a primeira condio do domnio humano sobre as emoes. Chora-se menos por um bem perdido quando se sabe que a perda inevitvel; no se lamenta um menino que no sabe falar nem raciocinar porque se sabe que essa condio inevitvel e natural. E assim todas as emoes diminuem o seu poder sobre o homem medida que o homem descobre a natural necessidade delas. E visto ser a razo, com o seu terceiro gnero de conhecimento, que faz descobrir tal necessidade, deve o homem fiar-se na razo para alcanar a liberdade das emoes. O terceiro gnero de conhecimento leva a descobrir de facto cada coisa particular como manifestao necessria da essncia divina. Mas a contemplao desta necessidade a contemplao do prprio Deus. A liberdade humana, na medida em que assenta no conhecimento da necessidade natural das emoes, e em geral de tudo o que existe, funda-se no conhecimento de Deus. Espinosa chama amor intelectual de Deus alegria que nasce do conhecimento daquela ordem necessria que a prpria substncia de Deus (Ib., V, 32). O amor intelectual de Deus eterno e parte do amor infinito com que Deus se ama a si mesmo (Ib., V, 36). Este amor a prpria beatitude humana e o ponto mas alto que a liberdade humana 224 pode alcanar. Este conceito revela claramente o ltimo pensamento de Espinosa, pelo que respeita a Deus e ao conhecimento adequado do homem (conhecimento do terceiro gnero). Deus a ordem
geomtrica necessria do universo; o conhecimento de cada coisa particular como elemento ou manifestao necessria desta ordem por conseguinte contemplao de Deus e amor intelectual dele. O ideal geomtrico de Espinosa assume a terminologia do misticismo neoplatnico mais nada perde do seu rigor metafsico. Falando de "cincia intuitiva", Espinosa no quis indicar outra coisa seno a viso matemtica que descobre imediatamente os liames necessrios entre as duas proposies. Tal como o misticismo de Giordano Bruno, era na realidade um naturalismo, visto que o alvo dele no era a Unidade transcendente mas o princpio imanente da natureza, assim o misticismo de Espinosa , na realidade, uma metafsica geometrizante, para a qual o fim da unio mstica no outro do que a estrutura matemtica do universo que se reconheceu como sendo a substncia ltima das coisas. 433. ESPINOSA: O DIREITO NATURAL COMO NECESSIDADE Quando Espinosa delineou na tica a figura do homem livre, enunciou, entre outros traos seus, a sua tendncia para viver com outros homens no mbito do Estado. E, de facto, segundo Espinosa, os homens tm temperamentos diversos e contrastantes enquanto so agitados por emoes. Mas 225 quando elegem a razo para guia, visam necessariamente ao que essencial natureza humana e por conseguinte idntico em todos. Da que quanto mais cada homem procura a sua convenin. cia, tanto
mais os homens so semelhantes entre si e podem ser teis uns aos outros (t., IV, 35). O homem livre reconhece assim a utilidade da vida associada e livremente (e no j por temor) se conforma com as suas leis (Ib., IV, 73). Pode-se aperceber aqui o fundamento que Espinosa pretende dar vida associada dos homens. Este fundamento no o dever ser mas o ser: no so virtudes ou qualidades excelentes e fantsticas, de que os homens deveriam ser dotados e no so, mas sim as prpria paixes e virtudes humanas tal como na realidade se encontram. Iniciando o seu Tratado poltico, Espinosa condena os filsofos que exaltaram no homem "uma. natureza que no existe de facto" e cobriram de oprbio a natureza que realmente existe; e declara, pela sua parte, querer considerar a natureza humana tal como ela e as emoes humanas no j como vcios mas como propriedades que dependem da natureza do homem assim como da natureza do ar dependem o calor, o frio, a tempestade, etc., "fenmenos, nota Espinosa (Tract. pol., 1, 5), que, embora nocivos, so todavia necessrios e tm causas determinadas, atravs das quais ns procuramos entender a natureza deles". Este realismo poltico aproxima Espinosa de Hobbes, como o aproxima dele a inteno expressa de considerar com o mtodo geomtrico as relaes humanas que do origem s comunidades 226 polticas. Mas Espinosa afasta-se de Hobbes e do jusnaturalismo moderno ao reter as normas de direito natural fundadas no j na razo humana, ruas na ordem necessria do mundo. Com efeito, segundo Espinosa, o direito natural emana do poder de Deus; e assim ele retoma a noo de direito natural que era prpria dos esticos, do direito romano e da filosofia medieval. As coisas naturais no tm em si prprias, na
sua essncia, o princpio da sua existncia e da sua conservao. Este princpio o prprio Deus. Donde se segue que a potncia pela qual as coisas naturais existem e operam a prpria potncia eterna de Deus. Ora Deus tem direito a tudo e o seu direito no outro seno o seu prprio poder enquanto absolutamente livre; por conseguinte, todas as coisas naturais tm por natureza tanto direito quanto tm o poder de existir e de actuar, e isto porque a potncia de uma coisa natural qualquer no mais do que a potncia de Deus que livre em sentido absoluto. Espinosa entende ento por direito natural "as prprias leis ou regras naturais segundo as quais todas as coisas ocorrem, isto , o prprio poder da natureza. O direito natural de toda a natureza e, consequentemente, de cada indivduo estende-se tanto quanto o seu poder. Tudo o que um homem faz segundo as leis da sua natureza f-lo por sumo direito de natureza e tem sobre a natureza tanto direito quanto o seu poder vale." (Tract, pol., 24). Estas expresses do Tratado poltico so apenas verbalmente diversas das que Espinosa empregara no Tratado teolgico-poltico para definir o direito 227 natural. "Por direito e instituio de natureza, havia ele dito (Tractatus teol--pol., 16), no entendo outra coisa do que as regras da natureza de cada indivduo, segundo as quais o concebemos naturalmente determinado a existir o a actuar de um certo modo". E acrescentava que "a natureza absolutamente considerada tem o sumo direito sobre tudo o que pode, isto , o direito de natureza estende-se at onde se estende a sua potncia". A potncia da natureza identifica-se de facto com a potncia de Deus. No pensamento de Espinosa, o direito de natureza no portanto seno
a meessidade da aco divina. Assim substitui Espinosa o conceito da racionalidade do direito natural, sustentado pelo jusnaturalismo, pelo conceito da necessidade de tal direito, ligando assim o direito natural ordem necessria do todo, ou seja, substncia divina. Ora se a natureza humana fosse tal que os homens vivessem apenas segundo os preceitos da razo e no procurassem mais nada, o direito natural prprio do gnero humano seria determinado s pelo poder da razo. Mas os homens so guiados mais pela cega cupidez do que pela razo e portanto o poder natural dos homens, quer dizer o direito, no deve ser definido pela razo mas pelo instinto, pelo qual os homens so determinados a agir e pela qual tendem sua prpria conservao. Certamente, este instinto no se origina na razo e, por conseguinte, mais paixo do que aco. Mas do ponto de vista do direito natural, isto , do poder universal da natureza, no possvel reconhecer nenhuma diferena entre as tendncias que 228 so geradas pela razo e aquelas que tm outras causas, pois que umas e outras so efeitos da natureza e manifestam a fora natural pela qual o homem tende a conservar o seu prprio ser. Uma vez mais Espinosa declara a este propsito que "o homem, quer seja sapiente ou ignorante, parte da natureza e tudo aquilo por que determinado a agir deve ser referido ao poder da natureza enquanto definida e limitada pela natureza deste ou daquele homem particular. Portanto, tudo o que o homem faz, quer guiado pela razo, quer guiado pela cupidez, conforme s leis e s regras da natureza, quer dizer ao direito natural (Tract. pol., 2, 5; Tract. teol.-pol., 16).
O direito natural, sendo expresso da necessidade da natureza, supe que o homem no livre, ou, o que o mesmo, que livre apenas no sentido de ~r existir e agir segundo as leis da sua prpria natureza. O direito natural sob o qual os homens nawm e vivem a maior parte do tempo no probo seno aquilo que o homem no descia e no pode fazer; no elimina, portanto, as contendas, os dios, os enganos e em geral tudo aquilo a que o instinto impele o homem. Daqui deriva que cada homem por direito outro enquanto est sob o poder de outros e que est no seu direito enquanto pode repelir toda a violncia, punir segundo o seu critrio o dano que lhe fizeram e, numa palavra, viver a seu talante. Mas esta condio determina aquela que j Hobbes denominara guerra de todos contra todos. O homem no pode defender-se szinho e o seu direito natural sobre tudo tornado 229 nulo e fictcio pela hostilidade dos outros. Se. alm disso, se considera que os homens nem sequer podem prover s suas necessidades sem uma ajuda recproca, v-se logo que o direito de natureza do gnero humano implica que os homens tenham direitos comuns e que procurem viver segundo um acordo comum. E como quanto mais os indivduos se associam tanto mais cresce o seu poder e portanto o direito deles, assim a sua associao determina um direito mais forte que pertence quilo que se chama governo (Tract. Pol., 2, 17). O surgir de um direito comum,
devido instituio de um governo, isto , de uma multido organizada, faz nascer as valorizaes morais que fora dele no tm sentido. Tal como Hobbes, afirma Espinosa que tais valorizaes apenas se justificam no mbito de uma comunidade organizada, a qual condena e pune como sendo pecado qualquer transgresso s normas que estabeleceu. A justia e a injustia nascem assim por obra do direito comum. A origem destas valorizaes nada tem a ver com a razo. Todavia, uma vez que um governo deve sempre fundar-se na razo e que, por outro lado, a razo nos ensina a desejar uma vida pacfica e honesta, o que s pode efectuar-se no mbito do Estado, assim se pode chamar pecado aquilo que vai contra os ditames da razo (Ib., 2, 21). Mas a coincidncia entre a racionalidade e as normas de direito comum parcial e acidental, segundo Espinosa. As normas do direito comum tm a mesma validez que as normas de direito natural: s so vlidas enquanto necessrias, nada mais. De facto, o direito do 230 governo no mais, para Espinosa, do que o prprio direito de natureza, determinado no entanto no pelo poder do particular mas do da multido guiada por uma nica mente. Como o indivduo no estado natural, assim o Estado tem tanto direito quanto o poder que tiver. O direito do Estado limita o poder do indivduo mas, propriamente falando, no anula o seu direito natural, porquanto tanto no estado de natureza como na sociedade o homem age segundo as leis da sua natureza e visa sua prpria convenincia de modo que, em ambas as condies, s pela esperana ou pelo medo movido * agir
ou a no agir. A diferena fundamental entre * estado de natureza e o estado civil que neste ltimo todos temem as mesmas coisas e para todos h uma nica garantia de segurana e um nico modo de viver: porm, isto no tira ao indivduo a faculdade do juzo (Ib., 3, 3). As vantagens do estado civil so tais, porm, que a 'razo aconselha cada um a submeter-se s suas leis; e mesmo aquilo que tais leis podem ter de contrrio razo compensado por aquelas vantagens. Intervm neste caso a lei da razo que prescreve a escolha do menor de dois males (Ib., 3, 6). Espinosa no afirma no entanto, como Hobbes, que o direito do Estado seja absoluto, quer dizer ilimitado. Como todas as outras coisas naturais, o Estado no pode existir e conservar-se se no se conformar s leis da prpria natureza. O limite da sua aco portanto determinado por aquelas leis sem as quais ele cessa de ser "estado". O Estado, diz Espinosa, peca quando faz ou tolera 231 coisas que podem causar a sua ruina; peca no sentido em que os filsofos e os mdicos dizem que peca a natureza, isto , no sentido de que age contra a ditame da razo. Por outros termos, o Estado est submetido a leis no mesmo sentido em que o homem est submetido no estado natural: no sentido de que obrigado a no se destruir a si prprio (lb., 4, 5). Tanto para o Estado como para o indivduo, portanto, a melhor regra ser a que se fundar sobre os preceitos da razo que so os nicos que garantem a sua conservao. E uma vez que o fim do Estado a paz e a segurana da vida, assim a lei fundamental que limita a aco do Estado deriva
desta sua intrnseca finalidade, sem a qual ele no alcana o fim para que nasceu, isto , a sua prpria natureza. Por outro lado, a vida do Estado de qualquer modo garantida pela prpria natureza do homem. Os homens unem-se para formar uma comunidade poltica, na qual constituam como que uma alma s, no por um impulso racional, mas por alguma paixo, como a esperana e o temor. E visto que todos tm medo do isolamento, j que ningum tem foras bastantes para se defender e obter as coisas necessrias vida, da se segue que todos desejam naturalmente o estado social e que no possvel que os homens o destruam alguma vez por completo. Nem mesmo das desordens intestinas pode jamais nascer a completa dissoluo do Estado, como sucede com as outras associaes, mas to-s uma mudana de forma (Ib., 6, 1). 232 434. ESPINOSA: A RELIGIO COMO OBEDINCIA sobre o reconhecimento dos limites do Estado que se funda a defesa que Espinosa faz da liberdade filosfica e e religiosa do homem. O Tratado teolgico-poltico visa explicitamente a subtrair o homem escravido da superstio e a restitu-lo sua liberdade de pensamento. Espinosa analisa criticamente nessa obra todo o contedo da Bblia a fim de demonstrar que o que ela ensina concerne vida prtica e ao exerccio da virtude, mas de modo algum verdade. A revelao de Deus aos homens teve a finalidade de estabelecer as condies daquela obedincia a Deus em que consiste a f. Espinosa realiza nesta anlise uma definio da f que a coloca completamente para l do verdadeiro e do falso, porque a reduz a um acto prtico de obedincia. "A f, diz Espinosa (Tract. teol.-pol,
14), consiste em ter, em relao a Deus, aqueles sentimentos sem os quais se perde a obedincia a Deus e que decorrem necessariamente de tal obedincia". A f no , portanto, seno a totalidade dos sentimentos ou das atitudes que condicionam a obedincia divindade. "Quem no v, diz Espinosa (lb., 14) que o velho e o novo Testamento no so mais que uma disciplina da obedincia e que no tendem seno a que os homens sinceramente obedeam? Moiss no procurou convencer os Israelitas por meio da razo, mas procurou obrig-41os com a aliana, os juramentos e os benefcios; e para que observassem a lei, ameaou-os com 233 as penas e estimulou-os com os prmios: meios que nada tm a ver com a cincia e apenas visam obedincia. A doutrina evanglica no contm nada mais do que a simples f, ou seja, o crer em Deus, o honr-lo ou, o que o mesmo, obedecer-lhe". O nico preceito que a Escritura ensina o amor pelo prximo, de modo que base da Escritura ningum est obrigado a crer seno no que absolutamente necessrio para obttemperar a este preceito. A reduo da f obedincia evita, segundo Espinosa, todo o perigo de dissdio religioso porque reduz a f religiosa a um reduzido nmero de pontos basilares que exprimem precisamente as condies necessrias e suficientes da obedincia. Estes pontos constituem os dogmas da f universal e os princpios fundamentais de toda a Sagrada Escritura. So os seguintes: LO Existe um Deus, isto , um ente supremo, sumamente justo e misericordioso, modelo de vida verdadeira. Quem no sabe ou no cr que existe Deus no pode obedecer-lhe nem reconhec-lo como juiz.
2.1'-Deus nico. Ningum pode duvidar de que tambm esta uma condio absoluta da devoo, da admirao e do amor por Deus, visto que estas coisas nascem apenas da convico da excelncia de um ser acima de todos os outros. 3.o - Deus est presente em toda a parte e tudo conhece. Se se julgasse que algumas coisas lhe esca234 pam ou se se ignorasse que ele v tudo, poder-se-ia duvidar da sua justia ou ignor-la. 4.'-Deus tem o supremo direito e domnio sobre todas as coisas e faz tudo, no por constrio, mas por seu absoluto beneplcito e por graa singular. Todos de facto tm o dever de lhe obedecer, mas ele no tem qualquer obrigao seja para com quem for. 5'.-0 culto de Deus e a obedincia para com ele consistem apenas na justia o na caridade, ou seja, no amor do prximo. 6.'-Salvam-se apenas os que, vivendo deste modo, obedeam a Deus; os outros que vivem sob o imprio dos prazeres perdem-se. Se os homens no crem nisto firmemente, no tm nenhuma razo para crer em Deus em vez de se entregarem ao prazer. 7.*-Finalmente, Deus perdoa os pecados aos que se arrependem. No h ningum que no peque; se portanto no houvesse a f na remisso dos pecados, todos desesperariam da sua
salvao e no teriam razo para crer na misericrdia de Deus. Pelo contrrio, aquele que cr firmemente que os pecados dos homens so remidos por Deus arde de amor por ele e por isso verdadeiramente conhece Cristo segundo o esprito, e Cristo nele. A reduo da f obedincia e do contedo da f s condies indispensveis da obedincia torna impossvel o conflito entre f e razo. Entre a f ou a teologia, de um lado, e a filosofia, do outro, no h, segundo Espinosa, nenhuma relao e nenhuma afinidade. O escopo da filosofia a ver235 dade, o escopo da f a obedincia. O fundamento da filosofia so as noes comuns que devem ser procuradas apenas na natureza. O fundamento da f so as histrias e a lngua que devem ser procuradas apenas na revelao e na Sagrada Escritura. A f permite assim a cada um a mxima liberdade de filosofar, de modo que cada um pode, sem culpa, pensar o que quiser acerca de qualquer coisa. Herticos cismticos so os que ensinam opinies destinadas a criar obstinaes, dios, iras e contrastes; fiis sos os que aconselham, com todas as foras da sua razo e com todas as suas faculdades, a justia e a verdade. A religio todavia no para Espinosa um estado natural. Nenhum homem sabe por natureza ser obrigado a obedecer a Deus e nem mesmo a religio pode conduzi-lo a isso, mas s a revelao confirmada pelos sinais. Anteriormente revelao ningum obrigado a obedecer ao direito divino, uma vez que no pode deixar de ignorar o que no
existe ainda. O estado natural] no se confunde com o estado de religio, mas deve ser concebido como sendo desprovido de religio e de leis, por conseguinte sem pecado e sem injustia (Ib., 16). 435. ESPINOSA: A LIBERDADE DA INVESTIGAO A anlise que Espinosa faz da organizao poltica e da religio, tem como nico fim defender e garantir ao homem a liberdade da investigao cientfica. O Estado no pode privar os homens de 236 todos os seus direitos, at ao ponto de eles nada poderem fazer sem a vontade dos que governam. Em qualquer comunidade poltica, o homem conserva uma parte dos seus direitos; e o direito mais cioso o menos transfervel a faculdade de pensar o de julgar livremente. Sobre esta faculdade no possvel exercer qualquer forma de coaco. Os governos podem fazer calar a lngua dos homens, mas no o seu pensamento. preciso por isso incluir entre os governos violentos o que pretende exercer uma coaco sobre o pensamento o prescrever a cada um o que deve ter por verdadeiro e por falso e as opinies por que deve ser movido na sua devoo a Deus. "0 fim do Estado, diz Espinosa (Tract.-teoUpol., 20) no o de transformar os homens, seres racionais, em animais ou em mquinas, mas, pelo contrrio, o de garantir que a mente e o corpo deles desempenhem com segurana as suas funes, que se sirvam da livre razo e no se combatam com dio, ira ou engano nem se defrontem com esprito de inquidade". O fim do Estado , de facto, a liberdade,
E assim este filsofo da necessidade, que conceber um Deus, a sua aco criadora e o seu governo no mundo, como uma viva geometria infalvel, no teve outro escopo na sua obra especulativa seno o de garantir ao homem a liberdade das emoes, a liberdade poltica e a liberdade religiosa. Como a procura desta liberdade pode inserir-se e justificar-se num mundo geometricamente determinado, onde tudo o que existe deve existir em virtude de uma necessidade que no conhea excepes, eis 237 o grande problema da filosofia de Espnosa. Como num mundo espinosano reduzido ao denominador comum da necessidade geomtrica (que o prprio Deus), poderia nascer, viver, pensar Espinosa, decerto o maior paradoxo do espinosismo. Decerto que a liberdade do homem frente ao mundo consiste, para Espinosa, essencialmente, no reconhecimento da necessidade. Tal , indubitavelmente, o significado do amor intellectualis Dei. Mas o reconhecimento da necessidade no ele mesmo, quando existe, geometricamente determinado? O ideal da razo que despontara no mundo moderno com Grcio o Descartes encontrou em Espinosa uma das suas primeiras determinaes tpicas: a razo como necessidade. Encontrar em Leibniz a outra: a razo como liberdade. NOTA BIBLIOGRFICA 426- 4s mais completas edies das obras de Espnosa so: B. de S. Opera quotquot reperta sunt, ao cuidado de J. van Vlaben e J. P. N. Land, 1." ed., Hagae, 1882-83; 2.1 ed. -em 3 voL, 1895; 3., ed. em 4 vol., 1914; e a ed. ao cuidado de Gebharclt, 4 vol., Heldelberga, 1923.
Trad. italianas: Breve trattato, de G. Semerari, Florena, 1933; de O. Bianca, Turim, 1942; Ethica, d@" E. Troilo, Milo, 1914; de S. Giametta, Tuxim, 1959; de G. Durante, Florena, 1960; Tractatus theologicus-politicus de S. Casellato, Veneza, s. a.; Tractatus politicus, de A. Meozi, Lanciano, 1918, de D. Formaggio, Turim, 1950; de A. Droetto, Turim, 1958; Epigtolario, de A. Droetto Turim, 1951. 238 Bibliografia: W. MEIJER, Spinozana, Efeldelberga, 1922. L. BRUNSCi-IVIGG, S., Paris, 1894, 19062; F. POLLOCK, S., Hs Life and Philosophy, Londres> 1899, 19122; DELBOs, Le spinozisme, Paxis, 1906, CASSIRER, Erkenntnissproblem, 11, p. 74 segs.; A. GUZZQ, Il pewiero di S., Florena, 1924; "EUDNTIIALGEBHARDT, S, SCin Leben und seine Lehre, Heidelberga, 1927; DUNIN-BoRi@.owsKI, S., 4 vol., Mwteri, W., 1933-36. 428. A polmica a que se alude a que f o travada entre J. E. ERDMANN; Versuch ~er Wisse-nsch, Darstellung der Gesch. der neuerr Phil, Leipzig, 1836 e Grundiss der Geschchte der Phil, 1834-53, e K. FiscHER, Gesch. der ncuern PU., 11, Sp.s. Leben, Werke und Lehre, 5., ed, Heidelberga, 1909; solgre a obra: DELBOS, Le Vroblme moral dans Ia phil. de S., Paris, 1893; EUSOLT, Die Grundzge der Erkenntnistheorie und Metaphysie, s. s., Berlim, 1875; SPAVNTA, Seritti filosofici, Npoles, 1900. As interpretaes mais recentes: L. S., Londres, 1929; H.
A. WOLFSON, The ph@losophy of S. Unfolding the Datent Processes of M8 Reasoning, Cambridge, Maw, 1934; S. HAMPRSIRE, S., Elarmondsworth, 1951; C. 11. R, PARKINSON, W s,, Theory of KnowIedge, Oxford, 1954; H. F. HALLPT, B. de S., Londres, 1957. 239 NDICE VII- AS ORIGENS DA CINCIA
... ... ...
388. L~ardo ... ... ... ... ... ... 7 389. Coprrxioo. Xepler ... ... ... ... 11 390. Galileu: Vida e Obras ... ... ... 14 391. Galileu: o mtodo da cincia ... 17 392. Racori. Vida; e Escritos ... ... 24 393. Baoon:'c@ conceito da cincia, e da teor-ia dos dolos ... ... ... ... 28 394. Bacon: a induo e a twaia das formes 44 ... ... ... ... ... ... 35 Nota bibliogrfica, ... ... ... ...
QUINTA PARTE FILOSOFIA MODERNA DOS SCULOS XVII E XVIII 1-DESCARTES ... ... ... ... ... ... 49
395. Vida e Escritos ... ... ... ... 49 396. A unidade da razo ... ... ... 53 397. - O M46-todo ... ... ... ... ... 57 398. @ O Cogito .. . ... ... ... ... ... 62 399. Deus ... ...
... ... ... ... ... O Homem
69 400. -0 Mundo ... ... .. . ... ... ... 82 ... ... ... ... 93
... ... ... ...
77 401.
Nota bibliogTica 241 11 - HOBBES 97 M 402. ... ... ... ... ... ... Vida e Obras 97 403. A tarefa da filosofia 93 404. A natureza da razo 101
... ... ...
... ... , ,
... ...
405. A Cincia ... ... ... ... 106 406. O corno 109 407. Os corpos naturais ... 113 408 O Homem 115 409. O estado de guerra e o direlto natural 119 ... ... ... ...
410. ... ... ... ... O Estado 125 Nota bibliogrfica ... ... 129 A LUTA PELA RAZO 131 411. Racionalismo e carteslanismo, ... 131 412. A escolstica c&rtesiana: o ocasionalismo 135 413. Malebranche: Razo e F ... ... 138 ... ... 1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
414. Malebranche: a viso em Deus ... 141 415. Malebranche: as verdades eternas 146 416. Arnauld e a lgica de Port-Royal 417. Gassendi 155 ... ... ... ... ... ...
418. O Ilhertinismo ... ... ... ... ... 160 419. COnIPOsto e inipr,,,o. Para a EDITORIAL pRES.ENC4
na Tipografia N.... Porto
Você também pode gostar
- Silva, Franklin Leopoldo e - Descartes A Metafísica Da ModernidadeDocumento67 páginasSilva, Franklin Leopoldo e - Descartes A Metafísica Da ModernidadeGustavo ValenteAinda não há avaliações
- Historia Da Filosofia 4Documento184 páginasHistoria Da Filosofia 4Rita Andrade100% (1)
- 12 Cuestion DeleuzeDocumento196 páginas12 Cuestion Deleuzedario peralta100% (1)
- Lições de Filosofia PrimeiraDocumento11 páginasLições de Filosofia PrimeiraLuís Fernando de AlmeidaAinda não há avaliações
- Nietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoDocumento28 páginasNietzche e A Represenatação Do Dionisíaco - Roberto MachadoRicardo Pinto de SouzaAinda não há avaliações
- Da Crítica de Nietzsche Ao Sujeito Ao Sujeito de Sua CríticaDocumento27 páginasDa Crítica de Nietzsche Ao Sujeito Ao Sujeito de Sua CríticaJoão ViniciusAinda não há avaliações
- Côrte na aldeia e noites de inverno (Volume I)No EverandCôrte na aldeia e noites de inverno (Volume I)Nota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- O Modo de Vida Filosófico em Pierre Hadot PDFDocumento26 páginasO Modo de Vida Filosófico em Pierre Hadot PDFAna Carolina LimaAinda não há avaliações
- Alfred North WhiteheadDocumento19 páginasAlfred North WhiteheadcuencamtAinda não há avaliações
- Danilo Marcondes - Montaigne, A Descoberta Do Novo Mundo e o Ceticismo ModernoDocumento13 páginasDanilo Marcondes - Montaigne, A Descoberta Do Novo Mundo e o Ceticismo ModernoMarceloAinda não há avaliações
- Ideologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinNo EverandIdeologia e Mitologia: História, Símbolos, Política e Religião em Eric VoegelinAinda não há avaliações
- A Figura Do Filosofo - Ceticismo e Subje PDFDocumento512 páginasA Figura Do Filosofo - Ceticismo e Subje PDFajazzmessengerAinda não há avaliações
- SIDEKUN 2005 Liturgia Da Alteridade PDFDocumento10 páginasSIDEKUN 2005 Liturgia Da Alteridade PDFGilson Xavier de AzevedoAinda não há avaliações
- Uma visão cética do mundo: Porchat e a filosofiaNo EverandUma visão cética do mundo: Porchat e a filosofiaAinda não há avaliações
- Sobre A Verdade e Mentira No Sentido Extra Moral NietzscheDocumento12 páginasSobre A Verdade e Mentira No Sentido Extra Moral NietzscheGyzele Xavier100% (1)
- Para Aprender Nietzche - Cap5Documento9 páginasPara Aprender Nietzche - Cap5Braheyman Hey ManAinda não há avaliações
- Filosofia e realidade em Eric WeilNo EverandFilosofia e realidade em Eric WeilMarcelo PerineAinda não há avaliações
- HEIDEGGER - Que É Isto - A FilosofiaDocumento16 páginasHEIDEGGER - Que É Isto - A FilosofiaKary QuintellaAinda não há avaliações
- Vidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)No EverandVidas dos Sofistas: Ou (O Métier Sofístico Segundo Filóstrato)Ainda não há avaliações
- O método cético de oposição na Filosofia ModernaNo EverandO método cético de oposição na Filosofia ModernaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Substância Na História Da FilosofiaDocumento708 páginasSubstância Na História Da FilosofiaAngel CamilottoAinda não há avaliações
- A proposta ético-estética de Nietzsche: da crítica ao último homem à condução artística da vida cotidianaNo EverandA proposta ético-estética de Nietzsche: da crítica ao último homem à condução artística da vida cotidianaAinda não há avaliações
- O Tempo em Heidegger, de José ReisDocumento47 páginasO Tempo em Heidegger, de José ReisMécia SáAinda não há avaliações
- Carta A Marcus HerzDocumento11 páginasCarta A Marcus HerzantoniocarlosprAinda não há avaliações
- Resenha Hadot O Que É A Filosofia AntigaDocumento5 páginasResenha Hadot O Que É A Filosofia Antigaluiznothlich100% (1)
- Nietzsche e A MúsicaDocumento34 páginasNietzsche e A MúsicaGabi Maia100% (1)
- Caderno de Notas 2 - Monteiro (2011) Rastros de EscrileiturasDocumento210 páginasCaderno de Notas 2 - Monteiro (2011) Rastros de EscrileiturasJailza MartinsAinda não há avaliações
- Compreender Plotino e Proclo - Cícero BezerraDocumento48 páginasCompreender Plotino e Proclo - Cícero BezerraAntonio Pereira Junior100% (1)
- Sexto EmpíricoDocumento263 páginasSexto EmpíricoalexhreisAinda não há avaliações
- História Da Filosofia 1Documento167 páginasHistória Da Filosofia 1Yan Dago100% (1)
- Viver Como Se Fosse o Ultimo DiaDocumento21 páginasViver Como Se Fosse o Ultimo Diaapi-3732034Ainda não há avaliações
- Machado, R. A Geografia Do PensamentoDocumento8 páginasMachado, R. A Geografia Do PensamentoLuiz Celso PinhoAinda não há avaliações
- A Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtNo EverandA Vitória da Vida sobre a Política: a relação entre Necessidade, Trabalho e Totalitarismo no pensamento de Hannah ArendtAinda não há avaliações
- SCARLETT, Marton - Nietzsche Da Análise ScarletDocumento18 páginasSCARLETT, Marton - Nietzsche Da Análise ScarletTiagoCoutinhoAinda não há avaliações
- 2 - Heidegger e DostoiévskiDocumento20 páginas2 - Heidegger e DostoiévskiFrancisco WiederwildAinda não há avaliações
- Conferencia Do Cardeal Ratzinger A Fe e Teologia Nos Nossos DiasDocumento15 páginasConferencia Do Cardeal Ratzinger A Fe e Teologia Nos Nossos DiasCiro DiasAinda não há avaliações
- Santo Agostinho, Um pensador Eternamente ContemporâneoNo EverandSanto Agostinho, Um pensador Eternamente ContemporâneoPedro Calisto e Cristiane N.A. AyoubAinda não há avaliações
- Martial Gueroult Descartes Segundo A Ordem Das Razões Capítulo 4 O CogitoDocumento41 páginasMartial Gueroult Descartes Segundo A Ordem Das Razões Capítulo 4 O CogitoPatrick PetersonAinda não há avaliações
- O Que É Isso-A Filosofia - Martin HeideggerDocumento16 páginasO Que É Isso-A Filosofia - Martin HeideggerRenato dos SantosAinda não há avaliações
- Oswaldo Porchat - Sobre A Degola Do Boi, Segundo Aristóteles, Analytica, 2004Documento54 páginasOswaldo Porchat - Sobre A Degola Do Boi, Segundo Aristóteles, Analytica, 2004tommydrogandoAinda não há avaliações
- Heidegger e A Metafísica Da SubjetividadeDocumento16 páginasHeidegger e A Metafísica Da SubjetividadeenescamposAinda não há avaliações
- A Tradição Cética - Danilo MarcondesDocumento14 páginasA Tradição Cética - Danilo MarcondesLeandro FernandesAinda não há avaliações
- Genealogia Da MalandragemDocumento12 páginasGenealogia Da MalandragemEdileis NovaisAinda não há avaliações
- Aristoteles e S Tomas de Aquino - ETICADocumento44 páginasAristoteles e S Tomas de Aquino - ETICAs.renan1302Ainda não há avaliações
- Artigo A Revolução Copernicana PDFDocumento14 páginasArtigo A Revolução Copernicana PDFSilvia Cristina Vergilio Pica100% (2)
- Deleuze VariosDocumento33 páginasDeleuze Variosapi-3752048Ainda não há avaliações
- A Metáfora Da Águia Com A Serpente em 'Assim Falou Zaratustra' - Um Desafio Ao Pensar e Ao ViverDocumento11 páginasA Metáfora Da Águia Com A Serpente em 'Assim Falou Zaratustra' - Um Desafio Ao Pensar e Ao ViverLuiz Celso PinhoAinda não há avaliações
- Cratilo PlataoDocumento305 páginasCratilo PlataoDanielli ReisAinda não há avaliações
- Introdução A Platão. São Paulo, Paulus. Tradução Do Original: Ferrari, F. (2018) - Introduzione A Platone. Milano, Il Mulino.Documento12 páginasIntrodução A Platão. São Paulo, Paulus. Tradução Do Original: Ferrari, F. (2018) - Introduzione A Platone. Milano, Il Mulino.Andre da PazAinda não há avaliações
- Teoria Psicog de Henri WallonDocumento15 páginasTeoria Psicog de Henri WallonRita AndradeAinda não há avaliações
- 3 - Currículo Do Ensino Básico Na Legislação Brasileira 4Documento4 páginas3 - Currículo Do Ensino Básico Na Legislação Brasileira 4Rita AndradeAinda não há avaliações
- 4-Organização e Estrutura Da Educação BrasileiraDocumento3 páginas4-Organização e Estrutura Da Educação BrasileiraRita AndradeAinda não há avaliações
- 2 MP Principios Educativos PDFDocumento59 páginas2 MP Principios Educativos PDFwalisson_gillAinda não há avaliações
- Filosofia É Um Saber Específico e Tem Uma História Que Já Dura Mais de 2Documento1 páginaFilosofia É Um Saber Específico e Tem Uma História Que Já Dura Mais de 2Rita AndradeAinda não há avaliações
- Estudo Da Bíblia 03 - Gênesis: Adão e EvaDocumento97 páginasEstudo Da Bíblia 03 - Gênesis: Adão e EvaComunidade Bahá'í de Campinas0% (1)
- Trabalho Astronomia - Modelos Geocentrico e HeliocentricoDocumento19 páginasTrabalho Astronomia - Modelos Geocentrico e HeliocentricoMárcia Beatriz Cruz Sousa100% (1)
- 1 - Introdu oDocumento282 páginas1 - Introdu oSasaki KyoukaAinda não há avaliações
- 08 - RenacimentoDocumento4 páginas08 - RenacimentoGuilherme piangers100% (1)
- Ribaut, Juan - Radiônica - A Ciência Do FuturoDocumento127 páginasRibaut, Juan - Radiônica - A Ciência Do FuturoTania Passos Lacerda de Almeida94% (16)
- Filosofia Moderna 1 - A Nova Ciência e o RacionalismoDocumento36 páginasFilosofia Moderna 1 - A Nova Ciência e o RacionalismoMelissa SchmilinskyAinda não há avaliações
- Ciências - EJA - EF 1Documento23 páginasCiências - EJA - EF 1João CastilhoAinda não há avaliações
- 09-GALILEI, Galileu - O EnsaiadorDocumento168 páginas09-GALILEI, Galileu - O Ensaiadorandressa_rezend100% (1)
- Filosofia Da CiênciaDocumento79 páginasFilosofia Da CiênciaMarcia FerraresiAinda não há avaliações
- Texto-Aula - Absolutismo, Iluminismo e Revolução Na França Do Século XVIIIDocumento23 páginasTexto-Aula - Absolutismo, Iluminismo e Revolução Na França Do Século XVIIIGabriel MeirelesAinda não há avaliações
- Diálogo AnimaizinhosDocumento1 páginaDiálogo AnimaizinhosSamuel SoaresAinda não há avaliações
- Poeira Das EstrelasDocumento5 páginasPoeira Das EstrelasBugatyyAinda não há avaliações
- AL 1.2 ForcasDocumento10 páginasAL 1.2 ForcasFaisdecaAinda não há avaliações
- O Anarquista, Paul FeyerabendDocumento9 páginasO Anarquista, Paul FeyerabendEduardo HenriqueAinda não há avaliações
- PROVA Provao de Bolsas EM EPCARDocumento16 páginasPROVA Provao de Bolsas EM EPCARMatheus RodriguesAinda não há avaliações
- Vida e Morte de Galilei GalileuDocumento2 páginasVida e Morte de Galilei GalileuBeatriz Guimarães100% (1)
- 06 Cap 02Documento28 páginas06 Cap 02Alfonso Bianchini LückemeyerAinda não há avaliações
- Grandes Mitos Sobre A Igreja Católica # - Caos & RegressoDocumento30 páginasGrandes Mitos Sobre A Igreja Católica # - Caos & RegressokelpiusAinda não há avaliações
- E-Book Astronomia FaladaDocumento14 páginasE-Book Astronomia Faladageraldo gomesAinda não há avaliações
- Historia Da Filosofia 5Documento188 páginasHistoria Da Filosofia 5Rita AndradeAinda não há avaliações
- Top Mec ClasDocumento325 páginasTop Mec ClaschacalleonardoAinda não há avaliações
- AULA - O Renascimento CulturalDocumento5 páginasAULA - O Renascimento CulturalFelliphe BenjamimAinda não há avaliações
- 7 - Galileu GalileiDocumento11 páginas7 - Galileu GalileiRafael HenriqueAinda não há avaliações
- Aula 3º AnoDocumento4 páginasAula 3º AnoLuanna Silva CunhaAinda não há avaliações
- A Igreja Defendia o Geocentrismo Como Dogma de FeDocumento3 páginasA Igreja Defendia o Geocentrismo Como Dogma de FeMurilo100% (1)
- Apostila - FísicaDocumento121 páginasApostila - FísicaMaricélia SoaresAinda não há avaliações
- Texto para Alunos e Professores Que Visitam o Acelerador PelletronDocumento80 páginasTexto para Alunos e Professores Que Visitam o Acelerador PelletronantoniojuniorufpigmailcomAinda não há avaliações
- Ufla 2002 2 Prova Conhecimentos Gerais C GabaritoDocumento45 páginasUfla 2002 2 Prova Conhecimentos Gerais C Gabaritonogard230Ainda não há avaliações
- Experiências Matemáticas 6a Série EFDocumento419 páginasExperiências Matemáticas 6a Série EFWillame100% (1)
- Gravitacao para ITA Teoria e Resolucao de Exercicios (Fisica)Documento234 páginasGravitacao para ITA Teoria e Resolucao de Exercicios (Fisica)Ricardo PinheiroAinda não há avaliações