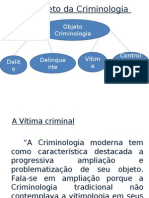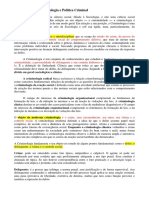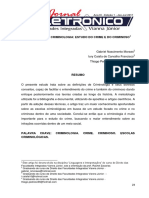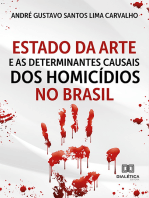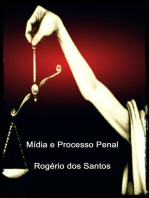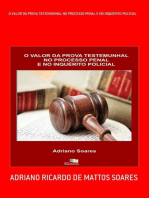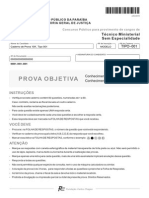Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resumo de Criminologia - Gerardo Veras
Resumo de Criminologia - Gerardo Veras
Enviado por
Ulisses Levi LhpDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resumo de Criminologia - Gerardo Veras
Resumo de Criminologia - Gerardo Veras
Enviado por
Ulisses Levi LhpDireitos autorais:
Formatos disponíveis
AULA 01 Cabe definir a Criminologia como cincia emprica e interdisciplinar, que se ocupa do estudo do crime, da pessoa do infrator, da vtima
e do controle social do comportamento delitivo, e que trata de subministrar uma informao vlida, contrastada, sobre a gnese, dinmica e variveis principais do crime contemplado este como problema individual e como problema social. (Garcia-Pablos de Molina). FUNO DA CRIMINOLOGIA - A criminologia serve de referncia terica para a implementao de estratgias de polticas criminais, que so mtodos utilizados pelo poder pblico no controle da criminalidade. DA INTERDISCIPLINARIEDADE - Assim, a criminologia, alm de ser reconhecida como cincia, tambm considerada interdisciplinar, uma vez que para qualquer dos objetos que se destina estudar, poder faz-lo sob vrios enfoques distintos, podendo se apoderar de diversas esferas do conhecimento a fim de melhor entender determinada situao. AULA 2: ANLISE HISTRICA DOS MEIOS PUNITIVOS E DO CONTROLE SOCIAL Ao longo de milnios, vem surgindo uma linha demarcatria entre modelos de reao aos conflitos: um, o de soluo entre as partes; o outro, o de deciso vertical ou punitivo. (Eugnio Raul Zaffaroni e Nilo Batista) Punio e meios de produo - Ao longo dos sculos, a forma de punir varia conforme a economia: quando h aumento da pobreza, as punies so mais cruis, para controlar com maior rigor essa camada da populao, havendo aoites e penas capitais; se por doena ou guerra h pouca mo-de- obra, incrementa-se a pena de trabalhos forados (gals). Durante a Idade Mdia, com o fortalecimento da Igreja Catlica, so criados o Santo Ofcio e a Inquisio, tendo como finalidade caar os inimigos da f catlica atravs de um processo sem contraditrio, onde o acusador e o juiz eram a mesma pessoa (presente ainda hoje no inqurito policial). Ostentao dos suplcios - Nos sculos XVII e XVIII, tornou-se comum o uso do corpo do condenado para demonstrar o poder do soberano num espetculo de splcio em praa pblica, buscando o medo e o testemunho das pessoas, sendo a pena de morte para aqueles crimes mais graves antecipada pela aplicao de uma srie de tcnicas para aumentar a dor e o sofrimento do sujeito. Iluminismo - Em meados do sculo XVIII, h o desenvolvimento de um conjunto de crticas quele sistema punitivo cruel e irracional, momentos em que se clamou pelo humanismo e por um necessrio limite ao Estado. Trata-se de um movimento que teve como base o Contratualismo, desenvolvido por Rousseau, Hobbes e Locke, e que influenciou autores dentro do direito penal. A escola clssica, como estes ficaram conhecidos, inclui Carrara, Feuerbach e, principalmente, Beccaria, que no seu livro "Dos delitos e das penas", critica a pena de morte, a denncia annima, a tortura, os crimes de perigo abstrato, dentre outras prticas desumanas da poca. AULA 3: POSITIVISMO O positivismo considerado a primeira escola de Criminologia. Com a Revoluo Industrial no sculo XIX, o desenvolvimento do capitalismo e das cincias naturais, bem como o aumento da criminalidade, nasce o estudo cientfico do crime e, principalmente, do criminoso. Com o amparo cientfico de se possibilitar a identificao do criminoso pela sua aparncia e conduta, o direito penal se v legitimado a punir condutas que possam exteriorizar esta periculosidade, modelando-se a um direito penal do autor, ou seja, pune-se pelo que o sujeito e no pelo o que ele fez, sendo o crime um sintoma de um estado do autor, sempre inferior ao das demais pessoas consideradas normais, como, por exemplo, a criminalizao da capoeira na primeira repblica, pois tal prtica era constituda pela reunio de negros vadios que, pela aglomerao, aproveitavam-se para praticar pequenos furtos. Tambm, ainda presente nos dias de hoje, a anlise da personalidade do ru usada para clculo e definio de pena, assim como seus antecedentes, culpabilidade e sua conduta social (art. 59 do CP), o que vai de encontro a um direito penal do fato, mais compatvel com um Estado democrtico de direito, que pune o sujeito pelo fato praticado e no pelo o que ele . AULA 4: ESCOLA DE CHICAGO: TEORIA ECOLGICA A Escola de Chicago, principalmente nas dcadas de 30 e 40, foi o bero da moderna sociologia americana e uma das primeiras a desenvolver trabalhos criminolgicos diferentes do positivismo, tendo como seus principais autores Park, Shaw e Burgess. Teoria da Anomia - Trata-se da ausncia de reconhecimento dos valores inerentes a uma norma, fazendo com que esta perca sua coercitibilidade, pois o agente no reconhece legitimidade na sua imposio, considerando assim, o crime um fenmeno normal na sociedade, pois sempre, em determinado momento, haver algum que no conhea a autoridade da norma. Isto acaba sendo funcional, pois necessrio constantemente se analisar e refletir sobre os valores normatizados face s mudanas sociais. Por exemplo, temos o caso do adultrio, que era definido como crime pelo cdigo penal, mas pelo avano dos costumes, verificou-se que era uma prtica corrente na sociedade moderna e que no exigia sua proibio por norma to coercitiva como a penal, a qual findou revogada. Segundo Durkheim, a diviso do trabalho na sociedade capitalista no respeita as aptides de cada um, o que no produz solidariedade, fazendo com que a vontade do homem se eleve ao dever de cumprir a norma. Para ele, anormal no o crime, mas o seu incremento ou sua queda, pois sem ele a sociedade permaneceria imvel, primitiva, sem perspectivas. Um exemplo se verifica nos pases Europeus desenvolvidos, como a Sucia e a Noruega, que possuem as maiores taxas de suicdio do planeta, sendo um indcio de que a ausncia de conflitos mantm uma sociedade estagnada, o que repercute, principalmente, nos jovens. Para ele a pena relevante, sendo uma reao necessria que atualiza os sentimentos coletivos e recorda a vigncia de certos valores e normas.
J segundo Merton, anomia o sintoma do vazio produzido quando os meios socioestruturais no satisfazem as expectativas culturais da sociedade, fazendo com que a falta de oportunidades leve prtica de atos irregulares, muitas das vezes ilegais, para atingir a meta cobiada. Os dois pontos principais da teoria da anomia so a desmistificao do crime - ele um fato normal, nunca ser extinto, pois sempre haver conflitos na sociedade.O outro ponto o alerta quanto valorizao do consumo desregrado, processo no qual somos bombardeados por promessas de felicidade e sucesso se comprarmos o produto certo. A sociedade nos exige cada vez mais, para que sejamos reconhecidos como vencedores, homens de sucesso, a aquisio de determinados bens que representam o alcance de determinados status, como o cigarro do sucesso, o carro do ano, o tnis importado, a roupa e a bolsa de determinada marca. Porm, se tal exigncia cobrada indiscriminadamente de todos, o mesmo no ocorre com a distribuio de oportunidades para se conquistar tais bens, o que leva muitos indivduos a buscar meios alternativos para atingir essas metas. AULA 5: TEORIAS SUBCULTURAIS E DO CONFLITO Logicamente, critica-se esta escola por ser muito reducionista, j que no justifica os crimes provocados fora das subculturas e no considera que nem sempre h coeso de valores dentro do mesmo grupo, ou seja, possvel que membros do grupo no comunguem com todos os princpios l desenvolvidos, ou seja, isso quer dizer, nem todos os lutadores de jiu-jitsu se tornaro um pitboy. Diferentemente a contracultura, , que desenvolvida em determinados grupos mais articulados, questionadores e, na maioria das vezes, pacficos, formados, por exemplos, por hippies, intelectuais, artistas e ambientalistas. Enquanto a subcultura no se importa em convencer os demais membros da sociedade sobre seus valores (eles simplesmente agem segundo suas convices), a contracultura, ainda que passivamente, deseja mudar conceitos, ou pelo menos, que se respeitem os valores desenvolvidos pelo grupo. TEORIA DO CONFLITO - parte da premissa de que o crime um fato poltico, ou seja, o crime no existe como fato natural, mas sim pela desobedincia a uma norma elaborada atravs de decises polticas, as quais geralmente refletem ou defendem os interesses da classe dominante, sendo a lei um instrumento de controle social que visa satisfazer esses interesses. Essa teoria desmistifica o conceito de que, por vivermos numa democracia, as leis produzidas e as decises tomadas por nossos governantes so a princpio legtimas, por representarem a vontade e os interesses do povo. Acreditar em tal premissa seria no mnimo ingenuidade. Isso se d principalmente pelo fato de que quem se encontra no poder, l deseja permanecer e porque camadas marginais sempre foram um incmodo. Assim, verifica-se uma relao de conflito permanente, onde a lei e a pena seria to-somente um novo grau deste mesmo conflito de poder, onde as autoridades agem mediante a criao, interpretao e aplicao coativa das normas. AULA 6: TEORIAS DO PROCESSO SOCIAL Essas teorias decorrem dos estudos de Sutherland sobre os crimes de colarinho branco, (aquele que, segundo o dicionrio: cometido no mbito de sua profisso por uma pessoa de respeitabilidade e elevado estatuto social), expresso criada por ele para se referir aos delitos praticados pelas classes mdia e alta, sendo um marco no estudo da criminologia que, at ento, preocupava-se apenas com os delitos praticados pelos pobres. Ele inicia seus estudos com a criao da Lei Seca , em Chicago, nos anos 30, que proibia a comercializao de bebidas alcolicas por se acreditar que estas incitavam o crime. Ocorre que tal vedao propiciou o surgimento de um crime organizado que se infiltrou em vrios ramos do poder, incrementando a lavagem de dinheiro e a corrupo. As TEORIAS DO PROCESSO SOCIAL se dividem em: Teoria da aprendizagem social ou associao diferencial : O crime um hbito adquirido, uma resposta a situaes reais que o sujeito aprende com o contato com valores, atitudes e pautas de condutas criminais no curso de processos de interao com seus semelhantes, dependendo do grau de intimidade dos contatos e sua freqncia. Teoria do etiquetamento (labellingapproach): Segundo esta teoria, bem defendida por Becker em seu livro "Outsiders", a desviao uma qualidade atribuda por processos de interao altamente seletivos e discriminatrios. O objeto de seu estudo no o crime e nem o criminoso, mas sim os processos de criminalizao, ou seja, os critrios utilizados pelo sistema penal no exerccio do controle social para definir o desviado como tal. Este estudo se inicia com a constatao de um fenmeno denominado cifra negra, que representa o nmero de crimes que so efetivamente praticados e que no aparecem nas estatsticas oficiais, o que demonstra que apesar de todos ns j termos praticado algum crimes na vida (ameaa, crime contra a honra, apropriao indbita de um cd ou livro) observa-se que apenas uma pequena parcela dos delitos sero investigados e levaro a um processo judicial que repercute em uma condenao criminal. Com isto, o risco de ser etiquetado, ou seja, aparecer no claro das estatsticas, no depende da conduta, mas da situao do indivduo na pirmide social. Por isso o sistema penal seletivo, pois funciona segundo os esteretipos do criminoso, os quais so confirmados pelo prprio sistema. No Brasil, um dos mais importantes representantes desta teoria Augusto Thompson , o qual exemplifica esta seletividade quanto ao status social do sujeito: a vida dos mais desafortunados mais exposta no transporte coletivo, andando nas ruas, na praia, nos botecos, estando mais visveis quando praticam algo ilcito. No h identidade entre ele e a autoridade pblica que geralmente vem das camadas mais nobres e no tem condies de possuir uma boa defesa tcnica, face s dificuldades materiais das defensorias pblicas. AULA 7: NEOLIBERALISMO E TOLERNCIA ZERO 2
Aps a 2 guerra mundial, os Estados ocidentais adotam como alternativa ao avano sedutor das idias socialistas uma poltica de bem-estar social, nascendo o welfare state, chamado Estado caritativo ou providncia, regido pelo paradigma da segurana social, com investimentos na educao, previdncia, auxlio desemprego, fortalecimento dos sindicatos e dos direitos trabalhistas. Ocorre que nos anos 80, com o aumento da inflao e com o enfraquecimento dos ideais socialistas, desenvolve-se, primeiramente na Inglaterra e posteriormente com muita fora nos EUA, o Estado neoliberal de mercado, regido por uma interveno mnima junto sociedade, que se desvencilhou de seus papis costumeiros, privatizou empresas pblicas nos anos 90, o que repercute num sentimento de insegurana coletivo. Comentrios - Obviamente, como seria possvel esperar, h um aumento da criminalidade urbana, principalmente do trfico de drogas e dos crimes contra o patrimnio, o que exige uma interveno do Estado para efetuar um controle sobre tais descontentes. Assim, os Estado afaste-se do seu papel social e incrementa o aparato repressivo, inclusive com o deslocamento de verbas oramentrias de uma rea para outra. Como exemplo, podemos citar os EUA, onde o oramento da polcia quatro vezes maior que dos hospitais pblicos. Essa interveno, que ficou conhecida como movimento da lei e ordem, inserida num contexto econmico, repressivo e autoritrio, estimula sanes penais para solucionar conflitos (jecrim), dirigida a grupos perigosos que devem ser controlados, possui uma tica maniquesta do bem contra o mal e desenvolve um direito penal mximo. Ou seja, como um estado que se diz de direito, pode exigir do povo o cumprimento das leis, se ele o primeiro a inadimplir com suas obrigaes mais bsicas? Neste contexto, em Nova York criada a poltica de tolerncia zero para combater uma criminalidade que diminua, mas que se tornou um smbolo da luta contra os parasitas sociais que ameaam o bem-estar dos bons cidados num modelo ainda mais repressivo e violador, inclusive, de direitos humanos, sob o argumento de que as desordens sociais so o resultado de baixas taxas do coeficiente de inteligncia, ou seja, os pobres so pobres e delinqentes porque sofrem de inferioridade mental e moral, sendo intil destinar recursos para estas reas, pois seria improdutvel. Uma das principais caractersticas desta poltica o maior rigor na punio de crimes menores para prevenir crimes mais graves, ferindo, na maioria das vezes, o princpio da proporcionalidade. Este modelo americano que muitas vezes alardeado como nico remdio contra a criminalidade, percebe-se uma poltica seletiva e excludente, que funciona apenas como instrumento de controle social, repercutindo no Brasil, face a inexistncia de investimentos materiais no sistema, em normas penais simblicas, repressivas e irracionais. AULA 8: ABOLICIONISMO E GARANTISMO PENAL Diante da poltica repressora de lei e ordem surge um movimento radical, tendo como principal representante Louk Hulsman: o abolicionismo penal, o qual, verificando a seletividade do direito penal, a falncia da pena privativa de liberdade e o mito da imparcialidade do juiz, defende que o sistema penal deve ser abolido e o conflito entregue de volta sociedade para que as partes possam comp-la. Como j constatado pela cifra negra, a maior parte dos crimes no so descobertos ou ficam impunes e, ainda assim, a sociedade sobrevive. Os malefcios causados por um sistema penal seletivo recaem com todo o seu peso sobre um desafortunado, que sofrer como um bode expiatrio, uma vez que tal violncia no trar qualquer benefcio para a coletividade, pelo contrrio, apenas aumentar a excluso. Por isso, segundo o abolicionismo, todo o sistema penal deve ser abolido para que a sociedade possa solucionar seus prprios conflitos atravs de juntas de conciliao, associaes de bairro e lides na esfera civil. Buscando um meio termo, edificada uma teoria de constitucionalizao do direito penal chamada garantismo penal, criada por Luigi Ferrajoli. Esta teoria diz que, apesar da crise do sistema penal, sua inexistncia seria muito mais prejudicial. O garantinismo penal concorda com todas as crticas feitas pelo abolicionismo, acreditando que este fez, de fato, um excelente diagnstico, porm pecou no prognstico, pois sem o sistema penal retornaramos vingana. Ele defende que, para se legitimar o sistema penal, este deve estar fundamentado segundo os princpios de um Estado Democrtico de Direito e segundo os preceitos contratualistas do iluminismo, tendo como fim limitar o seu poder punitivo atravs de um direito penal mnimo, sendo uma garantia do indivduo contra os possveis arbtrios do Estado. Zaffaroni, tambm um garantista, compara o direito penal a uma represa que contm as guas caudalosas de um rio, que seria o poder punitivo do Estado. Como toda represa, precisa de frestas por onde possa escoar um pouco da gua, a fim de aliviar a presso sobre a barragem. Estas frestas seriam os tipos penais, as hipteses que o Estado estaria autorizado a intervir punitivamente (homicdio, roubo, estupro, etc.). Porm, num modelo de lei e ordem, em que h uma inflao legislativa no mbito penal, teremos um aumento de furos nesta represa, mais hipteses em que o Estado poder intervir em nossas liberdades. Mas, o que ocorre com uma represa quando h muitos furos nela? Ela rui, vem abaixo. E ento estaramos diante de um Estado sem freios, sem limites, totalitrio, como no perodo de ditadura militar, aqui mesmo no Brasil. AULA 9: POLTICA CRIMINAL DE DROGAS A origem da palavra droga um tanto quanto controvertida: para alguns veio do persa droa, que significa aromtico; para outros veio do hebraico rakab, que significa perfume e h quem entenda que surge do holands droog, que significa seco (pimenta, canela). O conceito de drogas muito amplo, podendo ser definido como qualquer substncia capaz de alterar as condies psquicas e, s vezes, fsicas do ser humano, sendo entorpecentes aquelas que atingem o seu estado de percepo. O controle penal das substncias entorpecentes algo relativamente recente, uma vez que o seu uso sempre esteve presente em nossa histria. H indcios que a maconha conhecida na China h aproximadamente 4 mil anos. O grego Herdoto anotou em 450 a.C. que a maconha era queimada nas saunas para causar barato em seus freqentadores. 3
Os ndios da Amaznia usam plantas alucingenas h mais de 4 mil anos como a ayauasca e a jurema, as quais atraram muitos turistas estrangeiros para experiment-la at 1960, sendo que ainda hoje temos o Santo Daime, substncia entorpecente no ilcita usada em cultos religiosos. Antes do descobrimento das Amricas, as folhas de coca j eram muito usadas e posteriormente conquistaram a Europa, sendo usada, inclusive, para fazer vinhos, como o Mariani, preferido do papa Leo XIII em 1863, perodo em que foi isolado o cloridrato de cocana por Albert Nieman, criando a droga conhecida hoje que, vale lembrar, foi muito usada e receitada por Freud, considerado o pai da psicanlise. Aps a 1 guerra mundial, a cocana vira moda no Rio de Janeiro e em So Paulo, sendo encontrada nas farmcias at 1924 com o nome de fub mimoso. A maconha entrou no Brasil com os escravos trazida da frica enquanto que na Europa era usada para fazer roupas, papel, leo para luminrias e remdios, sendo tambm conhecida como cnhamo. O maior livro de medicina do Brasil do sculo XIX (Pedro Luis N. Chernovitz) a indicava para bronquite, tuberculose e clicas (tendo sido usada at pela Rainha Vitria da Inglaterra). Em 1905, havia at um cigarro de marca ndio com maconha e tabaco que dizia na embalagem: bom para combater asma, insnia e catarro. Porm, j no incio do sculo XX, por ser muito barata, fica vinculada aos negros e mulatos, sua degenerao moral e quando comea a ser usada pelos filhos da burguesia, passa a ser uma vingana inconsciente dos negros que a trouxeram da frica para escravizar os brancos. No sculo XIX, pela influncia do romantismo, as drogas faziam parte dos chamados vcios elegantes. O pio era um dos mais usados. Originado da papoula, tambm tinha finalidade mdica como analgsico e antidiarrtico, sendo conhecido o seu uso no Sudoeste Asitico e no Oriente Mdio h 5 mil anos. Em 1817 foi isolada a morfina do pio e produzida pela Merk como analgsico e em 1874 produzida a herona pela Bayer, as quais eram vendidas em farmcias. O LSD (cido lisrgico) foi criado em 1943 por Albert Hofmann quando estudava um fungo do centeio para fazer um remdio para ativar a circulao. Curiosamente, hoje ele tem 100 anos de idade e faz parte do comit que escolhe o ganhador do prmio Nobel. At 1963 o LSD era utilizado em tratamentos psicolgicos. Mas difundido e ganha fora como uma droga relacionada liberdade criativa e a artistas com Aldous Huxley em seu livro As portas da percepo, que influenciou o nome da banda The Doors, marco do rock questionador e psicodlico. Atualmente h um incremento do uso por parte de jovens de classe alta e mdia de drogas sintticas, tendo em vista a sua fcil aquisio fora da periferia, como o ecstasy, derivado de anfetamina e estimulante do sistema nervoso central, o special K, produzido a partir da quetamina, substncia presente em anestsicos de uso veterinrio, e o GHB, que tambm chamado de ecstasy lquido. A partir do sculo XX as drogas comeam a sofrer algumas formas de controle, o qual sempre foi legitimado por determinados discursos, tais como: mdico, onde o usurio considerado um doente, cujo aumento na sociedade se transforma numa epidemia; o discurso cultural, onde o jovem usurio visto como aquele que se ope ao consenso, que age contrariamente aos valores dos homens de bem; o moral, que define a droga como o veneno da alma e o usurio como ocioso, improdutivo e o poltico criminal, onde a droga relacionada a outros crimes. Durante esse perodo, aps a segunda guerra mundial, a poltica criminal do Ocidente se respaldou numa ideologia de defesa social, ou seja, um sistema de controle social que tem no sistema penal instrumento de reao contra a criminalidade. Porm, na dcada de 80, o combate ao trfico ganha influncia do neoliberalismo e passa a ser conduzido por uma ideologia de segurana nacional. Os EUA, talvez para fortalecer a sua noo de patriotismo, talvez para alimentar sua industria blica, sempre construiu inimigos externos: nos anos 60 e 70 tnhamos a guerra-fria, a ameaa sovitica (o que pode ser comprovado pelos filmes de espionagem da poca, como os do agente 007). Nos anos 80 foram as drogas (todos os filmes policiais eram contra traficantes negros ou colombianos). Hoje, naturalmente, o terrorismo. Esta ideologia formada pela idia de estado de guerra, onde os inimigos devem ser eliminados. o que Nilo Batista chama de poltica criminal com derramamento de sangue. Quem nunca ouviu dizer que as favelas do Rio so um Estado a parte? Essa idia nos leva a crer encontrar-se em risco nossa prpria soberania, o que autoriza toda e qualquer medida para se impor a lei e a ordem, ainda que haja o sacrifcio de garantias individuais (como as invases de domiclio sem mandado). O que observamos uma poltica irracional de controle, cujo problema no criminal, mas sim de mercado, onde h oferta e procura. O trfico se resume a algum que quer comprar algo e algum que tem esse algo para vender. Tal como ocorreu em Chicago nos anos 30 com a lei seca, onde se proibiu a venda de bebidas alcolicas. Sua venda tornou-se uma atividade marginal, fortaleceu o crime organizado e do colarinho branco, as pessoas continuaram bebendo enquanto outras morriam nesta guerra pelo controle. Da noite para o dia se percebeu a inutilidade de tal proibio e a venda de bebidas voltou a ser permitida. Numa sociedade desigual como a nossa, em que as oportunidades no so distribudas de forma igualitria, onde o Estado omisso e a grande parcela dos jovens no possui perspectivas, como punir criminalmente s custas de tantas vidas uma prtica comercial? Como criminalizar o uso quando em ltima instncia o usurio a vtima do trfico, que um delito contra a sade pblica? Como manter uma poltica onde h mais mortes pelo seu combate do que pela prpria droga? Existe um nmero muito maior de mortes em decorrncia da luta armada entre traficantes e entre estes e policiais do que motivados pelo uso da droga em si. AULA 10: PENA: TEORIAS JUSTIFICACIONISTAS E EVOLUO HISTRICA A pena como reao punitiva a uma conduta delituosa, caracterizada por seu teor aflitivo ao atingir determinado direito do condenado, necessita de uma fundamentao para que seja legitimada, principalmente num Estado Democrtico de Direito. Assim, urge definir uma teoria que efetivamente aponte a finalidade da aplicao da pena, sob o risco de esta ser incompatvel com um modelo garantista de Direito Penal. 4
TEORIAS JUSTIFICATIVAS DA PENA: Ao longo da histria, surgiram vrias teorias que tentaram definir o fundamento da pena: 1. Teoria absoluta Presente na Idade Mdia, entende a pena como um instrumento de castigo, aplicado to-somente para retribuir o mal causado pelo delito. Posteriormente, j no Estado burgus, a pena visava retribuir a desordem ordem pblica. 2. Teoria relativa da preveno geral Para a escola clssica, a pena um instrumento de intimidao, usado para inibir os demais membros da sociedade a praticarem crimes. 3. Teoria relativa da preveno especial Origina-se com o Positivismo. Segundo essa teoria, a pena dirigida ao condenado, visando a sua ressocializao, intimidao ou neutralizao, quando incorrigvel. 4. Teoria mista Busca conjugar todas as outras teorias. 5. Teoria garantista Visa substituir a vingana privada. Por fim, hoje Zaffaroni entende, com base em estudos de Tobias Barreto, que a pena no possui qualquer fundamento, sendo um mero ato poltico de poder. HISTRIA DA PENA DE PRISO: Instituto relativamente recente em nossa histria, at chegar ao modelo atual a pena privativa de liberdade sofreu vrias influncias. Vejamos algumas curiosidades: At o sculo XIX a priso funcionava, na maioria das vezes, de forma cautelar, para conter o sujeito que aguardava a sua sentena ou a aplicao da pena propriamente dita. No Direito Cannico fora criada a penitncia do claustro, a qual deu origem expresso penitenciria. Na Idade Mdia havia a priso de Estado, voltada para os inimigos do poder. Exemplos dessas prises foram a Bastilha, em Paris (Frana), e a Ponte dos Suspiros, em Veneza (Itlia). Nos sculos XVI e XVII foram muito utilizadas as penas de gals, nas quais o criminoso era condenado a trabalhos forados, preso em correntes. Havia, ainda, as casas de correo, oficinas que exploravam a mo-de-obra de pequenos delinqentes, vadios etc. Por fim, houve o caso dos hulks, navios enormes utilizados para deportar os degredados ingleses para as colnias. Inicialmente os condenados eram enviados para os EUA, prtica interrompida com a proclamao da Independncia norteamericana, em 1776. A partir da, a Austrlia tornou-se a colnia escolhida para receber os degradados ingleses. Porm, por ser bem mais distante da Inglaterra do que eram os EUA, para a viagem no se tornar invivel economicamente era necessrio esperar lotar o navio de condenados, numa espcie de lotada. A espera, porm, implicava em novos custos. Assim, o dono do navio comeou a explorar a mo-de-obra dos condenados, alugando-os para o trabalho na estiva do porto e em terras vizinhas, o que passou a gerar um lucro maior do que j ganhava pelo transporte. AULA 11: SISTEMA CARCERRIO Segundo o art. 1 da Lei de Execuo Penal (Lei 7.210/84), o nosso ordenamento adotou a teoria relativa da preveno especial, segundo a qual a pena deve buscar a ressocializao do condenado. Porm, no isso o que se observa. Tentaremos fazer uma anlise da pena privativa de liberdade dentro de um modelo ideal, uma vez que o fracasso desta espcie de pena comum a vrios pases. Para constatar tal realidade, um dos dados mais relevantes o ndice de reincidncia que gira em torno de 70% tanto no Brasil quanto na Sucia, pas desenvolvido que no alcana a ressocializao almejada, mesmo investindo em uma das melhores estruturas de presdio do mundo. Mas, primeiramente, uma questo: A reincidncia, sendo a prtica de um crime j havendo o trnsito em julgado da condenao de outro, poderia se configurar numa agravante da pena conforme o art. 63 do Cdigo Penal? No haveria um bis in idem? Se houve reincidncia, no se demonstra o fracasso do Estado em ressocializar? Na prtica, ocorre que os operadores do sistema iro orientar a aplicao da pena segundo aquilo que lhes cobrado. Ou seja, o poder pblico e a coletividade possuem outras preocupaes no que se refere aplicao da pena, o que originar metas informais que tornar-se-o fins prioritrios: impedir fugas e manter a disciplina, evitando rebelies. Assim, a fuga de um preso vista como um fato pior do que a sua reincidncia, a qual tambm seria uma falha do Estado. - SISTEMA SOCIAL DA PRISO Trata-se de uma sociedade dentro de outra, com um sistema peculiar de poder totalitrio, na mo de poucos, com impossibilidade de simbiose, baseado na fora e com uma cultura particular. Os que dela participam so o diretor, os guardas e os presos, dos quais falaremos a seguir. 1. Direo: Em regra, formada por membros das camadas mais privilegiadas da sociedade, sendo um cargo de confiana e, por isso, transitrio. Segundo Thompson, ao assumir sua funo o diretor busca adotar medidas para ressocializar os presos, mas percebe que possui vrias limitaes, por encontrar-se num sistema j em plena atividade que, se sofrer alguma mudana muito brusca, pode gerar dvidas que levem a um colapso. Tambm depende muito dos guardas, uma vez que so eles que mantm um contato direto com os presos, mas se lhes der muita liberdade, pode haver excessos que podem gerar rebelies. Assim, verifica que no h reao se fracassar nos objetivos de intimidao ou de ressocializao. Contudo, pode vir a perder seu cargo se fracassar quanto manuteno da ordem interna da cadeia. 2. Guardas: 5
Possuem um contato mais direto com os presos, tambm no podendo lhes ser cobrado o papel de ressocializar, pois suas funes so incompatveis: punir e recuperar, conseguir sua confiana e tranc-lo, efetuar revistas. Outra caracterstica que na cadeia tudo proibido, salvo o que expressamente autorizado, no havendo, portanto, senso de dever. Como a guarda, em inferioridade numrica e desarmada, consegue manter a ordem? O principal instrumento disponvel a capacidade de influir na distribuio de sanes disciplinares e recompensas, presentes no regulamento ou no. 3. Presos: Tudo organizado para que se sintam parte da camada social mais baixa, moralmente inferiores e rejeitados (trancas, revistas, uso de cores neutras). Alm de sua liberdade, vrios outros bens so atingidos pela priso: Autonomia : o preso est obrigado a seguir ordens, sem direito a analis-las, julg-las ou compreend-las, tendo sacrificada sua iniciativa, qualidade to relevante e cobrada na vida extra muros. Intimidade: passa por revistas dirias, tanto pessoal quanto de seus pertences, inclusive noite (incertas), tem suas cartas lidas, no havendo a possibilidade de desenvolvimento da personalidade do sujeito. Assim, adere a uma cultura de massa, pois no h mais a noo de propriedade e nem de indivduo. Segurana: o preso encontra-se mais exposto explorao dos demais, pois no pode denunciar autoridade ou enfrentar o agressor, sob pena de represlias pelos outros detentos. Dificuldade de manter relaes heterossexuais: dependendo da durao da pena, muito difcil para o preso manter um relacionamento com algum de fora. O ambiente opressivo do claustro gera muitas carncias e depresso, o que leva alguns presos a manter relaes homossexuais dentro da cadeia. Influenciada pela disciplina militar, a cadeia o que Michel Foucault chamou de instituio de seqestro. Uma disciplina que tambm serviu de modelo para fbricas, escolas e hospitais, locais em que o tempo e o corpo dos que deles participam so submetidos a um regramento quase absoluto: tempo para entrar, hora para acordar, para comer, para tomar remdio, para tomar banho de sol, para visita, para dormir. No caso do sistema carcerrio, um modelo que no ensina como viver em sociedade. Pelo contrrio, quanto mais tempo o sujeito passa na cadeia mais ele desaprende os valores e as pautas de conduta da vida em liberdade. E a vida, na penitenciria, rola, morbidamente, em direo ao nada os meios transmudados em fins, os fins relegados ao mais completo esquecimento. (Augusto Thompson) AULA 12: VITIMOLOGIA Vitimologia a parte da Criminologia que estuda os fenmenos relacionados vtima, seu comportamento, sua gnese e sua relao com o vitimizador. No que diz respeito teorizao do contedo de seu objeto de estudo, h duas correntes de pensamento, distintas em conceitos e aplicaes prticas. So elas: 1. Escola assistencialista 2. Teoria do crime precipitado pela vtima 1. Escola Assistencialista Foi criada em 1950 por Benjamin Mendelson, ao verificar que no havia, at ento, qualquer estudo ou mecanismo de proteo s vtimas. A Escola Assistencialista define vtima como todo aquele que se encontra numa posio de maior vulnerabilidade a determinada violncia. Percebe-se que tal definio possui um conceito bastante amplo, incluindo menores abandonados, indgenas, populao carcerria etc. Por meio de estudos e pesquisas sociais, a Escola Assistencialista busca influenciar mudanas legislativas, propiciando a criao de leis que criem maiores condies de amparo s vtimas (Cdigo de Defesa do Consumidor, Lei 9.099/95, Estatuto da Criana e do Adolescente, Estatuto do Idoso etc.) e com o apoio a instituies de cunho assistencial. 2. Teoria do crime precipitado pela vtima Criada por Hans Von Henting em 1948, defende que algumas vtimas possuem uma funo crimingena, as chamadas vtimas por tendncia. Segundo esta teoria, a vtima possui determinadas caractersticas que a colocam, ainda que inconscientemente, numa posio de maior vulnerabilidade, o que se denominou ndice de periculosidade da personalidade da vtima. Esse ndice pode ser exteriorizado em determinadas caractersticas, tais como: ansiedade, agressividade, sentimento de culpa, masoquismo e ego frgil, carncia. O incio dos estudos se aproximou muito das idias de Lombroso que sugeriu uma espcie de vtima nata, que possui uma predisposio a se vitimizar. Podemos citar como exemplo os casos de meninas que usam roupas decotadas em busca de ateno e por isso so mais vulnerveis ao estupro, ou as pessoas que andam pela cidade ostentando e falando em seu celular e acabam sendo furtadas. Segundo esta teoria, a vtima se disps a isso. Modernamente, contudo, possvel analisar hipteses mais coerentes em que, de fato, a colaborao da vtima fundamental para a prtica do crime, o que poderia at influenciar na culpabilidade do agente. Alguns exemplos: Leses corporais, quando houve provocaes da vtima em meio familiar ou profissional; Eutansia, com o pedido da vtima; Acidente de trnsito, quando a vtima foi imprudente; No caso de corrupo ativa, tratamento mdico fraudulento quando o paciente hipocondraco e exige que seja medicado. AULA 13: MDIA E POLTICA CRIMINAL No se sabe exatamente o porqu, talvez uma tentativa de auto-afirmao, o homem sempre possuiu um interesse mrbido pela violncia, pela desgraa alheia. Isso acontece desde os bardos que cantavam as guerras e as catstrofes at aqueles que diminuem a marcha do carro para ver a gravidade do desastre. 6
Os meios de comunicao, em sua maioria de propriedade privada, refletiro no contedo que veiculam o seu principal objetivo que o lucro. A TV, os jornais ou o rdio visam obter lucro por meio da venda de seus espaos para propaganda. Assim, a informao passa a ter qualidade de produto e fica submetida s leis de mercado. Para atender a este interesse do homem pela violncia, a mdia aumenta os espaos destinados s matrias relacionadas a esses temas. Ao transmitir uma imagem codificada do mundo, alterando a realidade, a mdia passa a integrar o processo de socializao do indivduo, sustentando-se no fcil acesso, na velocidade de transmisso e na sua capacidade de dramatizar a notcia (por exemplo, com msica e depoimentos emocionados). O sujeito, passivo na maioria das vezes, sem a devida capacidade para filtrar as notcias, no percebe que est desenvolvendo opinies, idias e valores manipulados pela quantidade e pela forma como a informao passada, transformando um ponto de vista em um fato concreto, defendendo uma opinio alheia como prpria. Criao de medos, iluses e discursos justificadores Em 1835, na Bahia, ocorreu uma revolta de escravos muulmanos que ficou conhecida como Revolta dos Mals. Ela ganhou notoriedade pela sua organizao, fato que logo chegou Corte, ento no Rio de Janeiro, mexendo com o imaginrio da populao que foi tomada pelo medo de uma revolta na capital do Imprio, passando a exigir medidas drsticas de controle dos escravos. Da mesma forma, como visto anteriormente, o sujeito que diariamente bombardeado com informaes relacionadas criminalidade desenvolve uma grande sensao de insegurana, exigindo do poder pblico as medidas necessrias para resolver o problema. Porm, tal soluo no to simples. Sabe-se que muito da criminalidade urbana que nos assombra decorre de problemas econmicos e sociais, e que para diminuir esses conflitos muito se deveria investir em educao, emprego e urbanismo. Ocorre que os representantes de nosso Estado encontraram um meio muito mais barato para saciar os anseios do povo. Por exemplo, se a impunidade costuma ser usada como um dos principais argumentos para a falta de soluo dos problemas, que se faam, ento, leis mais severas. Assim, ficar evidente que medidas esto sendo tomadas e que os criminosos sero punidos com maior rigor, o que por fim criminalidade. Na verdade, essas medidas so o que ns chamamos de leis penais simblicas, leis cosmticas criadas para saciar determinados reclames sem, porm, ter a capacidade de realmente alcanar o fim proposto. Foi o que ocorreu com a Lei de Crimes Hediondos e o Estatuto do Desarmamento. Lei de Crimes Hediondos- desde o seu nascimento, tem vrios de seus dispositivos questionados quanto a sua constitucionalidade, j tendo sido alterada pela lei 11.464/2007. Surgiu com a promessa de coibir crimes brbaros (hediondos) e, ainda que de forma incoerente e desproporcional, definiu como hediondo, por exemplo, o trfico de drogas, que um crime de perigo abstrato e no o homicdio doloso simples, que mais grave, ou seja, hoje punido com mais severidade aquele que vende um cigarro de maconha para algum do que se vier a mat-lo. Estatuto do Desarmamento- intencionou retirar o crime de porte ilegal de armas da competncia dos juizados especiais criminais e torn-lo inafianvel. Porm, na campanha do plebiscito foi interessante observar o uso do medo para no se proibir o comrcio legal de armas: O NO, que defendia a permanncia do comrcio estava perdendo quando nas ltimas semanas utilizou-se do argumento de que se fosse proibida a posse de arma dentro de casa os bandidos teriam certeza de que os cidados estariam desarmados e, por isso, poderiam invadir nossas casas a qualquer momento, o que levou vitria, tendo em vista o medo criado na populao por tal perspectiva. Podemos definir esta espcie de lei como ilegtima e inconstitucional por ferir o princpio da idoneidade, o qual decorre do prprio Estado Democrtico de Direito, que significa que todos os atos do Estado devem ser idneos, aptos a satisfazer a meta declarada, caso reste verificado que no h tal possibilidade o ato seria inconstitucional.
Você também pode gostar
- MP-PB - Técnico Ministerial - Sem Especialidade - Simulado Gratuito 00 - A Casa Do Simulado PDFDocumento18 páginasMP-PB - Técnico Ministerial - Sem Especialidade - Simulado Gratuito 00 - A Casa Do Simulado PDFLeyde Dayanna Lyra0% (1)
- Criminologia - ResumosDocumento8 páginasCriminologia - ResumosDeisere Trindade100% (1)
- Aula 1-Paulo SumarivaDocumento21 páginasAula 1-Paulo SumarivaGiorgiaefer100% (1)
- Entrevista de Nilo Batista para A Revista Caro AmigosDocumento29 páginasEntrevista de Nilo Batista para A Revista Caro AmigosLarissa Castro ChryssafidisAinda não há avaliações
- Criminologia Positivista no Brasil: análise decolonial na obra de Nina RodriguesNo EverandCriminologia Positivista no Brasil: análise decolonial na obra de Nina RodriguesAinda não há avaliações
- 002 - Criminologia AMBIENTALDocumento19 páginas002 - Criminologia AMBIENTALf_f_claudio100% (2)
- CriminologiaDocumento15 páginasCriminologiadelegato100% (1)
- Criminologia - ResumoDocumento15 páginasCriminologia - ResumoCristiano Lobão100% (1)
- Criminologia em Ação - Controle SocialDocumento32 páginasCriminologia em Ação - Controle SocialCriminologia em Ação80% (5)
- CRIMINOLOGIA - Polícia CivilDocumento19 páginasCRIMINOLOGIA - Polícia CivilRicardo CoimbraAinda não há avaliações
- TCC: O Uso Do Criminal Profiling Como Técnica de InvestigaçãoDocumento60 páginasTCC: O Uso Do Criminal Profiling Como Técnica de InvestigaçãoNICHOLAS FRANCATTI100% (3)
- Questões de Criminologia - Conceitos, Evolução, Lombroso, Frenologia, A Criminologia Radical e Suas TendênciasDocumento10 páginasQuestões de Criminologia - Conceitos, Evolução, Lombroso, Frenologia, A Criminologia Radical e Suas Tendênciasfernando621Ainda não há avaliações
- 1 - Livro Juarez CirinoDocumento102 páginas1 - Livro Juarez CirinoEduardo A Medeiros100% (2)
- Entre salas e celas: Dor e esperança nas crônicas de um juiz criminalNo EverandEntre salas e celas: Dor e esperança nas crônicas de um juiz criminalNota: 3.5 de 5 estrelas3.5/5 (3)
- BARATTA Criminologia Critica e Critica Do Direito PenalDocumento6 páginasBARATTA Criminologia Critica e Critica Do Direito PenalDesirée PechefistAinda não há avaliações
- As Escolas Sociológicas Do CrimeDocumento4 páginasAs Escolas Sociológicas Do CrimeBrendha Dos AnjosAinda não há avaliações
- Prisões, Violência e Sociedade: Debates ContemporâneosNo EverandPrisões, Violência e Sociedade: Debates ContemporâneosAinda não há avaliações
- CRIMINOLOGIA Atividade para ProvaDocumento3 páginasCRIMINOLOGIA Atividade para ProvaCarlos BrasilAinda não há avaliações
- Nocoes de Criminologia SlideDocumento44 páginasNocoes de Criminologia SlideJúlio César Motta Cordeiro100% (2)
- Aula de CriminologiaDocumento202 páginasAula de CriminologiaJoão Batista Leonel100% (3)
- Apostila CriminologiaDocumento30 páginasApostila CriminologiaVanessa F. JessettAinda não há avaliações
- Resumo para Prova - CriminologiaDocumento5 páginasResumo para Prova - CriminologiaNosbaAinda não há avaliações
- VitimologiaDocumento21 páginasVitimologiaWalber MaAinda não há avaliações
- CriminologiaDocumento6 páginasCriminologiaTainara CardozoAinda não há avaliações
- Criminologia PDFDocumento0 páginaCriminologia PDFAndré Friozi S Grota100% (4)
- CriminologiaDocumento24 páginasCriminologiaAlexandre Bessa100% (1)
- 1000 Questões DrogasDocumento45 páginas1000 Questões DrogasBetina Tavares100% (1)
- Slides Criminologia v06 - COMPLETODocumento26 páginasSlides Criminologia v06 - COMPLETOInael Caetano Lima Garcia0% (1)
- CriminologiaDocumento18 páginasCriminologiaFilipe Chaves100% (1)
- Livro Digital CriminologiaDocumento114 páginasLivro Digital CriminologiaÂngelo Lucas100% (3)
- Resumo de Criminologia, Primeira ProvaDocumento14 páginasResumo de Criminologia, Primeira ProvaLaís Leite100% (1)
- Resumo CriminologiaDocumento11 páginasResumo CriminologiaJosef AlonsoAinda não há avaliações
- A Criminologia Como CiênciaDocumento28 páginasA Criminologia Como CiênciaJoão Gabriel GuerraAinda não há avaliações
- Aula de Criminologia PDFDocumento202 páginasAula de Criminologia PDFDébora Käfer100% (1)
- Criminologia - EstratégiaDocumento33 páginasCriminologia - EstratégiaStephanie OlivieriAinda não há avaliações
- Caderno de CriminologiaDocumento5 páginasCaderno de CriminologiaRodolfo AlvesAinda não há avaliações
- Ressocialização, Trabalho e Resistência: Mulheres Encarceradas e A Produção Do Sujeito DelinquenteDocumento13 páginasRessocialização, Trabalho e Resistência: Mulheres Encarceradas e A Produção Do Sujeito DelinquenteJanaína Freitas100% (1)
- Criminologia ConceitoDocumento11 páginasCriminologia ConceitoAntonio Ferreira100% (1)
- Aula 01 12.05 Criminologia PC Prof. Ricardo FernandesDocumento10 páginasAula 01 12.05 Criminologia PC Prof. Ricardo FernandesBruna SalaAinda não há avaliações
- Criminologia - Unidade 1Documento10 páginasCriminologia - Unidade 1Claudivan Moreira de SouzaAinda não há avaliações
- Criminologia Fatores CondicionantesDocumento36 páginasCriminologia Fatores CondicionantesJosé Luismar100% (1)
- Genética Forense, Investigação Criminal e Processo PenalDocumento32 páginasGenética Forense, Investigação Criminal e Processo PenalTanise Ramos Feliciani100% (1)
- Criminalistica e Investigação CriminalDocumento103 páginasCriminalistica e Investigação CriminalCarlos100% (1)
- PsicanaliticasDocumento22 páginasPsicanaliticasLokomia Quechebara100% (1)
- Serial Killers Parte III - Classificação Dos Serial KillersDocumento3 páginasSerial Killers Parte III - Classificação Dos Serial KillersEd SantsAinda não há avaliações
- 2 - Historia Do Criminal ProfilingDocumento23 páginas2 - Historia Do Criminal ProfilingIsis Maat100% (2)
- Fundamentos - Capítulo 1 - A Intervenção Do Direito Penal Sobre A CriminologiaDocumento210 páginasFundamentos - Capítulo 1 - A Intervenção Do Direito Penal Sobre A CriminologiaLeonardo TesserAinda não há avaliações
- Aula 4 e 5 - 15 CRIMINOLOGIADocumento38 páginasAula 4 e 5 - 15 CRIMINOLOGIALeonardo VellosoAinda não há avaliações
- As Escolas Da Criminologia: Estudo Do Crime e Do CriminosoDocumento10 páginasAs Escolas Da Criminologia: Estudo Do Crime e Do CriminosoRicardo FonsecaAinda não há avaliações
- A Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisNo EverandA Demanda Reprimida De Inquéritos PoliciaisAinda não há avaliações
- Investigação Criminal Sistêmica: por uma abordagem multidimensionalNo EverandInvestigação Criminal Sistêmica: por uma abordagem multidimensionalAinda não há avaliações
- Estado da Arte e as Determinantes Causais dos Homicídios no BrasilNo EverandEstado da Arte e as Determinantes Causais dos Homicídios no BrasilAinda não há avaliações
- A Questão do Custos Vulnerabilis no Ordenamento Jurídico Pátrio: e a Legitimação da Defensoria Pública nessa CondiçãoNo EverandA Questão do Custos Vulnerabilis no Ordenamento Jurídico Pátrio: e a Legitimação da Defensoria Pública nessa CondiçãoAinda não há avaliações
- "Permaneceu calado, é culpado!": uma análise histórica, normativa, filosófica e cultural do direito ao silêncioNo Everand"Permaneceu calado, é culpado!": uma análise histórica, normativa, filosófica e cultural do direito ao silêncioAinda não há avaliações
- O Valor Da Prova Testemunhal No Processo Penal E No Inquérito PolicialNo EverandO Valor Da Prova Testemunhal No Processo Penal E No Inquérito PolicialAinda não há avaliações
- Teoria Geral Do Delito Primeiras Lições: Primeiras LiçõesNo EverandTeoria Geral Do Delito Primeiras Lições: Primeiras LiçõesAinda não há avaliações
- Funcionalismo e finalismo: Filosofia e estruturaNo EverandFuncionalismo e finalismo: Filosofia e estruturaAinda não há avaliações
- Pensar Direito DR - Lazarino PoulsonDocumento36 páginasPensar Direito DR - Lazarino PoulsonedustenayAinda não há avaliações
- SIMULADO Polícia CivilDocumento39 páginasSIMULADO Polícia CiviljanderfernandesAinda não há avaliações
- Anomia PDFDocumento13 páginasAnomia PDFCarlos CoutinhoAinda não há avaliações
- LIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGER (Completo)Documento20 páginasLIBERDADE DE EXPRESSÃO NO CASO ELLWANGER (Completo)LarembAinda não há avaliações
- Processo BrancoDocumento289 páginasProcesso BrancoFrank WilliamAinda não há avaliações
- Simulado 1Documento8 páginasSimulado 1Bárbara DoumithAinda não há avaliações
- Aula - Raça - Cor - EtniaDocumento13 páginasAula - Raça - Cor - EtniaAdriana CerqueiraAinda não há avaliações
- Boletim 314Documento20 páginasBoletim 314André PazAinda não há avaliações
- Livro Princípios Básicos de Prevenção Ao Crime de Homicídio DolosoDocumento65 páginasLivro Princípios Básicos de Prevenção Ao Crime de Homicídio DolosodelegadomarioleiteAinda não há avaliações
- RacismoDocumento2 páginasRacismomaykon MarçalAinda não há avaliações
- Manual Responsabilizacao Entes Privados PDFDocumento144 páginasManual Responsabilizacao Entes Privados PDFMaio JunhoAinda não há avaliações
- GabaritorelintDocumento2 páginasGabaritorelintizamariaa89Ainda não há avaliações
- Intervenção TCC Comportamento AntisocialDocumento28 páginasIntervenção TCC Comportamento AntisocialPaula Marinho VieiraAinda não há avaliações
- Sebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeDocumento10 páginasSebenta - Penal I - Esquema de Resolução de Casos Práticos - Conceito Material de CrimeCélia SanchesAinda não há avaliações
- Revisao Oab Penal - Peça 03 - ApelacaoDocumento2 páginasRevisao Oab Penal - Peça 03 - ApelacaoRafael Moreira Lima Sauaia0% (1)
- Lewandowski Encaminha À PGR Notícia-Crime Contra Flávio BolsonaroDocumento5 páginasLewandowski Encaminha À PGR Notícia-Crime Contra Flávio BolsonaroMetropolesAinda não há avaliações
- L 34 - Tira Gosto - Autoria Como Dominio Do Fato - Luis Greco - Alaor Leite - Adriano Teixeira - Augusto Assis PDFDocumento40 páginasL 34 - Tira Gosto - Autoria Como Dominio Do Fato - Luis Greco - Alaor Leite - Adriano Teixeira - Augusto Assis PDFAndré Luiz MartinsAinda não há avaliações
- Decisão Falso Negativo - Foro Francisco AraújoDocumento2 páginasDecisão Falso Negativo - Foro Francisco AraújoMetropolesAinda não há avaliações
- Bol PM 007 13 Jan 2020Documento111 páginasBol PM 007 13 Jan 2020ולדימיר מרטין סנטAinda não há avaliações
- Modelo de Pedido de Liberdade Provisoria Posse Ilegal de ArmasDocumento7 páginasModelo de Pedido de Liberdade Provisoria Posse Ilegal de ArmasFelipe OliveiraAinda não há avaliações
- CompetênciaDocumento38 páginasCompetênciaLiderA Observatório EleitoralAinda não há avaliações
- Prova I09 Tipo 001Documento12 páginasProva I09 Tipo 001Fabiano GonçalvesAinda não há avaliações
- De JudIIMSSP 2016 05 19 ADocumento399 páginasDe JudIIMSSP 2016 05 19 AFabio Lopes LichtAinda não há avaliações
- Artigo - EstelionatoDocumento13 páginasArtigo - Estelionatotyaggoms26Ainda não há avaliações
- Teoria Geral Do Delito: Prof.º Edigardo NetoDocumento37 páginasTeoria Geral Do Delito: Prof.º Edigardo NetoJhonathan SouzaAinda não há avaliações
- Lei Complementar #258-2021 Regime Disciplinar Dos Policiais PenaisDocumento8 páginasLei Complementar #258-2021 Regime Disciplinar Dos Policiais Penaiscaveiraproject22Ainda não há avaliações
- Questoes Aleatorias de Direito PenalDocumento67 páginasQuestoes Aleatorias de Direito PenalRodrigo CabralAinda não há avaliações
- Crime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalDocumento32 páginasCrime, Justiça e Sociedade Nos Tempos Modernos e Modernos - Trinta Anos de Crime e História Da Justiça CriminalAdriana Carpi100% (1)
- Relatório Anual de Segurança Interna - Ano 2008Documento368 páginasRelatório Anual de Segurança Interna - Ano 2008@kilesAinda não há avaliações