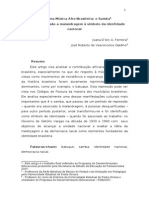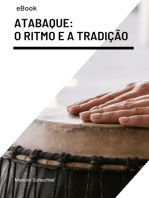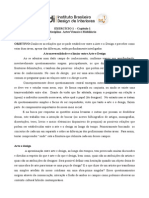Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Tambores Etnicos Uma Abordagem Etno Historica Do Carimbo No para Vigia Marajo Belem Sob Influencia Africana
Tambores Etnicos Uma Abordagem Etno Historica Do Carimbo No para Vigia Marajo Belem Sob Influencia Africana
Enviado por
araujosimoneTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Tambores Etnicos Uma Abordagem Etno Historica Do Carimbo No para Vigia Marajo Belem Sob Influencia Africana
Tambores Etnicos Uma Abordagem Etno Historica Do Carimbo No para Vigia Marajo Belem Sob Influencia Africana
Enviado por
araujosimoneDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Tambores tnicos:
Uma abordagem tnico-histrica do carimb no Par (Vigia, Maraj,
Belm) sob influncia africana
rea de Conhecimento
Educao para Relaes tnico-Raciais
Linha de Pesquisa:
Formao para Relaes tnico Raciais e Povos Tradicionais
Carlos Amilcar de Azevedo Picano
1
Karina Borges Cordovil
2
Patrcia Norat Guilhon
3
Resumo
Este trabalho tem por objetivo fazer uma abordagem etno-histrica sobre o carimb,
manifestao cultural do Estado do Par. Propomo-nos demonstrar, por meio de
pesquisa documental e bibliogrfica, a forte herana africana presente nesta,
corroborando-se de fato a presena negra da Amaznia, que durante algum tempo foi
lhe negada na historiografia tradicional. Atravs de anlises, percebemos, enquanto
objeto de estudo, que o carimbo como um valioso instrumento foi diretamente
influenciado pela cultura africana. Para tanto, utilizamo-nos de Vicente Salles, que a
partir da dcada de 60, evidencia tal influencia no carimb. No se pretende com isso
demonstrar as origens, mas demonstrar a forte contribuio cultural africana na dana
do carimb fruto de uma miscigenao.
Palavras-chaves: etno-histrica, carimb, herana africana.
_______________________________________
1
Licenciado em Histria pela Universidade Estadual Vale do Acara-CE. Graduado em Servio social pela
Universidade da Amaznia. Concluinte do Curso de Especializao em Educao para Relaes tnico-
Raciais IFPA; E-mail: carlosamilcar@yahoo.com.br
2
Licenciada e Bacharel em Histria pela Universidade Federal do Par. Concluinte do Curso de
Especializao em Educao para Relaes tnico-Raciais IFPA; E-mail: kcorb2@yahoo.com.br
3
Orientadora do Artigo. graduada em Historia pela Universidade Federal do Par (1997). Atualmente
auxiliar do Centro Federal de Educao Tecnolgica e assessora de direo de sede do Centro Federal de
Educao Tecnolgica do Par. Tem experincia na rea de Antropologia, com nfase em Antropologia da
Religio, atuando principalmente nos seguintes temas: repouso esprito santo, carismticos, carimtica
catolicismo, crio de nazar e catolicismo. Mestrado em Antropologia (Conceito CAPES 4). Universidade
Federal de Pernambuco, UFPE, Brasil. Ttulo: Espetculo da Cura, Orientador: Roberto Mota. Bolsista do(a):
Coordenao de Aperfeioamento de Pessoal de Nvel Superior. E-mail: patriciaguilhon@hotmail.com.
2
1. A presena africana na Amaznia: a contribuio cultural da frica no
carimb.
O carimb no morreu est de volta outra vez,
(...), o carimb nunca morre, quem canta o
carimb sou eu, (...), sou cobra venenosa osso
duro de roer, (...) sou cobra venenosa, cuidado
vou te morder, (...) no ritmo de pau e corda, onde
tambores vem tocar, (...), mexe o corao da
gente msica raiz do Par, (...), no me interessa
me imita, mas que fique por a, (...) quando eu
paro o carimb todo mundo pede bis, (...).
(Mestre Verequete).
1.1 Apontamentos para a presena negra na Amaznia
Ao negro durante muito tempo, seja na bibliografia, seja na historiografia, foi
negada sua presena na Amaznia, bem como toda a sua influencia. Em meados da
dcada de 60 atravs de autores principalmente como Vicente Salles, pode-se perceber
um olhar diferenciado para com a presena de negros na Amaznia e nas suas mais
diversas manifestaes culturais, a exemplo, do carimb, dana caracterstica do Estado
do Par.
O autor destaca a influncia negra na Amaznia, especificamente no Par, nos
mais diversos aspectos destes agentes sociais:
Aqui tambm a cultura do negro se derramou no folclore
1
nos uso e
costumes, na alimentao e culinria, na ldica adulta e infantil, nas
crendices e supersties, nos cultos e devoes populares, na literatura
oral e no artesanato, enfim em todas as objetivaes materiais e
espirituais do nosso povo mas na cosmoviso pode conter-se
igualmente numa s palavra (Vicente Salles. A Provncia do Par.
Caderno. Domingo n 5. Belm, 21 de Janeiro de 1996. Pgina 7.)
Salles (1996. p. 7), ressalta a forte contribuio cultural legada pelos negros a
nossa sociedade. Assume, portanto uma postura folcloristas no artigo citado acima ao
criticar a tradio dos estudos lingsticos, que pouparam uma anlise da fala cotidiana
regional, nos quais negaram termos de origem africana sem quase aprofundamento.
1
Folclore: Vem do Ingls folklore, que significa saber de um povo; Conjunto das tradies, conhecimentos ou crenas populares expressas em provrbios, contos ou canes.
Conjunto das canes populares de uma poca ou regio. Estudo e conhecimento das tradies de um povo, expressas nas suas lendas, crenas, canes e costumes (Dicionrio
Aurlio).
3
Seu interesse pela lingstica referencia nosso trabalho, porque nos proporciona
uma leitura, principalmente no que diz respeito ao folclore ao mencionar a presena
africana presente nas letras de msicas, nas falas, na literatura e em outros mecanismos,
nos quais mencionam a utilizao de termos, fonticas, semnticas, que foram
incorporados da frica. To presente nas falas regionais.
D nfase ao contedo simblico, ou seja, ao sentido a semntica, a fontica de
cada palavra estudada de provvel origem africana (povos de lngua iorubanas,
sudanesas, bntus etc.), segundo Salles esse legado lingustico foi deixada de lado
durante algum tempo por estudiosos da lngua, registra as divergncias entre
fillogos/etimlogos no sentido de enfatizar o preconceito existente na poca para com
influncia de palavras africanas fazerem parte do cotidiano de homens e mulheres
2
.
Temos o exemplo abaixo, de uma cano chula - espcie de dana e msica
popular de origem portuguesa adaptado ao estilo musical marajoara, ao qual foi
adequada para o batuque
3
de Belm por Satiro Ferreira em 1937, o qual invoca termos
de provvel influncia africana, denominando-o de Babau
4
:
Maraj j teve fama/ j teve fama/ de gado e cavalaria (bis)/ Hoje j
vivisplorado / Vivisplorado/ pelos piratas da Vigia/ (...) Vaqueiro de
SantHelena/ Tem cavalo mas no tem sela/ Agora qurim fazer / da
camisa da marcela/ Im cima daquela serra/ Passa boi e passa boiada,/
Tambm pssum as mulatinhas/ Dos cabelos(s) cacheados (...) sse
cat cat/ Aruia maranho angugr/ Acu (i) arir (bis). (Vicente
Salles. A Provncia do Par. Caderno. Domingo n 5. Belm, 21 de
Janeiro de 1996. Pgina 7).
Nesse sentido, embora poucos comprovam a influncia africana nas msicas
paraenses, Salles (1995, Pgina: 5), afirma que:
no se pode considerar desprezvel a contribuio do negro na
Amaznia, embora no se possa testemunhar a sobrevivncia de um
culto puramente africano (...) onde a incorporao dos chamados
encantados
5
caboclos criou um batuque extremamente sincretizado
6
,
2
Estudo da lngua em toda a sua amplitude, e dos documentos escritos que servem para document-la. Crtica textual. (Dicionrio Aurlio).
3
Designao comum a certas danas africanas e brasileiras acompanhadas de cantigas e de instrumentos de percusso; Baile popular ao som de instrumentos de percusso;
batucada. O ato de bater repetidamente, de martelar, de fazer barulho; Culto, relacionado com o Babau, que incorpora ao ritual Jej-Nag elementos rituais e entidades dos
candombls de caboclo, da pajelana, do catimb e da umbanda. (Dicionrio Aurlio).
4
Culto Jeje-Nag mesclado com ritos e panteo do candombl de caboclo, da pajelana, do catimb e da umbanda. (Dicionrio Aurlio).
5
Encantados: Qualquer dos seres supostamente animados de poderes sobrenaturais que, na crena de indgenas e caboclos brasileiros, habitam a Terra ou o cu; Designao
genrica das entidades cultuadas nos candombls de caboclo. (Dicionrio Aurlio).
4
modernizado, ou atualizado com a influncia do candombl
7
baiano e
da umbanda
8
do Rio de Janeiro. E certamente, a influncia foi
recproca. E tanto a pajelana
9
, herana indgena como o batuque,
contribuio do negro, tiveram de enfrentar ao longo do tempo a
intolerncia reinante e a represso policial, presente nos Cdigos de
Posturas Municipais de Belm de 1848. (Vicente Salles. A Influencia
da cultura afro nos costumes paraenses. A Provncia do Par. Belm,
17de Dezembro de 1995. Caderno 3. Domingo. Pgina: 5).
Ressalta-se a questo da crtica realizada por Salles ao descaso de alguns
estudiosos da lngua, quanto ao registro de vocbulos e expresses africanos no
linguajar regional, pelo que parece tais vocbulos de origem africana foram esquecidos
durante algum tempo, mas que ganhou fora com estudos voltados para questes
raciais, di a importncia de Igncio Moura Batista, que em 1900, que menciona a
influncia africana nos falares regionais contemplando as esferas culturais como
demonstra o excerto abaixo:
Provieram os sambas, batuques e carimbos (danas ao tambor), com
que se recreavam nas festividades religiosas e profanas dos antigos
ncleos coloniais, chegando mesmo primitiva civilizao das vilas e
cidades. Ningum lhes pode negar um certo cunho potico nas
canes populares com que o mestio marimba ou ao tambor, se
deliciava afadigado pelos trabalhos do eito. Muitas supersties e
lendas, os lobisomens, os curupiras e as matinta-pereras, viera pelo
consrcio do que tinha sado das costas africanas e do centro
misterioso da Amaznia Conquistadores e conquistados, senhores e
escravos, fundiram-se pouco a pouco, num trabalho de trs sculos
para constituir um povo semibrbaro e semicivilizado, (Vicente
Salles. A Influencia da cultura afro nos costumes paraenses. A
Provncia do Par. Belm, 26 de Novembro de 1995. Caderno 3.
Domingo. Pgina: 3).
6
Fuso de crenas e prticas religiosas distintas e por vezes opostas, com reinterpretao de seus elementos.
7
Religio de origem africana que se estabeleceu no Brasil, introduzida por escravos principalmente da Nigria e do Benina, e em que se cultuam os orixs, divindades iorubas.
8
Sincretismo religioso que integra cultos afro-brasileiros e, mais recentes, grupos de influncias exotricas, cabalsticas.
9
Ritual realizado por um paj visando determinado objetivo, como cura, previso de acontecimentos etc.
5
1.2 Apontamentos para a presena negra no carimb.
Entre os autores, destaca-se Jos Verssimo, do qual nega que o termo batuque
ser originrio da frica. Em contraposio tem-se uma aproximao de Salles a uma
perspectiva de Barbosa Rodrigues, que em 1842, escreve:
O que resiste ao tempo e ainda se v o elemento africano fundido
ao nacional. (Vicente Salles. A Influencia da cultura afro nos
costumes paraenses. A Provncia do Par. Belm. 17.12.1995.
Caderno 3. Domingo. Pgina: 5).
Rodrigues em 1842 observa que a presena africana, principalmente nas
canes, nos festejos tm a forte utilizao de instrumentos de percusso, afirmando ter
afinidade cultural com africanos, seja na forma de conduzir as danas por ter um carter
mais rtmico e relao s danas amerndias, seja pelo manuseio de tais instrumentos:
(...) pelos stios no interior da Provncia, por ocasio de alguma festa
religiosa, forma-se o jongo
10
ou batuque com o gamba e o krakach.
As posies, os movimentos da dana e as modulaes do canto
menos vivo e estrepitoso do que entre os negros, so contudo
acompanhados pela msica. O tapuio pelo seu carter triste e moleza
natural modificou a mnima ertica e o bambolear do corpo, que o
negro imprime com fogo nas suas danas e aceitou apenas a msica,
porque ruidosa e montona quadrava com seus usos e recorda o seu
antigo torokan
11
(...). (Vicente Salles. A Influencia da cultura afro
nos costumes paraenses. A Provncia do Par. Belm, 17 de Dezembro
de 1995. Caderno 3. Domingo. Pgina: 5).
O mesmo autor faz referncia utilizao de instrumentos, que na sua
concepo so tipicamente africanos como segue a transcrio abaixo:
(...) O Karimb e o gamb, tambor africano, que se toca com os
dedos das mos e o krakach ou kanz do Sul, colmo de taquara
dentado sobre o qual se passou pontalete, que produz o som que
parece mesmo dizer krakach, krakach, so instrumentos puramente
africanos, mas que o indgena aceitou. O que no quis foi a kissanga, o
urucungo
12
e a marimba
13
. (Vicente Salles. A Influencia da cultura
10
Dana de roda, espcie de samba, que se movimenta em sentido anti-horrio, acompanhado por tambores ditos de jongo, como, p. ex., o candongueiro3, o caxambu, mas sua
coreografia difere em cada localidade; s danado noite. (Dicionrio Aurlio).
11
Tambor, feito de um toro de madeira, com que, em grande parte da zona tropical sul-americana, os ndios do sinais s tabas vizinhas. (Dicionrio Aurlio).
12
Berimbau. (Dicionrio Aurlio).
6
afro nos costumes paraenses. A Provncia do Par. Belm. 17 de
Dezembro de 1995. Caderno 3. Domingo. Pgina: 5).
Ao afiliar-se classe dos etngrafos e folcloristas apocalpticos, Salles
menciona que Barbosa Rodrigues com medo do desaparecimento e do
esquecimento da utilizao de determinados termos da lngua africana, representante
da cultura popular e da grande importncia da contribuio do negro, vai registrar esses
termos vindos da frica.
Ilustrao 1: O tambor que empresta o nome se refere apropria do nome deste
instrumentos manifestao cultural paraense, denominada de carimb.
Em 1962, o casal Leacock, recolheu trechos de batuques no Par, que
demonstram a influncia que este recebeu com o ingresso do encantado africanizado
(1972. pg. 351) recolheu o seguinte trecho: Graas a Deus, j cheguei Olha, Tango no
Par! Da Borboleta, onde eu moro, Olha, Tango do Par! Alguma coisa neste mundo,
Alguma coisa eu vou contar Olha, Tango do Par
14
.
Sobre o Tangurupar, descreve Franz Krether Pereira em sua obra Painel de
Lendas & Mitos da Amaznia
Tanguru-Par funciona como o vigia da mata, e quando pressente um
perigo ou inimigo qualquer, seja gente ou animal, solta o seu assovio
fino, agudo, vibrante, e todos os animais, no s aves, como
quadrpedes se previnem e se acautelam. Essa a razo pelo qual o
pio do Tanguru-Par no pode ser imitado, mas a imaginao fabulosa
do indgena, atestando sua aguda observao das coisas da natureza,
d-nos essa beleza de histria. (ORICO, Osvaldo. Mitos amerndios e
crendices amaznicas. R. de Janeiro: Civilizao, 1975).
13
Instrumento de percusso, que consiste numa srie de lminas de madeira ou de metal, graduadas em escala, percutidas com duas baquetas, e dispostas sobre cabaas ou
tubos de metal, que funcionam como caixa de ressonncia. (Dicionrio Aurlio).
14
Vicente Salles. A Influncia da Cultura Afro nos Costumes Paraenses. A Provncia do Par. Belm, 26 de Novembro de 1996. Caderno 3. Domingo. Pgina: 6.
7
Sobre o excerto acima vale ressaltar a importncia do guardio da floresta
recebendo a influncia direta da cultura indgena, mas que mesclada ao batuque
africanizado. Em 1973, Orlando Pereira, produz um RLP, no qual afirma ser o carimb,
originrio da umbanda do Par. (Salles, Vicente. A Provncia do Par. A Influncia da
Cultura Afro nos Costumes Paraenses. Belm, 14 de Junho de 1996. Caderno 3.
Domingo. Pgina: 3).
Neste sentido, nota-se que nas letras de msicas de Orlando Pereira, quanto
coletada pelo casal Leacock, percebe-se que:
Comparando os documentos obtidos em diferentes pocas nota-se a
manuteno do verso septissilbico e a forma estrfica quadra
intercalada de refro. Est claro que a transformao do Tangurup,
ave, evocado no conto indgena, ou encantado na pajelana cabocla,
em Tango-do-Par, no apenas simples confuso verbal: exprimem
certamente a africanizao do mesmo encantado e conseqentemente
a sua metamorfose em ndio dotado de poderes especiais para
trabalhar na esquerda, ou seja, pertencente falange dos Exus
15
,
conforme o teu Ax!.
O trecho acima, nos remete influncia que as letras sofreram com a
africanizao do encantado, que em vez de indgena, torna-se africano.
Segundo Vicente Salles, Renato Almeida, afirma em 1942, que a invocao do
termo Tangurupar, nas letras de msicas de msicas revela a influncia catimboseira:
(...) o contrrio que devemos admitir, pois o encantado da
pajelana, de ntida inspirao amaznica, deve efetivamente ter
migrado para o Nordeste. Os mecanismo da dinmica cultural
estabelecem o princpio da reciprocidade. Alis, Cmara Cascudo e
Mrio de Andrade reconhecem que h muita influncia da Amaznia
no catimb
16
nordestino, conforme respectivamente Meleagro e
Msica de feitiaria no Brasil. (Salles, Vicente. A Provncia do Par.
A Influncia da Cultura Afro nos Costumes Paraenses. Belm, 14 de
Junho de 1996. Caderno 3. Domingo. Pgina: 3).
Sobre a contribuio do negro para com a cultura amaznica, destacou
especificamente as modinhas, as canes, as msicas, Salles (1996) comenta que
no se pode considerar desprezvel a contribuio do negro na
Amaznia, embora no se possa testemunhar a sobrevivncia de um
culto puramente africano (...) onde a incorporao dos chamados
15
Orix que tem a funo mtica de mensageiro; que leva os pedidos e oferendas dos homens e mulheres aos Orixs; quem traduz as linguagens humanas para a das
divindades; que tem o poder de comunicar e ligar; O senhor das porteiras, da fora que percorre esses caminhos; Orix que possibilita brincadeiras e prazeres aos seres
humanos, permita a ti a comunicao plena para que teus desejos e sonhos sejam alcanados conforme a tua f, fora e ancestralidade. (Dicionrio Aurlio).
16
Termo de origem africana que se refere aos cultos da religio afro-descendente, ou seja, negra.
8
encantados caboclos criou um batuque extremamente sincretizado,
modernizado, ou atualizado com a influncia do candombl baiano e
da umbanda do Rio de Janeiro. E certamente, a influncia foi
recproca. E tanto a pajelana, herana indgena como batuque,
contribuio do negro, tiveram de enfrentar ao longo do tempo a
intolerncia reinante e a represso policial, Cdigo de Posturas
Municipais de Belm. 1848. (Salles, Vicente. A Provncia do Par. A
Influncia da Cultura Afro nos Costumes Paraenses. Belm, 14 de
Junho de 1996. Caderno 3. Domingo. Pgina: 3.)
Ainda por volta de 1848, Belm recebe a visita de Henry Battes e Wallace, que
andando pela regio, ou melhor, pelas ruas da cidade, observaram grande quantidade de
pessoas transitando nestas, bem como seus aspectos fsicos e materiais, dos quais foram
descritos e transcritos em seus dirios de viagens
Nas poucas ruas perto do porto, entre edifcios altos, tristonhos, com
aspecto de convento, perambulavam soldados indolentes, metidos em
velhas fardas e levando descuidadamente ao ombro os mosquetes,
padres ociosos, negros carregando cabea talhas de barro vermelho,
ndias de aspecto tristonho, com os filhos nus escanchados nos
quadris, e vrias outras amostras da vida multicor do lugar (...) Ele
notou no meio da classe pobre mestia, algumas mulheres bonitas,
com as roupas em desalinho, descalas ou de chinelas, mas com
brincos ricamente trabalhados e colares de grandes contas de ouro.
Tinha olhos negros muito expressivos cabeleiras notavelmente
densas. Observou que o misto de desalinho, riqueza e formosura
dessas mulheres estava em perfeita harmonia com o resto do cenrio,
pois era igualmente impressionante a mistura das riquezas naturais e
da pobreza humana. (Salles, Vicente. A Provncia do Par. Henry W.
Bates e o negro no Gro-Par. Belm, 27 de Agosto de 1990.
Caderno 2. Domingo. Pgina: 9.)
Surpreende-se do nmero de negros encontrados nas ruas de Belm, do qual
descreveu diversas atividades em que o mesmo estava inserido, entre os quais
destacamos, o hbito deste de tocar violo, fazer modinha, tocar batuque, descrio dos
folguedos entre outros. Afirma ento que
o negro era a figura humana marcante na paisagem urbana e Bates foi
muito gentil os paraenses afirmando que quese no havia preconceito
de cor nesta parte do Brasil. (Vicente Salles. A Provncia do Par.
Caderno 2. N 9. Belm. Domingo, 26 e Segunda-feira 27 de Agosto
de 1990. Henry W. Bates e o negro no Gro-Par).
Dentre as vrias manifestaes religiosas descritas em sua obra Battes,
menciona os folguedos relacionando-o diretamete ao negro, inclundo-se suas devoes
9
aos Santos, bem como a utilizao de instrumentos musicais, que se remetem tambm
questo do negro, que para Battes teve influncia direta. Principalmente em Serpa,
Itacoatiara, Amazonas.
Os negros tm um santo de sua cor, S. Benedito, faziam sua festa
separado, passando a noite inteira cantando e danando com a msica
de um cumprido tambor: o gamb, e do Caracax. O tambor era um
tronco oco, com uma das extremidades coberta de pele, e era tocado
pelo msico que ficava escanchado em cima dele e batia na pele com
um dos dedos. O caracax um tubo de bambu, cheio de dentes, que
produz som rascante quando se esfrega uma vara dura sobre os dentes.
Nada podia exceder em triste monotonia esta msica, bem como o
canto e a msica que se prolongavam sem esmorecimento pela noite a
dentro (...) Pouco antes, ao que parece nas terras da Ilha de
Tupinambarana, assistia na festa de N. S. da Conceio, onde
observou as danas, todas do mesmo tipo, diversas variedades de
landu, como grafou danas erticas, semelhante ao fandango, que
primitivamente tinha aprendido como portugueses (...) em 1851 Battes
instalou-se em Santarm, observou costumes de brancos, ndios e
negros, a msica, a modinha,os instrumentos musicais em voga (...)
Os negros representavam nas ruas grande espetculo semidramtico
no tempo do Natal. Os ndios uma vez por ano tambm faziam suas
danas e mascaradas. Os brancos preferiam o que vinha de fora. Havia
um pequeno grupo de msicas, dirigidos por um mulato alto, magro e
maltrapilho, que era entusiasta por sua arte, que costumava
frequentemente fazer serenatas aos amigos nas noites de luar, frescas e
claras, da estao seca, tocando marchas e msicas de dana, de
autores franceses e italianos, com muito gosto . (Vicente Salles. A
Provncia do Par. Caderno 2. N 9. Belm. Domingo, 26 e Segunda-
feira 27 de Agosto de 1990. Henry W. Bates e o negro no Gro-Par).
Salles, afirma que no possvel condensar todas as passagens da presena do
negro e do mulato na obra do naturalista, mas possvel perceber que a ldica negra
havia se espalhado vastamente
17
.
17
Op.cit. 1990 (caderno 2, nmero 9)
10
Ilustrao 2: A imagem acima tem como ttulo a pureza do ritmo no terreiro, remete-se as
manifestaes das rodadas de carimbo , que ocorria principalmente nos interiores, a exemplo de
Vigia.
O naturalista Battes, comenta ainda que
no se contentava em apenas mencionar o que via. Era tentado quase
sempre, a descrever, como acabamos de ver com o landu, gamb, o
caracax. (Salles, Vicente. A Provncia do Par. A Influncia da
Cultura Afro nos Costumes Paraenses. Belm, 26 de Novembro de
1996. Caderno 3. Pgina: 6).
Em relao ao olhar de Bates para com os negros, Spix e Martius em sua obra
Viagem Filosfica, escrevem:
Os mulatos so os mesmos tambm aqui; a mesma gente facilmente
excitvel, exuberante, pronta para qualquer partida, sem sossego,
visando e efeitos espalhafatosos. Para a msica, o jogo e a dana est
o mulato sempre disposto e agita-se insacivel, nos prazeres, com a
mesma leviandade dos seus congneres do sul, aos sons montonos,
sussurrantes, do violo, no lascivo lundu e no desenfreado batuque
(...) os escravos faziam no Maranho, nos dias de guarda e suas
vsperas, uma dana denominada batuque , porque nela usam uma
espcie de tambor, que tem este nome. Esta dana acompanhada de
uma desconcertada cantoria, que se ouve muito longe (...) Nas
senzalas, nos dias de folgar, praticavam as suas danas no mais puro
estilo africano, enriquecendo o folclore da Amaznia.(Salles,
Vicente. A Provncia do Par. Caderno 2. N 9. Belm. Domingo, 26 e
Segunda-feira 27 de Agosto de 1990. Henry W. Bates e o negro no
Gro-Par.)
Sobre a origem do carimb no se h um consenso, mas vrias possibilidades,
assim, destacaremos diferentes hipteses, isso de acordo estudiosos sobre o assunto.
Para Verssimo (1888), o carimb deu- lhe a impresso de ser parecido com a
dana tnica indgena do grupo dos Maus, que em 1882, denominado de gamb.
Estes habitavam a margem esquerda do rio Uaria, na divisa do Par com o Amazonas.
Os mesmos danavam e cantavam comemorativamente, utilizanvam-se de um
instrumento ao qual destaca ser
11
um cilindro de 1 metro de comprimento feito de madeira oca, em
geral de molong ou juta, com uma pele de boi esticada em uma das
extremidades guisa do tambor, ficando a outra aberta. Tocam-no
assentados encima, batendo com as mo abertas sobre a pele. A
orquestra compunha-se de dois destes instrumentos, e mais duas
caixas a que chamam de tamborins, fazia um grande barulho pouco
meldico que parecia ser muito apreciado por eles (Estudo
Brasileiros, Par. 1889: p. 77).
Vicente Salles (1986) afirma ser o carimb, especificamente uma dana de
negros, ao qual em outro momento foi denominado de batuque, manifestao proibida
por lei no Par e Maranho. Sobre a proibio a mesma encontra-se disposta sob titulo
Das bulhas e vozeiros, observado no cdigo de postura de Belm na lei nmero 1028
de 05/05/1880:
Cdigo 107: proibido, sob pena de 30.000 ris de multa. Pargrafo
1: Fazer bulhas, vozeiros e dar altos gritos sem necessidade.
Pargrafo 2: Fazer batuque ou samba. Pargrafo 3: Tocar tambor,
carimb ou qualquer instrumento que perturbe o sossego durante a
noite etc. (O Liberal. Belm, 22 de 02 de 1986. BelmPar. Pg. 4)
J Antonio Maciel (1986) assegura a figura do nativo como o possvel criador
do carimb, e posteriormente a participao dos africanos e dos europeus. Menciona
outros elementos para ratificar sua afirmao:
Atravs do levantamento que alm dos instrumentos utilizados, que
so caractersticos dos ndios, a coreografia da imitao de passos de
animais, os aspectos literrios e a ambientao natural da regio, so
uns desses indicativos (O Liberal, pg. 4 de 22.02.86 Belm-Par).
Neste sentido o autor Maciel contradiz a perspectiva de Salles, afirmando que
As referncias alusivas s origens do carimb no se sustentam,
porque se limita aos aspectos meramente descritivos fundados na
opinio pessoal, ou porque muitas vezes se contradizem em
posicionamento pouco pertinente. (O Liberal, pg. 4 de 22.02.86
Belm-Par).
Barbosa Rodrigues
18
registrou pela primeira vez o carimb no seu trabalho
Poranduba amazonense em 1890, afirmando que o Karimb o gamb, tambor
africano, que se toca com os dedos das mos, acredita-se que um instrumento
puramente africano, mas que o ndio aceitou e seus costumes, rituais e danas.
Compartilhando do mesmo pensamento de Barbosa Rodrigues, Chermont,
acredita que
atabaque, tambor , provavelmente de origem africana. feito de um
tronco, internamente escavado, de cerca de um metro de comprimento
18
Poranduba Amazonense. 1890. pg. 275.
12
e de 30 centmetros de dimetro; sobre uma das aberturas se aplica um
couro descabelado de veado, bem entesado. Senta-se o tocador sobre o
tronco, e bate em cadncia com um ritmo especial, tendo por vaquetas
as prprias mos. Usa-se o carimb na dana denominada batuque,
importada da frica pelos negros cativos. (Glossrio. 1906. P. 20.)
Para Morais
Tambor. Feito de um tronco escavado numa das extremidades.
Nessa parte aberta colocado o couro curtido de veado. O tocador do
instrumento senta-se-lhe em cima e, com as mos, zabumba-o nos
batuques, que uma dana amaznica de origem evidentemente
africana, trazida, de certo, pelos negros cativos dos tempos
coloniais.
19
Mendes, acredita tambm que o
Tambor, de origem africana, de couro, de ordinrio adaptado sobre o
tronco oco, ou um dos lados de barril
20
.
O autor, Carlos Roque
21
transcreve parte do verbete do Dicionrio Folclrico
da Amaznia, elementos recolhidos para sua pesquisa comprovam que o carimb foi
uma das expresses do lazer do negro em Belm do Par. Neste sentido verifica em O
Correio Paraense, que em Belm em 29 de agosto de 1893, comenta-se sobre o som
esbodegante de um carimb captivo, isto , de negros danando numa barraca ali na rua
Joo Balbi, no bairro do Umarizal.
Em outro documento jornalstico, chamado O Par, datado de 28 de julho de
1900 em Belm, noticiava-se a priso de Antnio de Moraes e de outros porque
tocavam e danavam carimb em sua casa e teriam resistido ordem de cessar com o
forr. Percebe-se neste caso, a questo da represso policial para com os tocadores de
carimb, que estavam sob o regime do Cdigo de Leis Municipais no final do sculo
XIX.
1.3 Informaes atuais do carimb
Pode-se dizer que os folguedos, os batuques favoreceram a interao cultural
entre brancos, negros e ndios. E conseqentemente a miscigenao e formao da
cultura e identidade brasileira. Nas festas religiosas eram e so utilizadas as danas para
alegria dos orixs. Os filhos (as) de santo danam no ritmo da msica, tanto como esta
executada em festas religiosas, como festas profanas e tambm ganhou influncia do
ndio e do europeu.
19
O meu dicionrio. Volume 1. pg. 116.
20
op.cit. 1942, p. 36
.
21
Dicionrio Folclrico da Amaznia, Volume 2, pgina 442..
13
Com isso se foram criando vrios ritmos e tipos de danas em nosso territrio.
A dana com influncia negra sempre sensual, chegando s vezes a ser at ertica. Os
exemplos so o samba, lundu, carimb, a lambada entre outros.
A riqueza da cultura do povo africano encontra-se principalmente na sua
musicalidade, da fuso de etnias se formou o povo brasileiro.
Essa contribuio vai dos instrumentos, melodias at ritmo. A fora desta
msica est no ritmo selvagem que faz o corpo entra em sintonia fazendo assim toda
sensualidade extravasar em movimentos exticos, os instrumentos ajudaram nesta
polirritmia.
A msica popular brasileira uma mistura das msicas religiosas e profanas do
europeu, e do ndio com influncia mais profunda do negro.
Se de nossas melodias, do negro recebemos o calor da inspirao, no
ritmo quente e vibrante de seus instrumentos brbaros, atravs dos
quais a sincopa pde caractezar e encher o corpo meldico de nossa
msica. No importamos da frica o carter sincopado de nossa
msica. Ele se fez aqui no acasalamento da melodia autctone com o
arsenal tonitruante dos instrumentos africanos. (Vicente Salles e
Marena Isdebski Salles. Carimb: Trabalho e Lazer do Caboclo.
Revista Brasileira de Folclore. Rio de Janeiro. Ano IX. N 25.
Sertembro/Dezembro. 196. p. 261).
Nos rituais religiosos africanos essencial o uso de instrumentos musicais, j
que nos culto a msica importante.
Esses instrumentos de percusso at os dias atuais ainda no so atualizados,
alguns com modificaes, tambm fizeram adaptaes que resultaram na alterao dos
sons.
Os instrumentos construdos de forma primitiva tambm so muito utilizados
hoje, em cultos religiosos, e no folclore de algumas cidades, o nosso exemplo o
curimb, que um instrumento afro-brasileiro, feito com o tronco de rvore e couro de
animal, para ser tocado o instrumento tem que est na horizontal no cho e o tocador
sentado em cima, esse instrumento fundamental no folclore do Estado do Par.
A princpio o carimb era danado, em areais relativamente extensas, populosa
e prxima de Belm, porm documento fornecidos por T Teixeira, atestando que no
inicio do sculo passado, o carimbo era danado pelos pretos do que moravam no bairro
do Umarizal.
E bem verdade que o carimb vem ganhando um certo reconhecimento na
capital Paraense, isso se deve ao fato de que com o desenvolvimento da regio, e com a
melhoria nos meios de transportes, o que permitiu uma melhor comunicao com zona
litornea do Par ( ligando Belm as praias de Marud e Salinpolis cidade Vigia etc).
14
Em conseqncia, a populao urbana de Belm entrou em contacto mais
freqente com esse ritmo e dana to peculiar da nossa regio e comeou a apreci-lo.
O carimb tornou-se ento foco de interesse num circulo maior de estudiosos.
Como por exemplo, Nunes Pereira, que deu particular ateno ao carimb danado ilha
do Maraj nos meses de junho, novembro e dezembro, em Soure, onde um grupo de
danarinos, que chamava a ateno pelas saias rodadas e coloridas das mulatas que
danavam alegremente pelo tenreiro, apesar de Nunes Pereira, afirmar que na ilha do
Maraj se dana carimb em uma poca especifica, ou seja, nos meses de junho,
novembro e dezembro.
Em outras regies do Estado, se dana carimb em qualquer poca do ano. Em
geral danado aos finais de semana. Com por exemplo na Vigia.
J no Maranho a dana esta ligada ao final de festa por estar associado festa
do Divino, entretanto em algumas localidades do Maraj o carimb e associado a festa
de So Benedito dia 8 de dezembro, porem no tem ligao com as festividades
religiosas do local, no dia 8 de dezembro, porem no tem qualquer ligao com as
festividades religiosas. danado principalmente no perodo em que se inicia o vero
em nosso Estado, mais especificamente nos meses de novembro e dezembro.
Como podemos ver o carimb da ilha do Maraj no tem relao alguma com a
festividade religiosa de So Benedito.
J na cidade de Vigia encontramos uns dos mais tradicionais carimb da regio
que remonta ao sculo passado. A denominao Zimba, tambm e usada para referi-se
a dana. Denominao esta que mesmo os moradores da cidade, no souberam informa
precisamente o significado dessa palavra, que e utilizada como sinnimo de carimb.
A Vigia, por ser uma regio de pescadores e lavradores, encontra-se uns dos
mais tpicos carimb do nosso Estado.
Dana-se o carimb na Vigia quase sempre sob a orientao de um conhecedor
do brinquedo, pessoa encarregada de promover as festas e brincadeiras na localidade ele
e o elemento associativo para o povo, ausentes de outros meios de diverses, o batuque
atrai a populao simples do lugar, caboclos, negros e mestios, para a dana que se
prolonga durante muitas horas, noite dentro, terminando quase sempre com o raiar do
dia. Que necessita da autorizao da policia para poder organiz-las.
Sem nos prendemos as discusses acerca do processo de interao social, que
no possvel realizar na base de um nico elemento folclrico com omisso do
contexto social em que ele se insere, podemos, contudo destacar certo tipo de
representao coletiva no fenmeno.
De fato encontramos uma srie de idias gerais, transmitidas oralmente, e que
se traduzem numa formula de ajustamento do lazer s atividades do grupo.
15
Assim sendo, o carimbo tem o carter de canto de trabalho. A cor local tambm
extremamente viva, representada pelos elementos naturais, produtos da flora, da
fauna, nome de pessoas, acidentes geogrficos, locativos etc.
Toda criatura humana necessita de uma peridica evaso do esprito. Sente
necessidade de compensar horas de trabalho com horas de lazer.
E nesse momento que o povo esquece toda um dia labuta, e talvez o seu
momento supremo. Onde o mesmo extravasa toda a sua alegria, pois o caboclo
paraense, que tanto contribui para a riqueza da regio, porm o tempo de folgar para ele
sagrado.
nesse momento que o caboclo se sente dono da terra e do lugar onde vivem
tal qual os escravos nos dias de festa na colnia quando os negros se pintavam de
branco, e danavam ao som de seus batuques imitando seus senhores. Partindo deste
podemos dizer que uma roda de carimb.
Tem a mesma representao que tinha as festas na colnia para os escravos,
pois se nas festas da colnia, brancos, ndios e negro se confraternizavam e gozavam
dos dias de festa e de folga, alm, dos dias santos, esquecendo das dificuldades da vida
na colnia.
E ate mesmo na diverso o caboclo lembra-se de seu trabalho, tal qual
faziam os negros quando danavam nas senzalas entoando seus cantos lembrando de sua
frica, dentro desse contexto podemos dizer que o carimb tem uma estreita relao
com os ritmos e a musicalidade africana, pois muitas msicas entoadas pelo caboclo
fazem aluso a sua lida no campo, na lavoura e nos furos e rios de nossa regio.
Ainda segundo Vicente Salles, h uma variedade desse tipo de dana no
carimb, como por exemplo, a dana Camaleo, a do Jacar, a do Gamb, a do Bagre, a
do Macaco etc.
Todas elas parecem ter sido modeladas pelo lundum, ou foram incorporadas
pelo batuques, na dupla influncia africana, da coreografia e do instrumental bsico. O
lundu j referido, no Par, por Spix & Martius, por volta de 1820; o casal Agassiz viu-
o danar no Amazonas em 1865.
Jos Verssimo descreveu o lundum de bidos em 1882, entre o Mau, no
Amazonas, quando notou certa semelhana do gamba com a coreografia do lundum a
parte danante do Gamb consiste em uma espcie de lundum em que o cavalheiro
estalando castanholas com os dedos e sapateando com os ps gira em retorcidas
posies em torno da dama
22
.
O referido autor ainda explica que
22
Luis Cmara Cascudo, Dicionrio Folclrico Brasileiro, 7, 1988, p. 196.
16
o lundum era uma dana que admite todas as outras, isto , na
variedade tinha sua unidade, porm conservava o seu tanto
africano.
23
Para o mesmo, o gamba seria uma possvel variante do carimbo, que penetrou
as regies do Amazonas acima, como mostra os documentos de Salinpolis, coletados
em 1953 no carimb de Elzo Correia.
Seguindo a mesma linha de raciocnio, aparece o retumbo de Bragana e
Quatipuru, apontado por Armando Bortallo da Silva como designao local do lundum
e que se aproxima notvelmente do carimb.
Todavia, o retumbo parece ser mais caracteristicamente africano do que
muitos carimbs da zona do Salgado.
Quanto ao instrumento principal desta dana, Vicente Chermont de Miranda
(1969) descreve: feito de um tronco, internamente escavado, de cerca de um metro
de comprimento e de 0,30 de dimetro: sobre uma das aberturas se aplica um couro
descabelado de veado, bem entesado. Senta-se o tocador sobre o tronco, e bate em
cadncia com um ritmo especial, tendo por vaquetas as prprias mos. Usa-se o carimb
na dana denominada batuque importada da frica pelos negros cativos.
Diante da descrio sucinta de Vicente Chermont de Miranda, podemos
afirmar, que ele deixa clara a procedncia africana da dana, denominada batuque,
reservando a denominao carimb apenas ao instrumento.
Atualmente o tambor continua sendo o instrumento base da dana.
Na Vigia, por exemplo aparece tambm um xeque-xeque, feito de lata onde
colocado vrios matrias tas como seixo, milho etc. e eventualmente, quaisquer
instrumento para acompanhar a dana: cavaquinho, violo, pisto etc.
T Teixeira, em 1958, deu-nos o instrumental do carimb em Belm do inicio
do sculo, onde o carimb no era acompanhado com msica e sim com dois carimbs,
dois homens sentados em cima, muito cadenciados, um caracax, um reco-reco e duas
ou mais cantoras e coro.
Estes, quanto a dimenses, formando a maneira de bater, coincidem
notavelmente com os tambores do gamba descritos por Jos Verssimo em 1882, como
vimos anteriormente.
Como podemos perceber o carimb atual de Vigia, em nada se alterou, tanto
com referncia confeco do instrumento, como s suas dimenses e maneira de
execuo.
23
Op. cit 1988, p. 196.
17
Instrumento semelhante ao carimb usado no Baixo Amazonas nas rodas de
samba, conforme as indicaes de Wagley
24
e Eduardo Galvo
25
.
E ainda semelhante ao usado no retumbo de Bragana
26
e parece tambm ser
o mesmo apresentado no batuque do Amap. Extensos verbetes, no Dicionrio
Folclrico Brasileiro de Luis Cmara Cascudo, com informaes de Bruno de Menezes,
e no Dicionrio de Msica Brasileira, de Mrio de Andrade, 1998 tm-se farta abonao
das prticas citadas acima contra os tocadores de batuque
27
.
Na bibliografia dos folcloristas, registro pioneiro nos Estudos de Folclore, de
Luciano Gallet, 1934, BP, 59, e com a grafia curimb, nos Elementos do Folclore
Musical Brasieliro, e em 1936, de Flausino Vale.
Os dois autores nunca tiveram no Par e no revelaram as fontes de
informao. Renato Almeida
28
, afirma, sem nunca ter visto ou ouvido, que samba de
roda, com violas e instrumentos de percusso.
Nessa altura dois msicos paraenses j haviam estudado o carimb e utilizado
suas frmulas em composies prprias: Waldemar Henrique e Gentil Puget, que
conheceram o carimb na periferia de Belm.
Ilustrao 3: Sob ttulo a imitao em outro ambiente, denota que o carimbo est neste contexto
sendo expandido para fora do ambiente interiorano, o que demonstra certa descaracterizao
quanto ao carimbo dito de raiz.
Em 5 de fevereiro de 1958, o carimb foi reintroduzido em Belm por
iniciativa de intelectuais que rodeavam o cnsul Jorge Colman, no Centro Cultural
Brasil-EUA, despertando novo interesse.
24
Uma comunidade amaznica. So Paulo. 1957
25
Santos e Visagens. S. Paulo, 1955.
26
Armando Bordallo da Silva, op. cit., 1959-67.
27
Luis Cmara Cascudo, Dicionrio Folclrico Brasileiro, Edio 7, 1988, p. 196.
28 Histria da Msica Brasileira, 1942, p. 171.
18
Houve polmica quanto ao nome: Paulo Maranho defendeu corimbo. Em
1954 Vicente Salles fez pesquisas e confirmou o carimb na ilha de Algodoal, praias de
Maracan, Marapanim, Curua.
Em 1968, Salles e Marena Isdebski Salles voltam a pesquisar o carimb,
concentrando-se desta vez no carimb da Tia P, ou zimba, da Vigia.
O resultado da primeira pesquisa sistemtica desta expresso, Carimb:
trabalho e lazer do caboclo est publicado na Revista Brasileira de Folclore, Rio de
Janeiro, n 25, 1969, PP. 257-82.
Ilustrado com nove documentos musicais utilizados pelos compositores C.
Guerra-Peixe e E. Mahle em obras corais. Mahle criou ainda Sute Carimb, sobre os
mesmo temas, gravados pelo duo pianstico da UFPA Lenora Brito-Eliana Kotscoubey
no CD A Msica e o Par Obras para piano, 1994.
Na dcada de 70 d-se a exploso do carimb. Integrantes do projeto Rondon
gravam e filmam o carimb em Irituia e em Capanema.
Em 1971, Manoel Brasil organiza em Marapanim o conjunto Os Brasilandez.
Em agosto de 1972 o grupo Bico de Arara, de Curu, veio a Belm para
apresentar-se numa promoo especial e ficou mais de 20 dias.
Logo o carimb se espalhou pela cidade, passando a ser danado em todos os
bairros.
Em Curu faz sucesso o carimb Bico de Arara de Zeferino Braga Leal, o
Ria. Composto de 8 msicos: o clarinete do acaba festa Arivaldo Vieira Teixeira,
mais 2 carimbs, viola de 6 cordas, milheiro, ou macaco, espcie de ganz ou cabea,
feito de cuia e com cabo de madeira, flauta de bambu, 4 cantantes, um que tirava a
primeira voz os trs que respondiam.
No caso de Ria, ele s vezes improvisava, outras tiravam letras memorizadas.
Ele, mestre Lucindo, de Marapanim ou Tia P, da Vigia, so figuras lendrias
do chamado autntico carimb.
Surgiu em 1972 o 1 LP gravado pelo popular Verequete, com o conjunto
Irapuru, de Icoaraci.
Em 1973, o carimb ganhou a mdia nacional com os discos de Mestre Cupij,
de Camet (o mais ecltico, misturou-se carimb, sria e ritmos caribenhos).
Orlando Pereira, Eli Farias e Pinduca, que encontrou a frmula do sucesso
como carimb e Sirimb do Pinduca (Beverly AMCLP - 5194), ao qual produziu a
maior discografia do gnero e o carimb se tornou msica de consumo.
19
Consideraes
Ao que se indica a dana do carimb, inicialmente como uma manifestao
atribuda aos indgenas por apresentarem alguns elementos, tais como o andar
montono na dana, a maneira dos tupinambs, recebeu um tipo de variao do batuque
africano, quando os africanos tomaram conhecimento desta manifestao artstica,
iniciou-se um aperfeioamento na dana.
O entrelaamento cultural entre negros e ndios foi substancialmente
estimulado pelos colonizadores, no que diz respeito forma com que estes manteram o
segundo sob seu domnio, tendo por base os folguedos em troca de seu trabalho. O
carimb sofreu a influncia tambm portuguesa com o acrscimo de expresses
corporais, que lembram as danas europias.
Observa-se tambm a utilizao deste mesmo estilo musical por parte de
intelectuais, que perceberam tal instrumento como forma de engajamento de luta de
uma manifestao popular ricamente influenciada pela cultura negra, apesar da
utilizao tambm do carimb como instrumento de massificao de poder de um
determinado grupo elitista.
Nota-se na realidade um verdadeiro amlgama de culturas, de sons, ritmos,
danas. Buscamos demonstrar no a influncia maior de uma determinada cultura em
detrimento da outra, mas a contribuio que os negros deram para a formao do
carimb, seja no seu gingado, molejo, ritmo, vocbulos, que se remetem frica.
20
Referencias bibliogrficas:
ALMEIDA, Renato. Histria da Msica Brasileira, 1942, p. 171.
Vicente Salles. A Provncia do Par. Caderno. Domingo n 5. Belm, 21 de Janeiro de
1996. Pgina 7.
____________. A Provncia do Par. Caderno de Domingo n 32.322. Belm, 19 de
Novembro de 1995. Ano CXIX. Pgina: 3.
____________. A Provncia do Par. A Influencia da Cultura Afro nos Costumes
Paraenses. Caderno 3. Domingo. Belm, 17 de Dezembro de 1995. Pgina: 5.
____________. A Provncia do Par. A Influncia da Cultura Afro nos Costumes
Paraenses. Belm, 26 de Novembro de 1996. Caderno 3. Domingo. Pgina: 6.
____________. A Provncia do Par. A Influncia da Cultura Afro nos Costumes
Paraenses. Belm, 14 de Junho de 1996. Caderno 3. Domingo. Pgina: 3.
____________. A Provncia do Par. Caderno 2. N 9. Belm. Domingo, 26 e Segunda-
feira 27 de Agosto de 1990. Henry W. Bates e o negro no Gro-Par.
____________ . A Provncia do Par. Henry W. Bates e o negro no Gro-Par. Belm,
27 de Agosto de 1990. Caderno 2. Domingo. Pgina: 9.
____________. O Negro na Formao da Sociedade Paraense. Editora: Paka-Tatu.
2004. Pgina: 200.
Dicionrio Barsa da Lngua Portuguesa. So Paulo: Barsa Planeta, 1 e 2 volumes.
2005. Pg. 122.
Estudo Brasileiros, Par. 1889. Pg. 77.
ORICO, Osvaldo. Mitos amerndios e crendices amaznicas. Rio de Janeiro:
Civilizao, 1975.
O Liberal. Belm, 22 de 02 de 1986. BelmPar. Pg. 4.
Vicente Salles e Marena Isdebski Salles. Carimb: Trabalho e Lazer do Caboclo.
Revista Brasileira de Folclore. Rio de Janeiro. Ano IX. N 25. Sertembro/Dezembro.
1969. P. 257-282.
Você também pode gostar
- Invenção Do Samba ReggaeDocumento37 páginasInvenção Do Samba ReggaeMaurício Costa100% (3)
- Artigo Zeca Ligiero Motrizes CulturaisDocumento16 páginasArtigo Zeca Ligiero Motrizes CulturaisCapitu Nascimento100% (2)
- O Batuque PDFDocumento24 páginasO Batuque PDFYuri Félix100% (1)
- Exemplo Termo de AberturaDocumento3 páginasExemplo Termo de AberturaAvelinoCanha100% (1)
- A Musicalidade Do Ilê Axé Akorô D'ogumDocumento28 páginasA Musicalidade Do Ilê Axé Akorô D'ogumdal_lemosAinda não há avaliações
- A Presença Africana Na Música Popular Brasileira - Nei LopesDocumento9 páginasA Presença Africana Na Música Popular Brasileira - Nei LopesPedrinhoDeCuba100% (2)
- Os Afro Sambas de Vinicius e BadenDocumento17 páginasOs Afro Sambas de Vinicius e BadenMaurizia Tinti100% (1)
- Amaral e Vagner - Foi ContaDocumento47 páginasAmaral e Vagner - Foi ContaRoberto MejíaAinda não há avaliações
- Musica e Dança Brasileira - Material PedagógicoDocumento47 páginasMusica e Dança Brasileira - Material PedagógicoAmanda LourençoAinda não há avaliações
- 53935-Texto Do Artigo-751375215599-1-10-20201211Documento12 páginas53935-Texto Do Artigo-751375215599-1-10-20201211OgundaLeniAinda não há avaliações
- A Influencia Da Cultura Africana No BrasilDocumento12 páginasA Influencia Da Cultura Africana No BrasilhenriqueAinda não há avaliações
- 1307-Texto Do Artigo-3463-3503-10-20160330Documento13 páginas1307-Texto Do Artigo-3463-3503-10-20160330gilmarfernandesrioAinda não há avaliações
- O Carimbó. Cultura Tradicional Paraense Patrimônio Imaterial Do BrasilDocumento25 páginasO Carimbó. Cultura Tradicional Paraense Patrimônio Imaterial Do BrasilAnderson Lucas PereiraAinda não há avaliações
- Dar Rum Ao OrixáDocumento18 páginasDar Rum Ao OrixáCaio Csermak100% (1)
- Cantigas de CapoeiraDocumento15 páginasCantigas de CapoeiraRogério IvanoAinda não há avaliações
- Capoeira e ReligiãoDocumento6 páginasCapoeira e ReligiãoMynombreAinda não há avaliações
- 6+ +Oríkì+Uma+Epistemologia+Yorùbá+Oralitura+e+Arte+ (Verbal) ++Interpretação++Tradução+Cultural - AseDocumento12 páginas6+ +Oríkì+Uma+Epistemologia+Yorùbá+Oralitura+e+Arte+ (Verbal) ++Interpretação++Tradução+Cultural - AseJanice GoudardAinda não há avaliações
- J. J. de Carvalho - A Tradicao Musical Ioruba No Brasil PDFDocumento34 páginasJ. J. de Carvalho - A Tradicao Musical Ioruba No Brasil PDFmapogliaAinda não há avaliações
- A Influência Africana No Processo de Formação de Cultura Afro-Brasileira - GeledésDocumento10 páginasA Influência Africana No Processo de Formação de Cultura Afro-Brasileira - GeledésFrederico Souza100% (1)
- CarimbóDocumento6 páginasCarimbóThati LoschAinda não há avaliações
- Dar Rum Ao Orixá Textos Escolhidos UERJDocumento18 páginasDar Rum Ao Orixá Textos Escolhidos UERJKarina PaschoalAinda não há avaliações
- Culturas BrasileirasDocumento4 páginasCulturas Brasileirasoluanbernardo0Ainda não há avaliações
- A Influência Africana Na Culinária BrasileiraDocumento2 páginasA Influência Africana Na Culinária BrasileiraPedro MagnoAinda não há avaliações
- Admin, Marcia Gabrielle Ribeiro SilvaDocumento15 páginasAdmin, Marcia Gabrielle Ribeiro SilvaAdriel Torres De Queiroz FerreiraAinda não há avaliações
- Mitos, Memória e HistóriaDocumento20 páginasMitos, Memória e HistóriaEdu GehrkeAinda não há avaliações
- Carimbó - Wikipédia, A Enciclopédia LivreDocumento71 páginasCarimbó - Wikipédia, A Enciclopédia LivreALEXANDRE DE AGUIAR GOESAinda não há avaliações
- Folclore Do Nordeste BrasileiroDocumento20 páginasFolclore Do Nordeste BrasileiroMichael YoungAinda não há avaliações
- Conta Pra Todo o Lado Musica Religioes AfroDocumento47 páginasConta Pra Todo o Lado Musica Religioes Afrojonietones100% (1)
- Africania - YPCastroDocumento7 páginasAfricania - YPCastroMário FernandesAinda não há avaliações
- A Tradição Musical Iorubá No Brasil, José Jorge de Carvalho - PortDocumento34 páginasA Tradição Musical Iorubá No Brasil, José Jorge de Carvalho - Portkhader2009100% (1)
- Mulheres Negras Do Samba PaulistaDocumento19 páginasMulheres Negras Do Samba Paulistaluzinete borgesAinda não há avaliações
- Araketure Fara ImoraDocumento19 páginasAraketure Fara ImoraPriincee DellAinda não há avaliações
- Mito Memória e HistóriaDocumento20 páginasMito Memória e HistóriajanasqAinda não há avaliações
- A DANÇA DO MARABAIXO-PiedadeVideiraDocumento13 páginasA DANÇA DO MARABAIXO-PiedadeVideiraMERY BARAKÀAinda não há avaliações
- 22787-Texto Do Artigo-85057-1-10-20221216Documento21 páginas22787-Texto Do Artigo-85057-1-10-20221216David GuilhonAinda não há avaliações
- Resenha MSC Cult BaianaDocumento4 páginasResenha MSC Cult BaianaVictoria MarquesAinda não há avaliações
- A Tradição Musical Yorubá No BrasilDocumento19 páginasA Tradição Musical Yorubá No Brasilmarioa_3100% (3)
- Instrumentos Musicais AfricanosDocumento4 páginasInstrumentos Musicais AfricanosGiovanna GiocondoAinda não há avaliações
- A Presença Africana Na Música Popular BrasileiraDocumento10 páginasA Presença Africana Na Música Popular BrasileiraGeovani Hugo100% (1)
- Prova Identidade e CulturaDocumento1 páginaProva Identidade e CulturaReginaldoAinda não há avaliações
- Fichamento - AfoxéDocumento13 páginasFichamento - AfoxéMatheus BarbosaAinda não há avaliações
- Artigo Carimbó - Milton AiresDocumento5 páginasArtigo Carimbó - Milton AiresMilton AiresAinda não há avaliações
- Uma Música Afro-Brasileira - o SambaDocumento22 páginasUma Música Afro-Brasileira - o SambaDavid MaldonadoAinda não há avaliações
- Milton RouseDocumento7 páginasMilton RouseMaria EuniceAinda não há avaliações
- Avaliativa Final 8B - Artes - AdaptDocumento4 páginasAvaliativa Final 8B - Artes - Adaptana reisAinda não há avaliações
- Músicas e Danças Afro-Brasileira No Tocantins PDFDocumento9 páginasMúsicas e Danças Afro-Brasileira No Tocantins PDFramonAinda não há avaliações
- A Música Patrimônio Cultural ImaterialDocumento3 páginasA Música Patrimônio Cultural ImaterialGustavo Lima de souzaAinda não há avaliações
- 002 PDFDocumento7 páginas002 PDFBianca LimaAinda não há avaliações
- BRASILEIRO O Congado - Na - Sala - de - AulaDocumento10 páginasBRASILEIRO O Congado - Na - Sala - de - AulaLeonardo BorgesAinda não há avaliações
- Candomble - Ritual e Tradição (Web)Documento6 páginasCandomble - Ritual e Tradição (Web)casadosbuzios100% (1)
- O Reggae de Cachoeira PDFDocumento196 páginasO Reggae de Cachoeira PDFMarcos CalhauAinda não há avaliações
- Heranca Afrodescendente em Pernambuco.Documento5 páginasHeranca Afrodescendente em Pernambuco.josephsantos08Ainda não há avaliações
- Influência Africana Na Cultura BrasileiraDocumento2 páginasInfluência Africana Na Cultura BrasileiraJoana D'Arc PaesAinda não há avaliações
- Artes musicais africanas na Diáspora: corpos, vozes, ritmos e sonoridades em movimentoNo EverandArtes musicais africanas na Diáspora: corpos, vozes, ritmos e sonoridades em movimentoAinda não há avaliações
- A Influência Africana Na Cultura BrasileiraNo EverandA Influência Africana Na Cultura BrasileiraAinda não há avaliações
- Se não é a canção nacional, para lá caminha: a presentificação da nação na construção do samba e do fado como símbolos identitários no Brasil e em Portugal (1890-1942)No EverandSe não é a canção nacional, para lá caminha: a presentificação da nação na construção do samba e do fado como símbolos identitários no Brasil e em Portugal (1890-1942)Ainda não há avaliações
- Modos Gregos - Desenvolvendo A Melodia - AeólioDocumento2 páginasModos Gregos - Desenvolvendo A Melodia - Aeólioanderson_partAinda não há avaliações
- Atividades para BerçáriosDocumento25 páginasAtividades para BerçáriosAlexandre LopesAinda não há avaliações
- Transfer Seri Lacc Our Oe EvaDocumento1 páginaTransfer Seri Lacc Our Oe EvaAntônio G PinhoAinda não há avaliações
- Fichamento "História Da Arte" - GombrichDocumento4 páginasFichamento "História Da Arte" - GombrichGabriela De FreitasAinda não há avaliações
- Arte Indígena Rituais Música e DançaDocumento29 páginasArte Indígena Rituais Música e Dançamarcosfilho100% (1)
- A Indumentária No Egito AntigoDocumento98 páginasA Indumentária No Egito Antigomarcia.ismerim7875Ainda não há avaliações
- SimpatiaDocumento3 páginasSimpatiaYami SukehiroAinda não há avaliações
- Gincana Substantivo GabaritoDocumento7 páginasGincana Substantivo GabaritoIva CotaAinda não há avaliações
- Manual de Marca - GovRJ - FEV 2021 - Rev 6Documento28 páginasManual de Marca - GovRJ - FEV 2021 - Rev 6lucianaleisAinda não há avaliações
- Catálogo JAN Lancer 12000 - 2008Documento90 páginasCatálogo JAN Lancer 12000 - 2008EdilaineArtner50% (2)
- Arte e Design - Disciplina de Artes VisuaisDocumento19 páginasArte e Design - Disciplina de Artes VisuaisAylaCrisAinda não há avaliações
- BERTRAM Georg W - A Teoria Estética de Adorno e A Questão Da Eficácia Da Arte - Revista Dissonância de Teoria Crítica Unicamp 2019Documento28 páginasBERTRAM Georg W - A Teoria Estética de Adorno e A Questão Da Eficácia Da Arte - Revista Dissonância de Teoria Crítica Unicamp 2019Robson LoureiroAinda não há avaliações
- Levantamento de QuantidadesDocumento125 páginasLevantamento de QuantidadesRayane ThaynaraAinda não há avaliações
- Manual de Compilacao de Jogos EssorDocumento164 páginasManual de Compilacao de Jogos EssorAuro Mondlane100% (2)
- Isabel Cristina 00078112Documento3 páginasIsabel Cristina 00078112Marcio NascimentoAinda não há avaliações
- Cesário Verde ApontamentosDocumento4 páginasCesário Verde ApontamentosJoao InacioAinda não há avaliações
- Gil Vicente. Artes e EspetáculoDocumento2 páginasGil Vicente. Artes e EspetáculoAnabela SousaAinda não há avaliações
- Ellen Lupton - Desconstrução e Design GráficoDocumento23 páginasEllen Lupton - Desconstrução e Design GráficoRicardo Cunha Lima67% (3)
- DezenaDocumento13 páginasDezenaHelenaFreiresAinda não há avaliações
- INBEC Revestimento Argamassa Aula2Documento130 páginasINBEC Revestimento Argamassa Aula2GENCONS RafaeleAinda não há avaliações
- Operario e Mulher KolkosianaDocumento24 páginasOperario e Mulher KolkosianaThyemeAinda não há avaliações
- Curso Técnico No ParaguayDocumento7 páginasCurso Técnico No ParaguayVinícius Fontes MonteiroAinda não há avaliações
- AnaliseDocumento6 páginasAnaliseLéo PazziniAinda não há avaliações
- Prova Simulada Leg 3Documento2 páginasProva Simulada Leg 3Lucifer animes,desenhos,series e muito maisAinda não há avaliações
- Pacheco AlbertoJoseVieira MDocumento327 páginasPacheco AlbertoJoseVieira MSarah Nicoli100% (1)
- Atividades 02 Arte 8e 9 Ano - Março 2021Documento2 páginasAtividades 02 Arte 8e 9 Ano - Março 2021Josy Caires100% (1)
- Literatura Brasileira em QuadrinhosDocumento2 páginasLiteratura Brasileira em QuadrinhosMarcus ViníciusAinda não há avaliações
- A CNBB Esclarece Como Se Deve Utilizar As Palmas Na SantaDocumento8 páginasA CNBB Esclarece Como Se Deve Utilizar As Palmas Na Santaadcarlos1Ainda não há avaliações
- Cinema Na URSS.Documento15 páginasCinema Na URSS.Flávio FilhoAinda não há avaliações