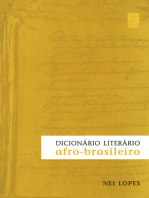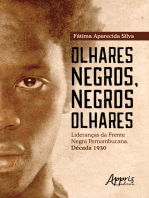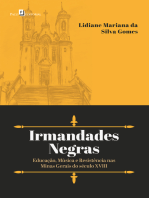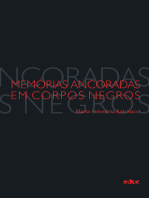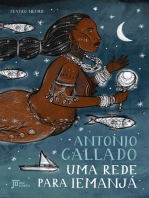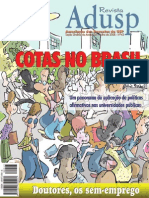Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
De Olho Na Cultura
De Olho Na Cultura
Enviado por
Paulo César RapozãoDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
De Olho Na Cultura
De Olho Na Cultura
Enviado por
Paulo César RapozãoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
De olho na Cultura 1
DE OLHO NA CULTURA!
PONTOS DE VISTA AFRO-BRASILEIROS
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 1
D278
De olho na cultura: pontos de vista afro-brasileiros / Ana Lcia
Silva Souza [et al...]. _Salvador: Centro de Estudos Afro-Orientais;
Braslia: Fundao Cultural Palmares, 2005.
196p.
ISBN: 85-88070-030
1. Negros - Cultura - Brasil. 2. Brasil - Civilizao - Influncias
africanas 3. Negros - Identidade racial. I. Souza, Ana Lcia Silva. II.
Universidade Federal da Bahia. Centro de Estudos Afro-Orientais. IV.
Fundao Cultural Palmares.
CDD - 305.896081
Presidente da Repblica
Lus Incio Lula da Silva
Ministro da Cultura
Gilberto Gil
Fundao Cultural Palmares
Ubiratan Castro (Presidente)
Universidade Federal da Bahia-UFBA
Reitor da UFBA
Naomar Almeida
Diretora da FFCH
Lina Aras
Diretor do Centro de Estudos Afro-Orientais-CEAO
Joclio Teles dos Santos
Coordenador e consultor
Joclio Teles dos Santos
Paula Cristina da Silva Barreto
Editorao
Bete Capinan
Capa
Nildo e Renato da Silveira
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 2
Andria Lisboa de Souza
Ana Lcia Silva Sousa
Heloisa Pires Lima
Mrcia Silva
DE OLHO NA CULTURA!
PONTOS DE VISTA AFRO-BRASILEIROS
Centro de Estudos Afro-Orientais
Fundao Cultural Palmares
2005
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 3
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 4
Apresentao
A Lei 10.639, sancionada em 9 de janeiro de 2003 pelo Presi-
dente Lus Incio Lula da Silva, alterou a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educao Nacional e incluiu a obrigatoriedade do ensino
da Histria e Cultura Afro-Brasileira em todos os currculos es-
colares. Este advento criou a imperiosa necessidade de produ-
o de material didtico especfico, adaptado aos vrios graus e
s diversas faixas etrias da populao escolar brasileira.
Considerando o atendimento demanda de projetos edu-
cacionais empreendidos pelas associaes culturais e pelos gru-
pos organizados do Movimento Negro, notadamente os cursos
de pr-vestibular, os cursos profissionalizantes e os cursos no-
turnos em geral, a Fundao Cultural Palmares, entidade vincula-
da ao Ministrio da Cultura, adotou como prioridade a produ-
o de suportes pedaggicos apropriados aos jovens e adultos,
pblico alvo destes projetos. Para tanto foi estabelecido um con-
vnio com a Universidade Federal da Bahia, atravs do Centro
de Estudos Afro-Orientais-CEAO, para a realizao de concur-
sos nacionais para a elaborao de dois vdeos documentrios e
de trs livros, um dos quais este volume que apresentamos.
O resultado exitoso deste projeto deveu-se participao
de todos os especialistas que integraram as comisses julgadoras,
ao empenho administrativo da Profa. Mestra Martha Rosa
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 5
Queirs, Chefe de Gabinete da Fundao Cultural Palmares e do
Prof. Dr. Joclio Telles, Diretor do CEAO-UFBA. Agradecemos
especialmente liderana acadmica do Prof. Dr. Joo Jos Reis
e da Profa. Dra. Florentina Souza.
Para assegurar o acesso de todos educadores aos resulta-
dos deste projeto, desde j esto franqueados os respectivos di-
reitos de reproduo a todos os sistemas pblicos de ensino e a
todos empreendimentos educacionais comunitrios.
Acreditamos que o ensino da Histria e da Cultura Afro-
Brasileiras representar um passo fundamental para um convvio
social caracterizado pelo mtuo respeito entre todos os brasilei-
ros, na medida em que todos aprendero a valorizar a herana
cultural africana e o protagonismo histrico dos africanos e de
seus descendentes no Brasil.
Ubiratan Castro de Arajo
Presidente
Fundao Cultural Palmares
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 6
SUMRIO
Introduo 9
Captulo 1
A criao dos mundos pela cultura 11
Captulo 2
Cultura e formao de identidades 25
Captulo 3
Representaes do homem e da mulher 37
Captulo 4
Culturas e religies 51
Captulo 5
De olho na infncia e o esporte em jogo 67
Captulo 6
Memrias corporais afro-brasileiras 83
Captulo 7
Nossa lngua afro-brasileira 103
Captulo 8
Modalidades culturais de linguagem 121
Captulo 9
Arte afro-brasileira: memria cultural 139
Captulo 10
Negro em cena 167
Bibliografia 185
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 7
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 8
Introduo
Livros circulam em todos ambientes educacionais das socieda-
des. Imagine a quantidade deles espalhados pelo planeta. Uma coisa
todos tm em comum: so iguais por trazerem informao, co-
nhecimento. Porm, podem ser diferentes no assunto de que tra-
tam, no formato, uso de cores, espessura, tipo de acabamento,
preo.
Pense, por um momento, em algum assunto qualquer que
possa ser tratado em uma obra literria. Imagine esse nico con-
tedo tratado sob a tica de diferentes autores. Faz diferena se o
ponto de vista for o de um homem ou o de uma mulher? A naci-
onalidade de quem escreve pode influenciar? A idade? A condi-
o social? Se o produtor morar no meio da Amaznia ou no
Plo Norte? E a mesma matria, se buscada em uma obra escrita
em algum sculo anterior, seria apresentada de modo diferente?
A informao contida em um livro tambm , portanto,
construda a partir de conjunturas sociais peculiares.
A histria da populao afro-brasileira tambm vem sendo
construda a partir de vrios fatores, sob vrias ticas e atendendo
a interesses que impem um determinado modo de se divulgar os
fatos histricos ao longo do tempo.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 9
Os livros didticos, por exemplo, no trazem a figura do
negro representada de modo expressivo, isso se considerarmos
apenas o nmero de habitantes afro-descendentes no pas. De
modo geral, ainda trazem o negro retratado como caseiro, lavador
de carro, bab, lavadeira etc. O negro aparece tambm em situa-
es que falam de escravido. Isso esconde toda uma riqueza de
outros aspectos do universo africano e da histria dos negros que
vieram escravizados para o Brasil.
Esta obra, que ora apresentamos, rene pontos de vista
construdos por quatro mulheres negras. E h alguma peculiarida-
de nisso? Sim.
O nosso principal propsito alargar a percepo de todos
os leitores sobre a multiplicidade dos universos culturais afro-bra-
sileiros.
Os captulos foram estruturados em blocos temticos que
dialogam entre si. Elaboramos cada um deles a partir de uma abor-
dagem crtica, procurando tambm possibilitar a descoberta des-
ses repertrios que so respostas de histrias to particulares de
nossos mais velhos que construram uma parte da nossa histria.
A noo de cultura e a de identidade so os temas de abertu-
ra que preparam o passeio pelas diferentes linguagens: a corporal,
a oral e a escrita. O percurso que convidamos voc a fazer conosco
prope ainda leituras da imagem e da auto-imagem dos afro-bra-
sileiros na arte e na mdia.
Pontos de vista esto em permanente construo e necessi-
tam da troca com outros, o que fundamental para compartilhar
coletivamente os saberes. Esperamos que esta proposta seja auxi-
liar na expanso de conhecimentos, sobre as questes das identi-
dades afros na cultura brasileira.
As autoras
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 10
A CRIAO DOS MUNDOS
PELA CULTURA
A gente tem uma vista,
mas quando aprende um pouquinho
a vista abre um pouco mais.
(Antnio Benedito Jorge,
morador de rea remanescente de quilombos /
Eldorado, So Paulo)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 11
12 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 12
De olho na Cultura 13
Nomeando e julgando
O ser humano tem necessidade de nomear tudo: as coisas, os
seres animados e inanimados, os sentimentos, os costumes, as tra-
dies e as crenas sua volta. As mensagens que circulam em um
ambiente jamais so elaboradas com neutralidade, pois vm carre-
gadas de julgamentos, de valores, positivos ou negativos. So esses
sistemas de idias e julgamentos que organizam uma particular cir-
cunstncia, o que podemos entender, de modo geral, pela noo
de cultura. Lngua, religio, as formas de casamento, trocas co-
merciais: enfim, toda resposta humana na organizao da vida em
sociedade. As diferentes respostas que formam contextos cultu-
rais distintos.
A linguagem, em todas as suas possibilidades de dar signi-
ficao ao que pretende um falante, tambm um instrumento
fundamental para veiculao de preconceitos, criao e difuso
de esteretipos. So problemas, expresses que se incorporam
no cotidiano das sociedades, que naturalizam o que no deve ser
naturalizado, banalizam situaes que no devem ser banaliza-
das, inferiorizam pessoas e os lugares que estas ocupam nos gru-
pos sociais.
Considerando a leitura do texto:
Observe as frases:
O ministro denegriu sua imagem com essa declarao.
Voc est denegrindo a nossa empresa!
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 13
14 De olho na Cultura
Se denegrir significa tornar negro, por que o termo sugere
que isso ruim?
Mas outras formas de comunicao podem dizer mais do
que palavras escritas. Modelos de humanidade podem ser qualifi-
cados positivamente ou desqualificados atravs da imagem visual
que enreda uma mensagem. Observem a publicidade dirigida aos
que almejam entrar na faculdade.
Um futuro de sucesso a principal mensagem para esse pe-
rodo de passagem na vida educacional. Bastante comum a cir-
culao nesse tipo de mensagens, apenas de jovens brancos e sem
nenhuma anormalidade fsica. Ser que somente esses almejam
fazer parte da vida universitria? Mais recentemente, j podemos
acompanhar mudanas nos padres projetados para esse pblico.
Considerando a leitura do texto:
Levante aspectos para comparar as propagandas publicitri-
as, considerando a presena de pessoas negras e no negras e os
produtos anunciados.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 14
De olho na Cultura 15
Afro-brasileiros, afro-descendentes,
alunado negro no ambiente escolar
A Cultura e seus diferentes significados
Um belo dia passamos a existir no planeta. At o modo de se
nascer tem a ver com a cultura onde vivemos. Os gestos, a fala, a
comida que comemos, as roupas que vestimos, os hbitos, a reli-
gio em que somos iniciados na famlia, os jeitos de amar, a medi-
cina que utilizamos, os tipos de trabalho, o modo de compreender
a morte, as filosofias, os ensinamentos, as manifestaes artsti-
cas, enfim, tudo o que semeado pela aprendizagem o que en-
tendemos por cultura. As nossas crenas so formadas a partir de
referenciais anteriores a nossa existncia. a cultura que organiza
os sistemas de comunicao entre os indivduos e constri um
aparato comum para a coletividade. Portanto, as formas culturais
so diversas como a expresso humana. A histria particular de
cada uma delas que permite distinguirmos as unidades culturais.
Considerando a leitura do texto:
Defina, ento, com seus prprios termos: O que cultura?
O significado da palavra cultura, no mbito acadmico, pode
se confundir com a noo popular de cultura como algo produzi-
do por elites. Ser culto como sinnimo de erudio, por exemplo,
ou cultura como um aperfeioamento do esprito produzido pela
ampliao de conhecimento. O termo Cultura tambm pode ser
compreendido em relao com o termo Raa. No exerccio inte-
lectual de explicar as evidentes diferenas, seja entre os povos do
planeta, seja nas desigualdades internas de uma sociedade, a no-
o de raa foi base para o pensamento racialista surgido no final
do sculo XIX. Toda a variedade dos hbitos sociais era consi-
derada uma essncia determinada biologicamente, ou seja, dada
no nascimento e imutvel at a morte, e no um estado relaciona-
do aos contextos sociais. A fenotipia passou a definir um grupo
racial ao qual se atribuem caractersticas sociais. Esse foi um
caminho rpido para a produo de estereotipias, pois um gru-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 15
16 De olho na Cultura
po todo passou a ser, nesse contexto, genericamente definido,
visto como um tipo.
Outro ponto importante a lembrar, a respeito da produ-
o de conhecimento oitocentista, o processo que no apenas
distinguiu os grupos humanos, mas os hierarquizou. O universo
do cientista europeu, ou seja, seu prprio modelo de vida e cos-
tumes, passou a ser o critrio da normalidade. a viso
eurocntrica se impondo como formadora de conceitos cientfi-
cos e sociais. A partir dessa viso, tudo ou todos que estiverem
fora desse padro passam a ser designados como os outros. Des-
sa linha de raciocnio se desdobraram concepes que sobrevi-
vem at os dias de hoje. No nvel inferior de uma escala, os pri-
mitivos e, na outra ponta, os evoludos ou, mais modernamente,
as sociedades simples e as sociedades complexas. Ser que existe
alguma sociedade que no seja complexa? De acordo com essa
viso, os complexos e evoludos e os normais eram os que se
encaixavam nos padres europeus.
J no sculo XX aparecem sinais de mudana situao at
ento vigente. Claude Lvi-Strauss, antroplogo francs que mo-
rou no Brasil, na dcada de 1940, por exemplo, procurou definir
cultura como uma reunio de sistemas simblicos (a linguagem,
as regras matrimoniais, as relaes econmicas, a arte, a cincia, a
religio). De acordo com o seu pensamento, cultura a capacida-
de simblica de atribuir significados atravs dos modos de pensar,
sentir, agir. Toda sociedade ou grupo social elabora estratgias para
a interiorizao de modelos culturais nos seus descendentes.
isto que garante a conservao das crenas e valores do grupo e,
principalmente, a estima do grupo por si mesmo.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 16
De olho na Cultura 17
As lentes da cultura
na representao da frica
O ambiente escolar tambm um espao para infundir percep-
es sobre o mundo que nos antecedeu. Vamos tomar um exem-
plo: a aprendizagem sobre a Europa, a Amrica Latina ou mes-
mo sobre o Brasil. A informao conduz os olhares a partir das
associaes construdas em torno de determinado aspecto, diri-
ge a ateno para um ou outro fato e vai construindo a opinio
dos informados. O enredo elege partes do todo para uma verso
a partir de um ngulo, de um ponto de vista.
Querem acompanhar um caso? Vejamos a representao
da frica por uma HQ belga no incio do sculo XX.
Estudos de caso so bons para mostrar relaes. Dentre
elas, a que nos interessa no momento: a relao entre sociedades.
A frica que conhecemos hoje, com a diviso poltica dos atuais
pases, carrega uma histria de distribuio dos seus territrios
entre naes europias. Foi em 1885 que um acordo entre as po-
tncias definiu imprios coloniais. Assim constituram-se:
Antigas colnias francesas
Antigas colnias belgas
Antigas colnias espanholas
Antigas colnias italianas
Antigas colnias inglesas
Antigas colnias portuguesas
A partilha da frica envolveu um jogo complexo com orga-
nizaes e reorganizaes administrativas nas colnias pertencentes
s diferentes coroas. Delimitar os domnios era uma prtica con-
junta com a administrao do trfico por sculos e sculos. O
continente passou a ser mais cobiado a partir do descobrimento
do diamante no Transvaal (1867). O resultado foi a exploso colo-
nial entre 1890 e 1904, que acelera, ao fim do sculo XIX, o ani-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 17
18 De olho na Cultura
quilamento de civilizaes seculares. Disputar o domnio dos ma-
res, dos rios, dos territrios articulava uma poltica colonial que
seguia uma poltica mais geral de alianas e rivalidades na Europa.
Nesse panorama, prestemos ateno ao aspecto cultural da em-
preitada de ocupar e se manter no continente desconhecido.
Tomemos a histria em quadrinhos Tintin. Vamos compre-
end-la como uma das narrativas do imaginrio sobre o mundo
africano. Difundidas durante o processo de colonizar o continen-
te, apresentavam uma frica dos europeus. O personagem foi cri-
ado por Herg, um jornalista belga, no ano de 1929. Um dos exem-
plares que leva, no original, o ttulo Les aventures Tintin, reprter du
Petit Vingtime au Congo, surgiu em 1931, no contexto da coloniza-
o belga do Congo. Voltando um pouco no tempo, podemos
afirmar que a bacia do Congo no apresentava interesse at 1870.
Os governos europeus financiavam expedies para desbravar rios
e territrios, o que lhes dava o direito de posse, cujo reconheci-
mento por outras naes (os pavilhes) era negociado. O rei
Leopoldo, ento governante da Blgica, passa a financiar a desco-
berta da embocadura do rio Congo. Ao mesmo tempo, financia
uma associao Internacional, o Comit de Estudos do Alto Congo,
que vai fomentar a fundao de um Estado negro livre, todavia,
financiado e assessorado por esse Comit. O interesse pela regio
motivou inmeras disputas. A Frana, por exemplo, destina um
oramento de 1.275.000 francos para expandir sua rea de domi-
nao. Portugal invoca os direitos de prioridade histrica de sua
descoberta no sculo XV, alegando que o reino do Congo havia
sido seu aliado nos sculos XVI e XVII. A Inglaterra, que tentava
o reconhecimento de outras fronteiras em frica, negocia o reco-
nhecimento da regio. Foi em fevereiro de 1908 que uma Confe-
rncia Internacional arbitrada por Bismarck deu a cesso do Esta-
do do Congo Blgica, que manteria seu imprio africano at
junho de 1960. O propsito de glorificao do empreendimento
colonial parece ser o ponto comum entre as imagens produzidas a
partir dos diferentes cantos europeus.
Agora, vamos refletir sobre o modo como o Congo repre-
sentado nos lbuns de Tintin, nesse contexto. A construo da
face, a fisionomia dos habitantes nativos, a postura do corpo, o
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 18
De olho na Cultura 19
Antigas colnias francesas
Antigas colnias inglesas
Antigas colnias italianas
Antigas colnias espanholas
Antigas colnias portuguesas
Antigas colnias belgas
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 19
20 De olho na Cultura
cenrio e principalmente a relao entre os dois mundos, levam
o leitor a concluir que um modelo de tipo humano, o branco
europeu belga, superior ao outro, o negro africano congols.
o paternalismo que organiza a imagem em que os indge-
nas so estpidos, subevoludos, ridculos, selvagens no patamar
da animalidade, articulados num universo de desigualdade e troa.
Temos a construo de um enredo simblico carregado de valo-
res e crenas como substratos da ao poltica ou econmica. Como
projees negativas, as faces so pintadas como carvo e de modo
grotesco.
No entanto, no encontraremos a mesma correspondncia
no tipo humano branco, ali representado. A cor da pele no
mostrada branca como papel, em oposio cor de carvo que
retrata a figura do negro. Seu aspecto rosado como a pele real
dos brancos. H um cuidado em desumanizar um tipo e humanizar
o outro.
Pesquisando a cultura:
Voc encontra a imagem da capa da obra Tintin au Congo no
site da Fundao Tintin/ Moulinsart que no autorizam a publica-
o da imagem pois os sucessores dos direitos no desejam a as-
sociao da imagem com o colonialismo.
Entre em http://www.tintin.be/
Pesquise no cone Les aventures de Tintin a seo Les lbuns
Voc pode tambm procurar a verso brasileira, publicada
em 1970, pela Editora Record, com o ttulo Tintin na frica.
sempre necessrio prestar ateno s relaes de poder
entremeadas nas mensagens visuais e perceber que as idias que a
circulam vo entrando e se acomodando em nosso imaginrio. No
exemplo em destaque, Tintin satisfazia a necessidade de difundir in-
formaes sobre a regio para quem? Para os europeus e, sobretudo,
crianas e jovens da Blgica. O heri apresenta a regio desconhecida
e contribui para a opinio a ser formada sobre ela. O ancoradouro
dos esteretipos explicita que o racismo um produto da histria e
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 20
De olho na Cultura 21
de certas relaes sociais e econmicas, internacionais e internas. Ser
que a populao nativa se auto-representaria nos mesmos moldes?
Representar a frica como perdedora social comum em
muitas publicaes didticas ou no. No entanto, vitrias sobre os
colonizadores so raramente evidenciadas quando o assunto o
mundo africano.
Faa uma pesquisa sobre Jomo Keniatta, lder Kikuiu, que
expulsou os britnicos colonizadores do seu territrio, o Qunia e
foi importante no processo de independncia
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 21
22 De olho na Cultura
As culturas trocam culturas
No h cultura totalmente isolada. A comunicao propicia a
troca de idias e saberes. O dinamismo de uma cultura pode pro-
duzir impasses, questionamentos, conflitos, dvidas. Da necessi-
dade de acomod-los surgem solues, quase sempre parciais,
que geram futuras demandas. Administrar diferenas passa pelo
exerccio de acolher as posies divergentes.
E sobre as relaes humanas em nossa sociedade? A idia
do Brasil como um paraso nos trpicos foi difundida desde sua
descoberta. Sobre essa idia se acrescentou a de paraso racial.
Sobre essas, a idia de democracia racial. E sobre essas todas va-
mos construindo a identidade sobre a vida brasileira.
A tica e a memria
A memria funda as percepes sobre o mundo. Essas percep-
es podem ser construdas, mas tambm desconstrudas.Um
nome de rua, de uma escola, de um teatro tambm uma mem-
ria preservada.
O que voc sabe sobre a origem do nome de sua cidade?
Localize os monumentos que existem em sua cidade. Um
busto, uma esttua, uma escultura etc. Essas homenagens so
selecionadas culturalmente. Uma sociedade elege o que deve per-
manecer ou morrer na memria coletiva. Voc sabe como uma
casa antiga passa a ser considerada patrimnio histrico?
Reveja o que conservado como lembrana no que diz res-
peito populao afro-brasileira na sua cidade. Pode tambm ser
relativa aos indgenas ou orientais. O importante observar se h
lugar para esses grupos na memria coletiva. E se h eqidade em
relao s demais representaes encontradas. quase a resposta
do quanto se valoriza essa presena na localidade. Quem decide
sobre o que deve ou no ser resguardado?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 22
De olho na Cultura 23
1
http://www.iphan.gov.br
Mas nem sempre a cultura a ser considerada apenas a ma-
terial. Desde 17 de outubro de 2003, a Unesco convencionou uma
vertente imaterial dos bens a serem preservados:
Entende-se por patrimnio cultural imaterial as prticas,
representaes, expresses, conhecimentos e tcnicas jun-
to com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes
so associados que as comunidades, os grupos e, em al-
guns casos, os indivduos reconhecem como parte integran-
te de seu patrimnio cultural. Este patrimnio cultural
imaterial, que se transmite de gerao em gerao, constan-
temente recriado pelas comunidades e grupos em funo de
seu ambiente, de sua interao com a natureza e de sua his-
tria, gerando um sentimento de identidade e continuidade,
contribuindo assim para promover o respeito diversidade
cultural e criatividade humana.
1
Dicas culturais:
O decreto 3.551 de 2000, assinado pelo presidente da Rep-
blica, normatizou o registro dos bens imateriais culturais do
Brasil para que eles sejam protegidos e no corram o risco
de desaparecer. O registro renovado de dez em dez anos,
com o objetivo de verificar se o bem cultural foi modificado
pelo povo ou continua com os mesmos parmetros de quan-
do recebeu a certificao. Entidades ligadas ao culto afro-
baiano comearam a campanha pelo registro do acaraj como
patrimnio cultural do Brasil, para ter a receita, os ritos de
preparao e tradio preservados. Em 01/12/2004, o Insti-
tuto do Patrimnio Histrico e Artstico Nacional (Iphan)
tombou o bolinho feito com feijo fradinho e azeite de dend
como bem imaterial, em reunio extraordinria na Igreja
de Santa Teresa, em Salvador.
O trabalho das baianas de acaraj tambm foi reconhecido
como profisso pelo Iphan. O registro do ofcio no reco-
nhece apenas o acaraj, mas todos os saberes e fazeres tradi-
cionais aplicados na produo e comercializao das chama-
das comidas da Bahia feitas com azeite de dend.
O critrio descrito no texto em destaque importante para
a considerao de unidades culturais. No Brasil, a delimitao das
terras de populaes negras descendentes de antigos quilombos
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 23
24 De olho na Cultura
leva tambm em conta o universo da cultura imaterial.Em 1991,
por exemplo, o governo do Estado de Gois reconheceu uma
rea onde vivem comunidades negras chamadas Kalunga como
patrimnio cultural brasileiro.
Para alcanar a liberdade dentro de um sistema que escravi-
zava homens e mulheres, os quilombolas necessitavam buscar pro-
teo em lugares de difcil acesso. O prprio semi-isolamento fsi-
co pode ter contribudo para a manuteno, at os dias atuais, de
termos lingsticos prprios e das tcnicas para a construo das
casas com recursos harmnicos com o ambiente. As festas Kalunga
tambm so formas de resguardar tradies, pois mantiveram for-
mas de transmisso de sentimentos religiosos, cultivaram o toque
dos tambores, as danas e cantigas, a confeco de adornos etc.
Hoje, esses moradores vivem beira do rio Paran, onde
outrora havia fartura de peixes. Contam que pescadores de fora,
porm, costumavam entrar com o barco e levar grandes quantida-
des, deixando apenas os peixes mais ariscos, que ento passaram a
se esconder cada vez mais fundo no rio. Os Kalunga dizem que
perderam terras para os fazendeiros grileiros. Terras onde planta-
vam algodo. As mulheres que apanhavam o floquinho branqui-
nho do algodo, descaroando, esticando em fios postos no tear
para a produo de tecidos, esto desaprendendo o ofcio. Cada
vez mais os homens dependem do emprego na cidade. O que
ganham pouco e as bugigangas de baixa qualidade levam o gan-
ho geralmente conquistado com grande esforo.
Culturas singulares como a dos Kalunga, que sobrevive h
sculos com seus modos de existir, tambm lidam com novos de-
safios. Algumas delas revertem o quadro de adversidades econ-
micas trabalhando na agricultura e preservando o que possuem de
mais tradicional em termos de cultura: produtos agrcolas sem
agrotxico. Esses produtos j comeam a ser comprados por re-
des de supermercado nas redondezas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 24
De olho na Cultura 25
CULTURA
E FORMAO DE IDENTIDADES
O negro pronto
est se fazendo sempre
ponto por ponto ...
(Sumo - Carlos Assuno)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 25
26 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 26
De olho na Cultura 27
Quais so as relaes entre cultura e identidade? At que ponto
conhecer o processo de construo identitria pode favorecer o
entendimento sobre afro-brasileiros e suas culturas? Estas so
algumas das indagaes iniciais para refletirmos sobre a consti-
tuio da identidade como algo dinmico. Nessa perspectiva, pre-
cisamos conversar sobre as diferentes identidades que nos cons-
tituem como indivduo na sociedade. O pertencimento a um gru-
po definido em contraste com outros. Essa classificao identi-
fica singularidades que podem ser submetidas a uma
hierarquizao, segundo os parmetros superior/inferior, bom/
mau, feio/ bonito, civilizado/primitivo.
A imensido do mundo atual
e o miudinho das relaes sociais
O crescente avano da tecnologia diversifica e imprime veloci-
dade s formas de comunicao entre os povos. Atualmente
possvel saber, em segundos, o que acontece do outro lado do
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 27
28 De olho na Cultura
mundo: conquistas, guerras, conflitos. Tambm possvel conhe-
cer os modos de viver, de vestir, de comer, de dormir, de rezar,
de trabalhar de todos os povos do planeta.
Pessoas se colocam virtualmente em qualquer lugar. A pro-
ximidade virtual ou real pode ser importante para pensar no ape-
nas o distante, mas o prximo, o que est ao nosso lado. A todo
momento somos desafiados a conhecer diferentes culturas e a
reelaborar a noo de identidade de pessoas e de grupos.
As noes de tempo e de espao adquirem outros contor-
nos em decorrncia das mudanas sociais, polticas e econmicas
pelas quais passa a atual sociedade, tudo resultando em significati-
vas transformaes culturais. Tal fenmeno causa a sensao de
quebra de barreiras geogrficas ou fsicas. Por outro lado, provoca
tambm estranhamentos diante de posturas e princpios to di-
versos, frutos da maneira como cada coletividade humana organi-
zou-se para dar conta das necessidades concretas e simblicas de
sobrevivncia.
Quem este outro? Como e para quem reza? Falares e sota-
ques? Cor de pele, formato de rosto, tipo de cabelo? O que fazem
os homens, o que fazem as mulheres na sua vida cotidiana? Como
vivem as crianas e os jovens?
por intermdio da cultura que se descortina o processo
de identidade. Ao nos considerarmos idnticos a uns, imediata-
mente estabelecemos distines em relao aos outros. No entan-
to, por meio do conhecimento e da aproximao com o outro,
que ampliamos nossas vivncias e nosso repertrio de concep-
es sobre a vida, o mundo e a existncia. Consideremos agora as
referncias associadas s culturas afro-brasileiras, independente-
mente do pertencimento tnico-racial.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 28
De olho na Cultura 29
Identidades:
pequenos grandes retratos
A noo de identidade pode ser pensada a partir dos dicionrios.
Vejamos a definio encontrada no Aurlio: um conjunto de caracteres
prprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado, profisso, sexo,
defeitos fsicos, impresses digitais, etc.
Essa definio se mostra fundamental para registrar que a
identidade constituda por vrios traos. Alguns destes, adquiri-
dos ao nascer e imutveis, como as impresses digitais, outros
adquiridos ao longo da vida e passveis de redefinies, tais como
a sexualidade, a ocupao profissional e o gosto musical.
Podemos, ento, nos perguntar: se a identidade um con-
junto de caracteres prprios e exclusivos de uma pessoa, neces-
srio considerar tambm o carter coletivo presente em sua cons-
tituio? A identidade no construda isoladamente e sim em
contato com outras referncias. Nas palavras de Elisa Larkin (2003,
p. 31), cientista social e pesquisadora das relaes tnico-raciais, a
identidade coletiva pode ser entendida como conjunto de referenciais que regem
os inter-relacionamentos dos integrantes de uma sociedade ou como o complexo
de referenciais que diferenciam o grupo e seus componentes dos outros, gru-
pos e seus membros, que compem o restante da sociedade. A pesquisadora
conclui que a identidade um processo, ganhando contornos a
partir dos lugares sociais que ocupamos como indivduos, dentro
de um espao ainda maior chamado sociedade.
Aproveitando a definio sugerida pelo dicionrio, pode-
mos observar as marcas de identidade nos documentos pessoais,
que cumprem o papel de inscrever juridicamente as pessoas no
mundo. Nos documentos como a certido de nascimento, por
exemplo, pode-se verificar o ano e o local de nascimento, a cor da
pele, a filiao e outros dados relevantes.
Tambm no registro geral o RG, conhecido tambm como
Carteira de Identidade observam-se outras marcas singulares.
nico o nmero que se refere a um tempo cronolgico e ao local
de expedio do documento, assim como nica a impresso di-
gital, a forma de assinar o nome e a fotografia.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 29
30 De olho na Cultura
A fotografia da carteira de identidade fundamental para
a discusso, pois estampa os fentipos que revelam o pertenci-
mento tnico-racial a cor da pele, o formato do rosto, do
nariz, da testa, da boca e tipo de cabelo. Diante da foto valoriza-
mos ou no os traos? Como estes so vistos por outros que no
pertencem ao mesmo grupo?
A reflexo sobre identidade racial h muito tem ocupado
diversos pesquisadores. Para Kabengele Munanga, africano radi-
cado no Brasil, professor da Universidade de So Paulo, a identida-
de passa pela cor da pele, pela cultura, ou pela produo cultural do negro;
passa pela contribuio histrica do negro na sociedade brasileira, na constru-
o da economia do pas com seu sangue; passa pela recuperao de sua histria
africana, de sua viso de mundo, de sua religio. O autor chama a ateno
para os inmeros aspectos que envolvem a peculiaridade da po-
pulao negra. Sob essa perspectiva, a cultura constituinte da
identidade.
A cor da pele tem sido um dos fatores presentes nesse de-
bate. Sueli Carneiro, pesquisadora e diretora do Geleds Institu-
to da Mulher Negra escreveu instigante artigo, por ocasio do
debate em torno da instituio das cotas para a populao negra
na universidade.
Insisto em contar a forma pela qual foi assegurada,
no registro de nascimento de minha filha Luanda, a
sua identidade negra. O pai, branco, vai ao cartrio,
o escrivo preenche o registro e, no campo destina-
do cor, escreve: branca. O pai diz ao escrivo que a
cor est errada, porque a me da criana negra. O
escrivo, resistente, corrige o erro e planta a nova
cor, parda. O pai novamente reage e diz que sua filha
no parda. O escrivo, irritado, pergunta: ento
qual a cor de sua filha? O pai responde: negra. O
escrivo retruca: Mas ela no puxou nem um pou-
quinho o senhor?
assim que se vo clareando as pessoas no Brasil e
o Brasil. Esse pai, brasileiro naturalizado e de
fentipo ariano, no tem, como branco que de fato ,
as dvidas metafsicas que assombram a racialidade
no Brasil, um pas percebido por ele e pela maioria
de estrangeiros brancos como de maioria negra. (...)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 30
De olho na Cultura 31
Porm, independentemente da miscigenao de pri-
meiro grau decorrente de casamentos inter-raciais,
as famlias negras apresentam grande variedade cro-
mtica em seu interior, herana de miscigenaes
passadas que tm sido historicamente utilizadas para
enfraquecer a identidade racial dos negros. Faz-se isso
pelo deslocamento da negritude, que oferece aos ne-
gros de pele clara as mltiplas classificaes de cor
que, por aqui, circulam e que, neste momento, pres-
tam-se para a desqualificao da poltica de cotas.
2
Reafirma-se que, para se falar de identidade, necessrio
falar de auto-percepo como eu me vejo e tambm de
heteropercepo como os outros me vem. inevitvel: para
perceber a mim tenho de perceber o outro. Desse modo, a ima-
gem positiva ou negativa de cada um vai sendo construda.
Uma outra maneira de refletir sobre o assunto seria parar ao
final de um dia para pensar em tudo o que foi feito, com quem
falamos, por onde andamos, o que vimos e escutamos. Com isso,
poderamos obter uma longa lista, que nos mostraria que estabe-
lecemos contatos com muitas pessoas, com diferentes formas de
lidar com os problemas, de nomear e abordar acontecimentos e
fatos cotidianos.
Ao circularmos por diferentes espaos sociais assumimos
papis e nos posicionamos como homens, mulheres, filhos, pais,
mes, estudantes, profissionais, religiosos. Estas muitas experin-
cias cotidianas dizem respeito ao processo de construo ou
desconstruo da identidade e da alteridade, do semelhante e do
diferente. O processo de identificar iguais conjuntamente produz
a distino.
2
CARNEIRO, Sueli. Negros de pele clara. Correio
Braziliense: Coluna Opinio - 29/05/2004
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 31
32 De olho na Cultura
Vivncias cotidianas:
eu, voc, ns
Todo esse processo de construo de identidade ativo e marca
cada um individuo. Inscreve-se no corpo, na fala, no olhar, nos ges-
tos, na maneira de conceber o mundo que est nossa volta. Perce-
ber como tudo isso acontece fundamental para que cada vez mais
brancos, negros, orientais e indgenas possam (re) conhecer a impor-
tncia das histrias e das referncias culturais, sobretudo as afetivas,
modelos para a constituio da identidade individual e social.
O legado cultural constitui patrimnio, bem-comum, como
no caso das comunidades remanescentes de quilombos. A despei-
to de todas as diferenas no que se refere s condies de produ-
o e circulao de bens simblicos, a cultura constituda e se
constitui na relao com o outro. Nesta relao os sujeitos com
todos os seus dados culturais, seu enraizamento imprimem signi-
ficao sua herana cultural.
De acordo com a revista Palmares (n 5, 2000:07), as comunida-
des remanescentes de quilombos espalhadas por vrias regies do
Brasil, ainda que reconhecidas como detentoras de direitos culturais
histricos, assegurados pelos artigos 215 e 216 da Constituio Fede-
ral, que tratam de questes pertinentes preservao dos valores cul-
turais da populao negra, enfrentam todos os dias a necessidade de
continuar a resistir e fazer frente a tantos desafios de sobrevivncia.
Os trs textos que vm a seguir serviro como subsdios
para um maior conhecimento a respeito da realidade das popula-
es remanescentes de quilombos.
Construindo saberes:
1 Os textos que voc vai ler agora retomam aspectos iden-
titrios apontados ao longo deste captulo. Destaque al-
guns deles.
2 O texto C fala sobre 400 comunidades remanescentes de
quilombos existentes no Maranho. Pesquise sobre ou-
tras, identificadas na atualidade. Utilize livros, sites ou
contate entidades afins.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 32
De olho na Cultura 33
Texto A
Frechal: Terra de Preto
3
Terra de preto no gueto
No medo
Terra de preto no beco
Nem favela
De Angola, Mina, Cambinda
Mandinga, Congo,
Benguela
(...)
reserva extrativista
quilombo Frechal
(...)
Canta negro, dana negro, quero ver teu tambor
rufar
Teus direitos conquistados
Ningum vai poder roubar
(...)
Pra no morrer a cultura
Todo povo se faz um
Terra vida, vida luta (...)
Luta negro, luta ndio
E quem dela precisar
Texto B
Givnia nasceu em 1967, em Conceio das Criou-
las, no serto de Pernambuco (...). Faz parte da his-
tria familiar de seis mulheres, seis crioulas que ali
iniciaram suas atividades h mais de 200 anos (...)
S aos poucos Givnia foi reconstituindo a histria
de sua prpria terra natal. Na escola, ningum fala-
va; em casa, tambm no, mas desde que comeou a
participar das Comunidades Eclesiais de Base ela,
como muitos outros, fazia a mesma indagao; todo
mundo tem sua histria e ns no temos?
Givnia foi uma das poucas mulheres que pde sair
de Conceio das Crioulas para estudar e continuar
os estudos at se formar em curso superior de Le-
tras.
4
3
CD Terra de Preto - compositor Paulinho Akomabu -
Bloco Afro Akomabu, Prolas Negras.Vol I - Cen-
tro de Cultura Negra do Maranho
4
Quilombos no Brasil Fundao Cultural Palmares,
revista Palmares n. 5, ano 2000, nov. p. 7)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 33
34 De olho na Cultura
Texto C
No Maranho existem hoje mais de 400 comunida-
des remanescentes de quilombos. No povoado de So
Cristvo, na cidade de Viana, 40 famlias vivem em
terra comprada do patro no perodo ps-abolio.
chamada de terra sem partilha, porque todos so
proprietrios por igual e resistem na preservao
da cultura herdada dos antepassados. A histria re-
gistra uma grande tradio do Maranho na luta de
quilombos. Os mais conhecidos so os da Lagoa Ama-
rela (do negro Cosme, que foi um dos lderes da
Balaiada), Turiau, Maracaum, So Benedito do
Cu, Curupuru, Limoeiro (em Viana) e Frechal (em
Mirinzal). Tambm foram muitas as lutas armadas.
Uma luta conhecida a insurreio de escravos em
Viana (1867), quando negros quilombolas de So
Benedito do Cu ocuparam diversas fazendas.
Considerando a leitura do texto:
O texto a seguir destaca a figura do griot, parte das mem-
rias de Amadou Hampt B, estudioso africano que dedicou sua
vida ao recolhimento e registro de depoimentos e da cultura de
parte do continente africano. Na frica, existe uma prtica cultu-
ral de construo de verdadeiras epopias narradas por autorida-
des como o Griot. O termo francs e se refere aos Dieli, como
eram chamados no Mali os recitadores de crnicas que revelam as
genealogias, as migraes, as guerras, as conquistas, as alianas, as
intrigas das sociedades africanas.
1 Descreva os aspectos que caracterizam essa sociedade.
2 Identifique as situaes que podem contribuir para a for-
mao da identidade desses jovens.
3 Existem diferenas fundamentais entre a cultura que cir-
cula nessa comunidade e a cultura em que voc vive?
Existem semelhanas? Quais? Aponte-as.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 34
De olho na Cultura 35
Na escola dos mestres das palavras
5
Na primavera, amos noite a Krtel para ver os lutado-
res, escutar os griots msicos, ouvir contos, epopias e
poemas. Se um jovem estivesse em verve potica, ia l
cantar suas improvisaes. Ns as aprendamos de cr e,
se fossem belas, j no dia seguinte espalhavam-se por
toda a cidade. Este era um aspecto desta grande escola
oral tradicional em que a educao popular era ministra-
da no dia-a-dia.
Muitas vezes eu ficava na casa de meu pai Tidjani aps o
jantar para assistir aos seres. Para as crianas estes se-
res eram verdadeiras escolas vivas, porque um mestre
contador de histrias africano no se limitava a narr-las,
mas podia tambm ensinar sobre numerosos outros as-
suntos, em especial quando se tratava de tradicionalistas
consagrados (...) Tais homens eram capazes de abordar
quase todos os campos do conhecimento da poca, porque
um conhecedor nunca era um especialista no sentido
moderno da palavra mas, mais precisamente, uma espcie
de generalista. O conhecimento no era compartimenta-
do. O mesmo ancio (no sentido africano da palavra, isto
, aquele que conhece, mesmo se nem todos os seus cabe-
los so brancos) podia ter conhecimentos profundos so-
bre religio ou histria, como tambm cincias naturais
ou humanas de todo tipo. Era um conhecimento mais ou
menos global, segundo a competncia de cada um, uma
espcie de cincia da vida, vida considerada aqui como
uma unidade em que tudo interligado, interdependente
e interativo; em que o material e o espiritual nunca esto
dissociados. E o ensinamento nunca era sistemtico, mas
deixado ao sabor das circunstncias, segundo os momen-
tos favorveis ou a ateno do auditrio.
Neste aparente caos aprendamos e retnhamos muitas
coisas, sem dificuldade e com grande prazer, porque tudo
era muito vivo e divertido. Instruir brincando sempre
foi um grande princpio dos antigos mestres malineses.
Mais do que tudo, o meio familiar era para mim uma gran-
de escola permanente: a escola dos mestres da palavra.
Continuando a refletir:
A linguagem, como uma produo social, longe de ser neu-
tra, veicula, s vezes sem que se perceba, preconceitos, dependen-
do das formas particulares de emprego de uma palavra em deter-
5
Amkoullel, o menino fula, Amadou Hampt B,
traduo Xina Smith de Vasconcelos. So Paulo: Pa-
las Athena: Casa das fricas, 2003. p. 174-175.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 35
36 De olho na Cultura
minados contextos. Leia os dos textos a seguir. Observe que tan-
to o verbete de dicionrio como o poema trazem significados
semelhantes para as palavras negro/negra, porm com
conotaes distintas. Expresse sua opinio sobre isso.
A - Verbetes
Negro
Alm de designar a cor, raa ou etnia diz tambm:
Sujo, encardido, preto: muito triste; lgubre. per-
verso, nefando;
Branco
Claro, translcido. Diz-se de indivduo de pele cla-
ra. Fig. Sem mcula, inocente, puro, cndido, ing-
nuo: a cor branca. Homem de pele clara. Bras. Se-
nhor, patro.
Preto
Que tem a mais sombria de todas as cores; da cor
do bano, do carvo. Diz-se de diversas coisas que
apresentam cor escura, sombria; negro: sujo,
encardido. Diz-se do indivduo negro. Bras. Difcil,
perigoso;
6
B - Poema Epgrafe de Elisa Lucinda, inspirado na fala de
Juliano, seu filho, com, ento, quatro anos.
Me, sabe por que eu gosto de voc ser negra?
Porque combina com a escurido
Ento, quando de noite, eu nem tenho medo,
...tudo me e tudo escurido.
Este captulo apresentou alguns caminhos para refletir so-
bre formao de identidade, enfocando as relaes cotidianas entre
as pessoas. O prximo discutir representaes de homem e de
mulher e a importncia deste assunto para pensar a cultura de um
ponto de vista afro-brasileiro.
6
Dicionrio Aurlio. Nova Fronteira
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 36
De olho na Cultura 37
REPRESENTAES DO HOMEM
E DA MULHER
Representar: 1) ser a imagem ou a reproduo de;
trazer memria; figurar como smbolo;
aparecer numa outra forma;
2) significar, tornar presente, patentear
(Dicionrio Houaiss da Lngua Portuguesa -
fragmento do texto sobre o verbete)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 37
38 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 38
De olho na Cultura 39
Em nossa sociedade muito se tem discutido a respeito dos sig-
nificados culturais de ser homem e de ser mulher.
Se, por um lado, ainda persistem esteretipos e preconcei-
tos sustentados por idias naturalizadas, por outro lado, so cada
vez mais questionadas as distines radicais que opem algumas
funes e papis sexistas, ou seja, exclusivamente de homem ou
de mulher. Vale destacar tambm as outras desigualdades geradas
pelas diferenas econmicas e raciais.
Para romper com o imaginrio social que ainda persiste na
sociedade, importante questionar, problematizar tais aspectos;
preciso conhecer outras histrias. Inmeros personagens de am-
bos os sexos deixaram seus conflitos, seus desafios e suas vitrias
ainda por contar. Sobre elas nada ou quase nada aprendemos no
espao escolar. Conhecer heris e heronas que merecem reve-
rncia fundamental para a atribuio de novos significados s
prticas culturais afro-brasileiras.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 39
40 De olho na Cultura
Os muitos lugares
das mulheres na cultura
Uma dessas importantes personagens de nossa cultura a figura
altiva de Aqualtume, uma princesa africana que, como tantas ou-
tras, foi vendida e escravizada. Sabe-se que ela foi uma das lide-
ranas do Quilombo de Palmares, tendo sido responsvel pelo
Mocambo do Aqualtume. Outro nome a destacar o de Teresa
de Quariter, rainha do Quilombo de Quariter, Mato Grosso,
cuja atividade principal era o trabalho com a forja e com o ferro.
Teresa foi uma grande guerreira que comandou negros e ndios.
Dandara, outro exemplo de liderana feminina negra, lutou ao
lado de Zumbi dos Palmares.
Merecem ateno especial as mes-de-santo, mulheres que
resguardaram repertrios e identidades culturais, ao cultivar as re-
ligies de matriz africana. Elas se configuraram como patrimnio
da cultura nacional.
Helena Teodoro, professora de Direito e de Sexologia da Uni-
versidade Gama Filho-RJ, afirma que as mulheres tiveram um papel
fundamental na organizao das confrarias religiosas baianas, espe-
cificamente da Ordem Terceira do Rosrio de Nossa Senhora das
Portas do Carmo e da Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte.
Essas organizaes tornaram-se espaos estruturadores de identidade e de
formas de comportamento social e individual. O mesmo aconteceu em ou-
tros Estados, nos quais essas comunidades acabaram por constituir
um verdadeiro sistema de aliana, legando esprito cultural e de luta
s diversas organizaes que, aos poucos, transformaram a vida de
muitas mulheres negras no Brasil.
Construindo saberes:
Leia as biografias a seguir. Elas so de importantes mulhe-
res da cultura afro-brasileira. Discuta a respeito dos pontos em
comum entre elas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 40
De olho na Cultura 41
Me Hilda Jitolu
Hilda Dias dos Santos nasceu na Bahia, em 1923, em uma
famlia que tinha como religio o candombl. Na Bahia, sua parti-
cipao foi decisiva para o surgimento do primeiro bloco afro no
Brasil. Nos anos 80, no espao do terreiro que coordenava, come-
a a funcionar a instituio Escola Me Hilda. Essa experincia
educacional, mantida pelo bloco em escola pblica, deu origem
ao projeto de extenso pedaggica do Il Aiy. Atualmente Me
Hilda, com mais de 50 anos de iniciao na religio, tem sido con-
siderada patrimnio cultural do Brasil.
Me Andresa
Andresa Maria de Sousa Ramos nasceu em 1850 e faleceu
em 1954. Foi uma das mais famosas mes-de-santo no Maranho.
Durante quatro dcadas, ela foi responsvel pela tradicional Casa
das Minas, um dos terreiros mais antigos do Brasil. Com sua garra
e f, no perodo em que a polcia preconceituosamente perseguia
os terreiros, abriu a Casa das Minas para o pblico externo e toca-
va os tambores, durante as cerimnias religiosas, com liberdade.
Me Menininha do Gantois
Maria da Conceio Escolstica Nazar, conhecida como Me
Menininha do Gantois, nasceu em 1894, na cidade de Salvador, e
faleceu em 1986. At os 92 anos esteve frente de um dos mais
famosos terreiros de candombl da Bahia. Devido a seus conheci-
mentos sobre a religio, sua fama se estendeu pelo pas, sendo can-
tada em prosa e verso. Em vida, Menininha dizia que tinha nascido
escolhida para ser me-de-santo e que, ao aceitar essa misso, sabia
que estava entrando para uma vida de sacrifcios. Faleceu depois de
longa enfermidade, tendo chegado a permanecer 64 anos na chefia
do Gantois e completar 74 anos de iniciao no candombl.
Me Aninha
Eugnia Anna dos Santos.Vinda de uma famlia de africa-
nos, nasceu em 1869 e faleceu em 1938. Em 1910, auxiliada por
Joaquim Vieira da Silva, Obasanya, fundou o Terreiro Centro Cruz
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 41
42 De olho na Cultura
Santa do Ax do Op Afonj, em Salvador, e o comandou at
sua morte. Aninha, Oba Biyi, como era conhecida, tinha porte
alto e majestoso, falava francs e tocava piano, se vestia de acor-
do com as tradies africanas. Ela integrava a elite de mulheres
comerciantes da poca, fazendo desse espao ponto de encontro
e de trocas culturais em torno do candombl
Maria Beatriz Nascimento
Nasceu em Sergipe, em 1942, e morreu em 1995. Foi fun-
dadora do Grupo Andr Rebouas, da Universidade Federal Flu-
minense, em 1975, o primeiro grupo de estudantes negros den-
tro de uma Universidade. Concluiu o curso de ps-graduao
em Histria, realizando pesquisa sobre os agrupamentos de afri-
canos e seus descendentes como Sistemas alternativos organizados
pelos negros dos quilombos s favelas.
Beatriz foi a autora e narradora do texto e personagem do
filme ORI, dirigido por Raquel Gerber, um trabalho que levou dez
anos de pesquisas, obra de grande importncia na histria do ci-
nema brasileiro.
Llia Gonzles
Llia Gonzles nasceu em Minas Gerais, em 1935. Tempos
depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde faleceu em 1994. Foi
uma grande liderana do movimento negro brasileiro contempor-
neo e na organizao de mulheres negras Nzinga. Sua preocupao
com a condio da mulher e do homem negros foi alm do territ-
rio brasileiro, uma vez que ela teve a oportunidade de abordar esse
tema em outros pases. Lecionou Cultura Popular na Pontifcia
Universidade Catlica do Rio de Janeiro, escreveu o livro Lugar do
Negro e vrios artigos publicados dentro e fora do Brasil.
Homens e Mulheres, Negros e Negras
Se a mulher branca j considerada objeto sexual,
imagina a negra, porque a primeira, ainda passvel
de casamento, enquanto a segunda vista apenas
como objeto de prazer.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 42
De olho na Cultura 43
Esta uma conhecida frase da pesquisadora e militante Llia
Gonzles, ao questionar a faceta sexista e racista de nossa cultura,
que se revela na representao da mulata de exportao vendida
em propagandas e em piadas dentro e fora do pas. O questiona-
mento de tais idias tem sido parte importante do aprendizado de
formas mais igualitrias de relacionamento entre homens e mu-
lheres, mudando quadros e situaes at hoje pouco alentadores.
Construindo saberes:
1 Depois de ler o poema a seguir, Mulata Exportao, de
Elisa Lucinda, procure o significado e a origem do termo
mulata (o).
2 Faa uma pesquisa sobre o que permanece e o que mudou
na imagem da mulher negra em nossa sociedade. Consulte
jornais, revistas, sites de organizaes de mulheres negras.
3 Certamente voc j ouviu as frases abaixo:
Homem que homem no chora.
Lugar de mulher na cozinha.
Meninos e meninas podem desenvolver competncias
para a liderana de equipe.
A mulata sempre mais fogosa.
a Dentre as frases em destaque, apenas uma no reflete
discriminao pautada no sexo. Que relaes podem
ser estabelecidas entre essa frase e as demais?
b Verifique em sua comunidade de que maneira estas
frases refletem ou no a realidade em que voc vive.
c Que outras frases preconceituosas voc conhece?
Onde as viu ou ouviu? Em que situaes?
d Desenvolva, em grupo, frases que valorizem as rela-
es de igualdade entre homens e mulheres.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 43
44 De olho na Cultura
Mulata Exportao
Elisa Lucinda
Mas que nega linda
E de olho verde ainda
Olho de veneno e acar!
Vem nega, vem ser minha desculpa
Vem que aqui dentro ainda te cabe
Vem ser meu libi, minha bela conduta
Vem, nega exportao, vem meu po de acar!
(Monto casa proc mas ningum pode saber, en-
tendeu meu dend?)
Minha torneira, minha histria contundida
Minha memria confundida, meu futebol, enten-
deu, meu gelol?
Rebola bem meu bem-querer, sou seu improvi-
so, seu karaok;
Vem nega, sem eu ter que fazer nada.. Vem sem
ter que me mexer
Em mim tu esqueces tarefas, favelas, senzalas,
nada mais vai doer.
Sinto cheiro doc, meu maculel, vem nega, me
ama, me colore
Vem ser meu folclore, vem ser minha tese sobre
nego mal.
Vem, nega, vem me arrasar, depois te levo pra
gente sambar.
Imaginem: Ouvi tudo isso sem calma e sem dor.
J preso esse ex-feitor, eu disse: seu delegado...
E o delegado piscou.
Falei com o juiz, o juiz se insinuou e decretou
pequena pena
com cela especial por ser esse branco intelectual...
Eu disse: Seu Juiz, no adianta! Opresso, Bar-
baridade, Genocdio
nada disso se cura trepando com uma escura!
minha mxima lei, deixai de asneira
No vai ser um branco mal resolvido
que vai libertar uma negra:
Esse branco ardido est fadado
porque no com lbia de pseudo-oprimido
que vai aliviar seu passado.
Olha aqui meu senhor:
Eu me lembro da senzala
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 44
De olho na Cultura 45
E tu te lembras da Casa-Grande
e vamos juntos escrever sinceramente outra his-
tria
Digo, repito e no minto:
Vamos passar essa verdade a limpo
porque no danando samba
que eu te redimo ou te acredito
V se te afasta, no invista, no insista!
Meu nojo!
Meu engodo cultural!
Minha lavagem de lata!
Porque deixar de ser racista, meu amor,
no comer uma mulata!
No que se refere mulher no contexto cultural no Brasil,
em especial a mulher negra, registra-se ainda a permanncia de
muitos tabus, preconceito e discriminaes. Por outro lado, regis-
tram-se avanos, devido a dinamicidade dos processos de resis-
tncia conduzidos por indivduos ou organizaes que reivindi-
cam polticas pblicas, muitas das quais incorporadas em progra-
mas governamentais. De qualquer forma, a resistncia no s
uma marca, mas tambm uma necessidade de sobrevivncia coti-
diana. Esse quadro realidade em todas as partes deste pas.
Continuando a refletir:
O texto a seguir, em que se relata parte desse cotidiano, foi
escrito por Allan Santos da Rosa, jovem escritor e pesquisador da
literatura de cordel. Deste romance versado apresenta-se um tre-
cho de uma bela histria que continua falando de vida e de sonho.
1) Comente como so apresentadas, no texto, as ima-
gens masculina e feminina.
2) Identifique no texto referncias culturais que mar-
cam a relao entre o corpo e o ritmo das persona-
gens, associando-as identidade afro-brasileira.
3) Depois de reler o texto, pesquise em jornais e revis-
tas materiais que faam aluso imagem do homem
e da mulher na atual sociedade. Elabore um texto
argumentativo sobre as questes encontradas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 45
46 De olho na Cultura
No bairro onde ficaram
Predomina a pindaba
Guetos quentes sempre cheios
De irmos da Paraba
Moeda forte por ali
malcia e catimba
Zagaia
Uma famlia sonhando
Do Norte de Minas partiu
Me, filho e irmzinhas
Gamelas ocas do Brasil
Descendentes de escravos
Na estrada que se abriu
Afunhanhada de fome
Muitas curvas desde Minas
Conhecer ruas e becos
Trazendo crias meninas
Parando em Diadema
Carecendo vitaminas (...)
Periferia paulista
Vil masmorra disfarada
Diamba, bola, cachaa
Opes da molecada
Vielas, bares e sambas
Na vida mil bofetadas
bom lembrar o bvio
Se no fica esquecido
Trocentos anos de senzala
Negro chicote sentido
Hoje em morros crianas
Rosto preto ou curtido
Pros bacanas ceguetas
Garotos so marginais
Correndo atrs de pipa
Competindo com pardais
Bolso vazio sem vintm
Alvo de dicas mortais (...)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 46
De olho na Cultura 47
Filhote no subrbio
Mulato, pardo ou preto
Sobra futuro capenga
Dia-a-dia de espeto
De ancestral Moambique,
Angola, Jeje ou Queto
Cabra vindo do nordeste
De pele pouco mais clara
Tambm sofre do quebranto
Pois justia jia rara
Fugindo da amargura
Com tristeza se depara
Sua casa um miser
Migalhas na geladeira
O teto era mambembe
Fina fonte de goteira
Estudante do noturno
Ia Zagaia na beira
Nessa trilha desamada
Aprendendo capoeira
Montado na poesia
Mas a fome foi primeira
Teve que dar uma ripa
Ser bananeiro na feira
Zagaia batendo perna (...)
Viu boi bumb e calundu
Jongo e coco de zamb
Ciranda e maracatu
Carimb, tor e lel
Rpi e samba de roda
Mamulengo viu pra crer
Litoral, pontes, abismos
Tubaro, ona, jabuti
Quilombolas e vaqueiros
Milenar terra cariri
Coronel, capangas, cercas
Surrupiando cho tupi
(....)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 47
48 De olho na Cultura
Zagaia se emparceirou
Com bela Mulher criana
Formosa em seu pixaim
Ou em colorida trana
Ptala da flor do vento
Seu corpo a casa da dana
Com a guerreira cultivou
Buqus, fervuras e planos
Pintaram versos e gingas
Teceram preces e panos
Mas surgiu um peixe azul
Sua fala causou danos
Considerando a leitura do texto:
Leia o texto a seguir. Ele pode gerar questionamentos im-
portantes: como e por que nos tornamos o que somos? Como e
por que gostamos de certas coisas e no de outras? Como e por
que assumimos determinadas posturas? Refletir sobre estes as-
pectos importante para visualizar o processo de construo de
nossa identidade em todas as dimenses, tambm como mulher
ou como homem.
1) Depois de ler o texto a seguir, em roda de conversa, o
grupo pode expor idias e impresses a respeito das rela-
es entre homens e mulheres brancos e negros, bem como
sobre as expectativas e contribuies das organizaes do
Movimento Negro e do Movimento de Mulheres Negras.
2) Diante das respostas, pode-se pensar em como ampliar o
entendimento acerca dessas relaes.Escreva a sua auto-
biografia. O trabalho exige o reconhecimento e a seleo
de experincias vividas. Sem necessariamente seguir uma
cronologia, os relatos organizam acontecimentos impor-
tantes, que podem ou no ser socializados com outras
pessoas.
Vamos comear pelos bebs. As pessoas nascem beb
macho ou fmea e so criadas e educadas conforme o
que a sociedade define como prprio de homem e de
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 48
De olho na Cultura 49
mulher. Os adultos educam as crianas marcando dife-
renas bem concretas entre meninas e meninos. A edu-
cao diferenciada que faz com que se d, por exem-
plo, bola e caminhozinho para os meninos e boneca e
fogozinho para as meninas, tambm exige formas di-
ferentes de vestir e conta histrias em que os papis
dos personagens homens e mulheres so sempre mui-
to diferentes. Outras diferenas aparecem de modo mais
sutil, por aspectos menos visveis, como atitudes, jeito
de falar, pela aproximao com o corpo.
Educados assim, meninas e meninos adquirem caracte-
rsticas e atribuies correspondentes aos considerados
papis femininos e masculinos. As crianas so levadas a
se identificar com modelos do que feminino e masculi-
no para melhor se situarem nos lugares que a sociedade
lhes destina. Os atribudos s mulheres no so s dife-
rentes dos do homem, so tambm desvalorizados. Por
isso, as mulheres vivem em condies de inferioridade e
subordinao em relao aos homens.
Linguagem representaes
de feminino e de masculino
Lus Gama, importante figura poltica do Brasil de meados do
sculo XIX, escritor, republicano, abolicionista, advogado, reve-
la sua origem e se orgulha dessa origem ao descrever sua me.
Nota-se que a valorizao da identidade negra tem um cunho
afetivo, o reconhecimento de suas razes africanas.
Sou filho natural de uma negra, africana livre, da Costa
Mina (Nag de Nao), de nome Luiza Mahin, pag, que
sempre recusou o batismo e a doutrina crist.
Minha me era baixa de estatura, magra, bonita, a cor
era de um preto retinto e sem lustro, tinha os dentes
alvssimos como a neve, era muito altiva, geniosa, inso-
frida e vingativa.
Dava-se ao comrcio era quitandeira, muito labo-
riosa, e mais de uma vez, na Bahia, foi presa como sus-
peita de envolver-se em planos de insurreies de es-
cravos, que no tiveram efeito.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 49
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 50
CULTURAS E RELIGIES
Deus criou o mar, ns criamos os barcos;
Ele criou os ventos, ns criamos as velas;
Ele criou as calmarias, ns criamos os remos.
(Provrbio swahili)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 51
52 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 52
De olho na Cultura 53
Um dos trs reis magos
Todos os anos acompanhamos a reafirmao dos smbolos cris-
tos atravs dos ritos e festejos natalinos. A montagem do pres-
pio relembra a homenagem de reis ou sbios vindos de diferentes
cantos do mundo para reconhecer o filho de Deus nascido em
Belm, conforme anunciado numa antiga profecia. Os trs reis
ofereceram como presentes ouro, incenso e mirra. So persona-
gens criados pelo evangelista Mateus. Eram eles Melquior, que
vinha da Prsia; Gaspar, que vinha da Europa, e Baltazar, que vi-
nha da frica. Baltazar era um sbio negro, segundo alguns rela-
tos. A histria da origem desses personagens varia nas diferentes
verses acerca desse Natal primeiro. Mas, mesmo assim, a presen-
a de um rei negro quase sempre mencionada. A imagem, com o
passar dos tempos, foi acrescida de simbologias do imaginrio
medieval e Baltazar passou a representar a realeza de uma frica.
Um reino africano cristo. J no sculo XV, a notcia de um dom-
nio fabuloso governado por um sbio mesclou-se s histrias so-
bre o Preste Joo, pago que fora convertido ao cristianismo pe-
los jesutas, no contato com os navegantes portugueses. Os rela-
tos sobre ele falam de palcios com paredes de ouro macio, que
iluminavam como o Sol, sendo de prata e pedras preciosas os
ornamentos das moblias. Seu figurino era de um requinte
inigualvel. Para as rezas em louvor ao Cristo, havia construdo
uma capela do mais puro cristal.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 53
54 De olho na Cultura
Geralmente podemos observar, por meio da representa-
o dos trs reis magos, a eqidade entre os continentes. Todos
os monarcas ou sbios apresentam equivalncia nos trajes e sm-
bolos de realeza. Baltazar a presena crist entre a diversidade
de religiosidades que existem na frica.
A Rainha de Sab
Junto aos smbolos cristos tambm encontramos os smbolos da
religiosidade judaica.
Davi reinara quarenta anos em Israel, sete anos em Hebrom
e trinta e trs em Jerusalm. Ana, segundo interpretaes que cir-
culam na literatura crist, ao morrer, transmitiu o trono ao filho
Salomo, que promoveu a construo de um palcio na Floresta
do Lbano (prximo regio de onde, 480 anos antes, os israelitas
haviam sido expulsos).
A rainha de Sab, ou Makeda para os etopes, soube da fama
que Salomo tinha alcanado, graas ao nome do Senhor, e foi a
Jerusalm para coloc-lo prova com perguntas difceis. Coman-
dou uma caravana com 797 camelos carregados de especiarias,
pedras preciosas e quilos de ouro e cedro. Salomo, que se apaixo-
nou por sua beleza negra, disse:
Gostaria que da nossa unio viessem descendentes.
E ento, beira do Nilo, um dos quatro rios vindos do Para-
so terrestre, Sab, a esposa de Salomo, deu luz um filho chama-
do Menelique. Foi ele que assegurou a dinastia salomnica de Aksum,
a terra dos deuses e das rvores perfumadas, de onde descendem os
judeus negros que vivem na regio atualmente chamada Etipia.
Dicas culturais:
Falashas: judeus que vivem na Etipia. Pela Bblia falasha, seri-
am descendentes do rei Salomo com a rainha de Sab. Eles resguar-
dam um judasmo muito antigo onde no existe a figura do rabino.
Considerando a leitura dos textos:
Entreviste um religioso da comunidade judaica: para isso,
organize uma lista de perguntas sobre judasmo, judeus negros e
sobre a rainha de Sab.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 54
De olho na Cultura 55
A Etipia e os rastas
Foi na dcada de 1930 que surgiu na Jamaica o movimento rastafari
em torno de uma previso atribuda ao ativista jamaicano Marcus
Garvey: Olhe para a frica quando um rei negro for coroado, o
dia da salvao estar prximo. Na Etipia, em 1930, Rs Tafari foi
coroado imperador e assumiu o ttulo de Hail Selassi I.
Garvey foi um dos intelectuais que formalizaram a corren-
te de pensamento conhecida como pan-africanista, cujo argumento
principal demandava a soberania negra na Dispora africana.
O pan-africanismo organizou congressos, entidades e cor-
rentes polticas.
A Etipia tambm era uma referncia por ter sido pouco
atingida pelo trfico, alm de ter uma histria de resistncia ao
colonialismo. Esses elementos contriburam para a conexo entre
africanos na Dispora e um ponto na frica cujo novo smbolo
apontava para um continente africano e toda a Dispora reunidos
por um rei africano.
Ampliando o saber:
Dispora um termo de origem grega que significa disper-
so. Seu uso esteve primeiramente relacionado experincia dos
judeus que, sem ptria, se espalharam pelo mundo sem perder a
identidade cultural. Depois se estendeu para o caso dos armnios
e dos africanos. A Dispora africana ocasionada pelo trfico pode
ser atualizada nas formas culturais transnacionais que geram sen-
timentos de unidade por uma identidade em comum.
O antigo Estado etope cristo caracterizou-se por uma re-
sistncia secular ao Isl. Durante o reinado de Hail Selassi hou-
ve o incentivo ao uso do amrico, por exemplo, como lngua ofi-
cial imperial, o que fortaleceu a tradicional Igreja Ortodoxa, se-
guidora de uma tradio crist de um ramo muito antigo. No en-
tanto, o movimento rastafari (nome em homenagem ao impera-
dor etope Rs Tafari) formula um sistema filosfico e religioso
prprio. Foram adotadas as cores da bandeira da Etipia, verme-
lho, preto e verde, e, como marca principal do movimento, os
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 55
56 De olho na Cultura
cabelos dreadlocks, em contraste aparncia ocidental. Garvey ins-
tigava a derrota do sentimento de inferioridade, exercendo uma
espcie de domnio mental por meio de prticas polticas
permeadas por um imaginrio bblico.
A Cannabis sativa, marijuana para os jamaicanos, foi integra-
da com sentido religioso nos rituais de venerao a Jah, uma for-
ma de Jeov encontrada em antigas verses da Bblia. Em meados
de 1970, o movimento ganhou popularidade com o reggae de Bob
Marley (1945-1981), que retomava essa filosofia de vida.
A nova f tambm encontrou abrigo no Brasil, notadamente
em So Lus do Maranho, a partir dos anos de 1970.
Dica cultural:
Durante todo o ms de janeiro de 2005, aconteceram as ce-
lebraes dos 60 anos de nascimento de Bob Marley. Uma intensa
programao ocorreu na Etipia, reunindo mais de 200 mil fs. O
evento foi apoiado pelo governo e pela igreja etope, Unicef e
Unio Africana
Rita Marley, viva do cantor, pretende transladar os restos
mortais do esposo para a cidade de Shashemene, onde vrias cen-
tenas de rastafaris vivem desde que ganharam as terras do ltimo
imperador etope, Hail Selassi.
No argumento de Rita, a Etipia o local de descanso espi-
ritual de Bob.
Considerando a leitura do texto:
Retire elementos para interpretao dos sentidos envolvi-
dos nas duas canes a seguir:
Brilho de Marfrica
Escrete (MA, poeta e compositor)
1
O reggae um som jamaicano
Balana o Equador Latino-americano
Jimmy Cliff, Bob Marley
Negritude encantou
No som da Jamaica, So Lus geg-nag (...)
Bloco Afro Akomabu, criado em maro de 1984.
Akomabu, na lngua fon falada na Repblica do Benin,
significa a cultura no deve morrer.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 56
De olho na Cultura 57
Rasta Voice
Edson Catende
Ele se elevou da fumaa de
Suas narinas e o mundo criou (...)
Pra ser rastafari
Tem que ser muito legal
No bastam cabelos berlotas
Tem que ser muito real
Amar as pessoas como Jah amou
Andar pelo mundo sem alimentar rancor (...)
Rastafari uma atitude, um jeito de amar a vida
Black man, Jamaica eh, Rasta Voice, Liberdade eh
Mouros negros
As relaes sociais entre os mundos africano e rabe so milenares.
Sob o aspecto religioso, a expanso islmica iniciada pelo norte,
levando a palavra de Maom, pretendeu atingir o mais extremo
do Bilad-es-Sudan, o pas dos negros. As Jihads, guerras santas,
conquistavam cidades e, ao longo do tempo, as crenas sofriam
adaptaes africanas. A converso ao islamismo muitas vezes foi
trocada por proteo.
Dicas culturais:
Muss, governante do imprio Mandinga, entre 1312 e 1337,
realizava legendrias peregrinaes a Meca propagando o poderio
e o sucesso comercial e intelectual de seus domnios.
Para o Brasil tambm vieram africanos islamizados. Os mais
conhecidos so os que viveram escravizados na Bahia, os mals,
que se insurgiram contra a escravizao atravs de uma ao coor-
denada no ano de 1835. Existem tambm registros de africanos
marcados pelos preceitos do islamismo em Pernambuco, Alagoas
e Rio de Janeiro. Letrados pela prtica de leitura do Alcoro, eles
se distinguiam pela altivez e insubmisso, inclusive no aspecto re-
ligioso.
O sistema econmico de escravizar gente fez surgir especi-
alistas na compra e tambm na venda da vida humana transfor-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 57
58 De olho na Cultura
mada em mercadorias. As expanses polticas por entre os terri-
trios africanos resultavam em aprisionamentos de guerra que
desde o sculo XVI adquiriram novas dimenses sociais.
As instabilidades causadas pelas guerras fomentaram a es-
pecializao do trfico, que se apoiou, muitas vezes, em iderios
de conquistas religiosas.
Santos catlicos negros
Desde que os portugueses passaram a transitar pelas costa africa-
na, a presena de habitantes negros na sociedade portuguesa se
tornou freqente. Em Lisboa, a primeira irmandade de africanos
foi instalada no ano de 1460, no Mosteiro de So Domingos: a
irmandade de Nossa Senhora do Rosrio, em cujo compromis-
so se inspiraram as demais. Ali os africanos escravizados recebi-
am o batismo e passavam a ser instrudos no cristianismo.
No Brasil o batismo tambm foi uma prtica das freguesi-
as durante a colonizao. Delas decorreram as inmeras irman-
dades dos pretos, que adotavam santos como Santo Elesbo e
Santa Efignia, ditos originrios do reino etope, So Benedito,
Santo Antnio, So Martinho, e outros. A estrutura dessas ir-
mandades inclua ttulos de nobreza, eleio de reis e rainhas, car-
gos executivos e agremiaes festivas chamadas reinados. Da sede
dessas congregaes saam as Folias, que tomavam as ruas com o
mesmo fervor devotado aos oragos das igrejas.
Os Maracatus e as Congadas so folguedos expressivos da
identidade negra dessas confrarias, resguardando um imaginrio
sobre a frica que relacionado realeza, cortejo, presena da
corte, da msica, da dana, etc. As irmandades de Nossa Senhora
dos Remdios, de Nossa Senhora do Carmo, do Senhor Bom
Jesus, da Redeno dos Homens Pretos, da Boa Morte e dos Mar-
trios reuniam africanos refazendo identidades.
A possibilidade de conquista da alforria parece ter sido, no
entanto, um forte motivo para esse tipo de associao entre os pre-
tos, uma esfera daquele cotidiano. Como confrarias estabelecidas,
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 58
De olho na Cultura 59
eram capazes de oferecer alternativas para o escape legal dentro
do sistema de escravido. Formas de financiamento de alforrias
possibilitavam a compra da liberdade aos filiados da congregao.
Sob esse ponto de vista, pode-se conhecer um aspecto da
religiosidade catlica da populao negra ainda escravizada e de
seus descendentes no Brasil. As confrarias, aparentemente, seguem
regras de hierarquia e distino prprias do mundo europeu do
Antigo Regime, mas, na verdade, recriam formas para expandir
convvios sociais, seja pela prtica religiosa e festiva, seja pela
administrao econmica e poltica.
Considerando a leitura do texto:
A Irmandade de Nossa Senhora do Rosrio dos Homens
Pretos de So Paulo foi constituda em 2 de janeiro de 1711. Ser
que existiu alguma igreja s para escravos em sua cidade?
As irmandades do Rosrio existem at hoje, espalhadas por
todo o Brasil. Vale a pena conhecer a histria de cada uma delas.
O culto Maria requer a recitao do rosrio como forma de me-
ditao, mas as atividades extrapolaram os cultos religiosos. As
irmandades assistiam os enfermos e auxiliavam nos enterros, aju-
davam os mais necessitados e at os presos.
Tecendo afro-religiosidades
no Brasil
Candombl era o nome dado s manifestaes dos cultos de ori-
gem africana na Bahia, sobretudo, a partir do sculo XIX. As ceri-
mnias de mesmo gnero recebiam o nome de Xang no Recife,
macumba no Rio de Janeiro, Tambor-de-mina, no Maranho e
Batuque, em Porto Alegre.
Mais especificamente, os terreiros baianos desenvolviam o
candombl nag-queto, de origem ioruba. Os ritos jeje remetiam
cultura fon, vizinha da cultura ioruba. Mas havia tambm o rito
angola, que apontava para uma origem bantu. Todas essas divises
resultaram em um dinamismo prprio das religies africanas re-
Os orixs so divindades do panteo ioruba. Essa es-
trutura religiosa se organiza em torno do orculo de
If, sistema de adivinhao que contm 256 odus (con-
tos mticos) reveladores dos segredos que revitalizam
a fora da natureza.
Bantu um termo cunhado pelo lingista alemo W. H.
Bleek, em 1875, para se referir a quase 2/3 das lnguas
africanas do sul do continente.
So inmeras as formas de religiosidade nessa grande
extenso cultural. Porm, as divindades bantu mais co-
nhecidas no Brasil so os inquices.
No panteo Fon, grupo tnico da regio do Benin, as
divindades so chamadas de voduns.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 59
60 De olho na Cultura
criadas no Brasil. Essas classificaes, segundo os modelos dos
ritos, no deixam de reportar idia de naes africanas.
Considerando a leitura do texto:
Procure o CD do cantor e compositor Caetano Veloso com
a msica intitulada Milagres do Povo. Observe na construo da letra
o tema proposto. Examine as estrofes. Escolha trechos da letra e
proponha uma interpretao sobre religiosidade africana no Bra-
sil.
A letra da cano Milagres do Povo fala que Oju Ob ia l e
via. Ob na lngua ioruba quer dizer rei e Oju, olhos. O grupo
tnico ioruba vive em uma parte da Nigria, no Togo e no Benin.
Isto porque a diviso poltica resolvida por um tratado europeu
no corresponde diviso cultural das etnias africanas. Entre os
ioruba existem os sacerdotes de If, orix que preside a adivi-
nhao. Esse sacerdotes possuem o dom de ver o destino das
pessoas ao consultar o orculo, o opel de If, um colar feito de
caroos presos por uma corrente.
Esse olhar ioruba pode revelar um complexo conjunto de
mitos que narram episdios da vida dos orixs. Neles, esto a ori-
gem, as caractersticas, as qualidades e fraquezas das divindades.
Essas narrativas foram passadas atravs das geraes e contm
uma sabedoria singular na interpretao da origem dos tempos e
da prpria vida do consultante.
Orixs so foras da natureza. E cada pessoa tem uma na-
tureza dentro de si a fora do orix. Oxum a divindade das
guas doces, menina quase sempre dengosa, dona da beleza e
da fertilidade. J Iemanj orix dos reinos das guas salgadas,
a dona do mar e me dos orixs, figura feminina madura, me
nutridora. Oi o feminino guerreiro, dona dos ventos simboliza-
da pelo raio e pelas tempestades que transformam as situaes.
Nan, orix associado lama de onde samos e para onde todos
iremos voltar, o feminino representado pela senhora idosa.
So tantos os orixs quanto os elementos que energizam a
natureza. Mas, no Brasil, por causa da escravizao de povos africa-
nos, a memria foi selecionando os cultos prioritrios. Restaram
apenas por volta de 15 orixs bem lembrados. Entre eles, Xang.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 60
De olho na Cultura 61
Xang representa o poder do panteo. Ele rei (Ob), dono
da justia. Por isso, associado ao trovo. O trovo assustador
quando mostra sua autoridade. Todos o temem. Seu smbolo o
machado de duas pontas, que representa o equilbrio. Dois lados
aludem idia de ponderao para o julgamento. Quase sempre
anda com os Ibeji, divindades poderosas, gmeas, que represen-
tam a fartura, pois carregam o poder da multiplicao.
Para os orixs, se reza cantando. As danas recontam mito-
logias, as cores utilizadas nos ritos reverenciam ao mesmo tempo
em que integram as foras dos orixs. Do mesmo modo, cada
orix tem uma comida que o representa. Diz-se que sua preferi-
da, por isso lhe oferecida cerimonialmente. O alimento contm
a natureza da divindade, assim como o banho que rene o conhe-
cimento das folhas. Os ritos so modos atravs dos quais se sa-
da e se recebe a fora do orix.
Considerando a leitura do texto:
Organize uma pesquisa sobre o conhecimento das plantas,
a esttica, os significados contidos na culinria, o acervo das can-
tigas, o som dos tambores, a tcnica das danas, enfim, tudo o que
lhe for possvel conhecer sobre a liturgia do candombl.
Faz parte da cultura maranhense a Casa das Minas, de matri-
zes religiosas relacionadas cultura fon africana, cujas divindades
so chamadas de voduns. A tradio matriarcal foi iniciada por Me
Andresa, que coordenou a Casa entre 1914 e 1954. Vizinha a esta,
h a Casa de Nag, tendo como sacerdotisa dirigente Me Dudu,
que a coordenou entre 1967 e 1988. Dentre outros templos que
pontuam uma importante memria sobre a religiosidade afro-bra-
sileira, est a Casa de Fanti-achanti, tambm no Maranho, funda-
da pelo sacerdote conhecido como Pai Euclides, em 1958.
As rememoraes em torno dessas religies necessitam ser
ampliadas a partir das inmeras histrias regionais que possam
revelar uma personalidade, uma estratgia de sobrevivncia da casa,
um rito peculiar, a fora de uma tradio. Encontramos, por exem-
plo, poucas referncias sobre os batuques do sul do Brasil. Toda-
via, existe uma memria mais referida na cultura nacional a res-
peito das origens africanas dos candombls na Bahia.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 61
62 De olho na Cultura
Dicas culturais:
A Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador, foi funda-
da por trs iorubanas, no incio do sculo XIX, originrias da
regio de Ketu que haviam sido escravizadas e trazidas ao Brasil.
Seus nomes eram Iya Adet, Iya Akal e Iya Nass, auxiliadas
por dois homens chamados Bab Assip e Bambox Obitic.
Afora o ltimo, cujo nome de batismo conhecido (Rodolfo
Martins de Andrade) todos os demais so conhecidos apenas
pelos seus ttulo. Iy Nass, segundo Vivaldo da Costa Lima,
no era um nome prprio iorub, mas um ttulo altamente
honorfico restrito corte de Alafin Oy, isto , do rei de todos
os iorubas. Este ttulo estaria ligado a uma funo religiosa espe-
cfica e de alto significado nessa cultura. Preservando o culto aos
orixs, as cantigas, comidas, rezas e preceitos, as trs iorubanas
asseguraram a continuidade desse conhecimento religioso. So-
bre essa presena feminina podemos dizer ainda que pertenciam
Irmandade de Bom Jesus dos Martrios da Igreja da Barroquinha,
no centro histrico de Salvador, nos fundos da qual a Casa Bran-
ca foi fundada. Da Casa Branca saram os fundadores do terreiro
do Gantois e do Ax Op Afonj, localizado em So Gonalo
do Retiro.
A umbanda uma das religies denominadas afro-brasilei-
ras pertencentes ao universo das religiosidades bantu, que so
inmeras e pouco conhecidas no Brasil. Como culto organizado,
surgiu na dcada de 1920. Sua base doutrinria emancipou-se de
prticas influenciadas pela religio esprita kardecista. A presen-
a de espritos africanos desprezados no culto kardecista, parece
ter provocado a derivao.
Babassu, Cabula, Pajelana, Catimb, Xamb, Tor, so
outras denominaes regionais de manifestaes da religiosidade
afro-brasileira, cada qual com caractersticas prprias.
Um ponto de considerao a vitalidade dessas manifesta-
es de religiosidades para serem conhecidas. Outro, a difuso
dessas manifestaes na sociedade. Em mbito nacional, alguns
dos ncleos que propiciam a identidade de um grupo religioso
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 62
De olho na Cultura 63
so mais bem conhecidos do que outros. As expresses regio-
nais so infinitamente maiores do que a produo de conheci-
mento detectada pela pesquisa nas universidades, pelas histrias
nos filmes, na literatura, nas msicas, pode acompanhar e difun-
dir.
As tentativas de estabelecer correspondncias entre origens
de um panteo religioso existente no Brasil e em frica tambm
bastante complexo. H dinamismos, tanto l quanto aqui, pouco
conhecidos. Mas, apesar dos infinitos arranjos tecidos na socieda-
de brasileira, eles resguardam uma identidade africana. O quadro a
seguir traz algumas das referncias mais consolidadas nessa cor-
respondncia. Ele no esgota, mas procura ajudar na localizao
inicial dessas tradies.
O encontro entre o universo religioso cristo, as inmeras
prticas religiosas indgenas, as religiosidades africanas e demais
origens formadoras de campos de religiosidade, apresenta nuances
construdas ao longo da histria brasileira. Mais do que precisar
correspondncias, o importante enfatizar que as crenas que
circulam sobre essas manifestaes devem estar diretamente rela-
cionadas ao respeito da sociedade brasileira para com elas.
A populao afro-brasileira
e suas religiosidades
As pessoas negras podem ter as mais diversas religies. Podem che-
gar ao sacerdcio como ialorixs, babalas, babalorixs, humbonos,
humbondos (denominao jeje), mametos, tatetos, tatas (denomi-
nao congo-angola), mas tambm padres, rabinos, pastores, mon-
ges. Ou podem ter a identidade principal numa religio e se interes-
sar ou ter simpatia por preceitos de outra(s). No entanto, a religio-
sidade caracterizada como afro-brasileira identificada imediata-
mente, em nossa sociedade, com o candombl ou com a umbanda.
Vale ressaltar que, da mesma forma que o cotidiano da populao
negra foi atingido por uma srie de sinais negativos, a vida religio-
sa tambm foi alvo de muita condenao e perseguio.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 63
64 De olho na Cultura
Uma das maiores dificuldades na sociedade brasileira tra-
tar do tema das religies com todas as dimenses que ele mere-
ce: a histrica, a esttica, a filosfica dos preceitos, a teraputica,
a lingstica, a tica. Isto se constitui uma das piores faces da in-
tolerncia que a perseguio religiosa.
A Constituio garante a cada cidado o direito de ter sua
crena, de pratic-la ou, at mesmo. o direito de no ter crena.
preciso lembrar que houve muita luta at esse direito estar garan-
tido. Todos ganham exercitando uma atitude de respeito s mani-
festaes de f, pois entre elas h um circuito cultural de afetividade,
solidariedade e identidade.
Considerando a leitura do texto:
Voc praticante de alguma religio? Hoje em dia, voc pode
pratic-la sem ser condenado por isso?
Os homens e as mulheres que vieram escravizados para o
Brasil trouxeram consigo suas religiosidades, mas, por geraes
seguidas, foram entrando em contato com a religiosidade trazida
da Europa, e outras influncias que, j em frica, aconteciam.
O culto catlico, por exemplo, ofereceu repertrio ao modo
de vida religioso afro-brasileiro. Lembremos que toda a rica e va-
riada ritualstica africana passou por perseguies e excomungaes.
No caso do culto aos orixs, principalmente na Bahia, se conta
que, numa sbia operao, os santos do hagiolgico cristo entra-
ram em ao. Santos e orixs, unidos, abriram caminhos para per-
manecer cultuados. Santa Brbara, na leitura africana, foi reco-
nhecida como Ians, os gmeos S. Cosme e Damio foram reco-
nhecidos como os gmeos ioruba Ibeji, Nosso Senhor do Bonfim,
como Oxal, e assim por diante.
Com a segregao, a separao de igrejas para brancos e para
negros, promovida pelo sistema escravagista, as irmandades cum-
priram inmeras funes, dentre elas a de solidariedade entre os
malungos, isto , irmos. Havia identidades compartilhadas, ape-
sar das origens e das lnguas diversas. Era um espao de solidarie-
dade. Na devoo tambm se garantiu o culto aos mortos e at
mesmo a organizao para o objetivo de alforriar os escravizados.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 64
De olho na Cultura 65
*
As origens aqui direcionadas so apontadas pelas pr-
prias comunidades. Seriam memrias que fundam uma
especfica identidade.
1
Quem informa o dado o pesquisador Vagner Gon-
alves da Silva
Denominao
regional
Regio de concentrao
no Brasil
Origem africana
1
Tambor de Mina Maranho e Par Relacionada aos voduns da etnia
Fon.
Candombl queto Bahia, mas encontrado em
todo o Brasil.
Relacionada ao panteo de
divindades iorubas, os orix.
Elegem a cidade de Queto, ao
norte do Benin como origem.
Candombl Angola Norte, nordeste, sudeste e
sul
Prticas de origem africana
recebem os nomes de inquices.
Umbanda Norte, nordeste, sudeste e
sul
Referidas a uma tradio
genrica bantu; com influncia
catlica, esprita e amerndia.
Xang Pernambuco Os orix so de origem nag.
Batuque Rio Grande do Sul Razes na Costa da Guin e na
Nao Ijex na Nigria.
Catimb Pernambuco, Amazonas,
Par
As origens dos candombls se
fundem com a das religies
indgenas.
Xamb Pernambuco O culto dos orixs trazido por
famlias que habitavam a regio
dos Camares.
Babau Par Baba remete lngua ioruba mas
a origem indgena tambm
referida.Fala-se de Brbara
Suera, do qual o nome teria
derivado.
2
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 65
66 De olho na Cultura
Nas irmandades, um dos princpios era a liberdade conquistada
pela compra da carta de alforria, o que era feito de forma comuni-
tria.
Considerando a leitura do texto:
Nos primrdios do cristianismo, a pregao do Evangelho
deveria reunir todos os povos. O esprito da doutrina era o de
superao das diferenas. Que tal nos inspirarmos nessa prtica
para uma atividade que rena os mais diferentes representantes
das diversas religies na localidade onde voc mora? Faa um le-
vantamento das religies que existem em sua cidade. Elabore car-
tazes, frases para afixar em murais, cartazes com cores simblicas,
prepare comidas representativas. Organize, com seus colegas, uma
reunio ecumnica. Convide os sacerdotes e lderes das diversas
manifestaes religiosas.
Comece a levantar perguntas, entre seus colegas, para serem
dirigidas aos convidados. Uma sugesto comear pela idia de
Deus em cada uma das religies.
O captulo teve como objetivo incrementar o repertrio
para uma reflexo sobre a temtica das religies afro-brasileiras.
Trazer o repertrio religioso para dentro do ambiente escolar
no implica em dogmatizao haja vista as escolas pblicas se-
rem laicas. Mas ou no importante a garantia do direito dessas
religies a estarem presentes como referncia dentro do panora-
ma religioso que existe no pas? A abordagem respeitosa deve
trabalhar formas de superao, da segregao, da perseguio,
da condenao sofrida em tempos pra l de opressores.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 66
De olho na Cultura 67
DE OLHO NA INFNCIA
E O ESPORTE EM JOGO
Assim como o movimento que gira o corpo,
a cabea toca a terra e pe o mundo de ponta cabea.
A inverso da perspectiva altera a percepo da vida
ao redor e cria um ponto de vista.
(a capoeira)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 67
68 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 68
De olho na Cultura 69
O que os brinquedos
esto falando?
Quais as idias que vm mente quando o assunto populao
afro-brasileira? A formao de opinies a esse respeito passa tam-
bm pelos ambientes educativos, atravs das bibliotecas,
videotecas, visitas a museus, leitura de revistas, etc.
Voltemos, por um instante, nossa infncia. Agora vamos to-
mar outra via de conhecimento, aparentemente, muito ingnua: o
acervo de brinquedos e brincadeiras que ficavam nossa disposio.
possvel atestar que fomos uma sociedade daltnica na
oferta de repertrios que trouxessem modelos afro-brasileiros: a
falta de bonecas negras, por exemplo. Quando havia, o mais co-
mum eram as banhadas em tinta que escurecia um padro branco
de beleza. No se criavam modelos a partir de fentipos negros.
Todos sabemos que a histria do mundo no pode estar re-
duzida dos povos de pele e cabelo claros. Para no falarmos ape-
nas de tipos fsicos, que tal lembrarmos da riqueza cultural do pla-
neta? Um dos modos de entrarmos em contato com elas atravs
dos brinquedos e do brincar. Os jogos ldicos auxiliam nas primei-
ras elaboraes sobre a vida. Um brinquedo, uma cantiga, uma figu-
ra de gibi inspiram associaes com modelos de humanidade. Den-
tre os inmeros personagens que habitam nossa infncia, pense-
mos um pouco a respeito da representatividade negra em termos
proporcionais aos de outros personagens. Depois, sobre a abor-
dagem que trazida sobre os personagens negros nesses formatos.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 69
70 De olho na Cultura
Sim, somos todos seres humanos, porm, com histrias par-
ticulares. A da escravido gerou inmeras desigualdades refora-
das culturalmente. Essas desigualdades podem estar mantidas nos
brinquedos que espelham o mundo real. Todos ns necessitamos
de referenciais para construir nossa identidade. O quanto de
positividade que ela contenha faz a diferena ou tanto faz nesse
processo de construo?
Uma educao anti-racista deve, portanto, comear cedo.As
identidades de gnero no comeam na tenra infncia? Os temas
raciais tambm so explorados, negociados enquanto percepo
a partir desse pequeno mundo social. A cultura define modelos e
comportamentos que vo sendo oferecidos ao longo dos ambien-
tes onde a criana experimenta a vida. Como ela lida com tudo isso?
Considerando a leitura do texto:
Passeie por uma loja de brinquedos e procure observar como
os tipos humanos aparecem ali representados.
Como propiciar a uma criana se sentir bem com uma ima-
gem sua semelhana em fatos, em brinquedos, jogos etc? Como
estimular o princpio da diversidade na escolha dos brinquedos?
As duas indagaes sinalizam alguns dos cuidados fundamen-
tais na perspectiva de enxergar mecanismos culturais envolvendo
relaes raciais. No basta apenas circularem bonecas e bonecos
que remetam a estilos afros de ser. H de se atentar para a constru-
o da figura humana. Uma pele cor de pele e no uma grotesca cor
de piche. Que tipo de sentimentos a fisionomia retratada no brin-
quedo provoca? O traje ressalta uma integridade tnica ou mesmo
uma integrao cultura local longe de estereotipias?
Contribuindo para o reconhecimento das identidades afro-
brasileiras surgiram, nos ltimos anos, algumas iniciativas como a
produo cooperativa de bonecas com diversidade tnica, a orga-
nizao de brinquedotecas de bairro, que cuidam de assegurar uma
representatividade positiva. Estas podem ser formas aliadas na am-
pliao de um repertrio mais afetivo para as associaes que o
educando ir fazer. Elas so auxiliares tambm, na conversa sobre
o tema da diversidade com a criana. Podem mediar assuntos en-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 70
De olho na Cultura 71
volvendo violncias simblicas cotidianas presentes na cultura
ou, simplesmente, integrar com positividade o modelo j fruto
de conscincia social.
Pesquisando a cultura:
A cooperativa Abayomi confecciona bonequinhas que utili-
zam o repertrio afro-brasileiro, utilizando o mnimo de ferramen-
tas. Com apenas sobras de panos, no utilizam nem cola, nem cos-
tura. A sede da produo fica no Rio de Janeiro. Voc conhece
outras iniciativas similares? Convide representantes do projeto para
uma entrevista. Aproveite a oportunidade e pesquise materiais para
voc criar um exemplar de brinquedo. Que estilo teria a sua criao?
Brincar de casinha poderia contemplar referncias na origem
africana ou incorporar detalhes de expresses regionais afro-brasilei-
ras. Famlias tnicas de brinquedo espelhariam a afetividade to pre-
sente nas famlias reais. Esse convvio, no apenas vivenciado por
crianas negras, ensina sobre a diversidade que entra pelo corao.
Mensagens que associam os afros maldade, crueldade, sujei-
ra, inferioridade, m criao, estupidez, feira circularam livremente
por geraes e geraes de brasileiros. Como frmulas sutis do en-
sinar o racismo, promoveram um ataque psicolgico violento. Po-
rm, os brinquedos no devem promover e reproduzir o racismo.
cones como a boneca Barbie emergiram da sociedade nor-
te-americana nos anos 50, era loira, magra e rica. O modelo ideal
ganhou um namorado formando um par ideal para a cultura, que,
embora americana, virou sonho exportado globalmente. A partir
dos anos 80, a boneca passou a aparecer diversificada na sua ves-
timenta, com indumentria principalmente dirigida ao pblico
oriental. A Barbie negra apareceu em 1990. A forma alterou o tom
da pele mantendo os traos do fentipo branco. Recebeu cabelos
lisos coloridos (brancos, vermelhos) e muitos turbantes. O pacote
Barbie trazia implcito um modelo materialista e consumista de
ser. O caso clssico para observarmos a relao entre valores
sociais e brinquedos.
Outra forma de garantir desigualdades atravs das brinca-
deiras.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 71
72 De olho na Cultura
Brincadeiras sem constrangimentos
No h nada pior para uma criana do que ser constrangida numa
situao de interao social. Em sociedades onde se trabalha
pouco a superao dos preconceitos, as formas de opresso agem
no cotidiano. Pesquisas tm demonstrado que as crianas de mi-
norias tnicas sofrem muitas formas de prejuzo na sociedade
brasileira. Azoilda Loretto, por exemplo, elenca uma srie de si-
tuaes que so palcos para as discriminaes sociais:
Situao 1. apelidos: a cor, o cabelo sempre como piada;
Situao 2. impedimentos na hora da seleo para alguns
papis sociais;
Situao 3. o amiguinho de escola se recusa a fazer par numa
festa junina;
Situao 4. expresses racistas como samba do crioulo doi-
do, nega maluca, etc;
Estas so algumas das experincias recorrentes que pode-
mos relacionar histria de vida de muitos afro-brasileiros. Todas
elas favorecem a emergncia do racismo.
As questes de comportamento podem parecer to natu-
rais, ao mesmo tempo em que anulam a percepo dos efeitos
psicolgicos sobre os que sofrem a recusa, os que agentam o
apelido e as expresses depreciativas.
Quando uma pessoa passa a ser importante para algum,
quando se passa a prestar ateno e valorizar a sua condio de ser
humano .Quando se finge no ver uma situao de violncia ou se
banaliza o fato de ser uma brincadeira, mesmo que inconseqen-
te, o que est em jogo o valor posto em quem sofre a agresso.
Pensando na infncia dos afro-brasileiros, um ambiente me-
nos estressante destaca a majestade das culturas negras, o que in-
clui as africanas. Cabelos afro fazem moda, as msicas de origem
negra so admiradas, personalidades negras so reverenciadas, e
todas as fricas positivas passam a constituir referncias, perso-
nalidades, etc... A mdio e a longo prazo a criana assim formada
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 72
De olho na Cultura 73
ter um capital afetivo, ou seja, ir gostar de ser e ir gostar das
pessoas afro-brasileiras.
Vamos pensar agora, numa dimenso mais ampla: a expres-
so cultural de uma coletividade numa determinada poca. As can-
tigas que nos fizeram ninar tocam a memria de um tempo. Do-
ces sonoridades a cujas letras no prestamos ateno. No entanto,
elas foram produzidas num determinado momento histrico. Nana
nenm que a cuca vem pegar; ou boi, boi, boi, boi da cara preta, pega essa
criana que tem medo de careta so construes de um tempo em que
a ameaa imperava. Quem ter sido o compositor das melodias?
Perdidas no tempo, embalaram e ainda embalam as crianas brasi-
leiras. Mas pensar na cultura da poca em que foram geradas, pos-
sivelmente cantadas pelos ancestrais afro-brasileiros, requer a re-
cordao do ambiente sdico ameaador desse passado.
O que chamamos de ambiente cultural est refletido nos
cancioneiros para as crianas. Observemos um exemplo:
Pai Francisco entrou na roda
Tocando o seu violo
Birim-bo bo bo, Birim-bo bo bo!
Vem de l Seu Delegado
E Pai Francisco foi pra priso.
Como ele vem todo requebrado
Parece um boneco desengonado.
Uma figura que entra na roda. Que roda essa? O persona-
gem se integra ao grupo tocando violo. E por que isso conde-
nvel ao ponto de o delegado lev-lo para a priso? Imediatamen-
te, a compreenso dos versos nos remete ao tempo em que se
reunir para cantar e tocar era proibido. Qualquer cantor e qual-
quer msica eram proibidos? As rodas de capoeira, as rodas de
samba, as rodas de religiosidade africana. Estas eram as proibi-
das. O pai Francisco requebra o samba ou, talvez, jogue a capoeira
de gestos difceis de acompanhar, portanto, desengonados, a partir
de um olhar depreciativo.
Um tempo de represso populao negra um tema para
pesquisa. Mas, quando imaginaramos a presena de elementos de
represso em uma cantiga to ingnua?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 73
74 De olho na Cultura
Mais explicitamente agressora, do ponto de vista simbli-
co, a brincadeira:
Barra-manteiga
Na fua da nega
Minha me mandou bater nessa daqui
1, 2, 3
Quem tem fua? A presena do elemento de desumanizao
ao associar o ser humano com fua.. Coitada da personagem que
recebe manteiga nas faces e deve apanhar porque a me da outra
personagem mandou que ela batesse. Naturalmente, nesse con-
texto, a personagem que vai bater no a negra .
So mensagens semelhantes a essa que passam a pertencer
ao imaginrio social. Ao menos, se faz necessrio trazer alguns
desses elementos para o nivel do consciente ou, ento, equilibrar
com a presena de um repertrio afetivamente mais bem cuidado
esse universo infantil. a sociedade que decide pela permanncia
ou pela eliminao de esteretipos que, atravs das brincadeiras,
possam se manter ou serem ressignificados.
Escravos de j
Jogavam caxang
Tira, pe, deixa ficar
Guerreiros, com guerreiros
Fazem zig, zig, zag
Como seria esse jogo Caxang na habilidade dos escravizados?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 74
De olho na Cultura 75
Literatura infantil, desenho animado,
programas infantis
A Psicanlise j folheou as pginas da literatura produzida para
crianas. Os profundos conflitos psquicos aparecem nas perso-
nagens em chaves emocionais como abandono, perda, competi-
tividade, autonomia, etc. Lembremos que a obra literria dirigida
a esse pblico transmite mensagens no apenas atravs do texto
escrito. As ilustraes, sobretudo, constrem enredos sobre pro-
tagonistas, personagens secundrios e cenrios.
E se pensarmos nesse universo literrio imaginado pela cria-
o humana, como um espelho onde o leitor se reconhece nos mo-
delos de personagens, ambientes, emoes? Procure olhar para a
presena negra nessas produes. O que h de positivo e negativo?
No processo de constituir-se sujeito leitor, a criana gosta de uns e
desgosta de outros personagem, forma opinies a respeito daquele
tipo humano e dos cenrios carregados de crenas e valores.
Nessa dimenso, a literatura , portanto, um espao de repre-
sentao de enredos e lgicas, onde, ao me representar, eu me crio
e ao me criar eu me repito, isto , dissemino e perpetuo percepes.
Considerando a leitura do texto:
Procure algumas das tipologias negras que circulam na literatu-
ra infanto-juvenil a seu dispor. Podemos consider-las expressivas das
relaes raciais a partir do que aparece nesse mundo dos livros? Veri-
fique a construo ideolgica do corpo, as vestimentas, a hierarquia
com relao aos demais personagens no-negros, a fala,a religio,
asconcepes de civilizao envolvidas, raciologias, associaes com
a frica, enfim, os cdigos embutidos nos textos e nas imagens.
Procure um desenho animado produzido para crianas e
baseado em uma narrativa africana.
Assista a programas de televiso. Passe uma semana sintoni-
zando a programao dirigida s crianas em um ou vrios canais.
Levante nos elementos visuais, o que circula como associa-
es aos afro-brasileiros.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 75
76 De olho na Cultura
Estudo sobre a relao entre televiso e criana vem detectan-
do a exposio a valores globalizantes em detrimento dos regionais.
As imagens nas telas so espelhos para a formao de identidades.
Intelectuais negros da frica do Sul, por exemplo, ao discuti-
rem sobre a televiso chamam a ateno para uma srie de
invisibilidades que caracterizaram a dominao pelos regimes racistas
que governaram o pas. Mais do que isso, levantam alguns princpios
que devem ser televalorizados. Um deles utiliza o termo umbuntu,
palavra africana que significa eu vivo atravs de voc. Tomar conta
do outro sem qualquer expectativa de retribuio um valor que per-
passa muitos aspectos da vida africana e que no pode ser esquecido
na orientao para uma identidade da televiso sul africana.
No Brasil, a presena de personagens bem construdos no
seriado R Tim Bum, exibido a partir de 1995, desenvolveu um
cuidado, at hoje, exemplar. Naquele universo de fantasia, mas
com intenes educativas, a parcela afro-brasileira esteve sempre
representada atravs de seus protagonistas. Porm, o exemplo, ape-
sar de sua fora, uma raridade no conjunto da programao
dirigida s crianas brasileiras.
Outro fenmeno de sucesso o desenho animado Kiriku e a
feiticeira, uma produo dirigida pelo francs Michel Ocelt, que pri-
ma pela construo das figuras que remetem a uma frica imagin-
ria. At ento, casos como O Rei Leo, uma superproduo Disney
no haviam demonstrado a menor preocupao com a humanida-
de africana, aparentemente central no repertrio. Ao contrrio, os
lees remetem a figuras loiras do pai e seu filhote loirinho, morenas
de cabelo liso como o irmo malvado que incorpora trejeitos gays.
Em Kiriku, o corpo africano altivo, no imbecilizado. A narrati-
va, ainda que seja uma adaptao, conserva outro princpio impor-
tante que pode ser recolhido em algumas fricas: a no polarizao
da natureza em bem e mal apenas. um avano como material
disponvel, embora caiba ainda chamar a ateno para a orientalizao
do heri principal que, pelo gestual, lembra a figura de um Buda.
O cinema, a televiso, a literatura, o teatro, a internet, etc.
precisam ainda integrar com qualidade os afro-brasileiros e sua
riqueza cultural, retratando-os em suas multifaces e nas variadas
situaes e papis sociais que vivenciam no cotidiano deste pas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 76
De olho na Cultura 77
Goooooooooooooooooool!
Diz-se que nasce craque no Brasil como as palmeiras que do
coco com gua fresca. O futebol, mais do que a alegria do povo,
marca a identidade do pas.
Brasil? Ah! Pel.
Vrios jogadores brasileiros continuaram a ser reconheci-
dos como os melhores do mundo. Porm, a partida mais difcil,
quando se focaliza esta modalidade de esporte como campo da
cultura, tem sido o jogo contra o racismo e a discriminao. Volte-
mos aos primeiros placares.
O futebol foi criado na Inglaterra em 1863, mas s chegou
ao Brasil, com os ingleses, por volta do ano de 1894. Nos primei-
ros campeonatos, realizados em clubes e colgios de elite, s joga-
vam brancos. A novidade importada, no entanto, logo se popula-
rizou. Na estruturao dos primeiros campeonatos cariocas, j em
1906, surgiu o nome do goleiro negro Manoel Maia. O time era o
Bangu, criado por operrios ingleses da Fbrica de Tecidos Bangu,
pertencente Companhia Industrial Progresso do Brasil. O joga-
dor era tecelo da equipe, que se une a outras para fundar a Liga
Metropolitana. Todavia, a Liga decide, a partir de maio de 1907,
com unanimidade dos votos, proibir o registro de atletas negros.
Alguns anos depois, sai no Dirio Oficial de 20 de dezem-
bro de 1917, o artigo da Lei do Amadorismo que recorre ao mes-
mo expediente.
Houve o caso do jogador Luiz Antnio da Guia, que atuou
no clube entre 1912 e 1931 e chegou seleo carioca, mas nunca
foi convocado para a seleo brasileira, por ser negro. Somente
em 1924, alguns times comeam a abandonar a Liga e a admitir
jogadores negros.
Considerando a leitura do texto:
Cada cidade possui uma histria singular da presena afro-
brasileira no futebol. Qual a da sua cidade, do seu bairro, da sua
rua?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 77
78 De olho na Cultura
Dicas culturais:
Voc sabia que, h mais ou menos 80 anos, os jogadores
negros usavam toucas para esconder o cabelo crespo e usavam
p-de-arroz para clarear a pele? Sabe por qu? S dessa forma
seriam acolhidos em times de futebol que no aceitavam negros.
O Fluminense, por exemplo, era conhecido como p-de-arroz,
exatamente por esse motivo.
No sculo XXI j temos at seleo feminina de futebol. As
mulheres superaram machismos.
A carioca Delma Gonalves, conhecida como Pretinha, a
estrela da seleo brasileira de futebol feminino, medalha de pra-
ta, nas Olimpadas de 2004.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 78
De olho na Cultura 79
A ginga
A capoeira, como metfora, acompanha a histria que queremos
contar. Ela negra. Assim como o movimento que gira o corpo,
fazendo a cabea tocar a terra e pondo o mundo de ponta-cabe-
a. A inverso da perspectiva altera a percepo da vida ao re-
dor e cria um novo ponto de vista. O giro cria uma roda, a roda
gera uma fora. No centro h um olho.
O carter ldico da capoeira, parecendo um jogo, uma brin-
cadeira, uma dana, na verdade uma luta , uma sabedoria lapidada
na e pela cultura. O treino da habilidade acrescentou os sons dos
berimbaus e a criao de melodias e cantigas que reuniam os heris
dessa dramatizao encantadora para uns e assustadora para outros.
Pesquisando a cultura
A prtica da capoeira foi proibida no territrio nacional logo
aps a assinatura da Abolio, perdurando como ilegalidade at 1932.
Pesquise sobre alguns dos motivos envolvidos nessa deciso.
Mestre Bimba, na dcada de 1930, na Bahia, trabalhou para
que a capoeira fosse reconhecida como uma modalidade de des-
porto. Seu nome est associado Capoeira Regional.
Mestre Pastinha, tambm na Bahia, procurou refletir sobre
os princpios e valores importantes para a formao do capoeirista,
deixando suas idias registradas em livro. Seu nome est associado
Capoeira Angola.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 79
80 De olho na Cultura
Das ruas para as academias
No ano de 2004, o municpio de So Paulo sancionou a Lei 13.774/
04, que instituiu a Semana da Capoeira, referida como manifesta-
o primordial da cultura afro-brasileira. Alm do carter cultural,
a lei contribui para incentivar a prtica do jogo entre os jovens,
como alternativa de lazer e esporte. A oportunidade tambm faci-
lita a comunicao de mestres e associaes que se organizam para
enfrentar a massificao dessa manifestao cultural.
At essa data existiam cerca de quatro mil academias de ca-
poeira registradas na cidade. As inmeras adaptaes introduzidas
nesses recintos fechados geraram a necessidade de defesa da capo-
eira, para que seus princpios no fossem desvirtuados.
Considerando a leitura do texto
O que voc conhece sobre a capoeira em sua cidade?
A capoeira era um instrumento de defesa dos escravizados
contra os feitores e capites-do-mato, uma vez que aqueles no
dispunham de armas suficientes para um enfrentamento, a no
ser o prprio corpo. Atualmente, em quase todas as iniciativas que
giram em torno da expanso de cidadania, encontramos a capoei-
ra como uma ferramenta de socializao, afastando jovens da cri-
minalidade. Esta tendncia um resgate cultural que valoriza o
carter libertrio e o esprito construtivo dessa prtica.
Considerando a leitura do texto:
Faa uma pesquisa na internet em sites que tratam do tema
capoeira.
Relacione filmes que trazem a capoeira como tema integrante
das histrias que narram.
Organize uma roda com os amigo(a)s e descubra que canti-
gas de capoeira so conhecidas no seu ambiente social.
Descubra as diferenas de estilos da capoeira: visite acade-
mias, converse com capoeiristas.
Organize uma apresentao com todos os seus conhecidos
que jogam capoeira.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 80
De olho na Cultura 81
O corpo e a mente
Outro aspecto que podemos lembrar quando o assunto espor-
te e populao afro-brasileira a diviso mente-corpo. A cultura
escravista deixou como marca a distino entre atividades inte-
lectuais e braais, de acordo com o que a sociedade dividida. A
populao afro-brasileira quase sempre est associada aos esportes
ou profisses distantes das ocupaes intelectuais. Esta repre-
sentao enfatiza o corpo em detrimento do intelecto, o que pode
levar naturalizao das desigualdades sociais.
O fato de as profisses mais braais serem exercidas, em
grande parte, pela populao afro-brasileira pode ter como causa
a pouca preocupao do Estado brasileiro com um ensino de ex-
celncia para os descendentes da histria da escravido.
Outro movimento que complementa essa mesma lgica cul-
tural o processo de branquear as excees que ultrapassam a
linha delimitadora. Foi assim com Machado de Assis, cujas foto-
grafias selecionadas para a memria oficial procuraram clare-lo
nas feies.
Este captulo procurou chamar a ateno para alguns as-
pectos bons para pensar quando o assunto esporte e a produ-
o cultural dirigida s crianas. Nosso objetivo estimular a bus-
ca de referenciais afro-brasileiros nessas duas reas da cultura na-
cional.
Considerando a leitura do texto:
Levante o nome de homens e mulheres afro-brasileiros que
se tornaram conhecidos por sua atuao no campo das cincias.
Analise criticamente os resultados.
Agora procure os nomes de esportistas afro-brasileiros que
praticam tnis, golfe, natao, frmula 1, boxe, ciclismo, arco-e-
flecha, pingue-pongue, hipismo, atletismo, etc. Relacione os da-
dos com a primeira proposta.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 81
82 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 82
De olho na Cultura 83
MEMRIAS CORPORAIS
AFRO-BRASILEIRAS
Candombe
Ningum tinha liberdade, que era tempo da escravido.
O povo era s trabai. Ento Nossa Senhora do Rosrio
apareceu l nas gua (vou completar ainda).
Os rico foi pra tir ela, com banda de msica, e tal;
ela num quis. Quando o padre foi celebr missa [...]
ela s mexeu um mucadim mas paro.
Os nego pegaro seus tamb [...]
foro bateno os tamb [...],
ela vei vino devagarzim at que cheg na berada [...].
Ento fico seno o tamb sagrado, o Candome.
E ele tir ela. Num tamb ela vei sentada, igual and [...].
(Geraldo Artur Camilo,
patriarca da Comunidade Negra dos Arturos,
em Contagem-MG)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 83
84 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 84
De olho na Cultura 85
Oralidade e corporalidade
afro-brasileira
A tradio oral guardi da histria e da memria entre muitos
povos africanos, sendo preservada, principalmente, por homens
sbios, que foram e so responsveis por manter a memria viva
dos fatos e feitos de seus antepassados. So poetas, msicos, dan-
arinos, conselheiros. Por isso, so denominados, de modo geral,
como contadores de histrias.
Em muitas culturas de origem africana, o visvel constitui
manifestao do invisvel, por isso, pode haver uma energia viva
nas pedras, nas folhas, nos rios, nos fenmenos temporais, nos
animais, nos alimentos, dos quais emana uma fora vital. Entre as
civilizaes bantu, essa energia pode receber a denominao de
hamba. J para o povo iorub ela denominada ax. O fundamen-
tal que essa fora pode ser aumentada, diminuda, transformada
ou realimentada. Por exemplo, a morte vista como transferncia
de energia, uma vez que essa fora no acaba.
As pedras e as rvores no so adoradas porque so pedras
e rvores, mas porque so sagradas. Elas so acrescidas de signifi-
cados simblicos, isto , quando um objeto ou acontecimento
visto como sagrado, ele permanece o mesmo, mas passa a ser e
possuir uma outra fora.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 85
86 De olho na Cultura
Essa interao envolve os reinos mineral, vegetal e animal e
o mundo sobrenatural. Tudo se inter-relaciona, pois o espao co-
tidiano dialoga com o espao sagrado. Do mesmo modo, o uni-
verso possui duas dimenses, uma o mundo onde vivemos e a
outra onde habitam as foras dos ancestrais. As oferendas so
compreendidas nesse contexto como uma das maneiras de esta-
belecer a comunicao entre as dimenses e obter a fora dos
antepassados.
Todos ns temos alguma relao simblica com os obje-
tos, que se tornam algo muito especial talism ou amuleto e
passam a fazer parte da nossa histria. Vasculhe a sua memria e
resgate algo que seja significativo para voc.
Outro aspecto importante nessa relao visvel-invisvel o
fato de ela ser comunicada e registrada por meio da palavra falada.
O poder da palavra garante e preserva o ensinamento, uma vez
que ela possui uma energia vital, com capacidade transformadora
do mundo.
Conforme citado no captulo sobre identidade, existe uma
figura que representa o poder da palavra: o griot. Ele tem enorme
credibilidade, pois instrui os governantes na histria de seus ante-
cessores e cria, com pompa, uma atmosfera para o relato que con-
duz. Utilizando a sabedoria e os privilgios da casta a que perten-
ce, que a dos msicos, exerce seu ofcio de ser a memria de
personagens e famlias, sobretudo as reais. Sua presena marcante
por toda a frica Ocidental, com destaque para o Mali e toda a
regio da Senegmbia.
Senegmbia um termo proposto por intelectuais africanos
que investigam o problema do processo de formao de novas
identidades, a partir das fronteiras que definiram os Estados afri-
canos. A delimitao das fronteiras do noroeste da frica, duran-
te a colonizao europia, envolveu, principalmente, seis pases
Senegal, Gmbia, Guin-Bissau, parte da Mauritnia, Mali e
Guin Conakry tendo em vista a organizao de uma regio
poltica e economicamente redefinida por alianas culturais.
Os Dieli armazenam sculos e mais sculos de segredos,
crenas, costumes, lendas e lies sbias de vida, sem recorrer ao
registro escrito, valendo-se da memorizao. Entre os guardies
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 86
De olho na Cultura 87
de histrias coletivas h uma categoria menos profana, a dos Doma,
respeitados como os mais nobres guardies da palavra, por meio
da qual criam a harmonia e reordenam a vida em sociedade. Eles
no podem estragar sua palavra com a mentira. da palavra que
vem o poder. A palavra carrega uma fora e, por isso, ignorar
aquilo que pronunciado e verdadeiro cometer uma falha grave,
que pode ser comparada ao ato de tirar uma parte de nosso corpo,
o que nos faria perder a vida ou uma parte de ns.
A tradio oral pode ser vista como um reservatrio de
frmulas de conhecimento que auxilia o homem a se integrar no
tempo e no espao. Ela no pode ser esquecida ou desconsiderada.
Sendo assim, o ser humano um ser de palavra, sua voz e sua fala
tm que ser respeitadas e a palavra no pode ser usada para ferir a
dignidade humana. A oralidade uma forma de registro, preserva-
o e transmisso dos conhecimentos to (ou mais) complexa que
a escrita, pois emprega vrios modos de expresso, tais como
corporalidade, musicalidade, gestos, narrativas, danas, etc.
nessa perspectiva, talvez incomum para algumas pessoas,
que as atividades deste bloco devem ser realizadas, a fim de refletir
significados e conhecimentos culturais que faam parte dos sabe-
res afro-brasileiros, at ento desvalorizados ou ignorados em es-
paos educativos e profissionais.
Vale salientar que parte dos africanos passou a conviver com
a oralidade e tambm com a escrita surgida no continente, no Egito
antigo. Tal surgimento, que data de cerca de cinco mil anos A.C, se
deu por meio da escrita hieroglfica. Para alguns historiadores, esse
fato marca a passagem da pr-histria para o incio da histria.
Hoje ns temos a escrita como forma de apontamento de
nossas memrias, mas ela no a nica forma de registrar os co-
nhecimentos. A oralidade serviu para preservar as manifestaes
culturais africanas no Brasil. Sendo assim, a influncia negra na
tradio musical brasileira, a capoeira, as formas de resistncia, as
religies de matriz africana e outras manifestaes culturais de
diversos grupos tnicos foram passadas de gerao em gerao,
at chegarem aos dias atuais.
A tradio oral, no universo africano e afro-brasileiro, reve-
la uma dimenso criadora e ancestral, uma vez que os costumes,
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 87
88 De olho na Cultura
os valores e a memria so revividos, por exemplo, em cada can-
tiga, dana, ritual e narrativas que expressam nossas marcas cultu-
rais Como j afirmado, a palavra um elemento primordial para a
composio das relaes individuais e grupais.
Os africanos que foram escravizados no Brasil trouxeram
consigo seus rituais de celebrao, seus valores, suas linguagens, suas
religies, seus costumes. Trouxeram tambm suas vestimentas, pen-
teados, temperos, canes, danas, folhas, tambores, as tcnicas no
campo da agricultura, da metalurgia, da pesca, dentre outros.
Geografia da memria
possvel percorrer espaos, gentes, vozes, imagens, pocas etc,
para realizar um mapeamento ou geografia da nossa memria an-
cestral afro-brasileira? Para isso, pare, sinta, oua e reflita a
respeito.Faa isso por meio das histrias contadas por quem con-
vive com voc, pelas festas, msicas, danas e fotografias.
Enquanto na frica destaca-se a figura masculina como con-
tadora de histrias, no Brasil, de modo geral, destaca-se a mulher
negra como guardi da memria: ela quem conta histrias para
dormir, para educar, para trabalhar, para reverenciar a memria
dos ancestrais e para festejar. Podemos identificar alguns desses
aspectos nos textos a seguir:
Texto A
Vov Brandina
Caxinguel - Lep Correia
T a, vov Brandina
Meus filhos, meus pais, teus netos
T a, negra velha minha,
Bisav, dos meus poemas
Me do parir deste canto
Negro e belo que teu par.
Conta histrias do engenho
Da moenda, do cercado
Do chicote e homens bravos
Da pele ebanificada....
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 88
De olho na Cultura 89
Texto B
Bab Alapal
Gilberto Gil
Aganj
Xang
Alapal, alapal
Alapal
Xang
Aganj
O filho perguntou pro pai
Onde que t meu av
O meu av
Onde que t
O pai perguntou pro av
Onde que t meu bisav
Meu bisav onde que t
Av perguntou bisav
Onde que tatarav
Tatarav onde que t
Tatarav,
Bisav
Av
Pai Xang, Aganj
Viva
Egum
Bab
Alapal
Aganj
Xang
Alapal, alapal
Alapal
Xang
Aganj
Alapal egum
Esprito elevado ao cu
Machado alado
Asas do anjo de aganj
Alapal egum
Esprito elevado ao cu
Machado astral
Caxinguel - Lep Correia (Edio do autor, 1993).
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 89
90 De olho na Cultura
Ancestral do metal
Do ferro natural
Do corpo embalsamado
Preservando em blsamo sagrado
Corpo eterno e nobre
De um rei nag
Xang
Construindo saberes culturais
a) Releia os textos. Qual deles faz referncia a um perodo
especfico da histria da populao negra no Brasil? Qual
deles faz referncia cultura africana, especificamente a
que povo?
b) possvel identificar uma referncia ancestralidade?
Explique e exemplifique.
c) Investigue quem a pessoa negra mais antiga do bairro
ou da comunidade prxima. Se possvel, grave uma en-
trevista com ela. Para isso, prepare um roteiro sobre as
questes a serem feitas.
d) O que a cultura africana tem a ver com metal, com ferro,
ou seja, com a metalurgia?
e) Quais as marcas de oralidade presentes nos textos?
(Gilberto Gil, Refavela, 1994)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 90
De olho na Cultura 91
Oralidade e corpo em ao
A composio a seguir, intitulada Olodumar, de autoria de An-
tonio Nbrega e Wilson Freire, pesquisadores nordestinos de
cultura popular (CD Madeira que cupim no ri - Na pancada do Ganz
II, 1997). Olodumar o Ser Supremo (criador) do panteo
ioruba.
Voc j deve ter ouvido falar em alguma ladainha, ouviu
cnticos de procisso ou algo semelhante. Mantenha essa melodia
na memria ao ler o texto a seguir. Se no conseguir, leia devagar,
criando um ritmo que marque a ltima palavra de cada linha, de-
pois transporte esse ritmo, criando um movimento corporal.
Se possvel oua a msica.
Olodumar
Vou-me embora dessa terra...
Olodumar...
Para outra terra eu vou...
Olodumar...
Sei que aqui eu sou querido...
Olodumar...
Mas no sei se l eu sou...
Olodumar...
O que eu tenho pra levar...
Olodumar...
a saudade desse cho...
Olodumar...
Minha fora, meu batuque...
Olodumar...
Heranas da minha Nao...
Ainda me lembro
do terror da agonia,
como um louco eu corria
para poder escapar.
E num poro
De um navio, dia e noite,
Fome e sede e o aoite
Conheci, posso contar.
Que o destino
Quase sempre foi a morte,
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 91
92 De olho na Cultura
Muitos s tiveram a sorte
da mortalha ser o mar.
Na nova terra
Novos povos, novas lnguas,
Pelourinho, dor, mngua
Nunca mais pude voltar.
E mesmo escravo
Nas caldeiras das usinas,
Nas senzalas e nas minas
Nova raa fiz brotar.
Hoje, essa terra
Tem meu cheiro, minha cor,
O meu sangue, meu tambor,
Minha saga pra lembrar
Ampliando saberes:
Em grupo, faa um levantamento da memria da sua Cida-
de ou Estado sobre a presena da populao negra.
a) busque elementos (fotos, quadros, ilustraes, histrias,
cantigas antigas, reportagens, vdeos, sites etc) que evi-
denciem a cultura negra em sua regio;
b) procure e identifique a presena feminina negra na me-
mria da sua Cidade/Estado (no campo poltico, educa-
cional, histrico, artstico, religioso, cultural etc);
c) pesquise e colete cantigas antigas que retratem as tradi-
es e os costumes da populao negra;
d) Com base na msica Olodumar e nas reflexes realizadas,
diga qual a importncia da oralidade, da musicalidade e
dos gestos corporais para a memria afro-brasileira.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 92
De olho na Cultura 93
Oralidade, som e gesto
como forma de comunicao
O texto a seguir exige uma ateno maior. Leia-o individualmen-
te. Grife as partes que lhe chamam a ateno. Escreva o que voc
entendeu e discuta com seus colegas. O objetivo da leitura ob-
ter informaes a respeito da oralidade e corporeidade como
smbolos ou significados de algumas manifestaes culturais ou
religiosas. Trata-se de uma seleo de algumas partes do texto A
Oralitura da Memria da pesquisadora Leda Maria Martins, pu-
blicado no livro Brasil Afro-brasileiro (Autntica, 2001)
1
.
Nesse texto, a autora faz uma reflexo sobre a performance
do corpo grafado no tempo e na memria, atravs das manifesta-
es dos Reinados e dos Congados (manifestaes presentes na
regio sudeste do pas: Minas Gerais, Esprito Santo, So Paulo).
Segundo Leda Martins, os Reinados ou Congados so um
sistema religioso que se institui no mbito da religio catlica, vei-
culados por cerimnias festivas e por celebraes que gravitam
em torno de Nossa Senhora do Rosrio, So Benedito, Santa
Efignia e Nossa Senhora das Mercs. Os rituais dessas manifes-
taes, concretizados por meio de uma estrutura simblica e
litrgica complexa, incluem a participao de grupos distintos,
denominados guardas, e a instaurao de um imprio negro, no
mbito do qual autos e danas dramticas, coroao de reis e rai-
nhas, embaixadas, atos litrgicos cerimoniais e cnicos criam uma
performance mitopotica que reinterpreta as travessias dos ne-
gros da frica s Amricas.
Essa recriao dos vestgios e reminiscncias de uma orga-
nizao social ancestral remete ao papel e funo do poder real
nas sociedades africanas transplantadas para as Amricas. O
aforisma Kicongo MaKwenda! MaKwisa!, O que se passa agora,
retornar depois, traduz com sabor a idia de que o que flui no movimen-
to cclico permanecer no movimento.
Esse sistema de pensamento configura o sujeito como uma
parte do cosmos; um dos anis de um dnamo temporal curvilneo
que produz um movimento simultaneamente retrospectivo e
1
A obra foi organizada pela pesquisadora, professora
e militante do movimento negro de Salvador Maria
Nazareth S. Fonseca.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 93
94 De olho na Cultura
prospectivo, vertical e horizontal, circunscrevendo ainda no mes-
mo mbito o tempo e o espao como imagens reciprocamente
espelhadas. Nessa sincronia, o passado pode ser definido como o
lugar de um saber e de uma experincia acumulativos, que habi-
tam o presente e o futuro, sendo tambm por eles habitado.
A mediao dos ancestrais, manifesta nos Congados pela
fora dos candombls (os tambores sagrados), a chave-mestra
dos ritos e dela que advm a potncia da palavra vocalizada e do
gesto corporal, instrumentos de inscrio e de retransmisso do
legado ancestral. Na performance ritual, o congadeiro, simultane-
amente, espelha-se nos rastros vincados pelos antepassados,
reificando-se, mas deles tambm se distancia, imprimindo, como
na improvisao meldica, seus prprios tons e pegadas.
Nos rituais, cada repetio em certa medida original, as-
sim como, ao mesmo tempo, nunca totalmente nova. Esse pro-
cesso pendular entre a tradio e a sua transmisso institui um
movimento curvilneo, reativador e prospectivo que integra sin-
cronicamente, na atualidade do ato performado, o presente do
pretrito e do futuro.
O corpo em performance restaura, expressa e, simultanea-
mente, produz esse conhecimento, grafado na memria do gesto.
Performar, neste sentido, significa repetir, transcriando, revisando.
Ao restaurada aquilo que pode ser repetido e recriado. A persis-
tncia da memria coletiva atravs de uma ao restaurada repre-
senta uma forma de conhecimento potencialmente alternativa e
contestatria conhecimento corporal, hbito, costume.
A memria dos saberes dissemina-se por inmeros atos de
desempenho, um mais alm do registro gravado pela letra alfab-
tica. Por via da performance corporal movimentos, gestos, dan-
as, prticas performticas, cerimnias de celebrao e rituais a
memria seletiva do conhecimento prvio instituda e mantida
nos mbitos social e cultural.
Na performance dos congados, a palavra, articulada atravs
de vogais, ressoa como efeito de uma linguagem pulsional do cor-
po, inscrevendo o sujeito emissor num determinado circuito de ex-
presso, potncia e poder. Como sopro, hbito, dico e aconteci-
mento, a palavra proferida grafa-se na performance do corpo, lugar
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 94
De olho na Cultura 95
da sabedoria. Por isso, a palavra, ndice do saber, no se petrifica
num depsito ou arquivo imvel, mas concebida cineticamente.
Como tal, a palavra ecoa na corporeidade, ressoando como
voz cantante e danante, numa relao expressiva que se faz entre
os vivos, os ancestrais e os que ainda vo nascer.
Nos congados a adequao dos gestos e do canto funda-
mental: h cantos especficos para caminhadas, levantamento de
mastros, saudaes, evocaes, cruzamentos, passagens de portas
e intersees. assim, para cada situao, pois a eficcia da pala-
vra e seu poder de realizao gestual dependem da propriedade de
sua execuo. Da a natureza divina da voz e o poder sobrenatural
do corpo nas religies afro-brasileiras ressoarem a africanidade.
A partir das informaes do texto, notamos que um trao
marcante herdado da cultura africana, no Brasil, a forma de com-
preender, representar e interpretar a vida o estar no mundo a
partir de uma ntima e harmnica interao entre corpo, som, fala
e gesto, na qual esses elementos estabelecem uma relao de
complementaridade. nesse contexto que devemos compreen-
der a noo de performance que permeia o texto.
Roda de compreenso:
Pense em outras manifestaes religiosas e culturais em que os
gestos corporais constituam aspecto fundamental. Talvez em seu
curso ou entidade haja pessoas de vrias regies que podem tro-
car idias sobre isso.
Identifique, atravs de pesquisa, um ponto do territrio bra-
sileiro onde a presena negra seja pouco conhecida e divulgada
oficialmente. Procure conhecer a realidade do norte ao sul do pas
no que se refere s manifestaes religiosas e/ou culturais negras
ou com forte influncia negra e perceba como a tradio oral e os
gestos corporais esto intimamente imbricados.
Busque compreender como as relaes entre corporalidade
e oralidade foram e so uma forma inteligente que comunidades
negras utilizaram para manter seus conhecimentos, sua cultura e
sua ancestralidade. Procure obter mais informaes sobre o tema.
Voc pode utilizar como ponto de partida para sua pesquisa:
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 95
96 De olho na Cultura
1. O Cacumbi, manifestao da regio sul do pas, tpica do
Estado de Santa Catarina; Toque de Orocongo, Fandango
em Porto Alegre;
2. As Congadas, Samba e Samba de Roda, Jongo na regio
sudeste;
3. O Maracatu em Pernambuco; A Lavagem do Bonfim, na
Bahia;
4. O Carimb e o Lel na Paraba, o Bumba-Meu-Boi e o Reggae
no Maranho e na regio norte.
5. O carnaval. Qual a importncia da cultura negra para o
carnaval? Como ele comemorado em nosso pas? Que
tipos de manifestaes negras podem ser encontradas no
carnaval, nas diversas regies do Brasil?
Cultura carnavalesca
Para compreender a importncia da cultura negra no carnaval,
desenvolva a pesquisa a seguir:
1. Faa um estudo comparado entre as escolas de samba (na
regio sul e sudeste) e os blocos afro, os afoxs e trios
eltricos, no Norte e Nordeste;
1.1 Destaque as diferenas entre as formas de comemo-
rao no ambiente rural e urbano;
1.2 Investigue como se d a representao feminina e
masculina nessas manifestaes.
2. Mobilize a roda de compreenso no tempo e no espao
brasileiro. Organize uma cartilha a partir de sua pesquisa
e envie uma cpia para entidade(s) negra(s) e/ou para
centros de cultura da sua cidade ou do seu estado.
3. Qual a importncia das manifestaes culturais negras que
foram preservadas?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 96
De olho na Cultura 97
Ginga da corporalidade
Berimbau afox capoeira
atabaque candombl e gafieira (...)
berimbau capoeira um encontro
atabaque candombl mais um ponto
Salloma Salomo, Memrias Sonoras da Noite.
Voc j ouviu dizer que na frica os tambores falam? Pois bem,
no Brasil tambm assim. Na capoeira a comunicao se faz con-
juntamente entre os movimentos do corpo, os sons dos vrios
instrumentos, as ladainhas e cantigas.
Vejamos um trecho retirado do livro Luana, a menina que viu
o Brasil nenm de A. Macedo e O. Faustino (Editora FTD, 2000), em
que os autores fazem referncia a alguns golpes utilizados na ca-
poeira:
rabo-de-arraia, esquiva, rasteira e ginga prum lado e
pro outro, se safa do golpe ligeiro do p de Babo. Se apruma e
salta de novo, tasca um martelo, uma negativa... poeira subin-
do... Ningum segura Luana!
Na capoeira encontra-se uma complexidade simblica, con-
forme apontado no capitulo IV. Em primeiro lugar, ela foi uma
luta que colocou em evidncia a figura do/a guerreiro/a acima de
tudo, treinado (a) para se defender e se proteger.
Em segundo lugar, foi tambm uma dana utilizada pelos
escravos e, como toda dana, foi marcada por diversos movimen-
tos e ritmos, dos quais se destaca a ginga, alm das msicas. Essa
dana, em parte, se mantm at hoje, inclusive nas rodas e acade-
mias espalhadas pelos centros urbanos e periferias de grandes ca-
pitais, no Brasil, bem como em pases como Estados Unidos da
Amrica e Alemanha.
Em terceiro lugar, ela um jogo, revelando-se como combi-
nao entre a dana e a luta, com rituais que garantiram a perpetu-
ao do grupo social negro no tempo. Esse jogo ritual acontece
mediante o dilogo entre alguns elementos. Vejamos:
Um deles a msica, j que a capoeira acompanhada por
alguns instrumentos e pelas palmas. Na capoeira h uma base orques-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 97
98 De olho na Cultura
tral espcie de bateria composta por trs berimbaus, denomi-
nados gunga, mdio e viola, dois pandeiros, um reco-reco, um atabaque
e um agog. O jogo segue o ritmo ditado pela orquestra da capoeira.
O berimbau primeira caixa acstica instrumento com-
plexo de origem africana, elemento central na capoeira. Seu som
se faz presente no momento em que uma varinha bate
ritmadamente numa corda de ao esticada. acompanhado pelo
chocalhar do caxixi e por uma moeda ou pedra que, ao ser aproxi-
mada ou afastada do fio, forma ritmos diferenciados.
As configuraes da capoeira so retomadas em todo ritual,
desde o espao, cuja base o solo de onde parte uma arquitetura
corporal envolvendo gestos ascensionais e descensionais, os gi-
ros, a ginga. Os principais movimentos tm nomes interessantes.
Vejamos alguns deles:
a) Rabo-de-arraia: golpe traumatizante em que o capoeirista
apia as mos no solo, gira o corpo sobre a cabea e pro-
cura atingir com os calcanhares a cabea do adversrio;
b) Esquiva: outro movimento defensivo em que o jogador
se abaixa e se desloca do lugar, apoiando-se em braos e
pernas dobrados;
c) Rasteira: golpe que o lutador desfere com a perna bem
estirada, aps deixar-se cair para trs, para a frente ou
para o lado, apoiando-se no solo com as duas mos; es-
tando de p, o lutador mete a perna ou o p entre as
pernas do adversrio, para derrub-lo;
d) Martelo: golpe em que o capoeirista usa o dorso do p
para golpear seu adversrio no rosto ou no tronco;
e) Negativa: movimento defensivo em que o lutador se abai-
xa e torce o corpo, estendendo uma das pernas e apoian-
do uma das mos no cho.
A ginga, na capoeira, um movimento fundamental, do qual
partem todos os golpes ofensivos ou defensivos. O capoeirista
procura iludir e desnortear o adversrio, agitando-se, sem deixar
de manter a base de apoio, em conjugao com as pernas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 98
De olho na Cultura 99
Gesto ritmado
O capoeirista no aquele
que sabe movimentar o corpo,
aquele que sabe movimentar a alma
Mestre Pastinha.
Aps a descrio de alguns movimentos da capoeira, faa algu-
mas tentativas. Experimente fazer um desses movimentos. Seria
interessante convidar algum grupo de capoeira para fazer essa
interao, colocando todos para danar e complementando as
informaes. Importa aqui movimentar o corpo buscando a cons-
cincia dos gestos e dos movimentos.
De modo geral, gingar balanar o corpo de um lado para
o outro, rodear, remexer, desviar, oscilar, enganar. Observe os
movimentos das pessoas numa roda de capoeira e em uma parti-
da de futebol. Voc nota alguma semelhana entre a ginga na
capoeira e os movimentos dos jogadores no futebol? Discuta
um pouco sobre isso com seus colegas.
Na cultura afro-brasileira, oralidade-corporalidade-musi-
calidade no se separam. A fala ou o canto imprimem um ritmo
que se traduz na linguagem dos gestos. A guisa de exemplo, cita-
mos a embolada forma potica e musical organizada em com-
passo binrio, podendo ser improvisada ou no cuja melodia
declamatria, em valores rpidos e intervalos curtos, utilizada
pelos solistas como refro corporal ou dialogado. possvel iden-
tificar a embolada em manifestaes culturais como o coco e os
desafios nordestinos.
Leia o texto a seguir, de Thade, grande representante do
movimento Hip Hop, da cidade de So Paulo. Participaes espe-
ciais: Chico Csar (cantor maranhense) e Nelson Triunfo ( educa-
dor e danarino de msica negra nascido em Pernambuco). Se
possvel, oua a msica para perceber e sentir o desenrolar do
desafio, atrelado ao rap.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 99
100 De olho na Cultura
Desafio no rap embolada
o Rap embolada/ o Rap e o repente rebentando na
quebrada
Duelo de Tits, ateno irmos, irms/ Acenderam o
pavio, Nelson fez o desafio e Thade aceitou/ Vai co-
mear a disputa, vale tudo nessa luta/ Coco, Hip Hop,
Soul/ <Thade> Quem no conhece Nelso, aquele
cara comprido/ Magro, parece um palito, e com o
cabelo/ Hoje t no Hip Hop, mas j foi do soul/ Me
lembro da primeira vez que a gente conversou/ Mas
isso passado, t muito invocado/ Porque em
Diadema ele me desafiou/ T ligado que ele do nor-
deste/ Minha rima vai mostrar que eu tambm sou
cabra da peste/ Vou me transformar em tesoura, cor-
tar o cabelo dele/ E pr debaixo do tapete com uma
vassoura/ Vou at o fim dessa batalha/ Vai ser difcil
superar a minha levada/ No verso eu fao a treta/ Te
dou um n de letra/ Abro e enfio o microfone na tua
cabea/ Sou eu o responsvel pela tua esperteza/ Voc
no me assusta/ Ento cresa e aparea/ < Nelso>
Voc provocou agora/ Vontade tambm consola/ Voc
diz que d na bola/ Na bola voc no d/ Cabra Thade
voc pode se lascar/ Se voc vier para cima, vai cair
na sua rima/ Nem Deus que t l em cima vai poder
te segurar/ Voc disse no CD Preste Ateno/ Mas
agora deu mancada e perdeu sua razo/ Eu ouvi voc
dizer que vai cortar meu cabelo/ Eu t no ar, vou
reagir/ A poeira vai subir/ E a gente vai sumir/ Por-
que no mundo ningum jamais me tirou assim/ Ho-
mem pra bater em mim/ Se nasceu, no se criou e, se
criou, j levou o fim/ Eu curto Luiz Gonzaga, e o meu
pai Tropical/ Conheo o bem e o mal e som do James
Brown/ Dano Break, Samba, Soul, sou poeta e coisa
e tal/ Meu cabelo foi tombado, patrimnio nacio-
nal/ Dentro do mundo da moda, seguiu pela contra-
mo/ Do estilo Black Power a foto original/ Ento,
irmo, preste a ateno/ Meu cabelo real, no
fico/ Aqui Nelso, descendente de Sanso/ Re-
fro/ Bicho pegou nessa queda de brao/ Dois homens
de ao esto frente a frente/ A fora da mente, do
verso ligeiro/ Feliz nessa luta quem est frente a
frente/ A fora da mente, do verso ligeiro/ Feliz nes-
sa luta quem sai inteiro/ E diz a verdade para toda
gente/ <Thade> Sei que voc no de nada/ Mande
logo a embolada, se prepara pra batalha/ Porque aqui
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 100
De olho na Cultura 101
escorpio, um tiro de canho/ No respeita sol-
dado raso, nem mesmo capito/ Te jogo no cho, se
liga, Nelso/ No leva uma comigo s porque gran-
do/ O meu faco meu microfone e t com ele na
mo/ Te dou lpis, caderno, borracha, rgua, com-
passo/ Sua matrcula eu fao para te ensinar a lio/
<Nelso> Me ensinar a lio? Sai dessa, meu irmo!/
Sou formado/ Sou um grande cidado/ Eu sei que
certo, errado/ Tambm sou escorpio/ Eu no vou
lhe maltratar/ S quero lhe preparar para fazer o
vestibular/ <Thade> Conheo muita gente/ A maio-
ria inteligente/ Veja bem nesse exemplo que eu no
estou s/ Conheo RZO, DMN, XIS, GOG, ZFRICA
BRASIL/ Todos componentes Hip Hop do Brasil/ E
no acabou, e tal; conheo Nino Brown/ Charlie
Brown, Z Brown, Paulo Brown, nada mau/ Se ainda
no te convenci, conheo mano Brown/ <Nelso>
No vem que no tem, conheo eles tambm/ E at
dou um toque/ So todos do Hip Hop/ Voc diz que
B. Boy, mas minha dana lhe destri/ Sinto pena de
voc, mas nada posso fazer/ <Thade> Ento a se-
qncia, movimento em ao/ Vou te detonar agora
no break de cho/ Do giro de cabea, passo pro moi-
nho de vento/ Aprendi l na So Bento parar no giro
de mo/ <Nelso> Parar no giro de mo, isso no
me assusta no/ sou forte que nem tornado/ Vou e
dou pio/ Me transformo em tempestade/ Te jogo l
pro serto/ <Thade> Valeu, Nelso, voc muito
bom/ <Nelso> Fal Thade, voc bom tambm/
Ento agora vamos apertar as mos/ porque no Rap
embolada no tem pra ningum/ Ningum perdeu,
todo mundo ganhou/ pois o povo aprendeu com o
cantador/ Veja a, meu povo, vem do mesmo ovo/ o
Rap, o repente, o neto e o av/ Veja a meu povo, vem
do mesmo ovo/ O Rap, o repente, o neto e o av/ o
Rap embolaaaada...
Ampliando saberes
Esse texto um misto de Rap (ritmo e poesia) e Repente
(qualquer improviso ou verso improvisado). Ambas as formas se
constrem com base na oralidade, no canto improvisado em for-
ma de desafio, no ritmo e na corporalidade. Observe a expresso
corporal dos rappers, dos repentistas e improvisadores, em geral.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 101
102 De olho na Cultura
Mente em ao
Note que o jogo desafio exige que se tenha a fora da mente, do verso
ligeiro. Em uma passagem do texto, Nelso (Nelson Triunfo) afir-
ma: ... Sou formado/ Sou um grande cidado/ Eu sei que certo, errado/
Tambm sou escorpio/ Eu no vou lhe maltratar/ S quero lhe preparar
para fazer o vestibular. Agora sua vez, crie uma rima desafio, re-
cheie com uma linguagem metafrica, cujo tema tenha a ver com
os desafios da juventude para enfrentar o vestibular, o mercado
de trabalho ou a violncia.
1. O que voc sabe a respeito do Hip Hop? Faa uma
pesquisa sobre esse movimento. Alguns estilos so
citados no texto (rap e break). Analise outras mani-
festaes que voc conhea ou venha a conhecer, a
partir da sua pesquisa, tais como: bumba-meu-boi,
lundu, cacuri, tambor de criola e coco.
2. Leia o trecho a seguir e procure interpretar o que
black power: Meu cabelo foi tombado, patrimnio naci-
onal/ Dentro do mundo da moda, seguiu pela contramo/
Do estilo Black Power a foto original/ Ento, irmo, pres-
te a ateno/ Meu cabelo real, no fico.
3. Aceite o desafio de criar algumas rimas e expresse-
as em movimentos corporais. Rena-se com mais
pessoas e veja se possvel criar novos movimen-
tos ou expresses. Ensaiem, coloquem o corpo em
cena. Aperfeioem a performance para apresent-
la para outros grupos ou em uma ocasio especial
para a instituio da qual voc participa.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 102
De olho na Cultura 103
NOSSA LNGUA AFRO-BRASILEIRA
Okitaland
Ku mabu kibuko
Si it ()
Muk okitaland azan ungu zukal
Guerreiro Esperto
Voc tem sorte
Eu tambm ()
A fora do guerreiro o segredo
(Lep Correia)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 103
104 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 104
De olho na Cultura 105
As lnguas em nossa lngua
A lngua um fenmeno social que designa um grupo tnico,
sua cultura, seus costumes e crenas, espao territorial e forma
de organizao. O caderno de educao do Projeto de Extenso
Il Aiy
1
nos explica que as lnguas africanas tm seus sons, suas
gramticas, suas formas de escrita, suas expresses literrias, seus
fonemas, seus nmeros.
No Brasil, com a escravizao dos africanos, um dos recur-
sos utilizados pelos colonizadores foi evitar a comunicao entre
os membros de um mesmo grupo tnico, que compartilhavam
uma mesma lngua. Costumava-se separar os africanos que tives-
sem uma origem comum, a fim de que no cultivassem seus cos-
tumes, valores e conhecimentos, sua linguagem.
Essa estratgia impediu, por um lado, que preservssemos
as diversas lnguas africanas, mas, por outro, fez com que a lngua
portuguesa sofresse alteraes semnticas, sintticas, morfolgicas
e fonolgicas. Na verdade, a influncia do falar africano e indge-
na no Brasil fez com que tivssemos uma lngua menos rgida,
mais afetiva, criativa, musical e marcada pela oralidade. Nada disso
foi vivido sem resistncia, reao e busca de estratgias para so-
breviver, se comunicar, sublevar-se, mantendo vivas as tradies.
O texto a seguir, uma msica do grupo Il Aiy, resgata em
nossa memria a Revolta dos Mals. Essa foi uma das revoltas que
demonstraram a forma de organizao e de resistncia de grupos
escravizados, no Brasil do sculo XIX.
1
A Associao Cultural Bloco Carnavalesco Il Aiy
uma instituio negra que realiza um trabalho hist-
rico de resgate dos valores civilizatrios africanos.
um bloco afro tradicional de Salvador/BA, Nmero
IX, frica Ventre Frtil do Mundo,
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 105
106 De olho na Cultura
Levante de Sabres Africanos
(Guellwaar & Moa Catend)
Levante de Sabres... a noite caiu,
(A noite da glria talvez)
Na hora da verdade de grandes sbios mals
Como fria e sonhos na tez.
1835 voltas do mundo mal,
Um sonho to belo foi sub-trado.
Mas ressoa no coro do majestoso Il (bis)
Por toda cidade vitorioso.
Refro
Cante! A, a
Vibre! A, e
Ningum cala a boca de Babba Almami
(Carcar)
O poder era o fim e a rainha esquecida Luiza Mahin
Temperou a revolta no tempo da memria
Em nome de Allah se o dono da terra
Para calafatear nosso caminho.
S quem tem patu no tem medo da guerra
Escorrega, levanta e nunca est sozinho.
Alufs: Dassal, Dandar, Salin,
Licutan, Nicob, Ahuna...
Construindo saberes
1. O que foi a Revolta dos Mals? Por que o ttulo Levante de
Sabres? Faa uma pesquisa para obter maiores informa-
es sobre as principais revoltas ou insurreies dos/as
escravos/as no Brasil. Destaque a participao feminina
nesses movimentos.
2. Aps a pesquisa, procure comentar a importncia dessas
revoltas para a identidade e a resistncia negra, no Brasil.
3. Qual a origem do termo mal? O que significa? O que
essa revolta tem a ver com o islamismo e Allah?
4. Procure informaes sobre alguns nomes citados no tex-
to, tais como Luiza Mahim, Babba Almami e Dandar.
5. O que quer dizer Um sonho to belo foi sub-trado?
6. Procure o significado de patu e Alufs.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 106
De olho na Cultura 107
As palavras a seguir tm origem africana. Provavelmente,
voc conhece a maioria delas. Esse reduzido quadro nos mostra a
forte influncia de falares africanos no falar brasileiro.
quilombo, banana, ginga, cafun, bingo, cachimbo,
Oxal, cabaa, toco, tempo, moleque, bengala, cuca,
curinga, dend, dengue, Iemanj, caula, fuzu,
quizomba, orix, dend, afox, ax, cachaa, Zumbi,
malungo, sopapo, taco, tagarela, zangado, bunda,
canjica, banzo, olubaj, boboca, Boi-Bumb, bugigan-
ga, pururuca, potoca, mugunz.
A maioria dessas palavras se origina de um tronco lingstico
denominado bantu, o que mais influenciou a lngua portuguesa
no Brasil. Para obtermos um pouco mais de informaes sobre a
questo, vamos ler um texto do antroplogo Kabenguele Munanga,
publicado em Dossi sobre o Negro, Revista da USP, 1998.
Nota lingstica
A ortografia das palavras em lnguas bantu dispensa a representa-
o da tonalidade, fenmeno caracterstico dessas lnguas. Essa
tonalidade marcada pelos tons baixo (por exemplo //), alto (/
/), montante (//), descendente (//). Exemplo: Klmb.
Utilizam-se o alfabeto africano para grafar alguns nomes.
Os nomes de povos ou grupos culturais so precedidos de prefi-
xos classificadores: mu, indicando o singular e ba indicando o plu-
ral. Exemplos: mukongo (mu-kongo), indivduo que pertence etnia
Kongo; plural bakongo (ba-kongo). Mas, na literatura etnogrfica,
costuma-se dispensar os prefixos classificadores, anotando ape-
nas os radicais dos nomes dos povos. Por exemplo: os lunda; os
kongo; os mbundu; os jaga, etc.
s vezes, faz-se confuso entre o nome dos povos e suas
respectivas lnguas que sempre conservam o mesmo radical com
prefixo classificador diferente. Por exemplo: povo bakongo, ln-
gua Kikongo; povo mbundu, lngua Kalunda; povo ovimbundu,
lngua umbundu.
Bantu, que hoje designa uma rea geogrfica contgua e um
complexo cultural especfico dentro da frica negra, uma pala-
vra herdada dos estudos lingsticos ocidentais. Os estudiosos das
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 107
108 De olho na Cultura
lnguas faladas no continente africano, ao fazer estudos compara-
tivos dessas lnguas, a partir do modelo das lnguas indo-europi-
as, chegaram a classific-las em algumas famlias principais, dentre
essas, a famlia das lnguas bantu.
O estudo de algumas palavras principais revelou a existn-
cia das mesmas razes com o mesmo contedo entre esses povos.
Todos empregam, por exemplo, a palavra ntu (muntu, singular, e
bantu, plural) para designar pessoa, o ser humano. Por isso, essas
lnguas foram batizadas de bantu pelos lingistas ocidentais. A
mesma palavra passou a identificar os povos que falam essas ln-
guas ,enquanto um complexo cultural ou civilizatrio, devido
contigidade territorial e aos mltiplos contatos, mestiagens e
emprstimos facilitados pela proximidade geogrfica entre eles.
Ampliando repertrios
O estudo do texto Dinha Mira, do historiador e compositor mineiro
Salloma Salomo, oferecer subsdios para desvendarmos algumas
marcas presentes na lngua portuguesa por influncia africana.
Dinha Mira
(Salloma Salomo)
Fui na cacimba tirar gua
Fui tirar gua pra beber
Tinha um espelho dentro dgua
E o espelho quis me prender
Dinha, eu vi na cacimba quimera
Eu vi nas quimera mandinga
Vi tudo o que os eguns de Guin
Dinha Mira se toda beleza nquizila
Se toda tristeza quebranto
Me diga onde vou me esconder
Tecendo interpretaes:
1 Identifique no texto as seguintes marcas:
a) colocao dos pronomes tonos em incio de frase;
b) utilizao dos artigos no plural,com o substantivo no
singular;
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 108
De olho na Cultura 109
c) uso de diminutivos em nomes prprios ou formas
de tratamento.
2 Resolva a charada a seguir: A palavra de origem bantu
e significa antipatia, inimizade, desentendimento, proi-
bio, problema. Com o tempo se transformou e hoje
est, por exemplo, nas seguintes expresses: Eu detesto
zica entre amigos; Voc est zicado ou Que zica, hein!?
Explorando nossa lngua
So poucos os estudos acerca do repertrio lingstico de origem
africana no Brasil. A religio uma das reas que conservam mar-
cas lingsticas dos valores ancestrais negros. A estudiosa Yeda
Pessoa de Castro, professora da Universidade Federal da Bahia,
dedicou-se a romper o silncio existente sobre as lnguas africa-
nas no Brasil. A fim de dar voz e vez s lnguas silenciadas, tere-
mos a oportunidade de conhecer o que a autora expressa sobre o
assunto, no artigo Colaborao, Antropologia e Lingstica nos
Estudos Afro-Brasileiros (Pallas, 1999).
Antropologia e Lingstica
J o comportamento dos lingistas em relao ao
influxo de lnguas africanas no portugus do Brasil
o lavar as mos, como Pilatos. Em outros ter-
mos, alegando a falta de documentos lingsticos do
tempo da escravido, prefere-se dar por encerrado esse
assunto (...). Ou, ento, atribuir a responsabilidade
dessa tarefa aos africanistas que lidam com o concei-
to de religio, a partir da concluso no menos ab-
surda de que os falares africanos foram resguarda-
dos nos terreiros, confinados ao uso exclusivamente
de natureza litrgica, sem que tivessem participado
do processo de configurao do perfil da lngua por-
tuguesa do Brasil, o que tambm no verdadeiro.
Por outro lado, esse distanciamento das lnguas afri-
canas, que se reflete na sua ausncia dos currculos
universitrios, tem um motivo no confessado, ou
seja, no admitir que lnguas de tradio oral pudes-
sem influir em uma lngua de reconhecido prestgio
literrio como a portuguesa. Conseqentemente, se-
gundo essa apreciao, os fatos que podem denunci-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 109
110 De olho na Cultura
ar um movimento em direo oposta so vistos como tra-
os mal disfarados pelo portugus em lugar de expres-
ses de resistncia dos falantes africanos ante um siste-
ma lingstico estranho que servia a sua escravizao, a
exemplo da reduo e simplificao das formas verbais
ns vai, ns fala etc, de uso generalizado na lingua-
gem popular do Brasil.
O texto abaixo foi retirado do livro Bantos e Mals e identidade
negra, de Nei Lopes (Forense Universitria, 1988). Esse estudioso
apresenta, em sua pesquisa, as vrias influncias africanas no falar
brasileiro, principalmente as mudanas na fontica. Vejamos algu-
mas delas:
Pai Joo
autor/a desconhecido/a
Lundu [dana de origem africana]
Quando I tava na minha ter
I chamava capito,
Chega na ter de baranco.
I mi chama Pai Joo.
Grupos consonantais so separados pela incluso ou de um
grupo voclico ou de uma vogal. Exemplo: baranco, por branco.
Mais abaixo, veremos os termos: cane, ao invs de carne, fruta no
lugar de furta.
Quando I tava na minha ter
Comia minha garinha,
Chega na ter dim baranco,
Cane seca co farinha.
O r com pronncia forte no existe na lngua bantu, por
isso substitudo pelo l ou pelo r fraco. Como terra por tera, gali-
nha por garinha.
Quando I na minha ter
I chamava gener
Chega na ter dim baranco, (...)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 110
De olho na Cultura 111
A supresso do l ou r no final das palavras. Exemplo: gener
no lugar de general, atur no de aturar.
Dizofor dim baranco
N si pri atur,
Ta comendo, ta... drumindo,
Manda negro trabai
O fonema lh transforma-se em i. Exemplo: trabai ao invs
de trabalhar.
Baranco dize quando more
Jezuchrisso que levou,
E o pretinho quando more
Foi cachaxa que matou
Nosso preto quando fruta
Vai par na coreo
Sinh baranco quando fruta
Logo sai sinh baro.
Uso dos diminutivos de nomes prprios ou de apelidos de
tratamento: exemplo: sinh, dinhinha. Pode-se encontrar o registro
de deformao de nomes prprios. Joca, Chico, Zeca, Doca.
Aps a leitura dos textos apresentados neste captulo, voc
dever fazer as atividades:
1. Passe a observar a presena de algumas influncias nas
falas das pessoas, em textos poticos, nas cantigas (de
capoeira, congadas, maracatus, cocos, cirandas, batuques
etc), nas emboladas, no rap.
2. Um texto, alm das marcas e influncias lingsticas, apre-
senta do ponto de vista do sentido (da semntica)
informaes importantes que so apreendidas a partir do
contexto em que se fala ou se escreve. O eu da cano
faz uma acusao e se defende ao mesmo tempo. Qual a
crtica presente no texto e a que contexto de nossa hist-
ria se refere?
3. Que informaes ou hipteses podemos levantar, a par-
tir das duas ltimas estrofes?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 111
112 De olho na Cultura
4. Um dos significados de territorialidade : rea que um
grupo ocupa e que defendida contra a invaso de outros indivdu-
os da mesma espcie. Na primeira estrofe do lundu, de que
forma aparece a aluso territorialidade?
Recorremos mais uma vez ao texto de Munanga Kabenguel,
Nota lingstica, sobre a populao negra e africana para discutir a
noo de territorialidade e cultura.
(...) os escravos africanos e seus descendentes nun-
ca ficaram presos aos modelos ideolgicos excluden-
tes. Suas prticas e estratgias desenvolveram-se den-
tro do modelo transcultural, com o objetivo de for-
mar identidades pessoais ricas e estveis que no
podiam estruturar-se unicamente dentro do limite
de sua cultura. Tiveram uma abertura externa em
duplo sentido para dar e receber influncias cultu-
rais de outras comunidades, sem abrir mo de sua
existncia enquanto cultura distinta e sem desres-
peitar o que havia de comum entre os seres huma-
nos. Visavam formao de identidades abertas,
produzidas pela comunicao incessante com o ou-
tro. Precisamos desse exemplo de unio legado pela
Repblica de Palmares para superar e erradicar o
racismo e seus duplos.
De olho na lngua:
1. Amplie seu universo de compreenso, investigue um pou-
co mais sobre o tema territorialidade e sobre a importn-
cia dos vrios quilombos que existiram e existem at hoje
em todas as regies do nosso pas.Visite sites que tratam
do tema quilombos. Elabore um texto dissertativo sobre a
relao territorialidade-quilombo e reforma agrria.
2. Leia o texto a seguir, denominado Carreira. Consulte tex-
tos e dicionrios especializados, tais como o Novo dicion-
rio banto do Brasil (Pallas, 2003) de Nei Lopes Das Ln-
guas Africanas ao Portugus do Brasileiro (Afro-sia,
CEAO, n 14, 1983) e Notcia de uma Pesquisa em fri-
ca (Afro-sia, CEAO, n 1, 1965), da pesquisadora Yeda
Pessoa de Castro. Procure identificar as influncias estu-
dadas at o momento, outras que voc conhea ou tenha
percebido em seu exerccio de leitura.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 112
De olho na Cultura 113
Carreira
(Teotnio e Bomba)
V lembr dos velho tempo/dos tempo da escravido/
que o negro no sabia l/ e s sofria judiao (bis)// o
negro nego no sabia l/ e s sofria judiao/ e trabaiava
sol a sol/ inda apanhava do patro// (Teotnio) Mai
no meide nego burro/tinha um nego que era bo/ o
sinh compr o nego/eu vou cont que aflio/ e
Joozinho vendeu pa Pedro/ e vendeu por dez tosto/
quando cheg no caminho/ olhe l que confuso/ ele
pediu o nome do home/ home neg istrivo (estribo),
disse que no/ meu nome, meu nome fogo/ v d res-
posta a sinh/ veja, o seu nome fogo/ ce vai perd sua
direo/ eu s gua que apaga fogo/ onde que o nego
priso/ eu s gua que apaga fogo/ eu no s nego
turro// e se oc bat ni mim/ sua mui chora sem ra-
zo// porque o negrinho era decente/ e era burro inte-
ligente de nao/ era burro inteligente de nao.
2
Ouvimos falar em preconceito contra o negro, o idoso, a
mulher, o/a jovem etc. E preconceito lingstico, o que ? Descu-
bra e veja como ele pode estar relacionado ao texto estudado.
2
CD Batuques do Sudeste. Documentos Sonoros Brasi-
leiros Acervo Cachuera! , Coleo Ita Cultural, SP.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 113
114 De olho na Cultura
Linguagem e poder
... A comear do nvel mais elementar de relaes
com o poder, a linguagem constitui o arame farpado
mais poderoso para bloquear o acesso ao poder...
(Gnerre)
Reveja como a relao de poder na linguagem est expressa nos
textos anteriores. Como voc se posiciona em relao epgrafe?
Por qu?
Cada vez mais a linguagem vem sendo reafirmada como es-
pao de poder e como aspecto fundamental na preservao da
memria, na construo de verses sobre as informaes culturais,
como instrumento de saber. Se quisermos aludir s transformaes
socioculturais, temos que forosamente falar e pensar tambm na
linguagem, no discurso que no apenas d forma, mas elemento
fundamental nesses processos de mudanas, de conquistas.
Ler, escrever, falar significa tambm ter acesso s informa-
es, s leis que regem o pas e s relaes que nele se estabelecem,
significa a possibilidade de registrar interpretaes da nossa cultura.
Ao longo de nossa histria, vrias instituies tm sido res-
ponsveis pelo desenvolvimento das pessoas: a famlia, os espa-
os religiosos, o crculo de amigos, o trabalho, a escola.
Na histria da populao negra a experincia escolar tem
deixado marcas no muito positivas. As prticas escolares, muitas
vezes, tm sido associadas ao sofrimento, ao medo. O lado
prazeroso da linguagem aparece fora da escola.
preciso perceber que por trs disso, alm da m qualidade
do ensino, existe ainda, tambm nesse campo, a necessidade de
democratizar as relaes especficas de respeito ao outro, ao seu
universo vocabular e cultural. Um dos caminhos para a democra-
tizao o conhecimento e a valorizao da memria, da herana
cultural dos povos. Enquanto o estudo da linguagem, ao lado de mui-
tas outras questes, continuar a ser um mistrio para a maioria da
populao, permanecer agudo o processo de excluso e de silncio.
O desafio buscar as explicaes desfiar a trama cultu-
ral, nos seus mltiplos sentidos, recuperando, produzindo signifi-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 114
De olho na Cultura 115
cados e, na prpria voz dos sujeitos, buscar sadas para
redimensionar a condio atual.
Vejamos a seguir algumas maneiras encontradas para enfren-
tar tal desafio.
A linguagem uma forma de inter-ao
A linguagem configura-se nos discursos falados ou escritos que
circulam em espaos abertos ou fechados, na mdia impressa ou
em sites mantidos por vrios grupos na Internet. Tais discursos
apresentam vrias proposies para a construo de um auto-con-
ceito positivo e a redescoberta de uma identidade cultural.
O movimento Hip Hop completou 30 anos de existncia
em Nova York, de onde foram disseminados seus conceitos e pr-
ticas, inspiradas nas festas de rua jamaicanas. Considerado um dos
grandes fenmenos socioculturais da atualidade, predominante-
mente urbano, liderado por jovens, em sua maioria negros, que se
destacam como porta-vozes da periferia de grandes capitais. Nos
ltimos anos, a linguagem do hip hop transbordou para espaos
de classe mdia e interage com outros estilos musicais, tais como
o rock e a msica eletrnica. Outra marca a ressaltar deste movi-
mento o uso da linguagem no-verbal.
No Brasil, a cidade de So Paulo foi o bero do hip hop, na
dcada de 1980. A partir da, o movimento se espalhou para outras
regies como cultura de rua, pelo aspecto mais artstico e festivo,
por um lado, e, por outro lado, como forma de retomar questiona-
mentos e reivindicaes do movimento negro e de algumas organi-
zaes no-governamentais. Como exemplo, podemos citar as po-
lticas de ao afirmativa voltadas para a populao negra.
O movimento Hip Hop abrange o break que faz uso da
linguagem corporal, da dana; o grafite que faz uso da lingua-
gem visual, plstica; e o rap que faz uso da linguagem oral e
escrita, como veremos neste captulo. A msica falada acompa-
nhada de gestos ritmados, ao som de batidas.
As letras apontam a intencionalidade de quem fala nos es-
paos de interao. Os Mestres de Cerimnia MCs usam
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 115
116 De olho na Cultura
termos lingsticos com a finalidade de persuadir e chamar a aten-
o para determinados acontecimentos. Nas canes h
entonaes diferenciadas, paradas, alongamentos de algumas pa-
lavras, aumento e diminuio de volume. Os MCs falam e solici-
tam respostas, organizam refres que interrogam, afirmam e pe-
dem, de maneira mais ou menos direta, um comprometimento
dos ouvintes. Tudo isso fortalece o uso sociocultural da oralidade.
Leia atentamente os textos a seguir, observe o emprego da
linguagem e localize a relao existente entre territorialidade, coti-
diano e cultura.
Texto A
A letra de rap a seguir da primeira cano de sucesso do
Aliado G, do grupo Face da Morte criado em 1995 e originrio
de Hortolndia, distrito de Campinas/SP.
Bomba H - Aliado G (grupo Face da Morte)
S idia forte/Aqui face da morte que chegou pra
ficar/No veio pra rebolar/Na batida que apavora/O
rap foda e no moda/Foda-se quem se incomoda/
Revoluo no ar/Minha rima Bomba H/Difcil de se-
gurar/Eu cheguei pra somar/Trocar uma idia de ir-
mo/E a sangue bom, a coisa aqui no fcil no/
Cheirar cola, fumar crack, dar uns tiro ou tomar ba-
que, encher a cara de cachaa, ou assistir o Sai de
baixo/ melhor pensar um pouco e ver em qual dro-
ga eu me encaixo/Eu acho que nenhuma vale a pena
T fora desse esquema/Eu quero ir pra bem distante/
Espere um instante, acho que vou pra beira-mar
pegar um txi pra estao lunar/Quem sabe de l, eu
consiga ver e entender melhor esse mundo imundo/
E como disse Z Ramalho: vida de gado, baralho
marcado, no entendo esse jogo/To me fazendo de
bobo/V se pode? No congresso mudar a lei em be-
nefcio da sic/Enquanto o povo passa fome, humi-
lhado e s se fode/Nas ruas eu vejo as tropas de cho-
que trocando tiro /na favela o sangue escorre nas
vielas/quem tem f acende vela/o corpo rola no
escado/essa a misso/o militar de baixo e alto es-
calo/nos quartis eles ensinam uma antiga lio de
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 116
De olho na Cultura 117
morrer pela ptria e /viver sem razo/Com a fora de
Deus que vamos lutar/Paranau, paranau/Camar
A revolta daqui o medo de l/Paranau, paranau/
Camar/O estudo daqui o medo de l/Paranau,
paranau/Camar/E a rima daqui o medo de l/Doze
manos armados/ executaram um bem bolado/Atitude
e sorte na fita do carro forte que rendeu quase um
milho/Garantia de po/O mano me diz que 57 que
resta, nada mais interessa/Lhe negada educao,
distorcida informao/Processo de excluso que dei-
xa marca/O rap retrata na levada, na caixa, no bumbo,
o baixo marcando o compasso/(Ximau?) na luta con-
tra o mal, minha rima letal/tambm sou racional,
tenho um lado animal/no pas do carnaval, onde o
clima tropical/tudo aqui uma delcia/mas confira a
estatstica/calcule as propores/com mais de 15 anos,
mais de 15 milhes que no sabe o beab/desse jeito
no d/onde essa porra vai parar/Juscelino
Kubitschek h quem conteste/Levou o governo do
Brasil pra Braslia/Seguindo nessa trilha FHC bem
pior/Um socilogo vendido/Entrega nosso governo aos
Estados Unidos/Servial do imperialismo/Doutorado
em cinismo/Um tal de FMI quem d as cartas por
aqui/Tem concentrao de renda, latifndio, fazenda,
piscina/Na favela tem chacina/No congresso descobri-
ram coisa boa cocana pra fazer negcio da China/
Agora olhe do seu lado um cara de carro importado/
com ar condicionado anda de vidro fechado/No sinal
abordado, se p assassinado/Por qu? Tente voc
responder/A elite tem que entender/Desigualdade so-
cial, a origem de todo mal/Vou mand um comunica-
do direo do Playcenter que tem muito concor-
rente de olho na patente das noites do terror /Tipo
aonde eu levo meu av/Tem morto no corredor/No
hospital da rede pblica h muito choro e muita s-
plica,/mas falta remdio, leito, mdico, respeito/Nin-
gum d um jeito/Investimento na sade pouco,
precrio/O ministro Jos Serra um bom agente fu-
nerrio/ eu sou catlico crismado e batizado/Outro dia
injuriado fui dar um rol no centro/cheguei l tava
chovendo aproveitei e entrei no templo/no vejo nada
de mal j que Deus universal/Porm, no concordei
com o que vi /coitados sendo explorados at o ultimo
centavo/Eu acho muito esquisito comprar favores no
cu sacrificar seu dinheiro na fogueira de Israel/Vou
explicar agora, veja: /Voc faz um depsito na conta
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 117
118 De olho na Cultura
da igreja/comprovante vai pro fogo/e o dinheiro vai pro
bolso de Deus, claro /pra que fique bem claro tipo
assim a regra dessa firma/ joga o dinheiro pra cima o
que Deus pegar dele o que cair no cho meu, enten-
deu?/Essa a vida tudo bem cheguei concluso que
fede mais, no cheira bem/Cada vez mais expostos nos
empurram /impostos confortveis em seus postos ga-
nham um puta dinheiro/eles so os anes que aper-
tam botes manipulam a nao por meio da televiso /
com a retrica e a repblica fazem na vida pblica o que
fazem na privada /um monte de bosta que no serve pra
nada.
Texto B
A banda afro Ax Dudu, que significa Fora Negra em ioruba,
tem se configurado como smbolo de resistncia negra no Par,
disseminando os valores ancestrais e sendo instrumento de de-
nncia do racismo, por intermdio da cultura. Originou-se como
um bloco afro, denunciando nas ruas de Belm, durante o carna-
val, por meio da msica, da poesia e da dana, o racismo, contri-
buindo, assim, para a organizao da populao negra no Estado.
Fora Negra
Banda Afro Ax Dudu, a Olrn (1987)
No toque do afox
Bantus, nags, gegs
Me frica espalhada
No mundo de Xang (...)
Ax Dudu, fora negra (...)
Xang que teus filhos dancem (...)
Contra as injustias do Brasil (...).
Texto C
Magnu Sousa e Maurlio de Oliveira, conhecedores da reali-
dade da periferia, compositores e integrantes do Samba da Vela e
do grupo de samba de raiz Quinteto em Branco e Preto, tm contribu-
do para disseminar a diversidade da cultura afro-brasileira, por
meio de suas canes.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 118
De olho na Cultura 119
Por Liberdade
Ningum pensou na favela
Ningum sabe por que a verdade desapareceu
Diviso de uma sociedade
Por liberdade os sonhos meus
So vividos por outros
Que no me conhecem e crem em Deus
Deturparam a nossa cultura
O nosso samba no de ateu
Cantado com f, p descalo na ladeira
Por uma procisso de benzedeira
Batido o tambor no mais forte congado
Maxixe, baio e xaxado
Soado ao tom de lavadeira
Quizombeira!
Mas que maravilha ficou
Refro de criana que canta e o dia raiou
E sorriso de leve do rosto sumiu
Esse canto capela favela chegou
E desconfiana divide essa populao
Para reflexo:
Encontramos hoje informaes em sites, revistas, etc. so-
bre diversos estilos musicais e manifestaes artsticas,
tais como reggae, forr, xote, ax music, brega, repente,
hip hop, samba, pagode. As opinies se dividem: co-
mum ouvirmos uma srie de argumentos contra ou a fa-
vor emitidos por de pessoas que tm preferncia pelos
mais diversos estilos musicais. Porm, no palco, nas pis-
tas de dana, nas ruas, essas linguagens expressam signi-
ficados, desejos e uma identidade cultural, revelando-se
como expresso, registro de um modo de pensar e agir
no mundo.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 119
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 120
MODALIDADES CULTURAIS
DE LINGUAGEM
L pras bandas do boqueiro
Perto do Vale das Antas
Conta o Povo do Lugar
Suas crenas suas lendas
Em noite de lua cheia
Tem Latomia e apario.
Mulher de Branco, Saci-Perer
Nos arredores do anoitecer (...)
Coral A Quatro Vozes
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 121
122 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 122
De olho na Cultura 123
Patrimnio oral
Nas unidades anteriores, fizemos abordagens sobre a tradio
oral e sobre a influncia africana no falar do Brasil. Agora vamos
estudar algumas modalidades de linguagem presentes na nossa
lngua afro-brasileira. Nosso pensamento, nosso patrimnio cul-
tural recebeu a influncia de mitos, lendas, provrbios, contos,
canes, stiras.
A oralidade patrimnio que expressa cultura, hbitos, cujo
compartilhamento se d por meio do ambiente familiar religioso,
escolar, familiar etc. De acordo com Edmilson Rocha, no livro Os
Comedores de Palavras, no temos mais os contadores descendentes dos
narradores primordiais, isto , aqueles que no inventavam: contavam o que
tinham ouvido e ou conhecido e que representavam a memria dos tempos a
ser preservada pela palavra e transmitida de povo para povo ou de gerao
para gerao (Coelho: 2000).
A tradio de narrar mantm a sua fora. Todos ns temos
histrias para contar. Como escreve Celso Sisto: O homem j nasce
praticamente contando histrias. Est inserido numa histria que o antecede e
com certeza ir suced-lo.
As histrias esto nos livros, nos jornais, na rede informati-
zada. A fala e a escuta, que sugerem troca, intimidade e proximida-
de, ajudam a viver situaes e a conhecer o mundo, os vrios mo-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 123
124 De olho na Cultura
dos e formas de expressarmos, por meio da linguagem, nossas
idias, poesias, protestos e canes. Vamos observar como uma
histria pode ser contada por meio de um mito, uma lenda, um
conto ou um provrbio.
Quais as diferenas entre algumas dessas modalidades de
linguagem?
Lenda uma narrao popular, que pode ser escri-
ta ou oral. Os fatos histricos so desfigurados ou
perdem sua aproximao com o mundo real.
Mito uma narrativa que remonta aos tempos fa-
bulosos ou hericos, em que aparecem seres e acon-
tecimentos imaginrios, que simbolizam foras da
natureza, aspectos da vida humana, etc. Narrativa
de significao simblica, transmitida de gerao a
gerao e considerada verdadeira ou autntica den-
tro de um grupo. Tem geralmente a forma de um
relato sobre a origem de determinado fenmeno,
instituio, etc., por meio do qual se formula uma
explicao da ordem natural e social e de aspectos
da condio humana.
Conto. Narrativa pouco extensa, concisa e com uni-
dade dramtica, concentrando-se a ao num ni-
co ponto de interesse.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 124
De olho na Cultura 125
Soltando o verbo
O provrbio outra modalidade de difuso de saberes atravs
da oralidade muito comum na cultura africana. Ele se caracteriza
como uma mxima ou sentena de carter prtico e popular, co-
mum a todo um grupo social. Tem forma sucinta e geralmente
rico em imagens. Tambm conhecido como adgio, ditado,
exemplo, refro, Por exemplo: Casa de ferreiro, espeto de pau;
Quanto maior a nau, maior a tormenta.
a) Na atividade a seguir voc encontrar alguns provrbios
de origem africana (retirados do site http://
www.umjogopordia.com/cadeotexto/texto1.html). Leia-
os e escolha uma das palavras em destaque para comple-
tar o sentido de cada um deles. Sobra uma palavra.
Casa/ caarola/ ninho/ escorregou/ hbeis/ mos/ olha
1. No olhe para onde voc caiu, mas para onde voc
2. Julgue um homem pelo que ele produz com as
3. Pssaro que muito canta no constri
4. A perdiz adora ervilhas, mas no as que vo com ela na
5. Mares calmos no fazem marinheiros
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 125
126 De olho na Cultura
Botando a boca no mundo
Para o povo africano em geral, e para a cultura iorub especifi-
camente, a festa uma ddiva de Olodumar. Vejamos uma das
verses de um mito expressa no livro Mitologias dos Orixs, de
Reginaldo Prandi que conta como os seres humanos foram
presenteados com a festa, que simboliza o grande poder de Deus.
Quando Orunmil (sbio adivinho) veio Terra junto com
os orixs para visitar os humanos, ele pediu a Olorum (nome com
o mesmo significado que Olodumar: Deus, Senhor Supremo)
permisso para trazer algo novo, belo e ainda no imaginado que
mostrasse aos homens a grandeza e o poder do Ser Supremo.
Olodumar concordou com If (esta pode ser uma outra denomi-
nao para Orunmil ou pode significar orculo jogo de bzios,
utilizado para as adivinhaes) e enviou a festa aos humanos.
Olodumar mandou trazer aos homens msica, o rit-
mo, a dana (...) os instrumentos.
Os tambores que os homens chamaram de ilu e at,
Os atabaques que eles denominaram rum, rumpi e l,
O xequere, o g e o agog (...)
Para tocar os instrumentos, Olodumare ensinou os alabs,
Que sabem soar os instrumentos que so a voz de
Olodumar.
Realizou-se a primeira grande festa na Terra e, desde ento, a
msica e a dana esto presentes na vida dos humanos e so uma
exigncia dos orixs (divindades africanas) quando estes visitam nos-
so mundo. No decorrer dos captulos anteriores e nos prximos, voc
notou e continuar percebendo que, quando nos referimos cultura
afro-brasileira, sempre citamos uso da msica, do ritmo, dos gestos
corporais, dos instrumentos, da palavra cantada ou versada.
Todos esses elementos se comunicam e nos comunicam algo
sobre nosso territrio, nossa cultura e nossa lngua. Isso, ns pu-
demos apreciar nos textos que fizeram aluso capoeira, ao Lundu,
embolada, ao Candombe etc. e nas vrias atividades de pesquisa
que tm sido propostas at o momento. A maioria delas esteve ou
estar ligada aos aspectos mencionados.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 126
De olho na Cultura 127
Um trao marcante nas modalidades de linguagem que vi-
mos estudando o seu poder metafrico. As palavras, textos,
canes, telas, poesias tm mais de um ou diversos significados.
E cada um desses sentidos pode nos ensinar, nos alertar, nos pro-
vocar, nos fazer refletir, questionar, sorrir, chorar, danar, recla-
mar, recordar, sentir saudade etc. H um encanto ou uma magia
na maneira como eles nos contam sobre a vida, nos tocam ou,
simplesmente, nos fazem existir e resistir.
Exemplo dessa lio de coisas ou de significados um ou-
tro mito de Orunmil, o primeiro babala palavra que quer
dizer Pai do Segredo. Oxal pediu que Orunmil lhe preparasse o
melhor prato que existisse. Orunmil preparou a lngua. Satisfeito
com a comida, Oxal pediu que ele tambm mostrasse o pior pra-
to. E, para a surpresa de Oxal e de todos, Orunmil tambm
apresentou a lngua como o pior prato.
Oxal estava achando tudo muito estranho, at que Orunmil
explicou que com a lngua se concede ax, mas tambm se calunia,
se destrem reputaes e se cometem as mais repudiveis vilezas. A
fala ou a palavra pode servir tanto para o bem quanto para o mal
um mesmo elemento pode ter um duplo valor simblico.
Nossa vida, nosso cotidiano tambm se movimenta dessa for-
ma. Podemos narrar, contar, fazer e pensar as coisas, a fim de conse-
guir uma convivncia produtiva com as outras pessoas, ou no.
Dando continuidade ao carter polissmico dos textos e das
palavras, temos Jlio Emlio Brs, escritor negro de literatura
infanto-juvenil, que nos premia com um livro que traz grande con-
tribuio para ns brasileiros. Em Lendas negras, o autor, contando
um conto, aumentou pontos em seu repertrio ao retratar o uni-
verso angolano, como no texto a seguir.
Quem perde o corpo a lngua
Conta-se em Angola que h muito tempo um caa-
dor, voltando para sua aldeia, encontrou uma cavei-
ra num oco de pau. Assustado olhou desconfiada-
mente de um lado para o outro, temendo alguma
armadilha ou uma das muitas artimanhas dos esp-
ritos que faziam da floresta o seu lar. Mesmo ainda
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 127
128 De olho na Cultura
muito espantado, tomou coragem e se aproximou para
observar.
Nesse momento, a Caveira chamou-o e pediu:
Chegue mais perto, caador, que eu no mordo, no!
Mas quem diz que ele a entende? Mais desconfiado
do que propriamente assustado, o caador ficou onde
estava e somente depois de mais algum tempo juntou
um restinho de coragem e perguntou:
Quem a ps nesse lugar, caveira?
Foi a morte, caador apressou-se ela a responder.
E quem a matou?
Enigmtica, os olhos brilhando nas rbitas vazias, a
caveira voltou a responder:
Quem perde o corpo a lngua!...
O caador voltou para casa e contou aos companhei-
ros o que acontecera. Ningum acreditou, mas con-
versa vai, conversa vem a histria da caveira que
falava no meio da floresta foi se espalhando, at que
muita gente dela falava. Dias mais tarde o caador
passou pelo mesmo pedao escuro e sombrio da flo-
resta e tornou a ver a caveira no mesmo lugar, ajei-
tada caprichosamente num oco de uma enorme e
igualmente assustadora rvore.
Tornou a fazer as mesmas perguntas e, como era de
esperar, ouviu as mesmas respostas. Mais que de-
pressa o caador correu para a aldeia e, todo orgu-
lhoso de si mesmo, pois afinal era o nico que en-
contrava e conversava com a misteriosa Caveira, tei-
mou em contar a histria aos companheiros. A ver-
dade que tanto ele contou que muitos comearam
a ficar com raiva dele...
Afinal de contas, que Caveira era aquela que s fala-
va com ele?
E por qu? Seria mentira? Por fim, acabaram dizendo:
Vamos ver essa tal Caveira de que fala tanto, mas
oua bem: se ela no disser coisa alguma que se pa-
rea com tudo isso que voc tem dito a ns, vamos
lhe dar l mesmo a maior surra de pau que voc j
levou pra deixar de ser mentiroso, ouviu bem?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 128
De olho na Cultura 129
Certo de que a Caveira no o decepcionaria, mais do
que depressa o caador os conduziu at a sua estra-
nha companheira. Vendo-a, apressou-se em fazer as
tais perguntas de que tanto falara, mas a Caveira
no murmurou sequer qualquer coisa. Calada esta-
va, calada ficou. Mais o caador perguntava e mais
ela ficava calada. Nem um ai, quanto mais uma
resposta.
Diante dos olhares ameaadores dos companheiros,
ele ainda tentou argumentar, dizendo qualquer coisa,
encontrar um jeito de... Mas ningum quis saber de
conversa e muito menos de explicao. Caram sobre
ele com toda a raiva do mundo e deram-lhe uma gran-
de surra. A maior que j levara. Foram embora recla-
mando muito e gritando:
Mentiroso!
Pobre caador! Todo machucado, o corpo dolorido,
ficou estirado no cho, gemendo,gemendo. S com
muito esforo, conseguiu se encostar na rvore, pro-
curando foras para ficar de p. Quando finalmente
conseguiu se levantar, olhou cheio de raiva para a
Caveira e resmungou:
Olha bem, coisa do diabo, o que fez comigo!
Os olhos dela cintilaram quase zombeteiramente e,
depois de algum tempo, ela afirmou:
Quem perde o corpo a lngua, meu amigo, a
lngua...
E c entre ns, com toda razo!
O caador, bem machucado, foi para casa e, dessa
vez, calou-se, guardando para si aquilo que somente
ele ouvira.
MUKUENDANG,
MUKFUANG,
MUKUZUELANG, MUKUIANG.
(por andar toa, morre-se toa; por falar toa, vai-
se toa!).
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 129
130 De olho na Cultura
Expressando seus saberes
Voc j deve ter ouvido provrbios ou ditos populares
sobre a lngua, a boca ou quem fala demais. Agora, solte
o escritor que est dentro de voc. Selecione um assunto
que esteja dentro do que voc j estudou neste livro e
crie seu(s) prprio(s) provrbios.
Ampliando a arte de contar
Contar e escrever histrias pode ser algo muito
bom, muito ruim ou ainda as duas coisas. Leia o
texto a seguir, da escritora Mrcia Silva, artista pls-
tica e atriz, sobre o assunto.
Era uma vez
Arte de contar estrias na escola e na vida
Na maioria das culturas no existe uma linha clara
separando o conto folclrico do popular, do conto de
fadas e da fbula. Antes de serem escritas, as estri-
as eram transmitidas oralmente, fundindo-se umas
com as outras, incorporando a experincia de uma
sociedade; foram se modificando de acordo com o
que o contador julgava ser de maior ou de menor
interesse para os ouvintes de sua poca. Aos contos
so atribudos diversos valores, o entretenimento
apenas um aspecto interno do contar estrias.
Uma estria apresenta uma srie de conhecimentos
com os quais somos alimentados para formar uma
base em nosso interior, ao longo dos anos, de modo
que esse conjunto agir sobre a pessoa, reavivando
informaes e tradies. como se fosse uma plula
com cobertura aucarada, cujo ingrediente ativo re-
side em seu interior.
Ainda nos dias de hoje, algumas pessoas rejeitam os
contos de fadas julgando que as crianas podem tom-
los como descries da realidade e/ ou, ainda, se afas-
tar do gosto pela leitura. Vamos argumentar sobre
esses dois aspectos.
verdade que as fbulas, narrativas em que seres
irracionais, e algumas vezes inanimados, assumem
caractersticas humanas, geralmente divertidas, sem-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 130
De olho na Cultura 131
pre afirmam explicitamente uma verdade moral. No
h significado oculto.
O conto de fadas mais sutil, deixa fantasia da crian-
a o modo de tomar para ela mesma o que a estria
revela sobre a vida e a natureza humana, tanto agra-
dando quanto instruindo. Como smbolos de aconteci-
mentos ou problemas psicolgicos, estas estrias so
totalmente verdadeiras no momento da audio.
Quanto segunda objeo relativa ao ato de contar es-
trias, sabido que muitas pessoas dizem no gos-
tar de ler porque, geralmente, isso uma atividade
imposta e, sendo assim, nem sempre bem recebi-
da. Embora isso no seja a finalidade ltima, contar
estrias uma forma de promover o gosto pela leitu-
ra, provavelmente quem ouvir estrias ser leitor
pela nsia de buscar mais estrias.
H enorme diferena em contar um conto com pra-
zer, dando ateno s reaes da criana, ou contar
uma estria como que por obrigao ou para passar o
tempo, sem empolgao, sem vida. Tentar explicar o
enredo como algo extremamente realista vai contra
as experincias internas das pessoas. salutar abrir
espao para comentrios sobre a estria, para que as
impresses causadas pelo conto sejam discutidas,
trocadas, sem que precisem ser racionalizadas.
De olho na histria:
O escritor modernista Mrio de Andrade escreveu
uma obra que se tornou famosa no Brasil:
Macunama. Leia o livro e assista ao filme de mesmo
nome, uma adaptao da obra de Mrio de Andrade.
Como retratada a imagem negra no livro? H di-
ferenas em relao ao filme?
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 131
132 De olho na Cultura
Fechando e abrindo portas
com a linguagem
Destacamos outro texto de Jlio E. Brs: neste fragmento, ele
contextualiza alguns traos das culturas africanas. Para aguar sua
curiosidade, no decorrer do texto, voc encontrar alguns pon-
tos de interrogao ou exerccios de reflexo. Leia o texto e ob-
serve o que voc conhece (ou desconhece) sobre o tema.
Quantas histrias sobre os tuaregues, o lendrio povo
nmade do norte da frica, voc j leu ou escutou?
Histria de reinos to poderosos quanto desconhe-
cidos como o de Ghana e Achanti? E sobreos impri-
os Mali, Songai, Kanem-bornu, Bambara?
Pouco ou nadatem sido ensinado sobre a frica aos
jovens de hoje, afro-descendentes ou no. E quando
se ensina, busca-se mais a discusso sobre as religi-
es ou o folclor. Para muitos, a frica ainda um
mistrio ou, pior ainda, quando aparece nos notici-
rios, como palco de terrveis guerras civis, epide-
mias pavorosas ou de pases muito prximos de
barbrie, onde a civilizao parece no existir.
Procure checar as informaes sobre a frica com os livros
em circulao ao seu alcance. Pergunte a algumas pessoas, prxi-
mas ou no, o que lhes vem cabea, quando elas ouvem a palavra
frica. Registre e compares as respostas. Liste as mais recorrentes
e tente descobrir o porqu dessas informaes.
Ghana e Achanti? Imprio Mali? Songai? Kanem-
bornu? Bambara? Consulte mapas, veja onde se lo-
calizam esses imprios e busque informaes sobre
o modo de vida das pessoas que l vivem.
Herana de sculos de colonizao predatria que
deixou como legado a diviso artificial e, por isso
mesmo, conflituosa de todo um continente, onde po-
vos da mesma origem histrica foram separados e
inimigos seculares passaram a viver num mesmo pas.
Mas a frica bem mais do que isso. Na verdade,
no existe apenas uma frica, mas incontveis, ri-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 132
De olho na Cultura 133
cas em histrias e tradies. Do norte islamizado at o
sul dividido em incontveis crenas e religies, muitas
delas fruto dos anos de colonizao europia, passando
por uma surpreendente diversidade ecolgica e geo-
grfica que vai dos desertos escaldantes como o Saara e
o Kalahari s maravilhas florestais como Okavango e as
extensas savanas em pases como o Qunia.
A riqueza tnica impressionante, responsvel por uma
herana cultural e artstica que, penso, muitos de ns,
inclusive os afro-descendentes, desconhecem, apesar
de a frica ter uma influncia decisiva nos hbitos e
nos costumes mesmo daqueles brasileiros que no so
afro-descendentes.
Seja na musicalidade, no falar, na culinria ou no tem-
peramento do brasileiro, o Brasil e a sua hist-
ria, direta ou indiretamente, esto ligados aos mi-
lhares de africanos que entraram neste pas com a
escravido. Podemos falar o mesmo de pases como
os Estados Unidos, Cuba e outros tantos no conti-
nente americano.
Voc sabe o que dispora africana? Procure saber e ex-
plique o que o trecho acima, sobre Cuba, Estados Uni-
dos e Haiti, tem a ver com esse assunto.As receitas tpi-
cas da culinria africana, geralmente, tm uma histria,
um contexto, uma marca de sobrevivncia, de ancestrali-
dade e de resistncia. Identifique algumas das muitas que
fazem sucesso no Brasil.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 133
134 De olho na Cultura
Fechando e abrindo conversas
Outra modalidade de linguagem que une dana, ritmo e versos
cantados o Jongo. De acordo com as pessoas mais antigas, o
Jongo significa saudade, isto , saudade da Me-frica. Ele um
batuque de origem congo-angolesa (Congo e Angola), tambm
conhecido como ngoma (festa, casa, realeza, poder, cargo, autori-
dade). Um dos parentes mais prximos do samba, praticado
desde o tempo do cativeiro pelos negros. Essa manifestao re-
ne, ao mesmo tempo, arte e religiosidade, ancestralidade e resis-
tncia.
1
No captulo X, voc estudar mais detalhadamente o jongo
como dana. Aqui, pretendemos enfatizar o jongo como modali-
dade de linguagem: os jongueiros conversam entre si organizando
um encadeamento de versos cantados, que so denominados pon-
tos. H diferentes categorias de pontos: de louvao (saudao de
entidades espirituais, de pessoas vivas ou mortas); os de visaria ou
bizarria (apresentam de modo satrico situaes vivenciadas pela
comunidade); os de demanda ou porfia (desafios apresentados sem-
pre em forma de enigmas a ser desvendados pelo rival).
Essa ltima categoria (demanda) faz uso de segredos mgico-
poticos que s alguns conhecem. Por exemplo, a fora dos versos
to grande que faz com que uma pessoa fique imobilizada ao
cant-los. Eis o poder da palavra, que se d com a fora da
poeticidade para os que conhecem profundamente a linguagem
empregada.
Estudaremos trs textos que expressam a linguagem do
jongo.
1. Ponto de louvao - Maria Jos Martins, d. Z, e Antonia
Rita Jeremias, d. T.
sinto saudade/de quem se foi (bis)/ sarava Canrio
Zumba (o meu filho) (minha me Preta) (as Alma
Preta) (a minha irm) (Z Capelo) (Dito pruden-
te)... nAruanda.
2
2. Ponto de Bizarria Cunha, Mestre Lico Sales, Z de
Toninho e Joo Rumo.
1
MOURA, Digenes. Um Jongo Para Nunca Esque-
cer. In: SPNOLA, Cludio. Jongueiros do Tamandar,
Pinacoteca do Estado de So Paulo, 2002.
2
Jongo do Tamandar, Guaratinguet/SP, 2/7/94.
Festa de So Pedro. Batuques do Sudeste Documentos
Sonoros Brasileiros Acervo Cachuera!
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 134
De olho na Cultura 135
Mestre Lico: Tatu t vio/ (coro) mal sabe neg o
carreiro.
Z de Toninho: , olha l senhor jongueiro/pra mim
oc um home fraco// esse tatu t vio/ (coro) mai
costumado no buraco.
Joo Rumo: Eh, meu Deus do cu// esse tatu pode t
vio/ (coro) mais no cai nessa gaiola.
Z de Toninho: Meu senhor jongueiro/escute o que
eu t falano/esse tatu vio/mai ele veve cavucano/
/(coro): aia i/i ia/esse tatu vio/ mai ele veve
cavucano.
3
3. Ponto para defender um ente querido e ponto para
pedir bebida Caxambu da Fazenda So Jos
Teresinha de Maria de Jesus.
Galinha assanha/no mexe com pinto/galinha assa-
nha, ei.
Bombeiro da bomba/bombeiro da bomba d um copo
dgua/a sede me tomba.
4
Voc j deve estar familiarizado com essa modalidade de
linguagem que utiliza verso cantado, rima, improviso, desafio, rit-
mo, poeticidade, musicalidade, stira etc. O desafio est lanado:
eu sou jovem,
eu no sou bobo,
num aceito preconceito,
risqu esse termo do seu conceito.
Andria Lisboa de Sousa
Nei Lopes, no Novo Dicionrio Banto do Brasil (Pallas, 2003),
apresenta alguns significados para o vocbulo bomba, mencionado
no ponto 3.
Seguindo as trilhas da interpretao, o que significa esse tatu
vio/ mai ele veve cavucano?
Bomba [1], s.f. Certo doce de forma cilndrica ou esf-
rica, feito de massa cozida (...). Ou do umbundo:
ombomba, bolo, broa; mbomba, farinha molhada mas
no cozida.
Bomba [2], s.f. Flego (PR) - do xitonga bomba, can-
sar. Cp. Abombar
Bombeador, s.m. Aquele que age ou se comporta como
bombeiro (BH). De bombear.
Bombear, v.t.d (1) espionar. (2) Seguir algum buscan-
do ocasio para lhe falar. (3) Observar com ateno (BH).
Bombeiro [1], s.f. Espio ou explorador de campo ini-
migo. Do quimbundo pombo, espio.
Bombeiro [2], s.m. (1) vendedor ambulante. (2) O pr-
tico em trilhas e encruzilhadas nos campos gerias mi-
neiros e baianos (BH). Do quimbundo pombo, mensa-
geiro.
3
Vrzea do Gouva, Cunha-SP, 18/7/93. Documentos
Sonoros Brasileiros Acervo Cachuera!
4
Fazenda So Jos, Santa Isabel do Rio Preto-RJ (6/
6/98). Documentos Sonoros Brasileiros-Acervo Cachuera!
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 135
136 De olho na Cultura
Sarau afro - Plantando o Ax ...
Uma das vrias formas de mantermos vivas nossas memrias
culturais o sarau.
Aqui no Brasil, uma sada encontrada por muitos escrito-
res/as negros/as para furar o bloqueio a eles imposto no meio
editorial e fazer suas obras chegarem ao leitor foi a publicao em
regime cooperativo. Durante o ano de 1978, existiu em So Paulo,
no bairro do Bexiga, o Centro de Cultura e Arte Negra (Cecan),
onde se reuniam pessoas ligadas s letras, dentre as quais o poeta
Cuti e o advogado Hugo Ferreira. Juntos, eles decidiram lanar os
Cadernos Negros, pequenas coletneas de poemas.
Recitar poesias, acompanhando seu ritmo com palmas, com
o corpo, no deve ser novidade para voc. Para esse grupo de
artistas, a poesia ax. Plantar o ax o mesmo que soltar os
versos, cantar a beleza negra e alimentar nossa cultura, nossa iden-
tidade, (re)lembrando formas de resistncia por meio do poder da
palavra. Podemos perceber que, muitas vezes, os africanos escra-
vizados utilizaram a palavra como arma seja em suas rezas ou
xingamentos em sua prpria lngua, seja nos desabafos da dor
sentida. Os compositores de bloco afro, rappers, capoeiristas, con-
gadeiros, emboleiros, repentistas, sambistas etc. sabem fazer com
muita propriedade essa combinao de palavra e ritmo.
5
Novo Dicionrio Brasileiro Melhoramentos Vol. V 1969
De acordo com o Dicionrio Brasileiro Melhoramen-
tos, sarau significa: 1. (s.m) Reunio festiva, em casa
particular, clube ou teatro, em que se passa a noite
danando, jogando, tocando, etc. 2. Concerto musi-
cal de noite. 3. Reunio de pessoas amantes de le-
tras, para recitao e audio de trabalhos em prosa
ou em verso.
5
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 136
De olho na Cultura 137
Utilizando outras modalidades na fala
Banco de poemas - Leia o poema abaixo e observe as
imagens que ele traz a sua mente.
Moloise
(Mooslim)
Poeta? quem extravasa
os sentimentos contidos nos corpos,
nos travesseiros e camas,
e desfaz as tramas bem traadas
pelas cabeas dominantes
Poeta? quem traa a reta
em direo meta proposta,
e abre a porta do inconcebvel
e adormecido sonho
Poeta? quem desvenda o mistrio
da incgnita, indesvendvel
aos olhos e aos coraes vendados
e revolve a podrido do poro
Poeta? quem adormece acordado
em pleno auge da festa,
que infesta o antro dos poderosos
Poeta? quem no deixa dormir o povo
de quem morre o corpo,
e permanecem as palavras,
e faz do papel o ninho
que aquece o ovo da revoluo
Faz da caneta uma arma,
e das palavras um vulco
Poeta? quem quer
agora
E no cansa de escrever
Faa um poema junto com seus colegas. O primeiro passo
formar uma roda e tomar uma folha em branco e uma
caneta. Comece escrevendo um ou dois versos e passe o
papel para o colega que estiver do seu lado esquerdo. Esse
gesto ser repetido por um de cada vez, sucessivamente,
at voc receber seu papel novamente. Veja o resultado e
comente com a sua turma. Se achar necessrio, continue a
poesia, dando um desfecho para o texto.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 137
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 138
ARTE AFRO-BRASILEIRA:
MEMRIA CULTURAL
A gente precisa pesquisar na fonte de origem
e devolver ao povo em forma de arte,
era isso o que meu pai dizia.
(Raquel Trindade)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 139
140 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 140
De olho na Cultura 141
O conceito de Arte
Costuma-se relacionar a arte idia de beleza. H muito tempo
tenta-se definir o que capaz de despertar essa idia no ser huma-
no e at hoje no se chegou a uma resposta exata. Cada cultura,
cada contexto constri um conceito sobre o que seja arte e beleza.
No mercado formal os limites para determinar o que seja
uma obra de arte so tnues e imprecisos. Essa determinao, em
geral, fica a cargo de crticos, historiadores, peritos, e da mdia
especializada que, durante muito tempo, adotou uma concepo
esttica eurocentrista, interpretando os fenmenos segundo os
valores do ocidente europeu.
Podemos entender esttica como um ramo da filosofia vol-
tado para a reflexo respeito da beleza sensvel e do fenmeno
artstico.
Na Europa, de modo geral, principalmente aps o sculo
XV, pressupunha-se que a produo artstica, para ser considerada
como tal, necessariamente deveria ser executada ou por algum
dotado de habilidades especiais ou segundo modelo de produo
artstica. A arte deveria ser ensinada, segundo os padres estticos
ditados e adotados e o resultado deveria apresentar certo grau de
civilidade e beleza.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 141
142 De olho na Cultura
Os adornos corporais, os objetos rituais e utilitrios inte-
grados ao cotidiano dos povos africanos no partilhavam das
concepes ocidentais, portanto, no foram legitimados como
arte.
Sabemos, hoje, que o conceito de arte no se restringe
esttica eurocentrista e podemos falar em Artes e no apenas em
Arte.
Faz-se necessrio explicitar que estamos abraando a idia
de que arte linguagem que se manifesta atravs de msica, dana,
teatro, imagens. Seus processos de construo desenvolvem uma
lgica interna particular na organizao de sons, silncios, ritmos,
cores, formas, linhas, gestos, de acordo com a inteno do produ-
tor.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 142
De olho na Cultura 143
Artes das fricas
A expresso Arte Africana foi cunhada por pesquisadores e artis-
tas ocidentais no final do sculo XIX, designando as produes de
todo o territrio africano sem considerar as peculiaridades estti-
cas, culturais e filosficas dos diversos povos e etnias presentes na
vastido do continente africano. Se tomssemos apenas a arte do
Egito, que grande parte dos historiadores desconsidera como parte
do territrio africano, j teramos um enorme universo em termos
de arte.
to invivel a generalizao de uma Arte da frica quan-
to de uma Arte Asitica ou Europia. Considerando esse fator,
optamos por utilizar o termo Arte da frica e nos ater aos aspec-
tos gerais dessas produes.
Um dos pontos em comum entre as produes da arte da
frica o culto s origens ancestrais e aos elementos da natureza,
talvez motivado pelo anseio de sobrevivncia e perpetuao que
faz parte da filosofia de vida dos africanos em geral, embora no
seja uma caracterstica exclusiva deste povo.
A arte da frica negra tradicional, presente em objetos de
uso cotidiano e no universo performtico msica e dana
vai alm da expresso artstico-esttica, estando o artista e sua pro-
duo a servio da comunidade.
As artes plsticas, manifestas em objetos utilitrios, estam-
pas de tecidos, jias, tm nas mscaras e esculturas suas verses
mais conhecidas. O significado exato desses objetos quase sem-
pre desconhecido, uma vez que depende da finalidade de cada
pea e do ritual a que esta se destina.
Algumas esculturas so representaes de personalidades im-
portantes na comunidade e espritos ancestrais em aes cotidianas.
As mscaras que, em sua grande maioria, serviam a ritos
religiosos como funerais, rituais mgicos de cura, de nascimento e
casamento, conferiam a quem as usasse o poder de incorporao
de espritos e de absoro de foras mgicas e msticas.
Embora as mscaras fossem elaboradas com diversos tipos
de materiais, como marfim, metais ou barro, o mais comum era o
Ibejis, esculturas em madeira,
Museu Afro Brasil, So Paulo
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 143
144 De olho na Cultura
uso de madeira, que era entalhada com uma espcie de faca ou
canivete.
Em alguns casos, o criador executava o trabalho em meio a
um ritual em que se isolava na selva e buscava se comunicar com
os espritos dos ancestrais, por vezes, usando uma mscara que
lhe conferia as condies necessrias para a funo.
Um procedimento muito comum a juno de materiais de
diversas naturezas em uma mesma pea, como as obras entalha-
das em madeira e recobertas com couro, pele e/ ou lato.
Para os africanos, a mscara e o corpo so amlgamas dos
componentes do universo: reino vegetal e animal.
O senso comum tende viso romntica de que toda a pro-
duo artstica da frica, de ontem e de hoje, de cunho mgico-
religioso.
O fato que foram e ainda so produzidas peas sem inten-
o mgico-religiosa, criaes livres que congregam os valores est-
ticos dos africanos amalgamados s influncias estticas europias.
Voc poder vivenciar a experincia de produo
de uma mscara desenvolvendo a atividade nme-
ro um sugerida no final deste captulo
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 144
De olho na Cultura 145
Ibejis
Repblica do Benin ( ex-Daom)
Acervo do Museu Afro-Brasileiro Ufba
Foto: Claudiomar Gonalves
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 145
146 De olho na Cultura
Da frica para o Mundo
Por muito tempo desvalorizadas e incompreendidas, as produes
estticas marcadas por traos tnicos indgenas e africanos estive-
ram distantes dos espaos destinados aos fenmenos artsticos
museus, galerias de arte, teatros, salas de concerto e afins.
A crtica de arte europia passou a considerar algumas das
produes visuais africanas como obras de arte a partir do sculo
XX, quando as tropas dos pases colonizadores, movidas pela be-
leza das peas e pela possibilidade de comercializ-las, passaram a
promover um grande saque de objetos de arte que, em sua grande
maioria, encontram-se atualmente nos museus europeus. Produ-
es originais e de inegvel qualidade tcnica tiveram seu valor
medido pela aparncia, isoladamente, sem considerao de con-
texto, finalidade e processo de produo.
Desconsiderada sua importncia cultural, muitos objetos de
barro ou madeira foram destrudos, porque era dada preferncia
s peas que apresentavam materiais de valor como ouro, pedras
preciosas, bronze e marfim, trabalhados segundo tcnicas ainda
desconhecidas na Europa.
Em suas verses mais conhecidas esculturas figurativas e
em especial as mscaras com rostos humanos a arte da frica
foi percebida pelo ocidente em um perodo em que a cultura eu-
ropia passava por um questionamento sobre a razo de ser e a
funo da arte.
A configurao estilizada e geomtrica da arte da frica aten-
deu necessidade dos artistas entediados com a pintura acadmi-
ca e dos opositores da pintura impressionista.
Padres artsticos africanos foram integrados s pinturas e
esculturas realizadas por artistas europeus, entre os quais o espa-
nhol Pablo Picasso (1881-1973), reconhecido mundialmente como
o mais notvel mestre das Artes Plsticas do sculo 20.
Uma das obras mais conhecidas de Picasso Les Demoiselles
dAvignon (As senhoritas de Avignon), inaugura o movimento
cubista, cuja proposta era o rompimento com o conceito de arte
como imitao da natureza, e procurou eliminar a noo de pers-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:18 146
De olho na Cultura 147
Mscara Gueled
Repblica do Benin ( ex-Daom)
Acervo do Museu Afro-Brasileiro - Ufba
Foto: Claudiomar Gonalves
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 147
148 De olho na Cultura
pectiva e a iluso de profundidade e tridimensionalidade mos-
trando vrias faces da figura ao mesmo tempo. Os objetos eram,
ento, representados explicitando sua estrutura geomtrica bsi-
ca como cubos e cilindros.
O expressionismo, que tem como precursor o artista no-
ruegus Edvard Munch (1863-1944), tambm dialoga com os pa-
dres estticos da arte da frica, propondo uma ruptura com as
academias de arte europias. Eliminando a iluso de
tridimensionalidade, se caracteriza, principalmente, pela distoro
e o exagero das formas, pensados para causar impacto emocional
no apreciador.
No campo das artes plsticas, podemos entender estilo como
as qualidades fsicas da obra, ou seja, a forma como a imagem
configurada, os traos recorrentes e caractersticos.
O cubismo e o expressionismo, embora captassem as carac-
tersticas estilsticas da arte negra, como alternativa ao padro es-
ttico at ento vigente, no comportaram a sua essncia, que o
universo mtico em dilogo com a vida terrena.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 148
De olho na Cultura 149
Escultura de Iemanj
Repblica do Benin (ex-Daom)
Acervo do Museu Afro-Brasileiro Ufba
Foto: Claudiomar Gonalves
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 149
150 De olho na Cultura
Arte de Memria
Quando o ser humano, pela primeira vez, gravou uma imagem
na parede de uma caverna, emitiu um som ou fez um gesto com
inteno de transmitir alguma sensao ou emoo certo que
no estivesse pensando em arte tal qual pensamos atualmente.
Quando o sergipano Arthur Bispo do Rosrio construiu
peas, bordou mantos e jaquetas e fez instalaes, atribuindo
outras funes aos objetos de uso cotidiano, no tencionava pro-
duzir obras de arte e sim atender a uma motivao interna.
Nascido em 1909, em Japaratuba, interior do Sergipe, in-
gressou como marinheiro na Escola de Aprendizes de Aracaju
nos anos 20, dando baixa em 1933, quando j estava no Rio de
Janeiro. Nessa poca, se destacou como boxeador e aperfeioou a
tcnica dos bordados. De volta vida civil, trabalhou como lavador,
borracheiro e ajudante geral na residncia de uma famlia. Em
1938, segundo a comunidade mdica, sofreu um surto psictico e
foi internado na Colnia Juliano Moreira-RJ. L ganhou o respei-
to e a confiana dos funcionrios e demais pacientes, que contri-
buam na coleta e armazenamento dos objetos que ele julgava
necessrios para realizar suas composies.
Nos anos 80, o meio artstico descobriu suas obras e o con-
vidou para participar de exposies. Ele rejeitou tais convites, as-
sim como rejeitou o rtulo de artista. Bispo morreu em 1989 nas
dependncias da Colnia Juliano Moreira que, atualmente, sedia o
Museu Bispo do Rosrio.
Arthur Bispo do Rosrio no considerava suas produes
como obras de arte. No entanto, suas obras, como Macumba ad-
quiriram o estatuto de Arte, dentro e fora do Brasil.
Construindo saberes
Este um excelente momento para estabelecer um di-
logo artstico entre voc e seus colegas de sala. Selecione
e traga para o grupo um objeto que tenha um significado
especial para voc.
Socialize o significado simblico e afetivo desse objeto.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 150
De olho na Cultura 151
Diferindo de Arthur Bispo do Rosrio, o artista afro-brasi-
leiro Agnaldo Manoel dos Santos, quando esculpe e talha ima-
gens, tem a inteno de produzir uma obra de arte para expor em
um espao que legitima o objeto como uma obra de arte.
Agnaldo Manoel dos Santos nasceu no povoado da Gamboa,
em Mar Grande, prximo ao litoral de Itaparica, em dezembro de
1926. Conheceu as tcnicas e os procedimentos da escultura no
estdio do artista plstico e fotgrafo Mrio Cravo Jr. e os empre-
gou em representaes intimamente ligadas religiosidade africana.
Em 1953, Agnaldo acompanhou Mrio Cravo Jr a So Pau-
lo para ajud-lo na montagem da participao deste na Bienal. A
partir daquele ano, sentiu o desejo de participar e no poupou
esforos at ser aceito e premiado pela obra Figura e Pilo, na Bienal
de 1957. Agnaldo morreu em 1962, deixando uma obra de signifi-
cativa importncia.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 151
152 De olho na Cultura
Cultura e identidade na arte
Nem todo artista necessariamente produz uma arte de esttica
e/ou temtica correspondente ou em dilogo com suas matrizes
tnicas. No sculo XIX, por exemplo, muitos deles, forosamen-
te ou no, inconscientemente ou no, para sair das margens do
mundo artstico, incorporaram-se s academias oficiais, seguido-
ras das correntes estilsticas europias.
Arthur Timteo da Costa (1882) e Joo Timteo da Costa
(1879-1932), nascidos no Rio de Janeiro, eram membros de uma
famlia numerosa e desprovida de recursos financeiros. Quando
jovens, foram aprendizes na Casa da Moeda e estudaram na Esco-
la Nacional de Belas Artes, antiga Academia Imperial de Belas
Artes, no Rio de Janeiro.
Arthur Timteo da Costa, gil nas pinceladas de alta quali-
dade tcnica, foi considerado um autntico precursor do moder-
nismo no Brasil. Recebeu, em 1906, a meno de 1 Grau da Aca-
demia de Belas Artes e, no ano seguinte, o grande prmio uma
viagem Europa pela obra Antes da Aleluia.
Joo Timteo da Costa, que se destacou pela pintura de re-
tratos e paisagens, exps no Salo Nacional de Belas Artes desde
1906 e ali conquistou todos os prmios. Esteve na Europa entre
1910 e 1911, contratado, dentre outros artistas, pelo governo bra-
sileiro para fazer decoraes no Pavilho da Exposio de Turim.
Artur Timteo da Costa. In:
Laudelino Freire. Um sculo de pin-
tura. Apontamentos para a histria
da pintura no Brasil; de 1816 a 1916.
Rio de Janeiro, Rhe, 1916.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 152
De olho na Cultura 153
Joo Timteo
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 153
154 De olho na Cultura
frica-Brasil - re/traduo
No fcil categorizar determinada produo como arte afro-
brasileira, considerando o todo da produo artstica brasileira,
uma vez que os dilogos entre as diferentes culturas so inevit-
veis. Mas possvel perceber a re/traduo da esttica da arte da
frica nas obras de vrios artistas brasileiros, dos quais vamos
destacar trs: Rubem Valentim, Niobe Xand e Emanuel Arajo
Rubem Valentim produziu pinturas e esculturas que
reconduzem/ retraduzem a esttica e o valor mtico da cultura
afro-brasileira. Niobe Xand, pintora e desenhista, autodidata e
seu trabalho traz a influncia das culturas africana e indgena, prin-
cipalmente nas representaes de mscaras, recorrentes em sua
obra. No conjunto da obra de Emanuel Arajo, se faz presente a
ancestralidade amerndia e ioruba.
O artista baiano Rubem Valentim nasceu em 1922 e faleceu,
em So Paulo, em 1991. Formou-se em Odontologia, profisso
que exerceu por alguns anos at passar a se dedicar arte. Suas
produes inciais apresentavam forte influncia da arte ocidental
e, ao longo do tempo, passou a representar as caractersticas est-
ticas da frica.
Niobe Xand, nascida em 1915, no interior do Estado de
So Paulo, iniciou sua carreira artstica aos 22 anos com obras cuja
temtica era a natureza. Alguns anos depois, passou a utilizar os
recursos construtivos caractersticos do Letrismo e/ou Grafismo,
movimento surgido na Frana nos anos 50, no qual as imagens
so configuradas com a utilizao de palavras, letras e sinais da
gramtica literria.
Niobe utiliza, no conjunto da sua obra, diversos materiais,
como guache, leo, acrlico, nanquim e spray, e recursos tcnicos,
como a colagem e a cpia xerox.
Voc pode vivenciar essa experincia desenvolvendo a
atividade nmero dois sugerida no final deste bloco.
Filho e neto de ourives, Emanuel Arajo nasceu em Santo
Amaro da Purificao (BA) em 15 de novembro de 1940 e, ainda
criana, exerceu funes significativas para o desenvolvimento da
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 154
De olho na Cultura 155
Emanoel Arajo
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 155
156 De olho na Cultura
tcnica e expresso artstica, como marcenaria e composio gr-
fica. Percorreu um caminho que passa pela formao na Escola
Nacional de Belas Artes da Bahia, pelo resgate, reunio e preser-
vao de documentos, fotos e objetos de arte que espelham a his-
tria do negro e pela criao do Museu Afrobrasil, localizado no
Parque do Ibirapuera, em So Paulo.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 156
De olho na Cultura 157
A imagem do negro
na histria da Arte Brasileira
Durante muito tempo, quem detinha (e ainda detm, em grande
parte) os meios de produo, divulgao e circulao de informa-
es estendia esse mesmo monoplio para o campo das artes.
Razes polticas e culturais fizeram com que a representa-
o positiva da imagem do negro no Brasil fosse cerceada durante
muito tempo. Vingava a imagem de uma populao negra dcil e
subordinada, ou do negro como um ser extico e inferiorizado.
Somente em 1853, um negro seria objeto de um retrato, g-
nero de pintura que homenageava personalidades importantes. O
marinheiro Simo, carvoeiro do vapor de Pernambuco, foi consi-
derado um heri por ter bravamente salvo pessoas de um naufr-
gio em Santa Catarina. Na poca, talvez este fosse o nico motivo
por que um negro pde ter o seu retrato pintado pelo artista mi-
neiro e professor da Academia Imperial de Belas Artes Jos Cor-
reia de Lima (1814-1857).
Movimento Modernista Brasileiro
A histria da arte designa, genericamente, como modernismo os v-
rios movimentos artsticos e literrios surgidos no fim do sculo XIX
e no incio do sculo XX que apresentaram novas concepes estti-
cas. Esse movimento de renovao esttica influenciou artistas brasi-
leiros como Di Cavalcanti e Lasar Segall. O Modernismo Brasileiro
encontrou campo frtil para o seu desenvolvimento em So Paulo.
Naquele momento, a elite paulista procurava se distinguir da cidade
do Rio de Janeiro por meio da propaganda do progresso da regio,
que recebia muitos imigrantes, principalmente italianos.
A Semana de Arte Moderna de 1922 foi o marco do movi-
mento modernista, que buscava a identidade de uma arte autenti-
camente brasileira, livre dos tradicionais modelos europeus. Den-
tre outros temas, os artistas modernistas se ocuparam em retratar
os vrios fentipos dos brasileiros.
O artista brasileiro Cndido Portinari, de famlia bastante
humilde, desde pequeno gostava de desenhar e pintar. Suas obras
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 157
158 De olho na Cultura
retratam suas lembranas de infncia, a preocupao com a dig-
nidade do ser humano e, o que mais lhe incomodava, a pobreza
que via em sua cidade, quando criana.
Lasar Segall, o sexto de oito filhos de uma famlia judaica e
pobre, nasceu em 1891, na capital da Litunia, e iniciou seus estu-
dos de desenho aos 14 anos. Em 1923, j um artista consagrado e
respeitado na Europa, sofrendo perseguio por ser judeu e ten-
do sido prisioneiro durante a I Guerra Mundial (1914-1918), esco-
lheu o Brasil como pas para morar definitivamente e passou a
fazer parte do grupo de artistas da corrente modernista. Faleceu
em 1957, em So Paulo, deixando pinturas, desenhos, gravuras e
esculturas que refletem sua preocupao com as injustias sociais
e com o sofrimento humano.
Idealizada por Di Cavalcanti, e abraada por vrios artistas
da poca, a Semana de Arte Moderna aconteceu entre 11 e 18 de
fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de So Paulo, onde foram
apresentadas exposies de arte, conferncias, leituras de poesia e
prosa, espetculos de msica e de dana. A Semana causou in-
meras reaes, negativas e positivas, no cenrio cultural. Este foi o
perodo de maior visibilidade das questes ligadas s relaes t-
nico-raciais na composio da cultura brasileira.
Estampa negra
A gravura, como arte, firma-se no sculo XX e sua particularidade
a possibilidade da reproduo da imagem ser considerada como
uma obra original. Um trabalho de gravura divide-se em quatro
etapas igualmente importantes: a gravao, momento em que se
cava o suporte para configurar a imagem; a entintagem, momento
em que se passa tinta no suporte j gravado; a impresso, quando
se transfere a imagem para o papel; e a finalizao, quando a im-
presso numerada e assinada. Uma gravura considerada origi-
nal quando assinada e numerada pelo artista, dentro dos padres
estabelecidos internacionalmente.
A impresso da imagem feita diretamente da matriz pelo
artista ou por impressor especializado, mas sob a orientao do
primeiro. Quando considera terminada a produo, o artista tira a
primeira prova, que chamada de PA. (prova do artista).
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 158
De olho na Cultura 159
Cabea de negro, Lasar Segall 1929, xilogravura, 20 x 15 cm
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 159
160 De olho na Cultura
Prolas do Brasil
Tambm nos anos 1920, so revelados e valorizados dois gran-
des mestres da arte brasileira: Antnio Francisco Lisboa e Mes-
tre Atade.
A palavra barroco significa prola ou jia de formato
triangular. Designa o estilo artstico predominante no sculo XVII,
que se caracteriza, na escultura, pelo emprego excessivo de orna-
mentos e, na pintura, pela intensidade do contraste de luzes e som-
bras, que intensifica a expresso dos sentimentos.
Manuel da Costa Atade, pintor, entalhador, dourador, ar-
quiteto, msico e professor de arte, conhecido como Mestre Atade,
nasceu em 1762 e morreu em 1830 na cidade de Mariana, Minas
Gerais. Mestre Atade conferiu carter bem brasileiro ao estilo bar-
roco, pintando o interior de vrias igrejas de Minas Gerais com
um estilo prprio. Pintando Nossa Senhora e anjos negros e mu-
latos com cores vivas, entre as quais a preferida era o azul, foi um
dos maiores representantes da pintura barroca brasileira, ao lado
do arquiteto e escultor Antnio Francisco Lisboa.
Antnio Francisco Lisboa nasceu, provavelmente, em 1738,
na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Morreu em 1814, quase
cego e acometido de uma doena que degenerava seus rgos.
Morreu sem ter o seu valor artstico reconhecido. O grande artista
seria redescoberto quase cem anos mais tarde. Fruto da unio do
portugus Manuel Francisco Lisboa, considerado um dos melho-
res arquitetos de sua poca, com sua escrava Isabel, nasceu escra-
vo e foi libertado pelo pai, com quem aprendeu a desenhar. Mais
tarde passou a freqentar oficinas de produo artstica e come-
ou a desenvolver um estilo peculiar no seu trabalho, cujo desta-
que so os entalhes em madeira e as esculturas de santos. Suas
obras consideradas mais importantes esto na cidade mineira de
Congonhas do Campo: Os Doze Profetas, um conjunto de doze
esttuas em tamanho natural, esculpidas em pedra-sabo, e Os Pas-
sos da Paixo.
Voc pode vivenciar essa experincia desenvolvendo a ati-
vidade nmero quatro sugerida no final deste bloco.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 160
De olho na Cultura 161
Imagem do negro pelo negro
A atuao dos artistas modernistas foi importante, porm insufi-
ciente para a afirmao e o fortalecimento nas artes plsticas do
que hoje denominamos identidade afrobasileira.
Nesse sentido, coube a alguns artistas procurar ser escriba
da sua prpria histria e identidade, como o fez Rosana Paulino.
Rosana Paulino nasceu em 1967, no interior de So Paulo, e
na juventude deslocou-se para a Capital para fazer vestibular para
Biologia, mas acabou optando pelas artes plsticas. Em 1994, ga-
nhou o primeiro prmio da Mostra de Arte Jovem, dedicada a
talentos da Universidade de So Paulo (USP), por seus trabalhos
com imagens de mulheres e crianas negras. Peas serigrafadas,
pintadas, costuradas ou recortadas articulavam a atitude artstica
com as questes sobre poltica, raa e cultura. Uma de suas famo-
sas obras Parede da memria, com retratos de mulheres da sua
famlia.
Voc pode compor com seus colegas uma parede da me-
mria para reralizar a atividade nmero cinco sugerida
no final deste bloco.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 161
162 De olho na Cultura
Afinal, o que arte?
Podemos aceitar a definio de que arte o produto simblico
que o ser humano criador realiza com inteno determinada.
O que h em comum entre a escultura africana, as composi-
es de Bispo, as esculturas de Agnaldo, as pinturas dos irmos
Timteo e as demais que j vimos ou de que ouvimos falar, para
serem classificadas como obras de arte, a ao dos seus produ-
tores diante de fenmenos oferecidos pelo contexto em que es-
tavam inseridos e o processo de transformao de suas percep-
es em linguagem.
Em outras palavras, o ato criador no se manifesta de modo
isolado. no conjunto de relaes entre o artista e o contexto em
que est inserido que surge a necessidade e o processo de elabora-
o e construo da forma.
Como sujeito em dilogo com seu meio ambiente, amplian-
do sua concepo a respeito do universo circundante, o artista
no um iluminado que, tomado por foras de um mundo alm,
produz uma obra de arte imune s influncias e exigncias do
meio em que se insere. Alm disso, o artista tambm um indiv-
duo que no est livre de suas paixes pessoais.
Nutrindo o seu processo de criao com as experincias
vividas, o artista cria um fenmeno de caractersticas prprias, com
elementos simblicos comuns, a fim de estabelecer um dilogo
com o universo cultural do apreciador.
Caso contrrio, destituda da possibilidade de comunica-
o, sua produo no poderia ser traduzida como linguagem que
, na medida em que comunica fatos e/ou idias. Evidentemente,
no h uma resposta nica e exata para a questo O que arte?
Uma dos muitos caminhos para entender uma obra de arte
como tal seria tom-la como o resultado da artesania do artista
movido por uma inteno.
As definies de arte e de beleza variam de acordo com a po-
ca e o lugar. Podemos afirmar, ento, que fazer arte uma das muitas
maneiras que o ser humano tem de expor seus sentimentos e pen-
samentos em relao ao mundo que o cerca e de contar os fatos
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 162
De olho na Cultura 163
que percebe sua volta, despertando no espectador, isto , na
pessoa que observa, diferentes sensaes, pensamentos e at com-
portamentos.
Arte uma atividade humana em que possvel representar
nossas emoes, nossa histria, nossos sentimentos e nossos dese-
jos, nossa cultura, nossa identidade, ou melhor, nossas identidades.
Ainda que a feitura da obra de arte seja uma atividade solit-
ria, a arte s se realiza como tal quando estabelece a comunicao
pela contemplao e identificao com o seu contedo.
Uma obra de arte sintomtica da cultura de seu tempo e de
seu lugar. Relacionar os produtos artsticos idia de beleza re-
presenta uma viso reducionista de um processo complexo de
codificao de uma linguagem, processo em que o criador empre-
ga conhecimento, afetividade e percepo de mundo e o observa-
dor, pensamento, sentimento e viso de mundo.
Um artista, pode ser muito conhecido na sua comunidade
sem ter sido reconhecido pelos articuladores dos espaos oficiais
ou institucionalizados. E so artistas assim, em sua grande maioria
annimos, que preservam e re-significam os elementos tradicio-
nais da africanidade na arte brasileira.
Vamos recordar que, na frica Negra, a imagem, a repre-
sentao est ligada a uma mensagem social, educativa, humana.
Constantemente evoca um tipo de comportamento. Muito alm
da adequao ao que real, aparncia, ao visvel, o africano vai
mais longe e se relaciona com foras que nos superam e se refe-
rem ao destino do ser humano no cosmos.
Sugesto de atividades
1 Fazendo Arte - Mscaras
Rena elementos que possam simbolizar o reino animal,
vegetal e mineral e produza uma mscara que homena-
geie a arte da frica.
Voc vai precisar de: Tiras de jornal e/ou papel pardo/
1 bexiga/-cola branca/ uma bacia ou recipiente similar/
1 caneta piloto ou similar/ tinta guache ou acrlica de
cores diversas e pincis.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 163
164 De olho na Cultura
Para dar certo: Encha a bexiga at atingir um tamanho
equivalente ao do seu rosto, misture 2/3 de cola e 1/3 de
gua no recipiente. Com a caneta piloto, risque a metade
da bexiga no sentido vertical. Mergulhe as tiras de jornal
na gua com cola e escolha uma das metades da bexiga
para colar as tiras de papel em seis camadas, observando
que, entre a colagem de uma camada e outra, deve haver
um intervalo mnimo de 6 horas. Quando a cobertura
com as tiras de jornal estiver bem firme, fure a bexiga.
Voc ter uma base e poder trabalhar como quiser, pin-
tando e adornando com os seus elementos de maneira
que o resultado seja uma mscara de esttica africana.
Se desejar salientar partes do rosto, como olhos, nariz e
boca, utilize canudos de jornal moldados e colados no
local desejado a partir da segunda camada da colagem.
Se desejar algum elemento vazado, como olhos, nariz e
boca, espere o molde secar totalmente, contorne a for-
ma desejada com a caneta e recorte introduzindo uma
tesoura de ponta.
Para iniciar a pintura, recomenda-se uma demo de tinta
branca em toda a base.
2 Fazendo arte - Grafismo.
Faa uma composio visual utilizando o grafismo.Voc
pode escolher uma das obras apresentadas neste livro,
em outra fonte, ou criar a sua produo.
Voc vai precisar de: papel sulfite e caneta esferogrfica
de cores variadas.
3 Fazendo Arte - Gravura
Defina com os colegas e o professor quantos exemplares
ter a tiragem da gravura produzida por vocs.
Utilize, como suporte de gravao, uma placa de madeira
ou de linleo ou uma bandeja de isopor e, para o entalhe,
goivas de metal ou outros objetos, no caso de opo
pela bandeja de isopor como suporte.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 164
De olho na Cultura 165
Para imprimir a imagem na mesma posio do desenho
original, este deve ser gravado na matriz em posio in-
vertida.
a Procure uma foto sua ou de algum que voc queira
homenagear e faa o esboo em uma folha de papel
sulfite.
b Reproduza o esboo do rosto em um papel branco
com um carbono virado para o avesso do papel. Ao
virar o papel, voc ter a imagem invertida.
c Gravando a imagem na matriz:
Siga o seu esboo e inicie a gravao da imagem. O
espao que voc deseja que fique branco deve ser ca-
vado, o espao que voc deseja que fique preto deve
estar em alto-relevo.
Comece determinando onde deseja que fique preto e
cave em volta.
Caso tenha dvida no decorrer do trabalho, antes de
prosseguir, entinte a matriz e tire uma prova para veri-
ficar onde mais necessita ser cavado.
Voc pode criar, alm das formas principais, efeitos
de textura.
4 Fazendo Arte - Escultura
Procure a imagem de corpo inteiro de um homem ou de
uma mulher que represente a etnia negra, para fazer sua
escultura em argila.
Voc vai precisar de:
2 Kg de argila
Instrumentos auxiliares, como estecas de plstico ou
madeira, que podem ser substitudas por palitos, tampas
de canetas, rguas e similares; lixa dgua para o acaba-
mento da escultura depois de seca.
Forre o espao de trabalho com vrias folhas de jornal e
brinque um pouco com a argila, amassando e batendo
para tirar o excesso de gua, caso ela esteja muito mole.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 165
166 De olho na Cultura
Caso esteja quebradia, proceda da mesma maneira,
acrescentando um pouco de gua at a argila adquirir
uma consistncia que permita a formao de um bloco,
no qual voc ir esculpir.
Voc pode fazer o esboo das linhas principais da ima-
gem a ser produzida.
Esculpir diferente de moldar. A escultura se processa
retirando o material do entorno da imagem projetada.
Ao final, apresente o trabalho aos colegas e relate o seu
processo de criao.
5 Fazendo Arte - Parede da memria
Traga uma cpia, ampliada de maneira que ocupe uma
folha de sulfite tamanho A-4, do retrato de uma mulher
que voc conhea, da sua famlia ou no, mas que seja
importante na sua vida.
Utilize tinta guache bem diluda para colorizar a cpia da
foto e apresente-a aos seus colegas.
Construam juntos uma parede da memria com as fo-
tos de todas as mulheres apresentadas.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 166
De olho na Cultura 167
NEGRO EM CENA
Se a vida fere como a sensao do brilho,
de repente a gente brilhar.
Gilberto Gil
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 167
168 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 168
De olho na Cultura 169
Mdia. Fio constitutivo
da identidade tnico-racial
A sobrevivncia obrigou os primeiro seres humanos a se reunir
em grupos. A partir da convivncia grupal, surgiu a necessidade
de comunicao, cujo veculo primordial o gesto. Com o passar
do tempo, a comunicao, alm de ser uma prtica fundamental
sobrevivncia, transforma-se em prtica cultural.
Os modos e veculos de comunicao so mltiplos. Das
inscries nas paredes das cavernas s telas de computadores. o
que se denomina mdia. Por mdia, podemos entender todo su-
porte de transmisso e difuso de informaes, como jornais, re-
vistas, cinema e televiso.
A mdia exerce grande influncia na configurao dos valo-
res sociais e estticos do grande pblico e, historicamente, tem ou
impedido a veiculao da imagem do afro-brasileiro e de seus va-
lores positivos, ou refletido e recriado uma imagem estereotipada
difundida pelos ideais e idias racistas.
Neste captulo, o espao, as imagens associadas populao
negra e as aes empreendidas contra a discriminao sero abor-
dados de maneira a ampliar o olhar para o papel da mdia na cons-
truo da identidade cultural.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 169
170 De olho na Cultura
A cara negra da imprensa
A imprensa nacional marcada pela censura e pela subservincia
aos rgos oficiais. Em 1746, no Rio de Janeiro, foi inaugurada a
primeira tipografia, pelo portugus Antnio Isidoro da Fonseca.
No ano seguinte, ela seria fechada pela determinao de um docu-
mento oficial, a Carta Rgia, que proibia a impresso de livros ou
de papis avulsos no Brasil, ento colnia de Portugal.
Em 1808, com a chegada da Coroa Portuguesa ao Brasil,
surgiu a Imprensa Rgia, que mais tarde passou a se chamar Im-
prensa Nacional. Nessa poca surgiram tambm dois jornais: o
Correio Braziliense e A Gazeta do Rio de Janeiro.
O Correio Brasiliense, sob a responsabilidade de Hiplito Jos
da Costa, foi editado em Londres, entre 1808 e 1822, o que leva
muitos historiadores a considerar a Gazeta do Rio de Janeiro como o
primeiro jornal de fato brasileiro. Este, cujo primeiro nmero cir-
culou em 10 de setembro de 1808, tinha a funo de transmitir as
informaes dos rgos oficiais.
Nos jornais oficiais, o espao destinado populao negra
eram os anncios de venda de escravos e os que ofereciam recom-
pensa pela captura de negros fugidos.
Alguns jornais de curta durao surgidos nesse perodo tam-
bm eram veculo propcio para a difuso de ideais racistas e
preconceituosos embutidos no discurso de intelectuais que aderi-
am a teorias sobre a inferioridade da populao negra e sobre o
perigo da miscigenao, que, segundo esses princpios, provocaria
a degenerao da raa branca.
Em contrapartida, os negros e abolicionistas, que sempre
haviam criado os seus prprios mecanismos de resistncia polti-
ca e cultural, o fizeram tambm na imprensa, produzindo jornais
dedicados luta pelo abolicionismo e contra o preconceito racial.
Em 14 de setembro de 1833, foi fundado o jornal O Homem
de Cor, o primeiro da imprensa negra brasileira, pelo poeta, drama-
turgo e tradutor carioca Francisco de Paula Brito.
Brito iniciou sua carreira como aprendiz na Tipografia Na-
cional, quando adolescente, e veio a tornar-se o primeiro editor da
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 170
De olho na Cultura 171
imprensa negra do Brasil. A sede da Tipografia Fluminense de
Brito & Cia foi ponto de encontro para discusses sobre a ques-
to do negro entre polticos e intelectuais, dentre os quais Macha-
do de Assis. No sculo XX, o movimento se intensifica com o
aparecimento de jornais importantes O Clarim da Alvorada, A
Voz da Raa e Quilombo, entre muitos outros cuja temtica era o
combate ao preconceito, a valorizao da cultura e a afirmao da
identidade da populao negra.
Em 6 de janeiro de 1924, circula pela primeira vez o jornal
O Clarim da Alvorada, organizado por Jos Correia Leite e Jayme
de Aguiar.
Em 18 de setembro de 1933, circulou o primeiro nmero
do jornal A Voz da Raa, rgo da Frente Negra Brasileira, funda-
da em 1931.A Frente Negra Brasileira, que contou tambm com a
ao de Jos Correia Leite, foi uma importante entidade voltada
s questes gerais dos afro-brasileiros, com braos em vrios Es-
tados do Brasil. Em 1936, transformou-se em partido poltico,
cujo rgo oficial era A Voz da Raa, que circulou at 1937, quan-
do a Frente Negra Brasileira foi dissolvida pelo Estado Novo.
No final dos anos 40, Abdias Nascimento lanou o jornal
Quilombo, que apresentava algumas diferenas com relao aos jor-
nais voltados para a temtica racial que o antecederam. Quilombo
privilegiava o dilogo entre a produo artstica e cultural negra e
a produo artstica e cultural da Europa e o vnculo com os prin-
cipais jornais negros norte-americanos.
Formando da primeira turma do Instituto Superior de Estu-
dos Brasileiros (ISEB), Abdias Nascimento Professor Emrito
da Universidade do Estado de Nova York em Buffalo e Doutor
Honoris Causa pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e
pela Universidade Federal da Bahia. Neto de africanos escraviza-
dos, filho de um sapateiro e de uma doceira, nasceu em maro de
1914 em Franca, So Paulo. figura importante na histria da luta
pela afirmao da identidade negra, atuando artstica e politica-
mente na divulgao e preservao da arte e da cultura. Fundou o
Museu de Arte Negra, no Rio de Janeiro, em 1968. Tambm atuou
na Frente Negra Brasileira, fundou em 1944, no Rio de Janeiro,
em conjunto com Aguinaldo Camargo, Teodorico dos Santos, Jos
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 171
172 De olho na Cultura
Herbel e Tibrio, o Teatro Experimental do Negro-TEN, com o
qual o jornal Quilombo tinha forte vnculo. O TEN foi a oportuni-
dade para atrizes e atores negros desenvolverem um trabalho com
fortes razes afro-brasileiras e se tornou responsvel pelo
profissionalizao de artistas que mais tarde seguiriam carreira tam-
bm no cinema e na televiso.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 172
De olho na Cultura 173
Negro em revista
Ao olhar para as bancas de jornal, notamos que a presena do
negro ainda pouco visvel, embora j se tenha avanado muito
na luta por trazer a presena da figura do povo negro representa-
da nas diversa publicaes em circulao no pas. Exemplo re-
cente da presena do negro no mercado editorial a revista Raa
Brasil, criada pelo escritor e jornalista Aroldo Macedo.
Aroldo Macedo exerceu por pouco tempo a sua profisso
de engenheiro civil, ingressando na carreira de comunicao em
1972. Trabalhou na TV durante alguns anos, participando de algu-
mas novelas. Residiu em Nova York durante seis anos, perodo
em que atuou como fotgrafo e videomaker independente. Em
1995, de volta ao Brasil, criou a revista Raa Brasil, da qual foi
editor e diretor por quatro anos.
A revista Raa, ainda que revele personalidades afro-brasi-
leiras, apresenta um perfil mais comercial, veiculando assuntos
como beleza, moda, comportamento, cultura e lazer. uma so-
brevivente no mercado editorial, embora no seja a primeira re-
vista a priorizar o pblico negro. Publicaes como a bano, Razes
e Da Rua,por exemplo, tambm tentaram estabelecer-se, mas fo-
ram suprimidas do mercado por razes diversas.
A revista Da Rua, lanada em So Paulo, em 20 de maro de
2003, foi dirigida e editada pela jornalista Daniela Carrara e pela
professora rica Thas, que abraaram a idia de um colega, Jorge
Antonio Andrade de Jesus Santos mostrar a cultura hip hop
destacando o papel das mulheres no movimento. Sobreviveu ao
longo de quatro edies, resistindo presso da editora, que que-
ria que a revista tivesse um carter mais pop.
Atualmente, muitas revistas, boletins e jornais voltados para
a denncia e o combate ao preconceito tnico-racial so lanados.
Alguns se mantm circulando, ainda que no oficialmente, em v-
rias entidades negras espalhadas por todas as regies do Brasil.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 173
174 De olho na Cultura
Televiso em questo
A televiso, juntamente com o rdio, um dos veculos de comu-
nicao mais populares e est presente em todas as regies do
Brasil, nas casas, nas praas, nos bares e outros locais pblicos.
Pensar o poder da televiso como agente socializador de
padres culturais e ideolgicos fundamental para compreen-
dermos o seu papel como um dos fios constitutivos de concep-
es e prticas em relao ao outro. Dentre a vasta programao
televisiva, vale destacar a telenovela, que, desde seu nascimento,
no Brasil, tem ditado modas e costumes, influenciando o imagi-
nrio social da populao como um todo.
A primeira transmisso televisiva aconteceu no dia 26 de
fevereiro de 1926, em Londres. No Brasil, a televiso surge em
18 de setembro de 1950, quando foi inaugurada a primeira emis-
sora brasileira, a TV Tupi, canal 4.
A rede Tupi, extinta em 1980, considerada a grande res-
ponsvel pela difuso da telenovela, levou ao ar, em 7 de dezem-
bro de 1964, o primeiro captulo do drama O Direito de Nascer. A
novela, cuja trama era baseada em um romance cubano, tinha
como personagem importante no seu desenrolar a negra Mame
Dolores, vivida pela atriz Cla Simes. Tal personagem no tinha
famlia nem uma histria de vida prpria. A ela cabia to-s zelar
pela proteo de Albertinho Limonta, cuja verdadeira me, tam-
bm criada por Mame Dolores, era filha dos patres.
Em 1969, estreava na TV a novela A Cabana do Pai Toms,
cujo roteiro foi baseado no romance homnimo de Harriet
Beecher Stowe. Srgio Cardoso era maquiado para que pudesse
interpretar o papel do Pai Toms, negro idoso, fiel e servial.
Na dcada de 70, a Rede Globo de Televiso, fundada em
1965, produziu novelas cujos enredos reservavam aos persona-
gens e, conseqentemente, aos atores negros papis de escravos,
em sua maioria servis ou traidores, moleques de recado, preguio-
sos ou da negra sensual que ameaa a harmonia familiar. Essas
novelas alimentavam o imaginrio social sobre o negro como ser
inferior, cultural e economicamente, aos brancos, impedindo a
construo de uma identidade positiva para a comunidade de afro-
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 174
De olho na Cultura 175
brasileiros e deixando de promover discusses sobre o precon-
ceito tnico-racial.
Quando a discusso sobre a libertao dos escravos, em
geral como pano de fundo para uma trama mais romntica,
trazida luz, a responsabilidade herica pelo desfecho positivo
imputada ao homem branco, em geral jovem, republicano e soli-
drio causa dos negros e negras escravizados. Foi o que se viu
na novela Escrava Isaura, levada ao ar em 1976, com roteiro adap-
tado por Gilberto Braga do romance homnimo de Bernardo
Guimares, e em Sinh Moa, em que o ator Henrique Felipe da
Costa interpretou um lder quilombola.
Parece claro que os eventos acima relatados em nada con-
triburam para a construo positiva da imagem de negros e ne-
gras. Posteriormente, o quadro, de alguma forma, comearia a
sofrer alteraes.
Em 1978, na telenovela Corpo a Corpo, a personagem Snia,
interpretada pela atriz Zez Motta, mantm um relacionamento
amoroso com uma personagem no-negra, Cludio, interpretada
pelo ator Marcos Paulo. A famlia do rapaz se ope ao relaciona-
mento por preconceito racial, at que Snia salva a vida do pai de
Cludio, Alfredo, vivido por Hugo Carvana, doando seu sangue.
Tal atitude provoca o arrependimento de Alfredo, que acaba con-
sentindo no casamento e pedindo perdo a Snia. Ainda que te-
nha havido um casamento inter-racial, o que positivo para pen-
sarmos a vida em sociedade, outras questes merecem um olhar
mais cuidadoso e atento s sutilezas do racismo brasileira.
Joel Zito, na obra A Negao do Brasil O Negro na Telenovela
Brasileira, diz que as novelas veiculadas nessa poca apresentam o
negro sem apresentar a sua histria prpria, as suas questes cul-
turais e religiosas e tampouco a sua luta contra a discriminao
racial.
Ainda segundo Zito, a primeira telenovela a ter a luta aboli-
cionista como assunto central Sinh-Ful, de Lafayette Galvo,
levada ao ar em 1978, tambm pela Rede Globo de Televiso. Essa
novela mostra os negros em um papel mais ativo na luta por sua
prpria libertao, mas, ainda assim, refora a idia de que sem o
heri branco no h xito.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 175
176 De olho na Cultura
Em 1996, a Rede Manchete de Televiso produz a novela
Chica da Silva. Escrita por Walcyr Carrasco, a trama baseada na
histria da mulata mineira Chica da Silva, que conquista o rico e
poderoso comerciante de diamantes Joo Fernandes, servidor da
Coroa Portuguesa, motivo, alis, que impede a oficializao da unio
do casal. A histria, que j inspirara Carlos Diegues para a produ-
o cinematogrfica em 1976, cunha a imagem de Chica como
uma mulher sensual, mimada, ardilosa e impiedosa, cujo principal
desejo se impor na vida social dos brancos, pouco se importan-
do com a questo da escravido.
No que se refere participao negra na histria da televi-
so brasileira, a novela Da Cor do Pecado, escrita por Joo Emanuel
Carneiro e levada ao ar em 2004 pela Rede Globo de Televiso,
significou um marco.
Um dos dez programas mais vistos em 2004, primeira nove-
la da emissora que apresenta uma protagonista negra e tem como
trama principal um romance inter-racial, alcanou grandes ndices
de audincia no horrio das 19 horas, o que no ocorria na emis-
sora desde 1996.
A novela conta a histria de amor entre Paco, um jovem
branco e rico, criado no Rio de Janeiro, e Preta, uma jovem negra
e pobre criada no Maranho.
Alguns pontos merecem ateno, a comear pelo ttulo.
Da cor do pecado ttulo de uma msica composta por Boror
na dcada de 30 e interpretada j por vrios nomes da MPB. Nes-
sa composio se pode localizar a manifestao de preconceito
em frases como (...) um corpo delgado da cor do pecado e [...] a vergonha
se esconde porque se revela a maldade da raa [...].
A despeito do ttulo alusivo msica, a personagem vivida
pela atriz Tas Arajo no corresponde ao esteretipo da mulher
sedutora e arrebatadora. O ttulo induz interpretao de que a
mulher negra traria na cor da pele a maldade da raa, idia explici-
tada pela antagonista Brbara, que disputa com Preta o amor de
Paco.
Brbara, personagem branca, exacerba o seu preconceito
racial disparando expresses como aquela negrinha e negra
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 176
De olho na Cultura 177
suja, sem que nenhuma providncia legal seja tomada pela ofen-
dida ou por outros personagens no-negros que presenciam os
fatos.
Por um lado, temos, no ttulo, a aluso ao esteretipo da
mulher negra como objeto sexual. Por outro lado, a trama estam-
pou nacionalmente o racismo velado da sociedade brasileira e sus-
citou de maneira positiva o debate em torno das relaes tnico-
raciais. guisa de exemplo, diferentemente do que ocorreu no
caso da novela Corpo a Corpo, a opinio pblica, majoritariamente,
mostrou-se favorvel a um final feliz entre Paco e Preta.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 177
178 De olho na Cultura
Cinema em preto e branco
No Brasil dos anos 30 do sculo XX, o ideal de industrializao,
defendido pelo ento Presidente da Repblica Getlio Vargas, fa-
voreceu a criao das companhias cinematogrficas.
No Rio de Janeiro foram fundadas a Brasil Vita Filmes e a
Cindia, em 1934, e a Sonofilmes, em 1937.
Em 1941, no Rio de Janeiro, foi fundada a Atlntida Cine-
matogrfica. Seus idealizadores, Moacyr Fenelon e Jos Carlos
Burle, tinham o objetivo de fomentar o desenvolvimento indus-
trial do Cinema Brasileiro unindo o glamour do cinema norte-ame-
ricano com as caractersticas das chanchadas do cinema popular,
para conquistar os dois tipos de pblico. Na verdade, resultaram
grandes stiras aos filmes americanos.
Foi na dcada de 50 que a Atlntida lanou uma das mais
famosas duplas do cinema brasileiro, Oscarito e Grande Otelo,
que j haviam participado da primeira produo da Atlntida,
Moleque Tio (1943).
A Companhia Vera Cruz, idealizada por Franco Zampari e
Francisco Matarazzo Sobrinho, foi inaugurada em 1949 em So
Paulo, com o objetivo de produzir filmes de alto padro tcnico e
temtico, que atrassem um pblico mais intelectualizado e refina-
do. Para rivalizar com a chanchada nacional, produziu filmes como
Caiara, um melodrama narrando a histria de uma filha de lepro-
sos no litoral paulista, Tico-tico no Fub, baseado na vida do compo-
sitor popular Zequinha de Abreu, Santurio, um documentrio so-
bre Antnio Francisco Lisboa, e Sinh Moa.
Joo Carlos Rodrigues observa em seu livro O negro brasileiro
e o Cinema que Sinh Moa um dos poucos filmes a tratar da cam-
panha abolicionista, ainda que alimente o inconsciente coletivo
com a idia de que o xito da abolio dependia das aes da
sinhazinha e de seu par romntico, jovem abolicionista.
At ento, os cineastas tinham uma grande preocupao em
se igualar tecnicamente com o cinema norte-americano. A nfase
estava na qualidade tcnica, no na criao de uma temtica bra-
sileira.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 178
De olho na Cultura 179
Em 1952 foi realizado o I Congresso Nacional de Cinema
Brasileiro, em que se propunha um modelo que refletisse a reali-
dade do pas. Essa proposta inaugurou uma fase que ficou conhe-
cida como Cinema Novo e cujo empenho era produzir filmes que
retratassem a realidade social brasileira e o subdesenvolvimento.
Nessa fase do cinema nacional, duas produes foram im-
portantes para a discusso da imagem do negro: Rio Quarenta Graus,
de Nelson Pereira dos Santos, exibido em 1955, aps ter a exibi-
o censurada e s liberada aps uma intensa campanha da im-
prensa, ambientado em favelas e espaos pblicos do Rio de
Janeiro e conta a histria de um grupo de crianas vendedoras de
amendoins. Macunama, de Joaquim Pedro de Andrade, inspirado
no livro homnimo de Mario de Andrade, apresenta um brasilei-
ro preguioso e amoral que no poupa esforos para ganhar a
vida sem trabalhar.
Zzimo Bulbul foi um dos principais atores negros dos fil-
mes produzidos no movimento do Cinema Novo. No filme Com-
passo de Espera (1973), de Jos Antunes Filho, Zzimo representou
um poeta negro que convivia com problemas existenciais por causa
do preconceito do qual era constante vtima.
Como diretor, Zzimo Bulbul responsvel, dentre outras
produes, pelo filme Abolio (1988), no qual so descritas situa-
es vividas pelos afro-descedentes brasileiros at a atualidade,
considerando que o 13 de maio no significou o fim das dificulda-
des do povo negro, e pelo curta-metragem Pequena frica, que
mostra locais da cidade do Rio que, entre os anos de 1850 e 1920,
foram habitados por escravos alforriados.
O Cinema Novo, que foi um fracasso comercial, mas inco-
modou a censura poltica e cultural da poca, teve como diretores
Glauber Rocha, Leon Hirszman, Paulo Cesar Saraceni, Joaquim
Pedro de Andrade e, entre outros, um dos mais populares cineastas
brasileiros, o alagoano Cac Diegues, que contribuiu, com suas pro-
dues desde Ganga Zumba, passando por Chica da Silva at Orfeu
para a cristalizao dos esteretipos sobre o negro (a) no Brasil.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 179
180 De olho na Cultura
Luz, cmera... re/ao
A representao do negro no cinema brasileiro apresenta seme-
lhana com o que se v na televiso, onde, em geral, as questes
tnico-raciais parecem no existir ou existir em um mundo parte.
Joo Carlos Rodrigues compilou os principais arqutipos
representados pelos personagens negros, que parecem se dividir
basicamente em dois grupos: o grupo dos bondosos, dceis, ale-
gres e servis e o grupo dos rebeldes.
No primeiro grupo o dos aceitos esto tipos como: o
preto-velho e a me-preta, que alimenta, zela e se sacrifica pelo
sinhozinho ou sinhazinha; o mrtir, que sofre as tiranias do seu
senhor calado para no prejudicar os demais; o negro de alma bran-
ca que, por benevolncia do seu senhor, vive na casa-grande, fre-
qenta a escola e integrado na sociedade branca, apagando ou
negando suas razes tnicas; o nobre selvagem que no se conforma
com a situao, mas parece impotente sem a ajuda do branco.
No segundo grupo se inserem os revoltados, que so ingra-
tos e impiedosos com o seu senhor; os malandros que ganham
vida com pequenos golpes, estelionatos, furtos ou explorando suas
mulheres; o negro e a negra sedutores, que se valem da sensualida-
de para conquistar os seus objetivos; o favelado que, ao contrrio
do malandro, um honesto subempregado que vive o ano inteiro
esperando fevereiro para representar sua escola de samba e pare-
ce no ambicionar sair da favela, porque l esto os seus iguais.
Caso no sobre espao em nenhum desses fortes grupos, o
negro pode transitar entre os dois como uma espcie de bobo da
corte, o cmico infantilizado e trapalho, e para acentuar ainda
mais esse trao, em geral fazendo par constante com o heri da
histria.
Parece que no h outra sada, um meio termo entre o con-
formismo e a marginalidade.
H sim. Podemos crer que, embora a histria oficial pouco
tenha registrado das aes empreendidas pelos negros, aes que
poderiam se refletir nas telas, no houve passividade em relao a
essa questo.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 180
De olho na Cultura 181
A histria de vida do negro, sem ser pano de fundo de
alguma trama romntica proibida, comea a romper barreiras
pelas mos dos prprios afro-descendentes, que explicitam em
suas produes que h espao e alternativas entre o conformis-
mo e a marginalidade.
Muitas aes tm sido empreendidas para que o cinema
cumpra o papel de denunciar, conscientizar e promover o deba-
te sobre o preconceito racial.
Na dcada de 70, na Universidade Federal da Bahia, come-
ou a crescer a Jornada Internacional de Cinema da Bahia, que
viria a ser um dos festivais mais independentes do pas. O festival
surgiu com o nome de Jornada Baiana de Curta-Metragem e tinha
o intuito de mostrar as produes locais. Estendendo-se por todo
o Nordeste j no ano seguinte, na terceira edio passou a exibir
produes de cineastas de todo o pas, mudando o nome para
Jornada Brasileira de Curta-Metragem. Na dcada de 80, finalmente,
exibiu produes de cinema e vdeo tambm de outros pases. Na
sua XXXI edio, em 2004, destacou a produo cinematogrfica
de pases africanos de lngua portuguesa.
Em So Paulo foi realizada a 1 Mostra Internacional do
Cinema Negro-Mundo Negro. Idealizada pelo antroplogo e ci-
neasta Prof. Dr. Celso Luiz Prudente e apoiada pela Secretaria
para o Desenvolvimento das Artes Audiovisuais-MINC e pela
Fundao Palmares, a mostra disps ao grande pblico, gratuita-
mente, 27 filmes produzidos em diversos pases, que retratam a
luta e a afirmao do negro em vrios pontos do mundo. Tam-
bm houve, paralelamente, workshops, debates, lanamentos de
livros tnicos e uma exposio de artistas plsticos que abordam a
temtica afro: entre eles Achiles Nascimento, Denise Renner, Joo
Candido, Malema, Sakae e Shirley de Queiroz.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 181
O papel da mdia
na discusso tnico-racial
Os produtos lanados pela mdia chegam at ns acompanhados
de uma srie de pressupostos ideolgicos. Sabemos que, para
alm do produto palpvel, existe a imagem que construmos
idealmente. Nesse sentido, fundamental que a mdia oferea ima-
gens positivas da populao negra, para que os afro-brasileiros
possam construir uma auto-imagem igualmente positiva e para
que os no-negros conheam outras possibilidades de represen-
tao desse segmento.
A mdia pode e deve atuar no sentido de produzir e forne-
cer contedos para a construo positiva da identidade brasileira,
explicitando a legitimidade da presena negra na formao cultu-
ral do Brasil, reconhecendo o negro como autor, ator, produtor e
pensador.
1- Construindo saberes
Procure em jornais e revistas reportagens e artigos que
se refiram populao afro-brasileira e/ou que sejam es-
critos por jornalistas negros. Converse sobre os textos
com seus colegas. Faa um mapeamento dos temas e do
da abordagem poltico das matrias.
Escolha uma notcia, reportagem ou artigo, dentre tudo
o que foi recolhido, e elabore uma anlise crtica do as-
sunto abordado.
Junte-se aos seus colegas para montar uma revista ou um
jornal mural com os resultados das investigaes e refle-
xes.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 182
Palavras finais
O termo cultura, em termos amplos, mais aceito, atualmente,
do que mentalidade ou ideologia quando o assunto pensar a
humanidade em sua plena diversidade. As palavras surgem para
responder a certos problemas. Nesse caso, a questo a experin-
cia que faz com que nos identifiquemos com uns ou com outros.
Identidade que nunca absoluta e muito menos definitiva.
Passando para os processos coletivos, compreender a dife-
rena entre os povos do mesmo modo que entre as tribos das
metrpoles compreender os processos de atribuio de identi-
dades, que podem ser prprias ou definidas por outros.
O jeito de ser, o estilo, o modo de vida dependem das rela-
es sociais. O sentido dado a elas que pode nos interessar. As-
sim fundamental estarmos mais atentos aos processos de cons-
truo das idias que circulam em nosso cotidiano.
Delimitemos o patrimnio cultural afro-brasileiro, que abarca
a oralidade, as manifestaes religiosas, as imagens, os gestos e a
arte. Vamos pensar um pouco, agora, para alm das diferenas,
nas desigualdades em sociedade.
Os indicadores sociais permitem avaliar a condio de vida
material das populaes e denunciam como esses ndices atin-
gem, concretamente, os diferentes grupos. Desigualdade pede
igualdade!
Relacionadas s desigualdades, esto as subliminares formu-
laes de sentidos que agem concretamente sobre os indivduos.
A nica forma de garantir a eqidade social, cultural, polti-
ca e econmica garantir os pontos de vista nas infinitas negoci-
aes e renegociaes sociais.
Esta obra procurou dar uma certa tonalidade ao debate ao
chamar a ateno para as referncias afro-brasileiras. Ns apre-
sentamos um ponto de vista. Mais que isso, a necessidade de
recolocar valores, de contar para todo mundo que existiram e exis-
tem sucessos e absurdos nos sentidos atribudos presena afro-
brasileira, que se expressa atravs das linguagens do corpo, da pa-
lavra, da alma. O olhar crtico, pois aponta o que no deve ser
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 183
184 De olho na Cultura
retomado, mas tambm generoso, pois quer falar para alm das
dores. um olhar orgulhoso, curioso e convidativo.
Quatro escritoras e os leitores em busca de sentidos. E isso
faz todo o sentido!
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 184
De olho na Cultura 185
Captulo 1
1. ANDRADE, Rosa Maria T & Fonseca. Eduardo F. Aprovados: cursinho pr-
vestibular e populao negra. So Paulo: Selo Negro Edies, 2002.
2. CUCHE, Denys. A noo de cultura nas Cincias Sociais. Bauru: Edusc, 1999
3. HERNANDES, Leila Leite. A frica na sala de aula: visita histria contempor-
nea. So Paulo: Selo Negro Edies, 2005.
4. HERG. Tintin na frica, Rio de Janeiro: Record, 1970.
5. LOPES, Nei. Enciclopdia brasileira da dispora africana. So Paulo: Selo Negro
Edies, 2004
6. SAHLINS, Marshall. Ilhas de Histria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990
7. SANTOS, Joel Rufino dos. Negro Brasileiro Negro in Revista do Patrimnio
Histrico e Artstico Nacional n 25, 1997
8. SILVA, Vagner Gonalves da.(org.) Artes do Corpo. Coleo Memria Afro-
brasileira, vol 2, So Paulo: Selo Negro Edies, 2004
9. Secretaria de Educao Fundamental Uma histria do povo Kalungal-Mec; SEF,
2001
10. SILVRIO, Valter Roberto. Sons negros com rudos brancos In Racismo
no Brasil. So Paulo: Peirpolis; Abong, 2002
Site:
http://www.palmares.gov.br
Bibliografia
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 185
186 De olho na Cultura
Captulo 2
1. CARNEIRO, Sueli. Negros de pele clara. Correio Braziliense: Coluna
Opinio - 29/05/2004
2. CARVALHO. Urivani Rodrigues. Negritude do Maranho. In: Eparrei Revista.
1. sem. 2004 ano III n. 06 - Casa da Cultura da Mulher Negra de Santos -
So Paulo.
3. Fundao Cultural Palmares, Quilombos no Brasil - Revista Palmares n. 5,
ano nov. 2000.
4. HAMPAT B, Amadou Amkoullel. O menino fula. Traduo: Xina Smith
de Vasconcelos. So Paulo: Palas Athena: Casa das fricas, 2003.
5. LARKIN, Elisa. O Sortilgio da Cor. So Paulo: Selo Negro Edies, 2003
6. LUCINDA, Elisa, O Semelhante, 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 1996
7. MUNANGA, Kabenguele. As facetas de um racismo silenciado. In
Schwarcz, L M. & QUEIROZ, R Silva (orgs.) Raa e Diversidade. So Paulo:
Estao Cincia: Edusp, 1996.
CD
Terra de Preto (compositor Paulinho Akomabu) Bloco Afro Akomabu
Prolas Negras Vol. I - Centro de Cultura Negra do Maranho
Captulo 3
1. LUCINDA, Elisa, O Semelhante, 2. ed. Rio de Janeiro: Pallas, 1996
2. NALU Faria e NOBRE Miriam. O que ser mulher? O que ser homem?
Subsdios para uma discusso das relaes de gnero. In: Gnero e Educao.
Caderno para Professores. So Paulo: Secretaria Municipal de Educao,
2003
3. ROSA, Allan Santos Da. Zagaia. So Paulo, mmeo, 2002
4. TEODORO, Helena. Mulher Negra, luta e f. Casa de Cultura da Mulher
Negra de Santos, Revista Eparrei, So Paulo, ano 1, n 2, 2002.
Sites consultados
htpp:// www. pt. wiki.org/ wiki
htp://www.planeta.terra.com.br/arte/candombl
htpp:// www.ileaiye.com.br
htpp://www.mundonegro.com. br
htpp://midiaindependente.org.br
http://noticias.uol.com.br/saude/ultnot
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 186
De olho na Cultura 187
Captulo 4
1. AMARAL, Raul Joviano do. Os pretos do Rosrio de So Paulo So Paulo:
Alarico,1954
2. BRAGA, Jlio. Na gamela do feitio: represso e resistncia nos candombls da Bahia.
Salvador: Ianam; CEAO; Edufba, 1985
3. CAROSO, Carlos e Bacelar, Jferson (orgs.). Faces da tradio brasileira:
religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanizao, prticas tera-
puticas, etnobotnica e comida, Rio de Janeiro: Pallas, Salvador: CEAO,
1999
4. FORD, Clyde. O heri com rosto africano: mitos da frica. So Paulo: Selo Ne-
gro Edies, 1999
5. OLINTO, Antnio. A Casa da gua , Rio de Janeiro:Nova Fronteira, 1999
6. PEREIRA, Nunes. A Casa das Minas: culto dos voduns e jeje no Maranho.
Petrpolis:Vozes, 1979
7. Rita Amaral e Vagner Gonalves da Silva - Foi conta pra todo canto. M-
sica popular e cultura religiosa afro-brasileira. In Toledo, Marleine Paula
Cultura Brasileira O Jeito de ser e viver de um povo. So Paulo, Nankin Editorial,
2004.
8. ROSA, Hildo Leal da. Cartilha da nao Xamb. Olinda: s/e, 2000
9. SILVA, Vagner da. (org) Caminhos da alma: memria afro-brasileira. So Paulo:
Selo Negro Edies, 2002
10. ____________ Candombl e Umbanda: caminhos da devoo brasileira So Paulo:
tica, 2000
11. SOARES, Mariza de Carvalho. Identidade tnica, religiosidade e escravido: os
pretos minas no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, Departamento de Hist-
ria, FFLCH-USP, 1997.
12. VALENTE, Ana Lcia . O negro e a igreja catlica. Campo Grande: CECITEC/
UFMS,1994
13. VERGER, Pierre. Orixs. So Paulo: Corrupio, 1993
14. ___________ A contribuio especial das mulheres ao candombl do
Brasil. In Artigos. So Paulo: Corrupio, 1992
15. ____________ Notas sobre o culto dos orixs e voduns. So Paulo: Edusp, 1999
16. CAROSO, Carlos e BACELAR, Jefferson (organizadores). Faces da Tradi-
o Brasileira. : religiosidade, CDs
Sites:
http://www.ceao.ufba.br
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 187
188 De olho na Cultura
Captulo 5
1. AREIAS, Almir. O que capoeira. So Paulo: Brasiliense, 1983
2. BRUHNS, Heloisa Turini. Futebol, carnaval e capoeira: entre as gingas do
corpo brasileiro. Campinas: Papirus, 2000
3. CARENO. Mary Francisca do. Vale do Ribeira: a voz e a vez das comunidades
negras. So Paulo: Arte &Cincia/Unip, Lingstica, vol 27
4. CAVALLEIRO, Eliane. Do Silncio do Lar ao Silncio escolar: racismo, preconceito
e discriminao na educao infantil. So Paulo: Contexto, 2000
5. GALEANO, Eduardo. Futebol ao Sol e Sombra. Porto Alegre: L&PM, 1995
6. LIMA, Heloisa Pires. Personagens negros- um breve perfil na literatura
infanto-juvenil. In Munanga, K. (org). Superando o Racismo na Escola.
Braslia: MEC/SEF, 1999
7. LISBOA, Andria. Nas tramas das imagens: um olhar sobre o imaginrio na litera-
tura infantil e juvenil. Dissertao de mestrado, So Paulo, FE/USP
8. LOPES, Ademil. Escola, socializao: um estudo da criana negra numa escola pbli-
ca de So Carlos, So Carlos, Editora da UFSC, 1995
9. FILHO, Mrio. O negro no futebol brasileiro. Rio de Janeiro: Faperj-Murad,
2004
10. MATTOS, Hebe Maria. Escravido e cidadania no Brasil monrquico. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2000
11. MUNANGA, Kabengele (org). Estratgias polticas de combate discriminao
racial. So Paulo: Edusp: Estao Cincia,1996
12. REIS, Letcia Vidor O mundo de pernas pro ar. A capoeira no Brasil. So
Paulo Publisher Brasil, 2000
13. SANTOS, Joel Rufino (org). Negro Brasileiro Negro. Revista do Patrimnio
Histrico e Artstico Nacional, n 25, 1997
14. SILVA, Vagner Gonalves. Caminhos da Alma: memria afro-brasileira So Paulo:
Selo Negro Edies,2002.
15. ____________ Candombl e Umbanda: caminhos da devoo brasileira. So Pau-
lo: tica, 2000
16. SOARES, Carlos Eugnio. A capoeira escrava e outras tradies rebeldes
noRio de janeiro( 1808-1850). Campinas:Unicamp, 2004
17. SOARES, Mariza de Carvalho. Identidade tnica, religiosidade e escravido: os
pretos minas no Rio de Janeiro. Tese de doutorado, Departamento de Hist-
ria, FFLCH-USP, 1997.
18. TRINDADE, Azoilda Loretto. Racismo e cotidiano escolar. Rio de Janeiro: FGV/
IESAE, dissertao de mestrado,1994.
19. TRINDADE, Azoilda & SANTOS, Rafael (orgs). Multiculturalismo: as mil e
uma faces da escola. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 1999.
20. XAVIER, Arnaldo. Ludlud. So Paulo: Casa Pindahiba, s/d
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 188
De olho na Cultura 189
Sites:
www.abayomi.com.br
www.nzinga.org.br
Vdeos
Pastinha: Uma vida pela capoeira
Capoeiragem na Bahia
Captulo 6
1. ANDRADE, Elaine Nunes de (org.). Rap e Educao, Rap Educao. So
Paulo: Selo Negro Edies, 1999.
2. CORREIA, Lep. Caxinguel. Edio do Autor, 1993.
3. MACEDO, A. & Faustino, O. Luana, a menina que viu o Brasil nenm. SP:
FTD, 2000.
4. MARTINS, Leda Maria. A Oralitura da Memria. In: Fonseca, Maria N.
S. Brasil Afro-Brasileiro, Autntica, 2001.
CDs
Mestre Waldemar e Mestre Canjiquinha, produo de Reinaldo Santos
Suassuna e Cida Galvo, Estdio da Boca do Rio, 1986. Salvador/BA.
Geraldo Artur Camilo, Batuques do Sudeste. Documentos Sonoros Brasilei-
ros, Acervo Cachuera!, S/D
Gilberto Gil, Refavela, 1994
Antonio Nbrega. Madeira que cupim no ri - Na pancada do Ganz II, 1997.
Salloma Salomo, Memrias Sonoras da Noite, So Paulo, Aruanda Mundi,
2003.
Thad, Nelson Triumpho e Chico Csar. Desafio do Rap Embolada, CD
Assim caminha a Humanidade (Thade e DJ Hum), So Paulo, Trama, 2000.
Vdeo:
Pastinha, uma vida pela capoeira de Antnio Carlos Muricy, NTSC/Color,
1999. Apoio: Funarte
Captulo 7
1. CASTRO, Yeda P. Das Lnguas Africanas ao Portugus do Brasileiro, Afro-sia,
CEAO (Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da
Bahia), SA, n 14,1983.
2. __________. Notcia de uma Pesquisa em frica, Afro-sia, CEAO (Cen-
tro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia), SA, n 1,
1965.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 189
190 De olho na Cultura
3. __________. Colaborao, Antropologia e Lingstica nos Estudos Afro-
Brasileiros. In:
4. GNERRE , M. Linguagem, escrita e poder. So Paulo: Martins Fontes, 1991.
5. LOPES, Nei. Bantos e Mals e identidade negra. Rio de Janeiro: Forense Uni-
versitria, 1988.
6. _________. Novo Dicionrio banto do Brasil. Rio de Janeiro: Pallas, 2003.
7. _________. Enciclopdia Brasileira da Dispora Africana, So Pau-
lo: Selo Negro, 2004.
8. LODY, Raul. Dicionrio de Arte Sacra e Tcnicas Afro-brasileiras, Rio de
Janeiro: Pallas, 2003.
9. MARTINS, Clo & LODY, Raul (orgs), Faraimar, o Caador traz Alegria,
Me Stella, 60 anos de iniciao. Rio de Janeiro: Pallas, 1999.
10. MUNANGA, Kabenguele. Dossi sobre o Negro, Revista da USP, 1998.
11. Caderno de educao do Il Aiy, de nmero IX, intitulado: frica Ventre
Frtil do Mundo, Salvador, 2001.
12. Il Aiy, Levante de Sabres Africanos (Guellwaar & Moa Catend). Site:
www.ileayie.com.br
CDs
Documentos Sonoros Brasileiros Acervo Cachuera! Batuques do Sudeste,
Coleo Ita Cultural/SP, s/d.
Aliado G (grupo Face da Morte), Bomba H, CD Espao Rap, So Paulo, RDS
Fonogrfica, 2001.
Banda Afro Ax Dudu, A Olrn, CD Fora Negra, s/d.
Captulo 8
1. BRAZ, Jlio Emlio. Lendas negras. So Paulo: FDT, 2001.
2. MACRUZ, Fernanda. M., FAZZI, Jos .L, DAYRELL, Juarez. et al. Jogos de
Cintura. Petrpolis: Vozes, 2002.
3. PRANDI, Reginaldo. Mitologias dos Orixs, So Paulo: Companhia das Le-
tras, 2001.
Vdeo
KIRIKU E A FEITICEIRA, origem Frana e Blgica. Direo Michel
Ocelot, 1998.
CD
A Quatro Vozes, Visagem, Cd Felicidade Guerreira, Pr do Som, 2001
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 190
De olho na Cultura 191
Captulo 9
1. AMARAL, Aracy. Artes plsticas na semana de 22. So Paulo: Perspectiva,
1976.
2. ARAJO, Emanoel. A Mo Afro-Brasileira: Significado da Contribuio
Artstica e Histrica. So Paulo: Tenenge, 1988
3. ARGAN, Giulio Carlo Arte Moderna. So Paulo: Cia das Letras, 1998
4. CALABRESE, Omar. A linguagem da arte. Rio de Janeiro: Globo, 1987.
5. JUNGE, Peter (org.) A Arte da frica- Obras primas do Museu etnolgico
de Berlim. Centro Cultural do banco do Brasil,2004
6. LEITE, Jos Roberto Teixeira. Dicionrio crtico da pintura no Brasil. Rio
de Janeiro: Artlivre, 1988.
7. GOMBRICH, Ernest. Histria da Arte. Rio de Janeiro :Ed. Guanabara,
1993.
8. PAREYSON, Luigi . Esttica. Teoria da formatividade. Petrpolis: Vozes,
1993.
9. SASSOUNS, S. (coord.). MOSTRA DO REDESCOBRIMENTO ,Arte Afro-
brasileira; So Paulo: Fundao Bienal /Associao Brasil 500 anos Artes
Visuais, 2000.
Catlogos
ALVES, Adilson Monteiro in: Agnaldo Manoel dos santos-O inconsciente
Revelado- catlogo de Exposio da Pinacoteca do Estado de So Paulo
Sites
ht t p: //www. i t aucul t ural . org. br/Apl i cExt er nas/Enci cl opedi a/
artesvisuais2003/index.cfm?fuseaction=detalhe&cd_verbete=858
http://mac.mac.usp.br/projetos/seculoxx/modulo2/modernismo/
www.portinari.org.br
www.museusegall.org.br/
http://www.cyberartes.com.br/indexFramed.asp?pagina=indexAprenda.asp&edicao
Captulo 10
1. BARBOSA, Mrcio. Frente Negra Brasileira, depoimentos. So Paulo:
Qquilombhoje; Ministrio da Cultura.
2. COELHO,Teixeira. O que indstria cultural. So Paulo: Brasiliense, 1988.
3. NASCIMENTO, Abdias & NASCIMENTO, Elisa Larkin. Quilombo: vida,
problemas e aspiraes do negro/edio fac-similar do jornal dirigido por
Abdias nascimento. So Paulo: Fundao de Apoio Universidade de So
Paulo; ed 34, 2003.
4. RAMOS, Slvia. Mdia e Racismo. Rio de Janeiro: Pallas, 2002
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 191
192 De olho na Cultura
5. RODRIGUES, Joo Carlos. O Negro brasileiro e o cinema. Rio de Janeiro:
Pallas, 2001
6. ZITO, Arajo Joel. A negao do Brasil - O negro na telenovela brasileira. So
Paulo: Senac, 2000.
sites
http:// Portalafro.com.br
http://www.partes.com.br/memoria11.html
http://www.estacaonegra.hpg.ig.com.br/sociedade/30/index_int_10.html
www.continentemulticultural.com.b
http://www.cinemando.com.br/200301/iniciativas/dogmafeijoada.htm
http://www.ceafro.ufba.br/main/default.asp
http://www.arquivocabecasfalantes.hpg.ig.com.br/
http://www.cinemando.com.br/200301/entrevistas/lazaroramos_01.htm
http://www.portalafro.com.br/entidades/falapreta6/abdias.htm
CRDITO DAS IMAGENS
Captulo 1
Figura 1 Mapa
Captulo 5
Figura 1 = foto de boneca
Figura 2 Pretinha (foto Folha de So Paulo) http://esporte.uol.com.br/
olimpiadas/brasileiros/futebol/pretinha.jhtm (sendo substituda)
Captulo 9
Pesquisa iconogrfica: Adriana Afessel
Figura 1 (escultura par de crianas)
Legenda: Par de Ibeji
Sculo XIX
Madeira Policromada, bzios , tecidos e contas. Museu Afro Brasil/DIM/
DPH/DPH/SMC-SP-Comodato Emanoel Araujo Imagem digital
Figura 2 (mscara com formato de cabea)
Legenda: Mscara Egbo Ekoi
Utilizada para fins de regulamentao e controle da ordem social. Ekoi (Nigria/
Camares)
Madeira fibra natural e pele de antlope, 50 x 18 x 24 cm. Museu Afro Brasil/
DIM/DPH/DPH/SMC-SP-Comodato Emanoel Araujo Imagem digital
Figura 3 (pintura moderna mostrando pessoas lado lado)
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 192
De olho na Cultura 193
Legenda:Dorothea Kreutzfeldt, leo sobre tela, Galeria Joo Ferreira, Cape
Town, frica do Sul Dorothea Kreutzfeldt Imagem digital
Figura 4 (escultura em marfim avermelhado)
Legenda: Oxossi, marfim, 20 x 8 cm. Museu Afro Brasil, So Paulo Cole-
o Emanoel Arajo Imagem digital
Figura 5 : (painel montado com vrios elementos (conchas, imagens, bone-
cas, colares, etc...)
Legenda: Arthur Bispo do Rosrio, Macumba, s/ data. madeira, metal, contas,
gesso, papelo e vidro - 193 x 75 x 15 cm. Coleo Museu Bispo do Rosrio -
IMAS Juliano Moreira - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Martha
Twice Imagem digital
Figura 6 (fotografia antiga de um homem negro de bigode)
Legenda: Artur Timteo da Costa. In:Laudelino Freire. Um sculo de pintura .
Apontamentos para a histria da pintura no Brasil; de 1816 a 1916. Rio de Janeiro,
Rhe, 1916 Reproduo Imagem digital
Figura 7 (fotografia antiga de um rapaz )
Legenda: Joo Timteo. In:Laudelino Freire. Um sculo de pintura . Apontamen-
tos para a histria da pintura no Brasil; de 1816 a 1916. Rio de Janeiro, Rhe, 1916
Reproduo Imagem digital
Figura 8 (pintura com formas geomtricas)
Legenda: Rubem Valentim, Emblema logotipo potico, 1975. Acrlica sobre tela,
52 x 71,5 cm. Museu Afro Brasil/DIM/DPH/DPH/SMC-SP-Comodato
Emanoel Araujo Imagem digital
Figura 9 (desenho em preto e branco com 3 figuras)
Legenda: Niobe Xand, As trs figuras, 1969. leo sobre tela, 46 x 56 cm.
Coleo Lourdes Xand Divulgao Imagem digital
Figura 10 (escultura/painel em madeira com figuras geomtricas repeti-
das)
Legenda: Emanoel Arajo, Mscara para Oxal, madeira pintada. Museu
Afro Brasil.Coleo do artista Imagem digital
Figura11 (pintura de um homem negro segurando uma corda)
Legenda: Jos Correia de Lima, Marinheiro Simo, O Carvoeiro, leo sobre tela
Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro Imagem digital
Figura 12 (pintura de um rapaz negro com os braos cruzados)
Legenda: Candido Portinari, Mestio, 1934, leo sobre tela, 81 x 65,5 cm.
Acervo da Pinacoteca do Estado de So Paulo
Reproduo autorizada por Joo Candido Portinari Imagem do acervo do
Projeto Portinari Imagem digital
Figura 13 (desenho da cabea de um negro)
Legenda: Cabea de negro, Lasar Segall 1929, xilogravura, 20 x 15 cm
Museu Lasar Segall, So Paulo Imagem digital
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 193
194 De olho na Cultura
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 194
De olho na Cultura 195
Os/as autores/as
Ana Lcia Silva Souza. Graduada em Cincias Sociais e
Polticas doutoranda em Lingstica Aplicada Unicamp/IEL.
Estuda as interfaces entre juventude, letramento e relaes raci-
ais. professora universitria na rea de sociologia da educao,
assessora projetos de dinamizao de acervo de leitura junto a
educadores e jovens e sobre prticas de letramento em contex-
tos escolares e no escolares.
Andria Lisboa de Sousa. Graduada em Lngua e Litera-
tura Portuguesa. Mestre em Educao pela Faculdade de Edu-
cao da USP. Doutoranda em Educao pela USP. Sub-Coor-
denadora de Polticas Educacionais da Coordenao Geral de
Diversidade e Incluso Educacional/SECAD/MEC. Pesquisa-
dora e Fellow do Fundo Riochi Sasakawa e do Centro Interdisci-
plinar de Culturanlide de Grupos Educao (CICE-FEUSP).
Heloisa Pires Lima. Antroploga, doutoranda em An-
tropologia Social pela USP, Pesquisadora Ctedar Jaime Corte-
so/ Instituto Cames, consultora do MEC para o projeto Vida
e Histria das Comunidades Remanescentes de Quilombos no
Brasil. Escritora infanto- juvenil, autora de Histrias da Preta (Cia
das Letrinhas) entre outros. Criou e foi editora da Selo Negro
Edies.
Mrcia Silva. Mestre em Comunicao e Semitica (PUC-
SP). autora do material didtico pedaggico de Artes do Sis-
tema Anglo de Ensino. Docente no Ensino Superior, atua junto
s disciplinas: Fundamentos da Arte-educao; Metodologia do
Ensino da Arte e Prtica de Ensino de Arte. Desenvolve e asses-
sora projetos e pesquisas metodolgicas para o ensino de Arte.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 195
Uma histria do negro no Brasil
de Wlamyra R. de Albuquerque e Walter Fraga Filho
uma publicao do Centro de Estudos Afro-Orientais
da Universidade Federal da Bahia
e da Fundao Cultural Palmares.
Impressa na ........
Salvador, maro de 2006.
cultura 23 maio 06.pmd 23/5/2006, 18:19 196
Você também pode gostar
- Bantos, Malês e Identidade NegraDocumento10 páginasBantos, Malês e Identidade NegraValdir Fábio0% (1)
- Tese Eduardo PossidonioDocumento359 páginasTese Eduardo PossidonioLucas Teles IanniAinda não há avaliações
- BROWN, Diana - Uma História Da Umbanda No Rio - Cadernos Do ISER.18Documento18 páginasBROWN, Diana - Uma História Da Umbanda No Rio - Cadernos Do ISER.18Pedro Guimaraes Pimentel67% (3)
- Posição Católica Perante A UmbandaDocumento45 páginasPosição Católica Perante A UmbandaAdriano100% (1)
- Artur Ramos - O Negro BrasileiroDocumento16 páginasArtur Ramos - O Negro BrasileiroJuliano Florczak Almeida100% (2)
- Preparação de Texto e Revisão.Documento3 páginasPreparação de Texto e Revisão.amandaam100% (1)
- Direitos Fundamentais, Perspectiva Histórica, Características e Função - Loreno WeissheimerDocumento28 páginasDireitos Fundamentais, Perspectiva Histórica, Características e Função - Loreno WeissheimerViniciusAinda não há avaliações
- Livro - Literatura AfrobrasileiraDocumento222 páginasLivro - Literatura Afrobrasileiraaldeiagriot100% (11)
- Olhares Negros, Negros Olhares: Lideranças da Frente Negra Pernambucana; Década 1930No EverandOlhares Negros, Negros Olhares: Lideranças da Frente Negra Pernambucana; Década 1930Ainda não há avaliações
- Livro 120 Anos Desigualdades Raciais No BrasilDocumento180 páginasLivro 120 Anos Desigualdades Raciais No Brasilaldeiagriot100% (3)
- Imaginário Africano e AfrobrasileiroDocumento147 páginasImaginário Africano e Afrobrasileiroguttomello100% (2)
- Mendes - AndreaLucianeRodrigues - D PDFDocumento254 páginasMendes - AndreaLucianeRodrigues - D PDFTaata Kambondu MuandajiluAinda não há avaliações
- As Culturas Negras No Novo MundoDocumento379 páginasAs Culturas Negras No Novo MundoPaula Milena Magalhães Miranda100% (1)
- Dissertação - A Gira de EscravosDocumento264 páginasDissertação - A Gira de EscravosjsmeierAinda não há avaliações
- As Raças Humanas - Nina RodriguesDocumento206 páginasAs Raças Humanas - Nina Rodrigueszeholanda100% (1)
- Capoeira - Cadernos de Folclore - Édison CarneiroDocumento28 páginasCapoeira - Cadernos de Folclore - Édison Carneiromfjellner100% (2)
- Negro Na Literatura Versus Literatura Afro-BrasileiraDocumento11 páginasNegro Na Literatura Versus Literatura Afro-Brasileiraaldeiagriot100% (6)
- Religião História - As Religiões Negras Do BrasilDocumento21 páginasReligião História - As Religiões Negras Do Brasilgr@100% (4)
- LIMA, Mestre Alcides de COSTA, Ana Carolina Francischette Da. Dos Griots Aos Griôs - A Importância Da Oralidade para As Tradições de Matrizes Africanas e Indígenas No Brasil - 0Documento15 páginasLIMA, Mestre Alcides de COSTA, Ana Carolina Francischette Da. Dos Griots Aos Griôs - A Importância Da Oralidade para As Tradições de Matrizes Africanas e Indígenas No Brasil - 0Jordana BarbosaAinda não há avaliações
- Africa Passado e PresenteDocumento187 páginasAfrica Passado e PresenteMatheus ServaAinda não há avaliações
- Negros Kabenguele Livro Penesb 12 PDFDocumento384 páginasNegros Kabenguele Livro Penesb 12 PDFreilohn100% (1)
- Terra de Macumbeiros PDFDocumento139 páginasTerra de Macumbeiros PDFPedro GuimarãesAinda não há avaliações
- Experiencias Historicas Afro BrasileirasDocumento221 páginasExperiencias Historicas Afro Brasileiraszifb100% (1)
- Memorias Afro-Atlanticas 2017 PDFDocumento80 páginasMemorias Afro-Atlanticas 2017 PDFLuiz GustavoAinda não há avaliações
- Revista Koba 2Documento31 páginasRevista Koba 2Claudia AbreuAinda não há avaliações
- Africa PernambucoDocumento420 páginasAfrica PernambucoMelFariasSarges100% (1)
- Confluencias e Transfluencias No Tereco PDFDocumento142 páginasConfluencias e Transfluencias No Tereco PDFRosi GiordanoAinda não há avaliações
- A Vida e A Obra de Manuel QuerinoDocumento15 páginasA Vida e A Obra de Manuel QuerinoSabrina Gledhill100% (3)
- Samba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Documento10 páginasSamba de Roda: Uma Matriz Estética Brasileira (Daniela Maria Amoroso)Ana Raquel100% (1)
- A Invencao Dos Iorubas Na Africa OcidentalDocumento31 páginasA Invencao Dos Iorubas Na Africa Ocidentalmarioa_3100% (1)
- Raça Africana - Manuel QuerinoDocumento4 páginasRaça Africana - Manuel QuerinoSabrina GledhillAinda não há avaliações
- Sincretismo, Religião e Culturas - Sergio Ferretti PDFDocumento18 páginasSincretismo, Religião e Culturas - Sergio Ferretti PDFIya Solange de Yemoja100% (2)
- Memorial Waldeloir Rego (Corpo Da Monografia)Documento139 páginasMemorial Waldeloir Rego (Corpo Da Monografia)Ubiraci GonçalvesAinda não há avaliações
- A África No Serro FrioDocumento13 páginasA África No Serro FrioTaina SouzaAinda não há avaliações
- As Raízes da Congada: a renovação do presente pelos Filhos do RosárioNo EverandAs Raízes da Congada: a renovação do presente pelos Filhos do RosárioNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Irmandades Negras: Educação, Música e Resistência nas Minas Gerais do século XVIIINo EverandIrmandades Negras: Educação, Música e Resistência nas Minas Gerais do século XVIIIAinda não há avaliações
- Da roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalNo EverandDa roda ao auditório: Uma transformação do samba pela Rádio NacionalAinda não há avaliações
- Irmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)No EverandIrmandades dos Homens Pretos: Sentidos de Proteção e Participação do Negro na Sociedade Campista (1790-1890)Ainda não há avaliações
- Irmandades negras: memórias da diáspora no sul do brasilNo EverandIrmandades negras: memórias da diáspora no sul do brasilAinda não há avaliações
- Toques do griô: Memórias sobre contadores de histórias africanasNo EverandToques do griô: Memórias sobre contadores de histórias africanasAinda não há avaliações
- A Influência da Mídia Brasiliense na Percepção Social das Religiões de Matriz Africana no Distrito FederalNo EverandA Influência da Mídia Brasiliense na Percepção Social das Religiões de Matriz Africana no Distrito FederalAinda não há avaliações
- Memória, Patrimônio e Candomblé: perspectivas das identidades banto na religiosidade afro-brasileira de Nova IguaçuNo EverandMemória, Patrimônio e Candomblé: perspectivas das identidades banto na religiosidade afro-brasileira de Nova IguaçuAinda não há avaliações
- Leituras Afro-Brasileiras – Volume 1: Ressignificações Afrodiásporicas Diante da Condição Escravizada no BrasilNo EverandLeituras Afro-Brasileiras – Volume 1: Ressignificações Afrodiásporicas Diante da Condição Escravizada no BrasilAinda não há avaliações
- Desafios para uma Educação Quilombista no BrasilNo EverandDesafios para uma Educação Quilombista no BrasilAinda não há avaliações
- Negras, Mulheres e Mães: Lembranças de Olga de AlaketuNo EverandNegras, Mulheres e Mães: Lembranças de Olga de AlaketuNota: 1 de 5 estrelas1/5 (1)
- Enleituramento do texto afro-brasileiro: os Cadernos Negros na sala de aulaNo EverandEnleituramento do texto afro-brasileiro: os Cadernos Negros na sala de aulaAinda não há avaliações
- Territorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaNo EverandTerritorialidades, identidades e marcadores territoriais: Kawahib da Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau em RondôniaAinda não há avaliações
- Pontos de Vista Afro-BrasileirosDocumento197 páginasPontos de Vista Afro-BrasileirosSandraAinda não há avaliações
- De Olho Da Cultura AfroDocumento197 páginasDe Olho Da Cultura AfroAlex AraújoAinda não há avaliações
- Uma História Do Negro No Brasil, Wlamyra AlbuquerqueDocumento321 páginasUma História Do Negro No Brasil, Wlamyra AlbuquerqueMarina AlfayaAinda não há avaliações
- De Olho Na Cultura - Ponto de Vista AfrobrasileirosDocumento198 páginasDe Olho Na Cultura - Ponto de Vista AfrobrasileirosRebecca Silva100% (1)
- Patrimonio Historico Como Reconhecer e Exaltar A Cultura Afro BrasileiraDocumento4 páginasPatrimonio Historico Como Reconhecer e Exaltar A Cultura Afro BrasileiraGutoteatroAinda não há avaliações
- Modosdefazer Web CorrigidaDocumento134 páginasModosdefazer Web CorrigidaJosé Fernando Monteiro100% (1)
- Preto, Pardo, Negro, Afrodescendente As MuitasDocumento134 páginasPreto, Pardo, Negro, Afrodescendente As Muitascelio de souza motaAinda não há avaliações
- Boletim DEADA N11 27 03 2023Documento29 páginasBoletim DEADA N11 27 03 2023Fernanda Silveira Correa AraujoAinda não há avaliações
- Caminhos - Convergentes CompletoDocumento296 páginasCaminhos - Convergentes CompletoBy Gi FerreiraAinda não há avaliações
- Revista Negro e Educação 3 2003 - Anped e Acao EducativaDocumento264 páginasRevista Negro e Educação 3 2003 - Anped e Acao Educativaaldeiagriot100% (1)
- Revista ADUSP 43 Sobre AADocumento58 páginasRevista ADUSP 43 Sobre AAaldeiagriotAinda não há avaliações
- 3 - Apostila Religião ABADocumento54 páginas3 - Apostila Religião ABAaldeiagriot75% (4)
- A Historia Secreta Da Rede Globo PDFDocumento189 páginasA Historia Secreta Da Rede Globo PDFLuciana Arraes MorgadoAinda não há avaliações
- História Percepção Fronteiras África Séculos XIX e XXDocumento56 páginasHistória Percepção Fronteiras África Séculos XIX e XXaldeiagriot100% (2)
- 1 - Apostila Educação ABADocumento54 páginas1 - Apostila Educação ABAaldeiagriot100% (3)
- EmpregoDesenvHumanoTrabDecente CEPALDocumento91 páginasEmpregoDesenvHumanoTrabDecente CEPALEclime123Ainda não há avaliações
- Coleção Cadernos EJA Escravo Nem PensarDocumento36 páginasColeção Cadernos EJA Escravo Nem PensarCadernos EJA100% (3)
- História Da África - Apostila Projeto AbáDocumento70 páginasHistória Da África - Apostila Projeto AbáFelipe Henrique GonçalvesAinda não há avaliações
- Síntese Indicadores Sociais - Brasil 2008Documento280 páginasSíntese Indicadores Sociais - Brasil 2008Heloisa CdsAinda não há avaliações
- A Origem Do Antigo Egito - Cheik Anta DiopDocumento32 páginasA Origem Do Antigo Egito - Cheik Anta DiopaldeiagriotAinda não há avaliações
- Afrocentrismo - Casa Das AfricasDocumento27 páginasAfrocentrismo - Casa Das Africasaldeiagriot67% (3)
- Negro e Universidade Direito A InclusãoDocumento161 páginasNegro e Universidade Direito A Inclusãoaldeiagriot100% (3)
- PENESB Cor - Magisterio - WebDocumento247 páginasPENESB Cor - Magisterio - Webaldeiagriot100% (1)
- Identidade Fragmentada: Um Estudo Sobre A História Do Negro Na Educação Brasileira 1993-2005Documento111 páginasIdentidade Fragmentada: Um Estudo Sobre A História Do Negro Na Educação Brasileira 1993-2005Alex SimoesAinda não há avaliações
- A História Da África Nos Bancos EscolaresDocumento41 páginasA História Da África Nos Bancos EscolaresKaka PortilhoAinda não há avaliações
- Albuquerque, Wlamyra R. de - Uma Historia Do Negro No BrasilDocumento322 páginasAlbuquerque, Wlamyra R. de - Uma Historia Do Negro No Brasilmoni100% (1)
- Jean Carlos Moreno - Revisitando o Conceito de Identidade NacionalDocumento24 páginasJean Carlos Moreno - Revisitando o Conceito de Identidade NacionalIza GodoiAinda não há avaliações
- Estudo Impacto Vizinhaca-EIV COLATINADocumento53 páginasEstudo Impacto Vizinhaca-EIV COLATINAElka DominguesAinda não há avaliações
- Gamificação Da EducaçãoDocumento45 páginasGamificação Da EducaçãoEducação/SIM SECULTAinda não há avaliações
- Dinamicas de GrupoDocumento5 páginasDinamicas de GrupoJailton Alves PedrosoAinda não há avaliações
- Os Transportes e As Comunicações e A Qualidade de Vida Da População (11.º)Documento6 páginasOs Transportes e As Comunicações e A Qualidade de Vida Da População (11.º)profgeofernandoAinda não há avaliações
- Manual de Investigação Científica - Andrea - 2004Documento102 páginasManual de Investigação Científica - Andrea - 2004Blanko D BreezyAinda não há avaliações
- Apresentação Oficial Vip para Enviar-1Documento47 páginasApresentação Oficial Vip para Enviar-1Lúcio BarbozaAinda não há avaliações
- GGP 031 - Controle Da Qualidade Na Construção Civil PDFDocumento43 páginasGGP 031 - Controle Da Qualidade Na Construção Civil PDFKayoCésarAinda não há avaliações
- Eusfémio Chaúque & Helton Nhabai - Aspectos Legais - 4º - Grupo - EVDocumento27 páginasEusfémio Chaúque & Helton Nhabai - Aspectos Legais - 4º - Grupo - EVAfonso SimbineAinda não há avaliações
- Artes - Instrumental - Plano de Curso - Currículo Referência de MG - 16 - 01Documento31 páginasArtes - Instrumental - Plano de Curso - Currículo Referência de MG - 16 - 01Erica Collares75% (8)
- Direito Penal I - AnotaçõesDocumento50 páginasDireito Penal I - AnotaçõesRaquel Magalhães100% (1)
- PSDocumento50 páginasPSvoto_catolico_brAinda não há avaliações
- Modelo - PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE Gestao de Seguranca Privada II - 2019Documento18 páginasModelo - PROJETO MULTIDISCIPLINAR DE Gestao de Seguranca Privada II - 2019Claudio CesarAinda não há avaliações
- Juízos de Proporcionalidade e Justiça ConstitucionalDocumento38 páginasJuízos de Proporcionalidade e Justiça ConstitucionalMartinho PedroAinda não há avaliações
- Coconsciente Coinconsciente em Psicodrama RBP (1) - Artigo Anna KnobelDocumento15 páginasCoconsciente Coinconsciente em Psicodrama RBP (1) - Artigo Anna KnobelDru SussAinda não há avaliações
- Comportamento DisruptivosDocumento19 páginasComportamento DisruptivosIndira Campos100% (1)
- Ministério Público e Investigação Criminal: A Legitimidade Da Função Investigatória Do Ministério Público No Âmbito Processual Penal.Documento21 páginasMinistério Público e Investigação Criminal: A Legitimidade Da Função Investigatória Do Ministério Público No Âmbito Processual Penal.Diogo MentorAinda não há avaliações
- Paulo Moraes SUGENDocumento21 páginasPaulo Moraes SUGENcaioAinda não há avaliações
- Prática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanDocumento258 páginasPrática de Texto Leitura e Redação by Luiz Roberto Dias de Melo Celso Leopoldo PagnanFernando Silva MendesAinda não há avaliações
- Psicologia Do Esporte. A Ifluência Do Medo e Ansiedade No Desempnho Do Atleta Autor Thiago José Bonassi VieiraDocumento41 páginasPsicologia Do Esporte. A Ifluência Do Medo e Ansiedade No Desempnho Do Atleta Autor Thiago José Bonassi VieiraRAIFAinda não há avaliações
- Responsabilidade Contratual e Extracontratual Do EstadoDocumento73 páginasResponsabilidade Contratual e Extracontratual Do Estadoapi-3840713100% (3)
- Gestão de Equipamentos de Elevação de Carga Numa Empresa Do Setor Automóvel - Nuno Pena EGIDocumento82 páginasGestão de Equipamentos de Elevação de Carga Numa Empresa Do Setor Automóvel - Nuno Pena EGITiago oliveiraAinda não há avaliações
- Programação CongressoDocumento10 páginasProgramação Congressorevistainclusiva100% (1)
- Linguagem e Acontecimento ApropriativoDocumento25 páginasLinguagem e Acontecimento ApropriativoLuiz Carlos de Oliveira e Silva100% (1)
- Decreto 1311Documento3 páginasDecreto 1311José Otávio Cavalcanti BritoAinda não há avaliações
- Caderno 3 serieEM Artes Unidade 1 14 01 2021Documento35 páginasCaderno 3 serieEM Artes Unidade 1 14 01 2021Miss DressmakerAinda não há avaliações
- Aplicação Da Lei Penal MilitarDocumento16 páginasAplicação Da Lei Penal MilitarKleiton SantosAinda não há avaliações
- 2014 Dissertação Giselli Avíncula Ppgcs UfrrjDocumento121 páginas2014 Dissertação Giselli Avíncula Ppgcs UfrrjNathanael AraujoAinda não há avaliações