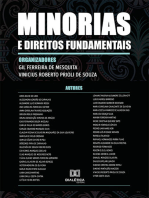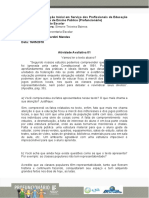Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Direitos Dos Mais e Menos Humanos, 1999
Direitos Dos Mais e Menos Humanos, 1999
Enviado por
EvandroCruz0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações37 páginasDireitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
3 visualizações37 páginasDireitos Dos Mais e Menos Humanos, 1999
Direitos Dos Mais e Menos Humanos, 1999
Enviado por
EvandroCruzDireitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 37
1
Direitos dos mais e menos humanos
*
Claudia Fonseca
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - Brasil
Andrea Cardarello, Doutorando em Antropologia
Universidade de Montreal - Canad
Resumo: A noo de direitos humanos em sua forma abstrata e descontextualizada
pouco significa. Como esta noo traduzida na prtica e suas conseqncias
particulares depende de relaes de poder forjadas em contextos histricos
especficos e expressas em categorias semnticas precisas. Depois de considerar como
certas categorias so eleitas como alvo merecedor de campanhas em defesa de
direitos humanos, concentramo-nos na anlise de programas para a institucionalizao
de crianas e adolescentes na FEBEM-RS, tentando ver como certos processos
desencadeados pela legislao progressista acabam produzindo efeitos inesperados.
Finalmente, situamos a infncia como um discurso entre outros que mobilizam
campanhas de direitos humanos. Ao atentar para a maneira como uma categoria
priorizada em detrimento de outras, desvendamos lutas simblicas e critrios
particulares que determinam - na reivindicao de direitos - quem mais, e quem
menos, humano.
Abstract: The notion of human rights means very little in abstract and
decontextualized form. How this notion is translated into practice - and the particular
consequences of this process - depends on power relations forged in specific historical
contexts and expressed in precise semantic categories. After considering how certain
categories are elected as privileged targets of rights campaigns, we concentrate efforts
on the analysis of programs for the institutionalization of children and adolescents in
the state network of reform schools (Rio Grande do Sul), calling attention to the way
in which measures promoted by the new progressive legislation do not always produce
the desired results. Finally, we situate childhood as one discourse among many
used to mobilize human rights campaigns. Looking at the way one category is
privileged in detriment to others, we detect how particular criteria are used to
determine - in the fight for rights - who is more and and who is less human.
Palavras-chave: Direitos humanos, infncia, adolescentes infratores, grupos populares
Key-words: Human rights, childhood, juvenile offenders, working-class groups
Aps muitos anos de debate entre militantes dos movimentos sociais,
parlamentares e outros membros da sociedade civil, o Brasil teve uma
*
Publicado em Horizontes Antropolgicos 10: 83-122, 1999.
Agradecemos aos participantes da FINA (Frente Inter-disciplinar de Antropologia PPGAS/UFRGS)
e, em particular, a Pablo Seman pelas valiosas sugestes.
2
nova Constituio aprovada em 1988. Fiel s tradies do direito romano
e inspirado em debates internacionais sobre direitos humanos, o
documento reflete altos ideais para uma sociedade ideal
1
: pede a
demarcao imediata das terras indgenas, bem como o reconhecimento
dos direitos territoriais dos descendentes de escravos fugitivos; proclama
direitos especficos para as mulheres, proteo para os idosos, e respeito
ao meio-ambiente. Numa ramificao subseqente Estatuto da Criana
e do Adolescente (ECA, 1990) foram reafirmadas disposies j
presentes na Constituio quanto ao direito das crianas a escola, famlia,
alimento e lazer. Se esse tipo de legislao ou no a maneira mais
eficaz para alcanar os louvveis objetivos de seus autores no est nada
claro.
Por um lado, temos figuras de destaque confessando que, embora a
Constituio contenha com certeza muitas idias excelentes, todo mundo
sabe que o pas no possui meios para p-las em prtica
(ver Comparato,
1998). Por outro lado, temos a reificao de certas categorias sociais
ndios, descendentes de escravos fugitivos, mulheres, crianas perfeitas
para alimentar associaes filantrpicas e ONGs, denominadas agora de
Terceiro Setor (Fernandes 1994). Muito j foi escrito sobre as trapaas
e os simulacros de realidade criados pelos benfeitores de grupos
oprimidos. O ndio hiperreal entronizado por muitas ONGs parece que
tem pouco a ver com os impertinentes nativos da vida real, que fazem
alianas com multinacionais ou trocam suas terras por bugigangas do
consumismo selvagem (Ramos 1991). A mesma coisa pode ser dita
facilmente em relao folclorizao dos quilombolas ou ao tratamento
publicitrio dos meninos de rua
2
. Que vantagens tiram esses grupos
subalternos dessas embalagens mediticas uma questo ainda a ser
respondida. O inegvel que eles ocupam um espao considervel no
rateio do interesse pblico e nas agendas polticas dirigidas diminuio
das injustias sociais.
Nossa reflexo parte dessas imagens e sua importncia enquanto
componente bsico dos processos de cidadania. Seguindo uma escola de
pensamento que v o simblico e o poltico como indissociveis,
sublinhamos a importncia dos sistemas de classificao embutidos na
linguagem que usamos para descrever (e apreender) a realidade.
Levantamos questes sobre a ao de indivduos inquestionavelmente
bem-intencionados que encontram-se embrenhados em determinadas
estruturas de significao que no correspondem necessariamente
realidade. Em outras palavras, neste trabalho, procuramos analisar a
1
Sobre a importncia de legislao simblica, ver Vianna (1996).
2
Sobre quilombolas, ver Leite, nesse volume.
3
questo de direitos humanos em termos de processos discursivos
epistemologias, instituies e prticas que produzem os sujeitos
polticos e informam seus alvos privilegiados de ao
3
(Scott, 1998: 35).
Ao longo desta reflexo corre a premissa de que os direitos humanos
em sua forma abstrata e descontextualizada pouco significam. Como esta
noo traduzida na prtica e suas conseqncias particulares
depende de relaes de poder forjadas em contextos histricos
especficos e expressas em categorias semnticas precisas. Partimos do
pressuposto de que a frente discursiva fruto da negociao entre
diversos grupos de interesse trabalhando em torno de um mesmo tema
uma faca de dois gumes. Por um lado fundamental para mobilizar
apoio poltico em bases amplas e eficazes. Por outro lado, tende a reificar
o grupo alvo de preocupaes, alimentando imagens que pouco tm a ver
com a realidade. Nossa hiptese que se os ativistas dos direitos
humanos no mantm um certo distanciamento em relao a este jogo
discursivo, correm o risco de montar programas que no apenas deixam
de alcanar os seus objetivos mas, pior que isto, produzem novas formas
de excluso.
Introduzido com uma reflexo sobre a natureza e importncia da
frente discursiva de que falamos, este artigo comea com a descrio
de um caso exemplar a construo social e histrica da categoria
indgena. Em seguida, adentra outra frente, a da infncia, e sua
constituio enquanto problema social. A parte principal concentra-se na
anlise de programas para a institucionalizao de crianas e
adolescentes na FEBEM-RS, tentando ver como certos processos
desencadeados pela legislao progressista acabam produzindo efeitos
inesperados. Sua inteno mostrar como os eventuais efeitos negativos
da legislao so muitas vezes produzidos por dispositivos discursivos
que escapam vontade consciente dos indivduos. Finalmente, o artigo
situa a infncia como um discurso entre outros que mobilizam
campanhas de direitos humanos e que nem sempre surtem os efeitos
desejados.
Ao atentar para a maneira como uma categoria priorizada em
detrimento de outras, desvendamos lutas simblicas que vo bem alm da
briga entre ONGs por financiamentos escassos. Comeamos a ver
critrios particulares que determinam na reivindicao de direitos
quem mais, e quem menos, humano.
3
Ver tambm a produo discursiva da realidade e a codificao estratgica no campo de
correlaes de fora em Foucault (1977); ver tambm Bourdieu (1980).
4
A Organizao de uma frente discursiva o caso do ndio patax
Braslia, capital federal. Numa noite de sbado, abril de 1997, quatro
jovens abastados, para exorcizar o tdio, fazem sua escolha medonha de
diverso: interromper o sono de algum mendigo, encharc-lo com
gasolina e acender um fsforo. Que espetculo poderia ser mais
gratificante para os seus olhos lerdos do que uma figura em chamas
gesticulando e rolando desesperadamente, tentando em vo extinguir o
fogo? Acontece que, para infelicidade dos rapazes, o mendigo que
escolheram era um ndio patax, recm chegado capital para uma
comemorao especial: o Dia Nacional do ndio. E, assim, a histria
deles que ns leitores de jornal soubemos posteriormente no ser nada
incomum (em mdia, um mendigo por ms incendiado na maioria das
grandes cidades brasileiras) terminou mal. Confrontados pela opinio
pblica com a gravidade de sua brincadeira, os rapazes esboaram o
que, evidentemente para eles, era uma desculpa plausvel: A gente no
sabia que era um ndio, pensamos que era um mendigo qualquer.
O que nos interessa neste episdio no tanto a violncia. Esta j se
encontra amplamente representada no histrico brasileiro. Nomes como
Carandiru, Candelria e Diadema tornaram-se nos ltimos anos
sinnimos da brutalidade institucionalizada contra os fracos
4
. O incidente
de Braslia, todavia, um dos poucos em que tivemos acesso s atitudes
expressas por cidados comuns para justificar tais barbaridades. Ao
apresentar tudo como um mal-entendido como se fosse permissvel, ou
em todo caso menos condenvel, atear fogo num mero mendigo os
rapazes trazem tona um sistema de classificao que separa os humanos
dos no-humanos.
Para melhor entender os processos de excluso objetivo desse
artigo seria til, como prembulo, refletir sobre como uma categoria,
neste caso o ndio, conseguiu alcanar seu status de mais humano.
Os antroplogos brasileiros desempenharam historicamente um
importante papel neste processo enquanto militantes da causa indgena
apoiando as reivindicaes destes grupos nas instncias polticas
adequadas. Hoje, acrescentam uma contribuio de outra ordem
desconstruindo conceitos naturalizantes de identidade tnica, dando
claras demonstraes de como a poltica indigenista e outros fatores
4
Estes nomes correspondem respetivamente a: a priso paulista onde 111 detentos foram sumariamente
executados pelos guardas, o bairro central da cidade do Rio de Janeiro onde seis crianas de rua foram
assassinadas por uma esquadro da morte (ver Alvim 1995a), e o subrbio de So Paulo onde policiais
foram filmados espancando e matando com um tiro pelas costas um cidado arbitrariamente detido para
suposta verificao de documentos.
5
contextuais determinam nossa maneira de olhar para esses outros. O
trabalho de M. Arruti (1997) exemplar. Aprendemos com este autor que
no final do sculo dezenove os colonos e seus legisladores, vidos por
novas terras, j tinham declarado os ndios uma coisa do passado:
Extintos os aldeamentos e libertos os escravos, aquelas populaes
deixam de ser classificadas, para efeito dos mecanismos de controle, em
termos de ndios e negros, passando a figurar nos documentos como
indigentes, rfos, marginais, pobres, trabalhadores nacionais. (Arruti
1997:17, nfase nossa). A modificao de termos teve por objetivo
constatar uma verso conveniente da realidade. Do ponto de vista dos
mecanismos de controle, a represso do pobre mais facilmente
justificada do que a represso do ndio e, certamente, essa aniquilao
semntica dos povo indgenas teria surtido efeito em pouco tempo se as
formas de classificao, sob novas influncias, no tivessem mudado.
No incio deste sculo, com a consolidao de uma identidade
brasileira, a indianidade volta tona entre as elites como emblema
nacional (Freyre 1978, Da Matta 1991, Oliven 1992). As populaes
indgenas so redescobertas e, apesar da grande maioria no ser
considerada autntica (mas apenas remanescente), reconhece-se a
especificidade de seus direitos. As conseqncias desta nova viso no
tardam a se manifestar. A partir de um decreto de 1928 que estabelece o
status jurdico de ndios, uma variedade de grupos comea a descobrir
suas origens indgenas. Uns ostentam tradies autnticas, outros j
converteram-se a um modo de vida muito semelhante ao de seus vizinhos
camponeses. Uns tm aparncia fsica adequada ao status reivindicado;
outros, portando a gama de nomes de uma populao miscigenada
cafuzo, mameluco, caboclo parecem mais negros ou brancos do que o
folclore legal gostaria. Mas, da mesma forma que, algumas dcadas
antes, tinham deixado de ser vistos (e, eventualmente, de se verem) como
ndios, agora, frente a novas circunstncias polticas, passam a
reconquistar esta identidade. A partir desta conjuntura, torna-se evidente
(pelo menos, para os antroplogos) que ser ndio se remete menos
descendncia de algum povo pr-colombiano do que identidade
expressa por determinada coletividade sendo ndios todos os indivduos
que so por ela reconhecidos enquanto membros desse grupo tnico
(Pacheco 1995: 79).
A reviravolta semntica acaba produzindo o fenmeno que descreve.
Nas ltimas dcadas do sculo XX, com a chegada das ONGs, das
alianas internacionais e da associao dos povos indgenas questo
ecolgica, vemos pela primeira vez na histria no apenas uma modesta
expanso demogrfica mas tambm um crescimento do nmero de tribos
6
classificadas. Povos indgenas, apoiados pela Constituio de 1988,
redescobrem ritos longamente esquecidos (Rosa 1998) e aceleram suas
reivindicaes demarcao das terras. As vises essencialistas que
ancoram a indianidade gentica ou culturalmente nalguma mtica
esfera pr-colombiana parecem ter caducado. Para enfatizar o carter
dinmico e contemporneo das naes indgenas, a frase de efeito atual
refere-se a comunidades emergentes.
A literatura sobre populaes indgenas nos incita a refletir sobre as
conseqncias dos termos que utilizamos. Hoje merece nosso
reconhecimento o fato de ter sido criada, graas ao esforo conjunto de
antroplogos, ONGs e um bom nmero de lderes indgenas, uma nova
frente discursiva para resgatar as 200 naes indgenas do ostracismo
histrico e reinstalar os seus membros como cidados de tempos
modernos. Resta saber o que acontece com aqueles a vasta maioria da
populao que no foram rebatizados.
O episdio do ndio patax nos ajuda a colocar em relevo o poder
instituinte das palavras, isto a construo social de certas categorias
(ndios, crianas, mendigos) enquanto mais ou menos merecedoras
de direitos especficos. Nove vezes em dez, as flagrantes violaes de
direitos humanos no Brasil no so perpetradas contra grupos
minoritrios especficos, mas sim contra os pobres as outras vtimas
queimadas vivas que, por serem meros mendigos, nem aparecem nos
jornais. Que tipo de frente discursiva pode-se organizar para uma
categoria to desgraada como os pobres e indigentes?
Categorias sociais e direitos humanos- a infncia como
problema social
Desde a dcada de 70, pesquisadores do campo sociolgico tm
dedicado ateno maneira como um ou outro tipo de comportamento
acaba sendo eleito, pela opinio pblica, como problema social
5
.
Tentam entender os processos que definem os temas de destaque as
causas que, em determinada conjuntura, comovem o pblico, angariam
fundos, e mobilizam frentes de ao. Essa linha de investigao no
nega a importncia dos temas destacados; apenas sugere que no existe
uma relao direta entre a gravidade do problema e o tamanho das
atenes (volume e intensidade emocional) voltadas para ele. O que
5
Ver Best (1990), Blumer (1971) e Conrad e Schneider (1992).
7
consta na opinio pblica como mais urgente depende nem tanto da
realidade quanto de prioridades mediticas, oportunismo poltico, e
sensibilidades de classe.
Como explicar que em Recife, por exemplo, existiam em 1992 nada
menos de 298 trabalhadores sociais especializados no atendimento de
meninos na rua para uma populao alvo de menos de 250 jovens (Hecht
1998: 152)? Por que no haveria propores semelhantes de
trabalhadores para crianas pobres morando em casa j que existem
fortes sinais que so essas as crianas mais sujeitas a violncia e mal
nutrio (Hecht 1998, Silva e Milita 1995) ? Por que a imprensa
internacional d tanta cobertura aos esquadres da morte quando mal
menciona formas infinitamente mais comuns de violncia contra crianas
tais como tortura pela polcia (Hecht 1998: 23)? O inconveniente no o
fato de dar visibilidade a casos assumidamente problemticos meninos
vivendo na rua, o assassinato de pessoas indefesas O risco que a
forte carga emocional destes temas mediticos crie uma cortina de
fumaa, ofuscando a anlise de problemas mais abrangentes e
dificultando a possibilidade de solues conseqentes.
As estimativas inflacionadas quanto ao nmero de crianas
abandonadas um exemplo desse processo. Extrapolando a definio
legal, o termo abandonado vai se aplicando a um universo mais amplo
(atinge, em certos documentos da UNESCO, 30.000.000!), tornando-se
praticamente sinnimo de criana pobre. Se, por um lado, esse tipo de
exagero presta-se a campanhas de valor consensual tais como sade
infantil e educao, no podemos ignorar que aparece, por outro lado, em
discursos controvertidos: para justificar a esterilizao de mulheres
pobres, por exemplo, ou para advogar a adoo de crianas pobres como
soluo da misria.
Rosemberg, comentando o uso meditico de dados inflacionados
sobre meninos de rua
6
, mostra claramente como uma certa histeria
ligada idia da criana pobre faz tudo menos ajudar a remediar a
situao:
(...E)ste esforo de sensibilizar a opinio pblica quanto
violncia a que so expostas crianas e adolescentes
principalmente dos pases subdesenvolvidos, gerou uma retrica
especfica que vem percorrendo o mundo, e que, no seu esforo
de convencimento, muitas vezes incorpora diagnsticos
catastrficos, inverossmeis, distantes da realidade,
6
Trata-se, por sinal, de nmeros abraados e repetidos por rgos nacionais (FEBEM) e internacionais
(UNICEF).
8
estigmatizadores de famlias, crianas e adolescentes pobres, e
inadequados enquanto balizas para a ao. 1993: 71.
Comeamos, portanto, a suspeitar que a grande preocupao
demonstrada globalmente pelo valor criana no sempre ligada a
observaes objetivas, avaliaes corretas da realidade, ou campanhas
eficazes que revertem em qualquer benefcio real das crianas ou suas
famlias. Muito pelo contrrio, parece existir, em certas situaes, uma
razo inversa entre o volume de retrica e a eficcia das polticas.
Um campo de pesquisa: a FEBEM-RS
Propomos agora tornar nossas atenes para uma recente pesquisa
sobre a rede institucional do principal rgo do Rio Grande do Sul
responsvel pelo bem-estar de crianas e adolescentes a FEBEM-RS. A
pesquisa foi realizada em 1995-7 por membros do NACI (Ncleo de
Antropologia e Cidadania)
7
com o intuito de testar o impacto do Estatuto
da Criana e do Adolescente na vida dos clientes desta instituio na
sua maioria esmagadora, famlias pobres. Cabem duas ressalvas na
introduo deste material. Em primeiro lugar, apesar de concentrar
nossos esforos em problemas inerentes institucionalizao de crianas
e adolescentes, devemos lembrar que o trabalho da FEBEM no se limita
a isso. Pelo contrrio, a FEBEM-RS trabalha com uma vasta rede de
servios, a maioria voltada para jovens no-institucionalizados. Muitos
destes programas so relativamente bem sucedidos. Porm, menos
visados pela opinio pblica, acabam sendo deixados de lado por jornais
e pesquisadores que tendem a reduzir o trabalho desse rgo estatal a um
nico aspecto: os programas para infratores.
Em segundo lugar, devemos ressaltar a postura dialgica que nossa
equipe de pesquisa manteve com os administradores da FEBEM durante
a pesquisa. Nosso interesse pelas casas de conteno surgiu de um
convite estendido por dois tcnicos da casa feminina, propondo que a
equipe do NACI realizasse um estudo sobre a qualidade de vida das
egressas. A parceria com esse rgo, o tipo normalmente execrado em
pesquisas acadmicas, exige explicaes.
7
Pesquisa realizada no mbito do PPG em Antropologia Social da UFRGS, com financiamento do
CNPq e FAPERGS e envolvendo, alm das autoras, Elisiane Pasini, Heloisa Paim, Alinne Bonetti,
Marta Jardim e Fernanda Ribeiro. Essa pesquisa teve continuidade em 1998 com o Projeto Integrado de
Pesquisa sobre os Adolescentes Privados de Liberdade e Internos na Fundao do Bem-Estar do Menor
pela Prtica de Ato Infracional sob a coordenao de Profa. Carmen Craidy, FACED-UFRGS..
9
Ao consultar trabalhos j realizados sobre crianas
institucionalizadas, ficamos impressionadas por certas lacunas. Existe um
amplo estoque de literatura sobre as causas estruturais da
marginalidade (principalmente na dcada de 70), sobre as
conseqncias nefastas da institucionalizao para o desenvolvimento da
personalidade dos jovens (na dcada de 80) e, mais recentemente, sobre a
moralidade conservadora e morosidade tradicionais do judicirio que
criam obstculos realizao do esprito da Constituio
8
. Cada escola
de anlise traz contribuies importantes. No entanto, percorre quase
todas as obras um tom apocalptico em que os administradores e
funcionrios das instituies parecem representar as foras do mal.
Parece subentendido que se somente fosse possvel substituir esses
autmatos da instituio total por uma equipe de pessoas esclarecidas
(cientes, entre outras coisas, das crticas analticas do pesquisador) as
coisas poderiam ser melhoradas. Esse tipo de abordagem tende a
reforar a hierarquia de prestgio que coloca a teoria acima da prtica e,
por extenso, a sabedoria dos planejadores acima da dos agentes sociais
que executam as polticas.
No caso de nossa pesquisa, no foi to fcil traar esse tipo de
distino entre ns e os administradores da FEBEM. Desde a
promulgao do ECA, os governadores do Rio Grande do Sul,
independentemente de sua afiliao partidria, escolhem presidentes da
FEBEM entre os militantes dos direitos da criana. Em geral, o/a
presidente compe uma diretoria de profissionais (psiclogos,
pedagogos, assistentes sociais) que tambm tm longa experincia na
rea dos direitos humanos. So escolhidos para executar a poltica os
mesmos agentes sociais integrantes de movimentos sociais que
ajudaram a formular o ECA. A partir de 1995, em particular, houve uma
campanha para efetivar os princpios do ECA na vida institucional de
todas as casas da FEBEM-RS. Desta maneira, ao iniciar nossa pesquisa,
tnhamos a confrontar quadros que, em muitos casos, no somente
conheciam os trabalhos de Goffman e Foucault to bem quanto ns, mas
que tinham um intenso compromisso com questes de justia social e
cidadania.
Nosso projeto de pesquisa objetivou, desde o incio, tomar os
agentes sociais no como inimigos (em oposio s foras aliadas
intelectual/classes populares) mas, sim, como interlocutores analistas e
analisados que deviam ser ouvidos
9
. Reconhecer que nossos nativos
8
Ver Schneider (1982), Guirado (1982), Violante (1985), Alto (1990), Adorno (1991), Mendez
(1993) e Passetti (1995).
9
Embora o espao no permita maior discusso sobre este item, devemos lembrar que este campo que
inclui polticos, juristas, cientistas sociais, administradores, monitores, educadores e outros tcnicos
10
no eram ingnuos nos obrigou a rever o papel do antroplogo nesta
interlocuo. Mais desconcertante ainda, nos obrigou a reconhecer que a
distncia que nos separava no era to grande assim, que ramos de
ambos lados parte de um mesmo processo civilizatrio. Qualquer
anlise deles implicaria forosamente na anlise de nossos prprios
valores.
No obstante os valores e objetivos em comum, havamos no entanto
de reconhecer que, enquanto pesquisadores, ocupvamos um lugar
diferente em relao realidade pesquisada. Ao tcnico, cabe agir e, no
ato, travar uma poltica clara de opo entre mltiplas possibilidades. O
pesquisador, liberado desta responsabilidade, se entrega a um nmero
sem limite de digresses, algumas mais relevantes do que outras.
Tomamos ento como tarefa aproveitar a relativa liberdade de nosso
lugar distanciado para ir alm de problemas imediatos e vasculhar
estruturas que no eram aparentes no decorrer de atividades cotidianas.
Para tanto, tornamos nosso olhar para as estruturas embutidas na
linguagem que usamos para pensar o mundo o contedo moral dos
termos empregados para classificar os comportamentos e, por extenso,
as pessoas que passam pelo sistema institucional.
De como no bastam as boas intenes
Na discusso sobre a institucionalizao da infncia pobre, uma coisa
se torna evidente: que a mudana de leis implica numa mudana de
categorias de classificao. Assim, com o ECA, o termo menor foi
descartado porque reduzia a criana pobre a uma categoria jurdica penal;
medida scio-educativa tomou o lugar de internao para lembrar a
todos a finalidade dessa privao de liberdade e adolescente autor de ato
infracional veio substituir menor infrator para diminuir o estigma que
tende a rotular o jovem como delinqente
10
. Atrs de cada mudana h
uma histria de crticas que visaram avanar o debate.
Na verdade, desde o incio da poca moderna, a cincia tem
procurado refinar suas categorias quanto aos desviantes aqueles
indivduos que, por serem marginais econmicos, prias sociais,
profissionais no , de forma alguma, homogneo. H, em particular, uma tendncia para as
diferentes categorias profissionais marcarem seu territrio e sublinhar a importncia de seu trabalho
destacando as deficincias de categorias logo abaixo ou logo acima na escala de prestgio (ver Bourdieu
1977).
10
Para a evoluo da legislao sobre crianas e adolescentes no Brasil, ver Alvim e Valladares (1988),
Passetti (1991), Ribeiro (1998).
11
delinqentes ou alienados, destoavam no cenrio supostamente
harmonioso da sociedade vigente. Tomando corpo no fim do sculo XIX
com as teorias lombrosianas da antropologia criminalista (Corra 1997),
a nsia cientfica de separar esses outros em categorias apropriadas,
corria paralelo preocupao de moralistas e educadores. Por um lado,
era preciso travar programas especficos para disciplinar e recuperar os
elementos com comportamento anti-social; por outro, era necessrio
proteger crianas abandonadas de qualquer contaminao que pudesse
decorrer do contato dirio com os infratores. Assim, h mais de um
sculo, reformadores procuram distinguir :crianas perigosas de
crianas em perigo (Meyer 1977).
A realidade, no entanto, nem sempre se presta a uma categorizao
to fcil. Aprendemos dos historiadores que, desde a acepo das
instituies pblicas para menores, afloram ambigidades quanto
categorizao dos internos: so delinqentes, rfos, ou
abandonados ? Muitas vezes a misria tal que os pais mesmo os
legalmente casados recorrem institucionalizao para suprir as
necessidades bsicas do seu filho ora sob cobertura do anonimato
expondo seus filhos na roda, ora barganhando uma vaga em
internatos filantrpicos e governamentais (Donzelot 1980, Fonseca
1995). Sem dvida, por causa da demanda excessiva, as instituies
governamentais tentaram classicamente dar um basta a esse tipo de
internao, reservando a maior parte de suas facilidades no para
crianas necessitadas, mas sim para crianas indisciplinadas aquelas
que supostamente representavam uma ameaa sociedade ou que, sem
medidas especiais, viriam futuramente a representar uma ameaa. Mas
tal poltica criou inadvertidamente uma nova ambigidade entre os
carentes e os perigosos pois os prprios pais, diante da recusa
obstinada dos internatos onde procuravam colocar seus filhos,
comearam a sublinhar, como motivo de internao, o comportamento
insubmisso de sua prole
11
.
No Brasil, apenas na ltima dcada houve um esforo de
racionalizar o atendimento ao jovem infrator, separando os casos mais
graves que representam uma verdadeira ameaa sociedade dos
demais. Antes do ECA, no era incomum achar na mesma casa
infratores misturados com abandonados e carentes
12
. Com o ECA,
11
Aprendemos de B. Brenzel que, desde a primeira reform school para meninas em Massachusetts
(aberta em 1856), os pais pobres aprenderam a manipular o sistema para conseguir admisso: In hard
times, parents often sought the only relief available to them; in complicity with the law, they
condemned their children as stubborn and disorderly (1983:7).
12
Silveira(apud Rizzini 1992), em pesquisa sobre o Centro de Recepo e Triagem da FEBEM-CE,
afirma que, antes do ECA, at 30% das meninas foram internadas por desobedincia aos pais, e 25%
12
instaura-se uma clara separao entre duas categorias de jovens
institucionalizados : por um lado o abandonado, por outro lado o
adolescente autor de ato infracional. Ao mesmo tempo, torna-se mais
difcil institucionalizar um jovem: Nenhum adolescente ser privado de
sua liberdade seno em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita
e fundamentada da autoridade judiciria competente (art. 106).
Com a nova legislao, nota-se um esforo de aproveitar lies do
passado. Ainda mais, passa-se a reconhecer a importncia de categorias
classificatrias para o atendimento a jovens e crianas. Consideramos, no
entanto, que estes avanos tericos no substituem o conhecimento da
realidade concreta em que a lei atua. A eficcia e at a justia de
determinados dispositivos jurdicos no podem ser planejadas fora do
contexto concreto. Pretendemos demonstrar, pelo estudo de algumas
mudanas ocorridas no sistema estadual de atendimento ao adolescente e
a criana no Rio Grande do Sul, como a promoo dos direitos humanos
exige mais, muito mais, do que uma legislao ideal.
A escalada de violncia
Ao longo dos ltimos anos, houve uma acelerao de artigos
jornalsticos sobre a escalada de violncia nas FEBEMs das principais
capitais do pas. Apesar de ser chefiada, de 1995 a 1998, por uma
presidente com longa carreira na luta pelos direitos da criana e do
adolescente, a FEBEM-RS no foi uma exceo. Em junho de 1998,
cerca de um ms depois da morte de trs jovens, queimados vivos nas
suas celas, a Zero Hora iniciou uma srie de reportagens intitulada: O
Dossi FEBEM: Casa de Horrores. O quadro noticiado no deixa de
causar efeito: 31 motins desde 1995, dez apenas nos primeiros seis meses
de 1998. Em pouco mais de dois anos, nove mortes : alm dos trs jovens
asfixiados, trs enforcados (suicdios presumidos), e os restantes mortos
de doena.
A casa masculina de conteno mxima, o ICM, estava em runas.
No final de 1997, depois de reconhecer que a administrao tinha
perdido controle, o governador introduziu no funcionamento dirio da
casa integrantes da Brigada Militar. A estratgia, evidentemente, no
surtiu efeito. Os motins continuaram no mesmo ritmo. Muros de concreto
por perambulncia. Pelligrini et al.(1996), na sua pesquisa sobre duas casas de infratores da rede
FEBEM-RS, mostram que ainda em 1988 quase um tero dos jovens tinham sido internados sem
cometer um delito.
.
13
iam sendo demolidos para permitir o confronto de gangues rivais. Salas
de atendimento e celas foram progressivamente desativadas por causa de
repetidos incndios (o fogo era empregado por internos como forma de
protesto, de fuga, ou simplesmente de chamar ateno dos monitores).
Por causa de automutilao e brigas, os jovens internos necessitavam de
freqente atendimento hospitalar. Ironicamente, apesar de os abusos
fsicos perpetrados por funcionrios contra internos estarem sob controle
(o nmero de sindicncias abertas para investigar surras e tortura fsica
tinha baixado a praticamente zero), os jovens sofriam ameaa constante
de violncia da parte de outros internos.
Os meninos mostravam-se artistas na fabricao de armas caseiras,
inventando estiletes praticamente do ar. Podiam passar, por exemplo, um
dia inteiro esfregando um fio de violo contra a grade da janela, para
cortar o ferro e aproveitar esse pedao de metal. Outra arma
freqentemente usada era o fogo. Mesmo sem fsforo, conseguiam criar
faisca suficiente encostando dois fios eltricos. Num episdio tpico
daquela poca, os meninos tentaram evitar uma revista que implicaria na
perda de suas armas. Ameaaram a administrao da instituio: se
vocs teimarem em fazer revista, vamos botar fogo nos colches. A
revista foi feita, as armas confiscadas, e o fogo ateado e apagado por
funcionrios. Era simplesmente mais um dia na vida institucional
13
.
No pretendemos nos deter aqui na anlise dessa crise. As
circunstncias particulares do caso a tentativa de introduzir uma nova
proposta pedaggica norteada pelos princpios do ECA, a proibio de
castigos fsicos, e os motivos da no-cooperao de alguns funcionrios
antigos mereceriam um artigo parte. O que nos interessa aqui que
esse episdio faz parte de um padro nacional de problemas crescentes
com adolescentes institucionalizados. Como devemos interpretar esse
fato? Como prova da maior incompetncia das autoridades responsveis?
Como reflexo da escalada de violncia na sociedade como um todo?
Sem negar a relevncia dessas explicaes em contextos especficos,
gostaramos de sugerir que existe outra causa mais abrangente, e que faz
parte de estruturas desencadeadas pelo prprio ECA.
Lembramos que, at a promulgao do ECA, era praxe no Rio
Grande do Sul, como no Brasil inteiro, institucionalizar jovens com ou
sem ordem judicial. Os autores do Estatuto, zelando pelos direitos da
criana e do adolescente, propuseram limitar o nmero de jovens
internados, estipulando que ningum seria privado de liberdade seno em
13
Episdio registrado no dirio de campo de Elisiane Pasini durante pesquisa etnogrfica no mbito do
Projeto Integrado Adolescentes Privados de Liberdade e Internos na Fundao do Bem-Estar do Menor
pela Prtica de Ato Infracional.
14
flagrante do ato infracional ou por ordem da autoridade judiciria.
Depois de 1990, sob o impacto de uma equipe de administradores
procurando viabilizar o Estatuto, houve, nas sete casas para infratores no
Rio Grande do Sul, uma queda dramtica do nmero total de jovens
ingressando no sistema
14
. Entre 1990 e 1991, esse nmero (que inclui
todos que passaram pela casa, que fiquem um dia ou trs anos) caiu mais
de 65%: de 3317 internos para 1109.
Nmero total de ingressos no ano
0
1000
2000
3000
4000
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
I
n
g
r
e
s
s
o
s
Ano
total-ing
Depois desta queda, o nmero total de internos comea uma lenta
escalada. Tal fato compreensvel considerando que o ECA ainda prev
a institucionalizao, depois de esgotadas todas as outras possibilidades,
de ofensores crnicos
15
. Mas seis anos mais tarde, o nmero total de
meninos privados de liberdade ainda no chega a igualar o nmero pr-
Estatuto. Num primeiro momento, podemos considerar que o ECA surtiu
o efeito desejado.
Entretanto, ao considerar o nmero de jovens internados apenas
no ltimo dia do ano, ficamos com a impresso de uma evoluo oposta
quela prevista pela legislao. O nmero de internos aumentou de 208
14
As quatro casas principais do estado, localizadas em Porto Alegre, incluem o Instituto Juvenil
Masculino (IJM que iniciou suas atividades em 1973), o Instituto Central de Menores (ICM 1962), o
Instituto Carlos Santos (ICS 1991, e o Instituto Educacional Feminino (IEF 1962). No interior do
estado, temos o Instituto de Recepo Iracema Cassel do Canto (IRICC em Santa Maria) 1989, O
Centro Educacional Vtor Hugo Rocha Ribeiro (CEVHRR 1885) em Uruguaiana, e o Centro de
Ressocializao do jovem Infrator (CRJI 1993) em Cachoeira. No final de 1998, iniciou-se a
inaugurao de dez Centros de Juventude, casas com at 40 infratores, a fim de decentralizar o
atendimento ao autor de ato infracional.
15
O descumpimento reiterado e injustificvel de medidas anteriormente impostas (art. 122),
justificaria a medida mais severa de privao total de liberdade.
15
em 1990 para 529 em 1997, ou seja, dobrou, apesar de um acrscimo
populacional para os jovens gachos dessa faixa etria de apenas 8%
16
.
Nmero de internos no ltimo dia do ano
0
100
200
300
400
500
600
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
I
n
t
e
r
n
o
s
Ano
Internos no 31/12
Como explicar o paradoxo das duas curvas seguindo rumos opostos:
o aumento de crianas institucionalizadas num mesmo dia apesar do
decrscimo do nmero total de internaes? A explicao aparente que
os jovens internados permanecem mais tempo na FEBEM do que antes
do ECA. H uma certa lgica nessa hiptese (no obstante os
dispositivos do ECA que colocam limites explcitos ao tempo de
internao) .
Com o ECA, o perfil dos infratores comeou a mudar. A partir desse
momento, os autores de infraes leves passaram a receber medidas
scio-educativas relativamente brandas: advertncias, prestao de
servios comunidade, liberdade assistida tudo menos a
institucionalizao. Sobraram para a instituio apenas os jovens autores
de crimes graves aqueles que ficam mais tempo internados. Ainda
mais, houve nessa poca uma racionalizao do espao que mudou a
poltica de fugas.
At o incio da dcada de 90, a fuga era extremamente comum,
tacitamente tolerada (segundo alguns funcionrios) como maneira ex-
ofcio de aliviar a superlotao das instituies. Devemos lembrar que a
mobilidade geogrfica , para muitos dos meninos, uma maneira
16
Conforme o levantamento por Volpi (1997), depois de So Paulo, Rio Grande Sul possua o maior
nmero de adolescentes autores de ato infracional privados de liberdade no Brasil.
16
tradicional para lidar com situaes de conflito dentro e fora da
instituio. Hecht, escrevendo sobre meninos de rua em Recife, sugere
que quando surgem conflitos incontornveis na rua, os jovens tendem a
simplesmente mudar de moradia. Lanam mo da mobilidade espacial
para evitar confrontaes. Assim se esses conflitos ocorrem num abrigo,
a resoluo mais evidente (e a nica alternativa violncia) ir-se
embora (Hecht 1998: 178). Antes do ECA, as casas de conteno no
eram muito diferentes dos abrigos nesse respeito. Diz-se que os prprios
monitores sabiam prever momentos de tenso e, para prevenir contra
motins e brigas, facilitavam ento fugas.
Depois do ECA, a taxa de fugas foi cortada pela metade. A reduo
de fugas no teria sido possvel sem a reorganizao da rede
institucional, que indicava uma distribuio dos infratores de acordo com
sua suposta periculosidade. A partir de 1991, uma das casas de conteno
mxima, o ICM, passou a ter como clientela exclusiva os adolescentes
que cometeram um crime contra a pessoa. Os crimes contra o
patrimnio continuaram a ser distribudos entre as casas restantes.
Simultaneamente, foi inaugurada uma instituio voltada para internos
em regime de semi-liberdade e com possibilidade de atividade externa,
o ICS, de onde a maioria saa em pouco tempo pela fuga. J no
primeiro ano do ICS, quase a metade dos internos se desligou por fuga e,
ainda em 1996, a porcentagem de desligamentos por fuga chegava a
mais de trs quartos da populao interna. medida em que as fugas
cresciam no ICS, baixavam nas casas de alta periculosidade a quase
zero. (Entre 1991 e 1992, na poca de implantao da nova poltica, as
fugas caram nas trs casas de conteno mxima: de 15,2% para 7,4%,
de 28,8% para 4,9% e de 20,8% para 6,9%.)
evidente que essa maior eficcia na conteno de jovens responde
a uma demanda poltica de remover os elementos mais perigosos da
circulao pblica. Significa, por outro lado, uma situao inusitada para
a qual poucas instituies estavam preparadas.
Nos ltimos dez anos, foram feitas no mnimo quatro pesquisas sobre
o perfil do infrator da FEBEM-RS, cobrindo os anos 1988, 1991, 1992,
1995 e 1996. Por falta de coordenao entre essas pesquisas, difcil
comparar os diferentes resultados
17
. No entanto, a base dos dados
17
Na poca das primeiras pesquisas, era praxe classificar os delitos em Crime contra o patrimnio,
Crime contra os costumes, Crime contra a pessoa, etc. J, a partir dessa perspectiva, temos um
problema de interpretao pois o pesquisador obrigado a reduzir um leque grande de motivos de
entrada (ameaa, arrombamento, atentado violento ao pudor, busca e apreenso, cumplicidade,
desordem em via pblica, extorso, recolhimento...) a trs ou quatro grandes categorias cunhadas pelo
Cdigo Penal de 1940. As pesquisas mais recentes evitam essas categorias reducionistas, listando ao
invs uma multiplicidade de motivos de entrada. Koller et al. (1996) trabalham com nada menos de
17
expostos acima, podemos aventar algumas hipteses. A soma de certas
mudanas uma maior proporo de autores de infraes graves
(portanto com sentenas mais longas), e a conteno de fugas tem
resultado, ironicamente, num novo tipo de superlotao das casas de
conteno. Em vez de milhares de jovens meninos de rua e outros que
passavam alguns dias na FEBEM, agora boa parte dos internos
composta de infratores mais pesados
que permanecem at trs anos no
sistema
18
. Se isso for o caso, ento possvel que o aumento de
perturbaes dentro de certas instituies para infratores no decorra
nem de um aumento de violncia juvenil na sociedade como um todo,
nem necessariamente de uma piora nas polticas institucionais. Sem
dvida, administradores e funcionrios deveriam ter previsto essas
mudanas para travar novas polticas adequadas situao. Mas como
iam suspeitar que a simples reclassificao de internos ia produzir
resultados to dramticos?
De certa forma o presidente interino que assumiu a FEBEM durante
os ltimos trs meses de 1998 deu prova de grande perspiccia pois
procurou uma soluo aos tumultos aproveitando de forma original esse
mesmo sistema de classificao. Conforme o ECA, um adolescente
privado de liberdade deve permanecer na rede da FEBEM at completar
sua pena mesmo se ele atingir a maioridade. J que a pena mxima para
qualquer adolescente trs anos, nenhum jovem fica no sistema alm de
21 anos. Porm, ainda h bom nmero de internos entre 18 e 21 anos. No
incio de 98, a ento presidente da FEBEM, procurando aliviar a tenso
nas casas, pediu permisso ao Juizado para transferir os jovens com mais
de 18 anos para o sistema penitencirio (de adultos) mas, por respeito ao
esprito do ECA, a transferncia foi negada. Quando o presidente interino
assumiu seu cargo, simplesmente fez uma nova distribuio entre as
casas, conforme a idade. Agrupou todos os infratores com mais de 18
anos numa mesma instituio de onde, pelo menos durante o perodo de
transio, tirou os funcionrios da FEBEM para colocar guardas do
sistema penitencirio de adultos (SUSEPE ). Estes, aplicando medidas
tradicionais de disciplina, permaneceram o tempo necessrio para botar
27 categorias, e CAI (1995) emprega em torno de 20. Mas os dois sistemas de classificao coincidem
apenas parcialmente. A situao complicada mais ainda quando lembramos que no mesmo processo
constam, em geral, vrias acusaes contra o infrator: furto, vadiagem, roubo, txicos, etc. Em certos
levantamentos, os pesquisadores optam por registar o primeiro delito que consta no processo (Koller et
al.1996). Em outros, os pesquisadores escolhem sistematicamente o delito mais pesado (Pelligrini et al
1996). Assim, mesmo se trabalhassem com o mesmo universo (o que, em geral, no o caso), ainda
seria difcil comparar os diferentes levantamentos.
18
No possumos dados sobre a evoluo da durao da internao dos jovens. A nica pesquisa
existente no Rio Grande do Sul sobre esse assunto de Koller et al.(1996) que, na sua pesquisa sobre
trs das quatro casas de Porto Alegre, encontrou em junho de 1996 (para 239 registros onde consta esse
dado) um tempo mdio de internamento de 7 meses, e um tempo mediana de 5 meses.
18
ordem na casa sem que nenhuma organizao de direitos da criana e do
adolescente levantasse objees. Evidentemente, esses jovens eram
contemplados pelo ECA ma non troppo. Bastava a administrao isol-
los dos mais humanos (com menos de 18 anos) para poder agir em
liberdade, sem medo de censura.
Quando os pais se agarram aos seus filhos abandonados
19
No caso de infratores, procuramos mostrar como a diviso
progressiva em categorias cada vez mais delimitadas
abandonado/infrator, alta e baixa periculosidade originalmente
projetada para melhorar o atendimento a adolescentes, acabou por
submeter certos desses autores de ato infracional a uma situao
extremamente explosiva. Agora, propomos olhar para a outra metade do
sistema institucional, procurando entender as conseqncias do ECA
para crianas abandonadas. Veremos que, mesmo em condies
institucionais praticamente ideais, permanecem dilemas ligados aos
direitos humanos esta vez no somente das crianas mas, tambm, de
suas famlias.
No perodo de 1991-1995, a administrao da FEBEM-RS teve
como prioridade o "desmonte dos grandes prdios institucionais para
pequenas unidades residenciais", que devia transformar, a longo prazo,
todas as grandes unidades de abrigo em URTs Unidades Residenciais
Transitrias
20
. O incio do processo de desmonte deu-se a partir de
dezembro de 1991 com o desmembramento, em mais de uma etapa, do
Instituto Infantil Samir Squeff (IISS) que abrigava ento mais de cem
crianas de zero at 6 anos e 11 meses de idade. Em setembro de 1993,
com a transferncia das ltimas crianas do instituto para as URTs, o
IISS foi finalmente extinto.
As URTs consistem em pequenas casas projetadas inicialmente para
10 crianas e/ou adolescentes. Seus objetivos seguem os princpios do
Estatuto: atendimento personalizado, em pequenos grupos, e a
19
O material apresentado aqui tirado da tese de mestrado de Andrea Cardarello:
Implantando o Estatuto: um estudo sobre a criana em um sistema prximo ao
familiar para crianas institucionalizadas na FEBEM/RS, PPGAS-UFRGS, 1996. A
pesquisa de campo foi realizada no perodo de setembro de 1994 a junho de 1995.
20
Reconhece-se hoje a necessidade de acabar com os monstros institucionais tambm para autores de
ato infracional. Um plano iniciado em 1995 comeou a dar frutos ainda em 1998 com a inaugurao de
Centros de Juventude. Trata-se de pequenas casas, espalhadas pelo estado onde no mais de 40
infratores podero travar um modos vivendi que permite um programa pedaggico perto de suas
famlias de origem e de reinsero social.
19
preservao dos vnculos familiares atravs do no-desmembramento de
grupos de irmos (art. 92).
Desde o incio do trabalho realizado junto a tcnicos e monitores do
Programa, percebemos que este como uma vitrine da FEBEM-RS. O
objetivo de um tratamento individualizado foi alcanado: todas as
crianas e adolescentes abrigados nas URTs tm acesso a um
atendimento especializado, com a atuao de profissionais de diversas
reas como nutricionistas, psiclogos, fonoaudilogos, fisioterapeutas,
professores de educao fsica e pedagogos. Para reforar "os processos
de integrao com a comunidade", tambm previstos na nova legislao,
procura
-se utilizar os recursos externos disponveis. As crianas e adolescentes
das URTs freqentam escolas prximas, so atendidos em postos de
sade e vo a escolas de natao e academias do bairro
21
. Os relatrios
dos tcnicos sublinham os resultados positivos desse novo tipo de
atendimento especialmente na rea da sade e o programa
considerado unanimamente como melhor do que aquele dos grandes
institutos. O prestgio que tem junto a rgos como o Juizado da Infncia
e da Juventude e os Conselhos Tutelares, somado falta de instituies
para abrigar crianas na cidade, faz com que vagas sejam constantemente
solicitadas.
Em suma, as URTs podem ser consideradas um sucesso. No entanto,
o prprio xito do programa levanta novos dilemas, pois os jovens que
entram nessas casas no foram, na sua maioria, abandonados. Seus
familiares esto no cenrio e muitas vezes se opem
institucionalizao. Os tcnicos responsveis pela recomendao (sim ou
no) de institucionalizao so, portanto, constantemente confrontados
ao dilema: deixar a criana com seus familiares ou intern-la?
Trata-se de um dilema alimentado por dois princpios contraditrios
do ECA. Se por um lado garante-se a crianas e adolescentes o direito de
ser criados e educados no seio da sua prpria famlia (art.19), por
outro, devem tambm ser assegurados seus direitos referentes ao acesso
sade, educao, alimentao, lazer e esporte, entre outros (art. 4o). Em
um pas como o Brasil, como exigir que as famlias pobres ofeream tudo
isto a seus filhos? Pela lei, a institucionalizao numa URT deve ser
acionada apenas como ltimo recurso pois viola o direito da criana a ser
criada na sua prpria famlia. Por outro lado, a URT garante criana o
restante dos seus direitos, dando a meninas e meninos provenientes das
21
Por tudo aquilo que oferece, o programa um dos mais caros da Fundao. Segundo a coordenadora
de abrigos, o custo mensal de um adolescente nas URTs no segundo semestre de 1995 era de 6 salrios
mnimos (600 reais), e o de uma criana ficava em torno de 10 salrios mnimos (1.000 reais).
20
classes mais baixas os confortos de uma vida de classe mdia. Para
resolver o aspecto legal desse debate, fundamental saber: a famlia
negligente por no garantir o bem-estar de seus filhos? Ou
negligente o Estado?
O entendimento diferenciado desta questo entre os tcnicos faz com
que, dependendo dos casos discutidos, haja posicionamentos distintos.
Testemunhamos entre profissionais envolvidos no funcionamento das
URTs (juzes, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psiclogos)
inmeros debates que demonstravam uma evidente falta de consenso.
Algumas pessoas afirmavam que quando a misria era grande, os pais
deviam ser destitudos do ptrio poder. Mostravam, nas suas falas, que a
famlia de origem nem contava como famlia: "no importa para onde
essas crianas vo, desde que estejam com uma famlia". O ideal era
colocar esses meninos em famlias adotivas. Se isto no fosse possvel,
era melhor a criana ficar na URT: antes uma criana institucionalizada
do que "puxando carrinho, sem escola".
Outras pessoas insistiam que as crianas deviam ficar junto a seus
pais. Argam que, legalmente, a carncia econmica no justifica a
institucionalizao de crianas e a separao dos seus pais. Destacavam
situaes em que os pais eram manifestamente afetuosos" para chegar
concluso: " melhor uma criana com a me debaixo da ponte do que
uma criana numa instituio". Finalmente, incorporavam na discusso
consideraes de teor antropolgico, relativizando comportamentos
transgressores: essas pessoas (populao de rua, etc.) tm uma forma
de viver e de educar as crianas que diferente. Por isso, "no se pode ir
pela legislao".
Num esforo de manter o dilogo aberto com os pais das crianas, os
membros da equipe se colocavam perguntas constantes quanto
definio de termos tais como "famlia" e "negligncia". Havia, porm,
um outro nvel, menos consciente, em que esse debate parecia decidido
de antemo, dando clara prioridade a medidas autoritrias contra as
famlias de origem. Trata-se do sistema de classificao que descreve o
motivo de ingresso das crianas no sistema institucional.
O aumento de pais negligentes : uma questo de interpretao
Ao olhar para esse sistema de classificao, vemos, em primeiro
lugar, uma surpreendente multiplicao de categorias nos ltimos anos.
Durante o ano de 1985, num estudo feito sobre o Instituto Infantil Samir
21
Squeff, os motivos de ingresso das crianas foram agrupados em 10
rubricas principais, estas subdivididas ento em mais 19 categorias
22
.
Dez anos depois, em 1995, a FEBEM preparou um levantamento sobre
motivos de ingresso de crianas nas URTs onde as 10 rubricas principais
de 1985 foram desdobradas em 19, que por sua vez subdividiam-se em
nada menos que 251 items. Incluindo os motivos de ingresso de
adolescentes e vrias categorias referentes insuficincia de dados
quanto a ..., o nmero total de rubricas chegava a 45, subdivididas em
381 motivos diferentes. Parecia existir uma categoria a parte para cada
criana que entrava na instituio. Assim, havia classificaes como :
Come no cho com ces, Me bate com faco ou Abandono em
quarto de hotel.
Mais interessante do que sua proliferao o aumento sensvel de
categorias que sublinham a falta moral dos pais e tutores. No documento
de 1985, o motivo mais freqente de ingresso era "Problemas scio-
econmicos(42% dos casos). Segundo o relatrio, excetuando as
categorias de abandono e situao de abandono, o restante, isto ,
81% de todos os casos, caracterizavam-se por problemas que poderiam
ser considerados como scio-econmicos ou decorrncia direta dos
mesmos
23
. J em 1994, essa proporo praticamente inversa. Agora
quase das internaes caem em categorias que sugerem a ao
malfica dos pais/tutores adultos : abandono, maus tratos,
negligncia, abuso, etc.
Motivos de ingresso de 350
crianas que entraram no IISS em
1985 (%)
Os dez primeiros motivos de
ingresso das 207 crianas que
entraram nas URTs em 1994 (%)
Problema Scio-econmico: 42% Abandono: 26, 08%
Perdido, Perambulao, ou Fuga do Assistncia: 16, 42%
22
Os dados sobre o IISS esto baseados no documento Estudo do Atendimento na faixa etria de 0 a 6
anos, que relata que embora no ano de 1985 tenham ingressado no Samir um total de 405 crianas, a
defasagem de 55 pronturios no localizados fez com que a populao analisada se restringisse a 350
crianas. Em 1% dos casos no constam dados. J as informaes referentes s URTs tm como fonte o
Relatrio das atividades do Servio Social (1994, NAUR FEBEM) elaborado pelo conjunto de
assistentes sociais do NAUR Ncleo de Assistncia s Unidades Residenciais e o Manual de
instrues para preenchimento da ficha de tabulao referente ao perfil da clientela nos abrigos da
FEBEM (1994).
23
Neste documento, at os maus tratos so analisados como problema scio-econmico.
22
Lar: 13%
Situao de Abandono : 13% Maus Tratos: 12, 56%
Problema de Sade dos
responsveis: 11%
Negligncia: 11, 11%
Abandono: 6% Risco de vida: 10, 62%
Maus Tratos: 5% Abuso: 4, 83%
Desintegrao Familiar : 3% Me na FEBEM: 2, 89%
Mendicncia: 3% Abandono + Maus Tratos: 2, 41%
Doenas do Menor: 2% Pais doentes mentais: 2, 41%
Menor excepcional: 0,5% Perdido: 2, 41%
A prpria definio dos termos adquire um aspecto moral mais
pesado. Em 1985, a situao de abandono inclua diversas causas.
Dizia respeito ao: (...) menor que possui famlia ou responsveis sem
condies e capacidade de mant-lo, no localizados ou ainda, que
demonstram desinteresse em assumi-lo (ESTUDO 1985: 22). O
abandono em si no definia causas ou culpados. Tratava-se do menor
que aps verificao de situao irregular pela equipe de colocao
familiar de Juizado de Menores decretado abandonado, e encaminhado
para internamento com vistas a adoo (Ibid). J em 1995, a rubrica
abandono inclui uma porcentagem muito maior (26, 08%) assim como
uma definio que deixa poucas dvidas quanto aos culpados. No
Manual de instrues para preenchimento da ficha de tabulao
referente ao perfil da clientela nos abrigos da FEBEM o abandono
pressupe existncia de pais ou responsveis localizados que se negam
a assumir os cuidados dos filhos (1994: 2). Seguindo neste mesmo tom,
a negligncia/omisso definida como Ato ou efeito dos responsveis
de no fazer aquilo que moral ou juridicamente deveriam fazer. Portanto
inexiste preocupao com os cuidados (1994: 3).
A partir da comparao destes dados, no parece sobrar dvidas
quanto ao aumento de comportamentos patolgicos. Se, porm, olharmos
mais de perto, notaremos que a mudana de comportamento no to
evidente assim. Vimos, por exemplo, num dos relatrios do Servio
Social do Programa das URTs que negligncia era assimilada a casos
assistenciais. Ao perguntar a uma das assistentes sociais que elaborou o
relatrio a razo para esta forma de classificao, ela respondeu: Isso
porque a gente conhecia os casos. s vezes chama de negligncia, mas
23
assistencial; se confunde. Depende da concepo de quem colocou o
motivo, da conselheira tutelar ou assistente social, entendeu? O que
assistencial para uns pode ser negligncia para outros. Por isso a gente
somou.
Ainda mais, ouvimos dos entrevistados e lemos na parte narrativa
dos relatrios uma queixa que persiste atravs dos anos: que, em vez de
abandonados, a instituio est abrigando miserveis. Em 1985,
escreve-se : se houvesse uma maior integrao com recursos da
comunidade, poderiam ser evitados os internamentos temporrios por
motivos que no pressupem recolhimento; possibilitando a estes
menores a continuidade do vnculo familiar (ESTUDO p. 35). O
relatrio elaborado quase 10 anos depois pelas assistentes sociais do
Programa das URTs apresenta queixas semelhantes:
Em Porto Alegre quase inexistem recursos de atendimento a
crianas e adolescentes, sendo do Estado, atravs da FEBEM, a
competncia de atendimento a esta populao, uma vez que
ainda no foram criados equipamentos sociais ao nvel
municipal. Em virtude disso os Conselhos Tutelares, no
contando com recursos comunitrios disposio, tendem
sempre a encaminhar as crianas para as URTs. Isso
inadequado, uma vez que a unidade de abrigo deveria ser
ocupada por situaes caracterizadas como de direito de
Estado (abandono). (nfase no original, Relatrio 1994: 6-7)
Levantamos a hiptese de que os casos assistenciais ou de
problema scio-econmico continuam sendo um problema para a
FEBEM. O que parece ter mudado nessa poca ps- Estatuto o nome
das coisas. As circunstncias que, antes, eram classificadas como
problema scio-econmico esto, hoje, sendo chamadas de
negligncia.
A passagem do problema scio-econmico para a negligncia
revela uma mudana de enfoque na viso da infncia pobre e da sua
famlia no Brasil. Se em 1985 considerava-se que motivos como
mendicncia, maus tratos, desintegrao familiar e doenas do
menor eram decorrncia direta de problemas scio-econmicos, hoje,
mais do que nunca, a famlia pobre, e no uma questo estrutural,
culpada pela situao em que se encontram seus filhos. ela que
negligente, maltrata as crianas, as faz mendigar, no lhes proporciona
boas condies de sade, enfim, no se organiza. Em suma, parece que
a famlia pobre e no o Poder Pblico ou a sociedade em geral
24
o alvo mais fcil de represlias. Cria-se ento uma situao particular em
que a noo de criana cidad leva como complemento quase
inevitvel a de pais negligentes.
Adoo : o post-scriptum do sistema institucional
O dilema de destituir os pais de seu patrio poder adquire intensidade
em funo de outra condio exigida pelo ECA que a
institucionalizao seja transitria uma medida provisria e
excepcional, utilizvel como forma de transio para a colocao em
famlia substituta(art. 101). No lugar de famlia substituta, leia-se
famlia adotiva e as coisas tornam-se mais claras. Antes do ECA, no
obstante os protestos dos administradores, a FEBEM era freqentemente
usada como uma espcie de internato do pobre (Fonseca 1995).
Considerando a instituio como um recurso complementar vida
familiar, pais pobres deixavam seus filhos internados s vezes durante
anos sem abrir mo do ptrio poder. Hoje, simplesmente no existe lugar
para tal arranjo. Em princpio, a presena da criana na URT resultado
de uma situao familiar desastrosa. Ou a famlia de origem corrige a
situao, ou a criana deve idealmente ser encaminhada para adoo.
O rapto ou trfico de crianas tem sido um tema recorrente na
imprensa. Ao lado de muitos casos fantasiosos, aparecem aqueles mais
concretos sobre Juizados que parecem fornecer uma quantidade sem
limite de crianas para adoo internacional. Podemos citar como
exemplo uma srie de reportagens publicadas na Isto em 1998 sobre as
Mes de Jundiai. Nesta pequena cidade no interior de So Paulo, 484
crianas foram adotadas entre 1992 e maio de 1998 (das quais 204 foram
para o exterior)
24
. Hoje, mais de trinta famlias esto protestando que
seus filhos lhes foram sumariamente tirados pelo Juizado. Sem ter chance
de defesa, e sem nem sequer rever seus filhos depois da
institucionalizao, os pais se viram destitudos de seu ptrio poder sob
acusaes no averiguadas de maus tratos, falta de higiene em casa, falta
de moradia(Isto 13/5/98, 25/11/98, 28/12/98).
Neste episdio, insinuou-se que autoridades corruptas estavam
procurando se enriquecer pelo trfico de crianas dadas em adoo
24
Isto acrescenta que, no mesmo perodo, em Campinas que tem o dobro da populao de Jundia
ocorreram apenas 40 adoes internacionais. 25/11/98, p. 110.
25
para famlias no exterior. Neste tipo de caso, as coisas parecem simples.
evidente quem est certo, quem est errado. Gostaramos de sugerir, no
entanto, que transita na maioria de FEBEMs do pas um drama de vulto
bem maior que, por no apresentar um quadro claro de vilos e vtimas,
no recebe a mesma cobertura nos jornais.
Para melhor entender a conjuntura atual, seria interessante trazer
tona uma perspectiva histrica mantendo presente a pergunta: ser que
essa complementaridade entre institucionalizao e adoo nova? Ou
ser que estamos simplesmente repetindo ciclos j conhecidos?
Philippe Aris nos lembra que a noo de infncia socialmente
construda, variando portanto com o contexto histrico. Sugere que na
poca pr-moderna no existia um sentimento de infncia tal como ns a
concebemos hoje. Considerada at ento simplesmente como um adulto
incompetente, a criana adquire, a partir do Renascimento, um novo
status. Passa a ser vista como um ser em formao que exige especiais
cuidados materiais e afetivos. Surge ento um exrcito de especialistas
para melhor definir as necessidades da criana e para aconselhar os pais
sobre como cri-la. Vivemos neste sculo XX o auge desse sentimento
com a consolidao das cincias pedaggicas, psicolgicas e peditricas
todas convergindo para um ponto culminante : a criana e adolescente.
A transformao das sensibilidades no se deu, no entanto, sem
resistncias e tampouco evoluiu num ritmo uniforme em todas as classes.
Na Europa, a reorganizao da famlia em torno da criana inicia-se pelas
classes abastadas, estendendo-se posteriormente para todas as camadas.
A forma como esta extenso se d nas camadas populares,
particularmente na Frana, tratada por pesquisadores contemporneos
como um processo de disciplinarizao (Meyer 1977, Donzelot 1980).
Esta disciplinarizao consiste, a partir do sculo XVIII, em uma
verdadeira guerra empreendida pelo Estado contra as famlias
irregulares, sociveis demais. A famlia popular reorganizada em
torno da higiene domstica, do refluxo para o espao interior e da
criao e vigilncia das crianas (Donzelot, 1980: 88). Nestas
circunstncias, a criana passa a ser um tipo de refm do Estado.
Retirar um filho dos seus pais, ou ameaar faz-lo, a arma absoluta nas
mos do Estado e das sociedades de beneficncia para impor as suas
regras. A norma estatal e a moralizao filantrpica colocam a famlia
diante da obrigao de reter e vigiar seus filhos se no quiser ser, ela
prpria, objeto de uma vigilncia e de disciplinarizao.
importante lembrar que, a partir do sculo XIX, o Estado francs
comeou a rechaar a poltica de institucionalizao da infncia pobre,
considerando-a menos eficiente do que deixar as crianas nas suas
26
famlias de origem. Assim, os agentes sociais foram adquirindo meios
para negociar com as famlias, fixando as crianas nas suas respectivas
casas e realizando os objetivos do disciplinamento. O relato de Donzelot
sobre a dcada de 1970 mostra como assistentes sociais franceses,
apoiados em servios pblicos, acham apartamentos arejados para
famlias desabrigadas, empregos para os pais ociosos, tratamento para
as mes alcolatras, e centros educativos para ocupar seus filhos durante
as frias.
No Brasil a situao bem diferente. Ostensivamente, h um repdio
institucionalizao, mas as alternativas so poucas. Embora as
assistentes sociais tentem disciplinar as famlias populares, exortando
os pais a se organizar, conseguir um emprego, ou construir uma casa
maior, elas no tm muito a oferecer em troca. Em geral, no h respaldo
estatal na procura por moradias e empregos. Sem ter o que negociar,
resta apenas o recurso da ameaa de retirar as crianas. Lembramos que
durante muito tempo, tirar a criana de sua famlia representava um
nus para o Estado que devia ento assumir o custo de seu sustento. Que
fossem para instituies ou para amas-de-leite e criadeiras, os rfos e
abandonados custavam caro. Por outro lado, na atual conjuntura,
retirar a criana no significa necessariamente que esta ficar a cargo
do Estado at sua maioridade. As coisas mudaram. Hoje, a adoo,
nacional ou internacional, existe como opo palpvel na maioria dos
casos desde que os pais sejam destitudos do ptrio poder
25
. Nesse
contexto, a retrica acelerada em torno de pais irresponsveis vem a
calhar.
Em certos casos (no Rio Grande do Sul, por exemplo), o trabalho
consciente e cuidadoso do Juizado da Criana e Adolescente tem freado
o uso da adoo como soluo simplista da misria. Em outros lugares,
no entanto, possvel que a noo do bem-estar da criana antes de
tudo tenha sido usada para aplicar medidas repressivas que mais
atropelam do que promovem direitos.
Diversidades em confronto
inegvel que os rearranjos semnticos ocasionados pelo ECA
tiveram forte impacto sobre a realidade dos jovens brasileiros, mas no
necessariamente no sentido almejado. Sugerimos que esse desencontro
25
Em outro lugar (Fonseca 1997), historiamos a exploso de adoo internacional na dcada de 80
fator que no deixa de ter um forte impacto sobre a poltica de atendimento criana pobre no Brasil.
27
entre intenes e resultados da legislao diz respeito em primeiro lugar
expectativa irrealista de que, pelo judicirio, seja possvel solucionar
todos os problemas sociais, econmicos e polticos que assolam a
sociedade. Diante da persistncia manifesta da pobreza, os legisladores
parecem reagir, antes de tudo, com um desejo de aperfeioar as leis. Se as
leis no surtem o efeito desejado, porque mediadores mal preparados
no as esto executando fielmente.
Ora, voltamos a insistir, apesar de boa parte do mundo compartilhar
hoje princpios humanitrios bastante semelhantes, no existe uma
legislao ideal capaz de promover estes princpios em todas as pocas e
em todos os lugares. Nas sociedades utpicas, projetadas pelos filsofos
e seus primos juristas, talvez baste uma regra jurdica aplicada fielmente
para garantir a justia. Para realizar os princpios humanitrios em nossa
realidade, incomodamente complexa, a histria outra. preciso a
participao ativa dos agentes sociais para adequar o esprito da
legislao diversidade de contextos.
Mas para essa participao ocorrer, os agentes devem, eles mesmos,
reconhecer a diversidade de modos de vida e vises de mundo dentro da
sociedade - o que no uma tarefa fcil. Consideremos, como exemplo, a
dificuldade que planejadores tm de imaginar diferentes formas de viver
e pensar a infncia. sintomtico que, quando citam Aris, para
reforar noes evolucionistas das sensibilidades familiares (usando
pre-moderno e moderno no sentido mais literal e valorativo) em vez
de resgatar a lio mais profunda de que todas as sensibilidades -
inclusive as modernas - so socialmente construdas.
Para aprofundar esse tema, recorremos discusso particularmente
inspiradora do antroplogo T. Hecht no seu livro sobre meninos de rua
em Recife (1998). Ao examinar a literatura internacional, o autor
estranha a maneira como tantos documentos hoje falam da presena ou
ausncia da infncia, como se essa fase da vida, em vez de ser
historicamente construda e portanto de definio varivel, fosse uma
coisa com definio fixa.
Comentando a persistncia desta viso ahistrica de infncia, Hecht
descreve outra apropriao indevida dos clssicos - quando Piaget
usado para pintar o desenvolvimento psicolgico infantil como algo
essencialmente biolgico, que transcende fatores culturais. Ele ainda
argumenta que as organizaes internacionais tendem a promover um
modelo abstrato da criana, calcado em preocupaes e prioridades que
so historicamente circunscritas a pases na Europa e na Amrica do
Norte. A infncia despreocupada - de crianas inocentes que dividem
28
seu tempo entre estudo, esportes, famlia e lazer - teria pouco em comum
com a realidade vivida por boa parte da populao mundial. Mais ainda,
seria uma imagem que pouco contribui para a compreenso do mundo e
dos valores dessas outras crianas.
Voltando seu olhar para o caso de Recife, Hecht comenta a
justaposio de duas noes radicalmente diferentes sobre a infncia. Por
um lado, haveria a infncia nutrida (nurtured childhood) das camadas
altas:
De forma geral, a infncia nutrida dos ricos brasileiros tem
muito em comum com o ideal da infncia entre camadas mdias
na Europa ou nos Estados Unidos. S que exagera as formas. As
crianas so eximidas da responsabilidade de contribuir para o
oramento familiar, e tampouco espera-se delas que lavem a
loua, arrumem suas camas ou limpem seus quartos. No basta
que durmam at tarde durante as frias de vero. Entre os mais
ricos, grupos inteiros so enviados Florida para passar semanas
numa espcie de colnia de frias de luxo onde, alojados em
hotis cinco estrelas, passam seus dias comprando joguinhos
eletrnicos e fazendo a visita obrigatria a Disney World.
(1998: 83-4)
26
.
Por outro lado, haveria a infncia provedora (nurturing childhood):
a experincia de grande parte das crianas pobres no Brasil que, em vez
de viverem a infncia como perodo prolongado de dependncia e
escolarizao, tornam-se desde cedo independentes e muitas vezes
ajudam no sustento de seus familiares. O autor certamente no est
querendo promover essa noo de infncia como um modelo a ser
copiado ou expandido. No entanto, o mrito de seu trabalho, como o de
outros etngrafos que descrevem crianas em grupos populares (ver por
exemplo Silva e Milita 1995), de chamar ateno para a coexistncia de
diferentes experincias de infncia no Brasil e de questionar as
abordagens que tendem a ignorar a voz e agency dos que divergem do
ideal.
No tarefa fcil viver num contexto com diversidades radicais.
Cabe perguntar como membros das camadas altas brasileiras,
acostumados a pensar a infncia a partir da vida protegida de seus
26
Em outro lugar, Fonseca (no prelo) desenvolve a noo da criana absoluta descrita nos seguintes
termos: () surgiu no decorrer desse sculo uma nova idealizao da criana que soa curiosamente
parecida a certa dimenso da noo pr-moderna. Vemos a criana de novo pintada como adulto em
miniatura s que, em vez de negativizada (como incompleto ou incompetente), aparece como uma
figura ideal, reflexo da projeo de ideais adultos, e digna de um paraso sem trabalho, sem disciplina e
sem responsabilidade. [Absoluto segundo o Novo Dicionrio Aurlio, o que no tem limites, no
depende de outrem, no sujeito a condies, superior a todos os outros, que no admite contradies.]
29
prprios filhos, convivem com a realidade da infncia provedora.
Podemos supor que, durante muito tempo, as novas sensibilidades
familiares, abraadas pelas famlias da elite, aplicavam-se apenas s
crianas oriundas desta classe. At vinte anos atrs, ainda era possvel
encontrar empregadas de 13 ou 14 anos arrumando a roupa e cozinhando
as refeies dos filhos do patro. Estes, desonerados das rduas tarefas
domsticas, podiam viver plenamente a fase despreocupada da
infncia.
Quem sabe, entre as camadas dominantes, uma viso particular do
mundo colocava os pobres numa categoria parte - onde as etapas da
vida eram irrelevantes. Dessa forma, os grupos abastados continuavam
pagando um salrio mnimo aos seus empregados (de todas as idades)
enquanto recomendavam aos seus prprios filhos recusar trabalho que
no tivesse salrio digno. Ocupar empregos menores, temporrios,
abaixo da escala de prestgio no era prtica adequada categoria
jovens; era adequada, antes, aos membros de determinada classe.
S recentemente, comea-se a lembrar que a pequena criada, alm de
ser servial e pobre, criana. Se, antes, uma espcie de racismo velado
tinha justificado o tratamento desigual, agora pobres enquanto crianas
passam a integrar-se na categoria universal de humano. Reconhecem-
se certas necessidades mnimas para todos os jovens, e a falta dessas
condies mnimas torna-se intolervel. Mas essa incluso de um novo
grupo no horizonte humanitrio no deixa de engendrar paradoxos: por
exemplo, quando a criana (ou adolescente) faz 18 anos e muda
subitamente de status. (De criana em perigo merecendo atenes
especiais, passa a ser considerada um adulto perigoso contra o qual
preciso se proteger.) Ou quando preciso achar um culpado pela situao
intolervel em que tantas crianas se encontram atualmente. A, o
sacrifcio que se oferece para expiar nossa m conscincia aparece na
figura dos pais desnaturados. A noo de criana rei, irrealizvel em
tantos contextos, engendra seu oposto - a noo da criana martirizada -
e, com esta, um novo bode expiatrio: os pais algozes.
Trazemos tona essas reflexes no para recomendar uma
reviravolta no nosso tratamento de crianas nem para pleitear um uso
discriminatrio ou paternalista de princpios bsicos de justia. O
movimento pela defesa dos direitos da criana tem surtido efeitos
inegavelmente positivos. Existem certas conquistas que so
inquestionveis: a escola universal, a proscrio da explorao de
crianas... No entanto, temos que desconfiar do movimento pendular das
ideologias que tendem a nos conduzir para exageros do outro extremo
ou, pior, em nome de um suposto ideal universal, atropelam a realidade
30
que nos circunda. Diz-se que a legislao brasileira sobre a proteo
infncia de Primeiro Mundo como se isto fosse algo positivo.
Sugerimos que o que deveria nos preocupar, antes, como viabilizar
princpios bsicos de justia num contexto em que, manifestamente, a
maioria de famlias no vivem em condies de primeiro mundo.
Como dar ouvidos a esses outros, tambm, enquanto sujeitos de direito?
Indivduos e individualidade
Joan Scott, no seu livro Only paradoxes to offer (1998), tenta
entender como os autores da revoluo francesa os primeiros a pregar
os direitos universais do homem podiam guilhotinar mulheres que
tentavam incluir compatriotas de seu sexo nos termos da declarao.
Abraando a virada lingstica nas suas anlises histricas, Scott
mostra como a discriminao era parte integrante das categorias lgicas
dos filsofos de ento. O n do problema se encontrava na justaposio
problemtica de duas noes: a de indivduo abstrato base da unidade
humana e a de individualidade princpio que reala a diferena entre
as pessoas. A tentativa de juntar o indivduo individualidade
resultou num indivduo abstrato definido por um certo conjunto de
traos de tendncias psicolgicas invariantes (1998: 23). Por causa de
sua racionalidade e seu sentido moral, o homem branco era,
evidentemente, a figura exemplar do indivduo humano. O indivduo
poltico era reputado ser universal e homem; a mulher no era um
indivduo e isto por dois motivos: ela no era idntica ao ser humano, e
ela era este outro que confirmava a individualidade do indivduo
(masculino). (1998: 25-6).
Apesar de Scott centrar suas atenes na luta feminista, evidente
que seu argumento pode ser estendido a todas as categorias que se
afastam por sexo, raa, ou idade do ser humano exemplar. Scott
no nega que a filosofia das luzes tenha aberto o caminho para a
elaborao de uma reflexo sobre a igualdade poltica, social e
econmica. Entretanto, ela mostra como a mesma preocupao pelos
direitos do indivduo abstrato tambm podia servir para excluir aquelas
pessoas que no possuam as caractersticas exigidas (23-24). Temos
aqui as bases filosficas, presentes na prpria acepo dos direitos do
homem, para uma classificao dos indivduos em mais e menos
humanos.
Bobbio nos lembra que, depois da Segunda Guerra Mundial, a
discusso sobre direitos humanos seguiu dois rumos: ao mesmo tempo
31
em que consolidou-se o aspecto universal destes direitos, tornou-se
aparente uma multiplicao dos sujeitos que, em funo de suas
particularidades, passam a ser vistos como dignos de um tratamento legal
especfico. Agora vm tona critrios de diferenciao (sexo, idade,
condio fsica) correspondentes a diversos status sociais, cada um
dos quais revela diferenas especficas, que no permitem igual
tratamento e igual proteo (1992: 69). Seguindo neste rumo, temos
hoje no Brasil organizaes para a promoo dos direitos das categorias
mais diversas. Alm das mais tradicionais trabalhando em prol de
grupos indgenas, afro-brasileiros, mulheres espancadas e meninos de rua
temos associaes promovendo a cidadania de moradores de rua,
homossexuais, presos civis, donas de casa enfim uma srie quase
infinita de categorias que representam a vasta gama de individualidades
da espcie humana. Podemos perguntar se essa multiplicao de
categorias resolve o paradoxo levantado por Scott.
No h dvida que as atividades desse Terceiro Setor tm surtido
efeitos positivos. Gostaramos de sugerir no entanto que essa proliferao
de categorias no deixa de ter seus perigos. Como lembra Scott, a idia
da individualidade construda por contraste. H uma tendncia de
pensar direitos e cidadania nos mesmos termos: assim, se existem
pessoas mais merecedoras de direitos, devem existir pessoas menos
merecedoras
27
. evidente que nenhum militante formula reivindicaes
nesses termos. Os ganhos de uma categoria deveriam idealmente ser um
avano para o campo inteiro. No entanto, a composio do campo os
pesos relativos atribudos s diferentes categorias no inocente.
Quando certas categorias avanam, outras so designadas para ficar para
trs. Neste artigo vimos diversos exemplos do ndio em relao ao
mendigo, do adolescente em relao ao jovem adulto, dos filhos
abandonados em relao aos seus pais negligentes, do homem em
relao mulher. Ao todo, parece que muita gente uns mais, outros
menos marginais cai pelas fendas da retrica filantrpica. Para essas
pessoas, a prpria multiplicao de categorias, cunhadas ostensivamente
para remediar problemas de pobreza, arrisca servir como um muro de
conteno, fazendo mais para excluir do que para inclu-los.
Sugerimos, por fim, que os modelos descontextualizados de direitos
humanos aqueles simulacros do ndio hiperreal, o quilombola
folclorizado e a criana absoluta arriscam no somente reforar os
mecanismos de excluso mas, pior ainda, negar toda e qualquer
apreenso da alteridade. Afinal as individualidades que existem na
27
Lembramos do exemplo histrico da distino feita entre pobres envergonhados e pobres sem
vergonha (ver, entre outro Donzelot 1980).
32
sociedade contempornea no so to facilmente domesticadas; nem
tampouco cabem necessariamente nos rtulos das cincias jurdicas. E,
no entanto, qualquer poltica pblica voltada para a garantia dos direitos
humanos h de levar em considerao a diversidade social. Geertz (neste
volume) nos lembra : O sentimento de ser estrangeiro no comea
beira dgua mas flor da pele. O episdio que ele cita do ndio bbado
sugere que as diferenas culturais mais relevantes no mundo
contemporneo so aquelas que moram na esquina. No se trata das
diferenas receitadas pelos esteretipos do multiculturalismo
enciclopdico (Turner 1994) ou pelo menos no so essas as mais
relevantes discusso sobre direitos humanos. As alteridades que
precisam ser enfrentadas so aquelas que menos queremos ver a dos
jovens infratores, por exemplo, ou dos pais dos abandonados. So
individualidades que apontam dimenses de nossa realidade que
preferiramos esquecer.
Afinal, no estamos sugerindo a derrubada das frentes discursivas.
Enquanto seres humanos, somos fadados a viver num universo simblico
governado, em grande medida, pelas palavras. Alm disso, em muitos
casos, essas frentes podem ser postas a servio da justia social. Mas,
para tanto, fundamental no ceder tentao de confundir as palavras
com as coisas, de misturar os nomes que ns inventamos com a realidade
que os outros vivenciam. Imaginar essas outras realidades e explorar
o espao simblico que nos separa delas seria o ponto de partida de
qualquer programa sensato para a promoo dos direitos humanos.
Referncias bibliogrficas
ADORNO, Srgio. A experincia precoce da punio. In: MARTINS,
J.S. (org), O massacre dos inocentes: a criana sem infncia no
Brasil. So Paulo, Hucitec, 1991.
ALTO, Snia. Infncias Perdidas: O Cotidiano nos Internatos
Priso. Rio de Janeiro, Xenon, 1990.
ALVIM, Maria Rosilene Barbosa & VALLADARES, Licia do Prado.
"Infncia e sociedade no Brasil: uma anlise da literatura". Rio de
Janeiro, BIB, no.26, 2o. semestre. pp 3-37, 1988.
ALVIM, Rosilene. Candelaria 93: um caso limite de violncia social.
Rio de Janeiro, NEPI/LPS/IFCS/UFRJ, 1995a.
ALVIM, Rosilene, Infncia das classes populares: a constituio da
infncia como problema social no Brasil. In ABREU, Alice R. de P.
33
e PESSANHA, Elina G. da F. (orgs.), O trabalhador carioca: estudos
sobre trabalhadores urbanos dos Estado do Rio de Janeiro, Rio de
Janeiro: CJ, 1995b.
ARIES, Philippe. Histria social da criana e da famlia. So Paulo.
Zahar, 1981.
ARRUTI, Jos Maurcio. A Emergncia dos remanescentes: notas
para o dilogo entre indgenas e quilombolas . Mana 3(2): 7-38,
1997.
BEST, Joel. Threatened children: rhetoric and concern about child-
victims. Chicago, Chicago University Press, 1990.
BOBBIO, Norberto. 1992. A era dos direitos. Rio de Janeiro, Campus.
BOURDIEU, P. Une classe objet. Actes de la recherche, 17/18: 2-5,
1977.
BOURDIEU, P. Le sens pratique. Paris, Editions de Minuit, 1980.
BLUMER, Herbert. Social problems as collective behavior. Social
problems, 18(3): 298-306, 1971.
CAI - Coordenao do Atendimento ao Infrator - FEBEM-RS.
Relatrios anuais: 1992 e 1995.
CALLIGARIS, Contardo. Hello Brasil. Editora Escuta, 1991.
CARDARELLO, Andrea. A transformao de internamento
assistencial em internamento por negligncia: tirando a cidadania
dos pais para d-la s crianas. Ensaios FEE 19(2): 306-330, 1998.
COMPARATO, Fbio K. Saudade da Constituio Cidad. Folha de
So Paulo 3/10/98, Especial Constituio10 Anos, p.10, 1998.
CONRAD, Peter e SCHNEIDER, Joseph W. Deviance and
medicalization: from badness to sickness. Philadelphia, Temple
University, 1992.
CORRA, Mariza. As iluses da liberdade: a escola Nina Rodrigues e
a Antropologia no Brasil. Bragana Paulista, BP, EDSF, 1998.
DA MATTA, Roberto. Relativizando. Rio de Janeiro, Rocco, 1991.
DONZELOT, Jacques. A polcia das famlias. Rio de Janeiro, Graal,
1980.
ESTUDO do atendimento na faixa etria de 0 a 6 anos. Porto Alegre,
FEBEM, 1986.
FERNANDES, Rubem Csar. Privado porm pblico: o terceiro setor
na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Relum Dumar, 1994.
34
FONSECA, C. Caminhos da adoo. So Paulo, Cortez, 1995.
___________. "A modernidade diante de suas prprias fices: o caso
da adoo internacional". Horizontes Antropolgicos, Porto Alegre, 5:
204-224, 1997.
___________. no prelo. O abandono da razo: discursos colonizados
sobre a famlia. In: SOUZA, Edson A.L. (org.) Psicanlise e
colonizao: leituras do sintoma social no Brasil. Porto Alegre, Artes
Mdicas.
FOUCAULT, Michel. Histoire de la sexualit: I. La volont de savoir.
Paris, Gallimard, 1977.
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formao da famlia
brasileira sob o regime da economia patriarcal. Rio de Janeiro, Jos
Olympio, 1978.
GUIRADO, Marlene. A criana e a FEBEM. So Paulo, Perspectiva,
1980.
HECHT, Tobias. At home in the street: street children of Northeast
Brazil. Cambridge, Cambridge University Press, 1998.
KOLLER, Silvia (coord.) e KUSHICK Mateus B. Perfil do adolescente
infrator privado de liberdade interno na FEBEM-RS. Porto Alegre,
CEP-Rua, CRIAD/UFRGS, FEBEM-RS, 1996.
KOMINISKY, Ethel Volfzon. "Internados os filhos do estado
padrasto." In: MARTINS, J.S. (org.) O massacre dos inocentes: a
criana sem infncia no Brasil. So Paulo, Hucitec, 1991.
MANUAL de instrues para preenchimento da ficha de tabulao
referente ao perfil da clientela nos abrigos da FEBEM, Porto Alegre,
FEBEM, 1994.
MENDEZ, Emlio Garcia. Adolescentes infratores graves: sistema de
justia e poltica de atendimento. In: RIZZINI, Irene (org.) A criana
no Brasil hoje: desafio para o terceiro milnio. Rio de Janeiro,
Universidade de Santa rsula, 1993.
MEYER, Philippe. Lenfant et la raison dtat. Paris, Editions du Seuil,
1977.
MILLER, Jrome G. Last one over the wall: the Massachusette
experiment in closing reform schools. Columbus, Ohio State
University Press, 1991.
OLIVEN, Ruben. A parte e o todo: a diversidade cultural no Brasil
Nao. Petrpolis, Vozes, 1992.
35
PACHECO, Joo. Muita terra para pouco ndio? Uma introduo
(crtica) ao indigenismo e atualizao do preconceito. In: SILVA,
Aracy Lopes da e GRUPIONI, Lus D.B. (orgs.), A temtica indgena
na escola. Braslia, MEC/MARI/UNESCO, 1995.
PASSETTI, Edson. "O menor no Brasil Repblica". In: PRIORE, Mary
del (org.) Histria da Criana no Brasil. So Paulo, Contexto, 1991,
pp. 146-175.
_____________. Violentados: crianas, adolescentes e justia. So
Paulo, Editora Imaginrio, 1995.
PELLIGRINI, Ana, Carmen Missiaggia, Din Prytula, Elisabete Leusin
de Souza, Tnia Regina Dornelles da Costa. Possibilidades de um
perfil do adolescente autor de ato infracional. FEBEM-RS, 1996.
RAMOS, Alcida, A hall of mirroirs . Critique of Anthropology 11(2):
155-169, 1991.
RIBEIRO, Fernanda. Conselheiro tutelar: um agente social em
construo. In: COLOMBO, Neli F. e BIZ, Osvaldo (orgs.),
Integrao, cidadania, espaos. Porto Alegre, EDIPUCRS, 1998.
RIZZINI, Irene (orientadora), Lygia Policarpo Medeiros e Carlos
Eduardo Warszawski, Alicia R. Moura Sales e rico de Athayde
Couto Jr., bolsistas. O que as pesquisas revelam sobre a situao da
infncia na dcada de 80? Levantamento da produo cientfica
Relatrio de Pesquisa, Rio de Janeiro, CESPI, 1992.
ROSA, Rogrio. A temporalidade kaingaing na espiritualidade do
combate. Tese de Mestrado em Antropologia Social. PPGAS-UFRGS,
1998.
ROSEMBERG, Flvia. O discurso sobre criana de rua na dcada de
80. Cadernos de Pesquisa, 87: 71-81, 1993.
SANTOS, Benedito Rodrigues dos. A emergncia da concepo
moderna de infncia e adolescncia mapeamento, documentao e
reflexo sobre as principais teorias. Tese de Doutorado em
Antropologia, PPG Antropologia PUC-SP, 1996.
SCOTT, Joan W. La citoyenne paradoxale: les fministes fanaises et
les droits de lhomme. Paris, Albin Michel, 1996.
SILVA, Hlio R. S. & MILITA, Claudia. Vozes do meio-fio. Rio de
Janeiro, Relum Dumar, 1995.
TURNER, Terence. Anthropology and multiculturalism: what is
anthropology that multiculturalists should be mindful of it? In
36
GOLDBERG, David T. (org.) Multiculturalism: a critical reader.
Oxford, Basil Blackwell, 1994.
VALLADARES, Lcia e IMPELIZIERI, Flvia. Ao invisvel. Rio de
Janeiro, IUPERJ, 1992.
VIANNA, Luiz Werneck. Poder Judicirio, positivao do direito
natural e histria. Estudos histricos 9(18): 257-424, 1996.
VIOLANTE, Maria Lcia. O dilema do decente malandro. So Paulo,
Cortez, 1985.
VOLPI, Mrio. O adolescente e o ato infracional. So Paulo, Editora
Cortez. 1997.
WERNER, Dennis. Menores Maltratados, Abandonados e Infratores
Relatrio de Pesquisa. Florianpolis, Dept. de Cincias Sociais,
UFSC.
37
Você também pode gostar
- Notas de Aula de 3afeira - ACH0141 - Sociedade, Multiculturalismo e DireitoDocumento22 páginasNotas de Aula de 3afeira - ACH0141 - Sociedade, Multiculturalismo e DireitoEurides BalbinoAinda não há avaliações
- Louis Josserand - Evolução Da Responsabilidade CivilDocumento13 páginasLouis Josserand - Evolução Da Responsabilidade Civiljairomoura100% (1)
- Assessoria Jurídica Popular Universitária e Educação Popular em Direitos Humanso Com Movimentos Sociais - 17flsDocumento17 páginasAssessoria Jurídica Popular Universitária e Educação Popular em Direitos Humanso Com Movimentos Sociais - 17flsgiovanibruscatoAinda não há avaliações
- Artigo - O Processo de Formação Do Ideal Dos Direitos FundamentaisDocumento12 páginasArtigo - O Processo de Formação Do Ideal Dos Direitos FundamentaisRenan Dalla LastaAinda não há avaliações
- Globalização, Multiculturalismo, Condição Humana e A Perspectiva Dos Direitos HumanosDocumento17 páginasGlobalização, Multiculturalismo, Condição Humana e A Perspectiva Dos Direitos HumanosViviane Raposo PimentaAinda não há avaliações
- Minorias e Grupos VulneráveisDocumento9 páginasMinorias e Grupos VulneráveisDan MoreiraAinda não há avaliações
- Direitos humanos e sociedade: Perspectivas, enquadramentos e desafiosNo EverandDireitos humanos e sociedade: Perspectivas, enquadramentos e desafiosAinda não há avaliações
- Como Trabalhar Sobre Direitos Humanos No Novo Ensino Médio Da Proposta BNCCDocumento7 páginasComo Trabalhar Sobre Direitos Humanos No Novo Ensino Médio Da Proposta BNCCluizharaujoAinda não há avaliações
- Projeto de Conscientização Sobre Direitos Humanos e CidadaniaDocumento13 páginasProjeto de Conscientização Sobre Direitos Humanos e CidadaniaElayne PinheiroAinda não há avaliações
- Repertã RiosDocumento15 páginasRepertã Riosgatinhokawaii42Ainda não há avaliações
- Ativismo Digital Na África. Demandas, Agendas e PerspectivasDocumento15 páginasAtivismo Digital Na África. Demandas, Agendas e PerspectivasDjinoAinda não há avaliações
- Direitos Humanos No Brasil - Freire, S. 2014Documento20 páginasDireitos Humanos No Brasil - Freire, S. 2014Mariana M. P. de SouzaAinda não há avaliações
- Direito Privado: concepções jurídicas sobre o particular e o social: - Volume 8No EverandDireito Privado: concepções jurídicas sobre o particular e o social: - Volume 8Ainda não há avaliações
- Teoria Dos Direitos HumanosDocumento46 páginasTeoria Dos Direitos HumanosBrunaAinda não há avaliações
- Impasse Das Minorias - Racismo, Idoso, Questão de Gênero e Pessoa Com DeficiênciaDocumento173 páginasImpasse Das Minorias - Racismo, Idoso, Questão de Gênero e Pessoa Com DeficiênciaPós-Graduações UNIASSELVIAinda não há avaliações
- Bittar - Democracia e Direitos HumanosDocumento18 páginasBittar - Democracia e Direitos HumanosRaladoAinda não há avaliações
- Projet Mono Final RevisDocumento15 páginasProjet Mono Final RevisLuma Assis CaetanoAinda não há avaliações
- SociologiaDocumento41 páginasSociologiatheopinheiroandradeAinda não há avaliações
- Ação Afirmativa No Brasil: Multiculturalismo Ou Justiça Social?Documento39 páginasAção Afirmativa No Brasil: Multiculturalismo Ou Justiça Social?thiago britoAinda não há avaliações
- A judicialização sob o enfoque da cidadania e das políticas públicasNo EverandA judicialização sob o enfoque da cidadania e das políticas públicasAinda não há avaliações
- Cartilha Direito À Cidade Plataforma DhescaDocumento27 páginasCartilha Direito À Cidade Plataforma DhescaThales LimaAinda não há avaliações
- AndreDocumento8 páginasAndreAndressa MartinsAinda não há avaliações
- Multiculturalismo, Minorias e Ações Afirmativas PDFDocumento6 páginasMulticulturalismo, Minorias e Ações Afirmativas PDFJoão Paulo Galvão dos SantosAinda não há avaliações
- Revista Sociologia Jurídica N.12Documento146 páginasRevista Sociologia Jurídica N.12Clóvis GualbertoAinda não há avaliações
- Texto 1Documento10 páginasTexto 1Lisandra MoraisAinda não há avaliações
- Dignidade Da Pessoa Humana, Poder Público e PobrezaDocumento15 páginasDignidade Da Pessoa Humana, Poder Público e PobrezaSandra PiresAinda não há avaliações
- CidadaniacomocomunicaoDocumento17 páginasCidadaniacomocomunicaoLívia ValençaAinda não há avaliações
- Resenha PublicadaDocumento4 páginasResenha PublicadaElcio MagalhaesAinda não há avaliações
- Prova DH - Pedro Paulo Da Silva PereiraDocumento3 páginasProva DH - Pedro Paulo Da Silva PereiraPedro SilvaAinda não há avaliações
- A Defensoria InteramericanaDocumento17 páginasA Defensoria InteramericanaRenata TavaresAinda não há avaliações
- CidadaniaDocumento5 páginasCidadaniaCamille LauAinda não há avaliações
- Edh 2Documento3 páginasEdh 2Ingridy MirandolaAinda não há avaliações
- Livro UA5Documento14 páginasLivro UA5Marcelo FelipeAinda não há avaliações
- Direitos Humanos, Minorias e Ação Afirmativa: o sistema de cotas raciais no BrasilNo EverandDireitos Humanos, Minorias e Ação Afirmativa: o sistema de cotas raciais no BrasilAinda não há avaliações
- Multiculturalismo e As Quatro Gerações de Direitos Humanos PDFDocumento8 páginasMulticulturalismo e As Quatro Gerações de Direitos Humanos PDFPaulo SantiagoAinda não há avaliações
- Ensaio - História ContemporâneaDocumento11 páginasEnsaio - História ContemporâneaNilton100% (1)
- Direitos Humanos e Os Marcadores SociaisDocumento7 páginasDireitos Humanos e Os Marcadores SociaisSavio Souza Figueiredo MonteiroAinda não há avaliações
- Luta Por Direitos Humanos e Luta Política Por Emancipação (Prof. Elídio Marques)Documento6 páginasLuta Por Direitos Humanos e Luta Política Por Emancipação (Prof. Elídio Marques)Elidio Alexandre Borges MarquesAinda não há avaliações
- Direitos Humanos Ou Privilegios de BandidosDocumento13 páginasDireitos Humanos Ou Privilegios de Bandidoscatmbr8865100% (4)
- As Causas Da Pobreza ShuartzmanDocumento198 páginasAs Causas Da Pobreza ShuartzmanMaria Maia E AlmeidaAinda não há avaliações
- Artigo Meninosderua1Documento35 páginasArtigo Meninosderua1Perisson DantasAinda não há avaliações
- Direitos Humanos, Desigualdade E A Justiça Social No BrasilDocumento14 páginasDireitos Humanos, Desigualdade E A Justiça Social No BrasilWeverson PresenzaAinda não há avaliações
- Gloria Lisbeth Graterol AcevedoDocumento21 páginasGloria Lisbeth Graterol AcevedoZeltzin PastranaAinda não há avaliações
- A proteção dos grupos vulneráveisNo EverandA proteção dos grupos vulneráveisAinda não há avaliações
- Pedro Lino de Carvalho Júnior (Artigo) - OS DIREITOS HUMANOS EM ROBERTO MANGABEIRA UNGERDocumento19 páginasPedro Lino de Carvalho Júnior (Artigo) - OS DIREITOS HUMANOS EM ROBERTO MANGABEIRA UNGERRafael de Lima KurschnerAinda não há avaliações
- IntroduçãoDocumento7 páginasIntroduçãoRenan RibeiroAinda não há avaliações
- Unidade III - Psicologia e Políticas PúblicasDocumento41 páginasUnidade III - Psicologia e Políticas Públicasgabriel20012021Ainda não há avaliações
- Cidadania e Problemas SociaisDocumento18 páginasCidadania e Problemas SociaisNatalia LimaAinda não há avaliações
- Direitos Humanos Diversidade e Inclusao SocialDocumento11 páginasDireitos Humanos Diversidade e Inclusao SocialantonioAinda não há avaliações
- Questões de Concurso - Direitos HumanosDocumento31 páginasQuestões de Concurso - Direitos HumanosBruno Cortez Castelo BrancoAinda não há avaliações
- Artigo CientíficoDocumento28 páginasArtigo CientíficoanaclaranardaciiAinda não há avaliações
- Direitos máximos, deveres mínimos: O festival de privilégios que assola o BrasilNo EverandDireitos máximos, deveres mínimos: O festival de privilégios que assola o BrasilAinda não há avaliações
- 276 1027 1 PB PDFDocumento16 páginas276 1027 1 PB PDFalexAinda não há avaliações
- Atividade Avaliativa LEThaiany Tentardini MendesDocumento3 páginasAtividade Avaliativa LEThaiany Tentardini MendesSérgioAinda não há avaliações
- ALAPANIAN - DH e Política Social - Apontamentos para Uma Análise Sobre Os Limites Do Direito e Da Igualdade No CapitalismoDocumento21 páginasALAPANIAN - DH e Política Social - Apontamentos para Uma Análise Sobre Os Limites Do Direito e Da Igualdade No CapitalismoFabiano Lucio de Almeida SilvaAinda não há avaliações
- Olhar Sociologico Cidadania LeituraDocumento25 páginasOlhar Sociologico Cidadania LeituraMilce FerreiraAinda não há avaliações
- TORQUATO (2021) - Minorias, Lugar de Fala e Direito À Comunicação Na MídiaDocumento20 páginasTORQUATO (2021) - Minorias, Lugar de Fala e Direito À Comunicação Na MídiachalinibarrosAinda não há avaliações
- Judicializao Dos Direitos Humanos Revista de Antropologia USP 2014Documento27 páginasJudicializao Dos Direitos Humanos Revista de Antropologia USP 2014DavisonPereiraAinda não há avaliações
- 110810120946os Direitos Humanos No Contexto Da Globalização - Três Precisões Conceituais - Joaquín Herrera FloresDocumento19 páginas110810120946os Direitos Humanos No Contexto Da Globalização - Três Precisões Conceituais - Joaquín Herrera FloresLuciana FerreiraAinda não há avaliações
- Carinhoso CifrasDocumento1 páginaCarinhoso CifrasjairomouraAinda não há avaliações
- Curso Fic Letra de MúsicaDocumento13 páginasCurso Fic Letra de MúsicajairomouraAinda não há avaliações
- Jairo Qualificação 03 PDFDocumento76 páginasJairo Qualificação 03 PDFjairomouraAinda não há avaliações