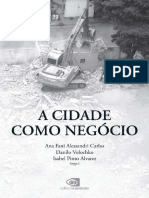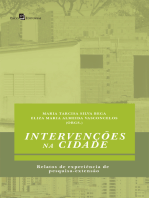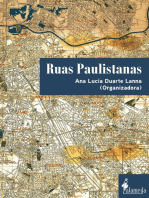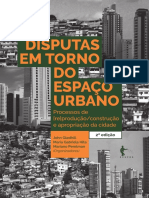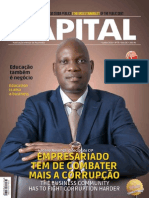Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Resenha Brasil, Cidades
Resenha Brasil, Cidades
Enviado por
Lorena CostaDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Resenha Brasil, Cidades
Resenha Brasil, Cidades
Enviado por
Lorena CostaDireitos autorais:
Formatos disponíveis
CAMINHOS DE GEOGRAFIA - revista on line
http://www.ig.ufu.br/revista/caminhos.html
ISSN 1678-6343
Instituto de Geografia ufu
Programa de Ps-graduao em Geografia
Caminhos de Geografia, Resenha 1(18)183-187, J un/2006
Pgina
183
BOOK REVIEW
RESENHA DE LIVRO
MARICATO, Ermnia. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrpolis: Vozes, 2001. 204 p.
Lisandro Pezzi Schmidt
Docente do Departamento de Geografia
Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO, Guarapuava - PR
Doutorando do Programa de Ps-graduao em Geografia - CFH/UFSC
Este livro tem por objetivo apresentar idias e experincias da trajetria acadmica e profissional
em administrao pblica da prof Ermnia Maricato. A idia central direcionada para alternativas
de planejamento e gesto urbanos, considerando as experincias e lies vivenciadas pela autora.
A obra compe-se de cinco textos, no qual os trs primeiros constituem uma descrio da situao
do meio urbano, apontando alternativas para os problemas evidenciados e os dois ltimos, um
direcionado para So Paulo e Rio de J aneiro e o outro sobre as contradies e avanos do Habitat
II. Partindo das caractersticas que ajudam modelar o meio urbano, principalmente das grandes
metrpoles e tendo como base uma reflexo crtica o contedo do livro est montado para
apontamento de alternativas que so encaminhadas por meio de diretrizes e pressupostos para o
planejamento e gesto urbanos. O que relevante trazer para o leitor a rica discusso dos
instrumentos urbansticos disponveis s administraes municipais e para quem se preocupa com
as questes urbanas. Resgata-se nesta resenha trechos que julga-se como importantes
indicadores para o planejamento e que devem ser utilizados gesto urbana. Partindo dessas
idias, salienta-se uma parte do texto em que Maricato p. (62) diz: as cidades tm um novo papel
diante da urbanizao crescente da humanidade, dos estreitamentos do mercado.
No primeiro texto Na periferia do mundo globalizado: metrpoles brasileiras a autora destaca que
o Brasil urbano impe tarefas desafiadoras sendo que profissionais (arquitetos, planejadores e aqui
mencionamos tambm os gegrafos) no tem conhecimento acumulado nem experincias para
lidar com elas. Para tanto, vale ressaltar como positiva a contextualizao que a autora faz sobre o
processo de urbanizao brasileira, considerando dados scio-econmicos e urbansticos. No
entanto, reconhece-se que muitos dos problemas urbanos que convivemos fruto de novos e
antigos indicadores. A autora chama a ateno neste texto que o controle urbanstico se d
sempre na cidade legal que tambm a que recebe financiamento e ateno de bancos, sem falar
dos maiores investimentos pblicos pelos municpios.
O segundo texto Planejamento para a crise urbana do Brasil que seqncia do primeiro feito
proposies e considera-se como o mais importante da obra. A autora enfoca de maneira crtica os
problemas elencados no primeiro texto partindo para alternativas, considerando as limitaes para
ao do planejamento. Nesse texto, nota-se vrias propostas (planos, polticas e programas) que
retratam a trajetria de solicitaes de candidatos do governo em nvel federal, estadual e
municipal elaborados no perodo de 1970 a 2000. Ao tratar da realidade de So Paulo, salienta na
p.48 que planejamento competncia do Estado e este a expresso das classes dominantes,
da a impossibilidade do planejamento democrtico e igualitrio. No que tange ao ambiente
acadmico e o que feito de proposies Maricato enfoca que a maior parte dos estudos
acadmicos produzidos pelas filiadas da Anpur - Associao Nacional de Ps-Graduao em
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, se referem a pesquisas e anlises crticas e ra-
ramente a trabalhos propositivos. Mesmo dentre as anlises crticas, talvez a maior parte no
tenha qualquer finalidade de aplicao, o que no significa que essa produo (com excees) no
RESENHA DE LIVRO: MARICATO, Ermnia. Brasil, cidades:
alternativas para a crise urbana. Petrpolis: Vozes, 2001. 204 p.
Lisandro Pezzi Schmidt
Caminhos de Geografia, Resenha 1(18)183-187, J un/2006
Pgina
184
apresente um bom nvel acadmico ou que no seja importante para o avano do conhecimento
sobre a realidade brasileira. Dadas suas caractersticas de distanciamento das tarefas prticas, o
que de melhor a universidade brasileira tem produzido o pensamento crtico. A autora destaca a
dificuldade para construir uma proposta urbanstica nos governos municipais democrticos.
Concordamos com essa opinio, reforando que no temos em nossa formao mtodos que
levem quebrar com as formaes bsicas e que leve ao exerccio de encaminhamentos mais
democrticos passando do terico para o prtico. O texto apresenta vrias questes de cunho
scio-ambientais que servem como base para elaborao de propostas da crise urbana. Duas
questes merecem destaque nas contribuies da professora Maricato que de ver o ambiente
construdo que reflete as relaes sociais alm de participar ativamente de sua reproduo. Nesse
sentido, objeto e agente de permanncias e de mudanas sociais. influenciado pelas relaes
sociais tanto quanto as influencia.
Outra questo a grande dificuldade em dar alternativas ao rumo atual das cidades no Brasil
tendo em vista a dificuldade em lidar com a mquina pblica administrativa. Isso se deve a tradio
livresca e retrica que uma distncia entre o discurso e a prtica e a outra a origem exgena da
inspirao. A autora faz a seguintes observaes (p. 51-52) a respeito da permanncia de alguns
paradigmas segundo a opinio de alguns autores: a) a matriz postia que inspirou a construo
jurdica, a qual negada pela aplicao arbitrria da lei. Mais do que qualquer formulao legal, o
poder econmico e poltico influi sobre quando e como a lei se aplica; b) cidadania restrita para
alguns e relaes de privilgio. Quem possui patrimnio tem direitos. Quem no possui no tem
(Bosi, 1992); c) confuso entre as esferas pblica e privada. O clientelismo e a relao de favor
ocupam o lugar da relao baseada em direitos. (Franco, 1968). A esfera pblica tem "donos".
Essa relao, que tem incio no Brasil Colnia, continua com os latifundirios e coronis, no
imprio e persiste at o incio do sculo XXI, como fica evidente nos episdios que mostram os fre-
qentes usos de cargos pblicos em beneficio prprio e de apaniguados ou aparentados; d) a
cultura usada como berloque, o que implica em padres culturais transplantados utilizados como
marcas de diferenciao (Schwarz, 1990) e o distanciamento em relao realidade local que
dado pelo olhar emprestado s universidades e produo intelectual estrangeira. Florestan
Fernandes citado por Maricato se refere ao distanciamento, em relao nossa prpria histria,
que marca o ensino superior no Brasil "Um ritmo que nasce da comunicao com o Exterior e que,
freqentemente, pe-nos diante de uma histria virtual (Fernandes, 1991, p.183).
A crtica que a autora faz aos planos estratgicos que muitas cidades latino-americanas,
principalmente aquelas que buscam alcanar o rtulo como cidades globais fizeram, possibilitaram
um maior estreitamento com o mercado e orientaram o crescimento das cidades. Trata-se para
Maricato (p.59) da cidade corporativa ou da cidade ptria que cobra o esforo e o consenso de
todos em torno dessa viso generalizante tentando minimizar os conflitos internos para sobreviver
e vencer. Sendo assim, a cidade passa a se organizar e apresentar servios e equipamentos
exigidos das cidades globais, procurando vender-se com competncia (p.60). Nesse sentido, o
que a autora tenta mostrar que esse novo papel diante da urbanizao crescente da humanidade
que as cidades tem provoca um estreitamento com o modelo neoliberal do mercado. Assim, o
plano Estratgico assume a fragmentao na abordagem da cidade, priorizando as localizaes
com mais potencial de rentabilidade imobiliria e carga simblica. mencionado a existncia de
uma crise urbana e do planejamento no qual abre espao para novas propostas. Em razo disso,
ela aponta (p.70) alguns pressupostos para planejamento e gesto das cidades: criar a conscincia
da cidade real e indicadores de qualidade de vida, criar um espao de debate democrtico: dar
visibilidade aos conflitos, reforma administrativa, formao de quadros e agentes para uma ao
integrada, aperfeioamento e democratizao da informao, um programa especial para regies
metropolitanas, a bacia hidrogrfica como referncia para o planejamento urbano, formulao de
polticas de curtssimo, mdio e longo prazo.
Quanto aos instrumentos urbansticos a autora refora a idia de que no foi por falta de planos e
leis que nossas cidades tomaram o rumo que tomaram. Existe na legislao urbanstica para os
governos municipais instrumentos que vo desde formas para ampliar a arrecadao at a
garantia da preservao do patrimnio histrico, arquitetnico e paisagstico. O que deve existir
RESENHA DE LIVRO: MARICATO, Ermnia. Brasil, cidades:
alternativas para a crise urbana. Petrpolis: Vozes, 2001. 204 p.
Lisandro Pezzi Schmidt
Caminhos de Geografia, Resenha 1(18)183-187, J un/2006
Pgina
185
so novos instrumentos como as Zonas Especiais de Interesse Social / ZEIS ou AEIS e Habitao
de Interesse Social / HIS.
Cabe ressaltar a meno que feita para o Estatuto da Cidade. Nesse particular, o livro traz uma
rica discusso de seu contedo e de sua caminhada para aprovao. Porm, toda resposta que
visa o planejamento deve ser interpretada como um processo lento. Ressalta-se que o previsto no
texto original no que se refere aos seus instrumentos foram retirados, como por exemplo o abuso
do direito e da funo social da propriedade (art, 8, seo II), como tambm o veto concesso
de uso especial para moradia social. Concordamos com a autora que o Estatuto da Cidade fornece
instrumentos para o avano da luta contra a apropriao desigual do espao urbano, mas no a
substitui como pensam alguns. Certamente haver interpretaes diversas (e at opostas) para a
implementao dos instrumentos urbansticos nele previstos.
Quanto a Lei de Zoneamento, enfocado como a expresso mais forte do urbanismo modernista
com sua utopia de dirigir ordenadamente o uso e a ocupao do solo, com regras universais e
genricas, separando usos, nveis de circulao, tipologias de edifcios, padres de ocupao do
solo etc. Sendo assim, caracterizado no Brasil por apresentar as seguintes caractersticas: 1) ela
est bastante descaracterizada com grande parte das edificaes e seu uso, fora da lei; 2) dificulta
a ampliao do mercado privado em direo a camadas de mais baixa renda; 3) desconsidera a
questo ambiental; 4) de difcil compreenso e aplicao; 5) ignora as potencialidades dadas
pelos arranjos locais ou informais; e, finalmente, 6) contribui com a segregao e a ilegalidade.
A autora defende que a simplificao e, por vezes, a flexibilizao dessa legislao necessria. A
cautela exige, entretanto, que se reafirme a necessidade do zoneamento no uso e na ocupao do
solo, no como um instrumento de segregao e aumento do preo da terra, mas, ao contrrio, de
ampliao do direito cidade e que o zoneamento deveria assumir uma funo social subordinado
aprovao de um Plano Diretor, como prev o Estatuto da Cidade para no atrasar muito
algumas iniciativas governamentais e legislativas urgentes. importante frisar a contribuio
reflexiva (p. 117) que a obra apresenta de que no interessa um plano normativo apenas, que se
esgota na aprovao de uma lei, mas sim que ele seja comprometido com um processo, uma
esfera de gesto democrtica para corrigir seus rumos, uma esfera operativa, com investimentos
definidos, com aes definidas e com fiscalizao. Em sntese, o Plano de Ao (ou Plano Diretor
como quer o Estatuto da Cidade e a Constituio Federal) deve superar o tradicional
descasamento entre lei e gesto, portanto, deve prever a gesto ou a esfera operacional e a
orientao dos investimentos definida por interesses privados. Deve-se, portanto, sugerir a
orientao dos investimentos, de acordo com o interesse pblico (social e ambiental). Assim, o que
defendido compreende a idia para repensar a produo cooperativa no contexto de uma poltica
habitacional e que a poltica de incluso urbanstica tem em seu eixo o direito moradia e
cidade. Em sntese, o planejamento para a crise urbana no Brasil passa por uma elaborao de
propostas que se contrape ao urbanismo oficial e busque alimentar o debate democrtico. As
contradies so muitas e suas brechas so imensas na sociedade brasileira, em quase todas as
reas do conhecimento. A sada que apresentada passa pela idia de um plano de ao e no
simplesmente de um Plano Diretor.
O terceiro texto do livro que trata Reabilitao de centros urbanos e habitao social, expe
estratgias de ao em reas centrais: renovao no sentido de substituir antigas edificaes
(interesse do capital imobilirio) e reabilitao na busca da preservao do patrimnio histrico,
artstico e paisagstico que no descaracteriza o ambiente construdo herdado sendo o que
interessa a populao residente. Qualquer que seja a estratgia a ser adotada deve enfrentar a
questo da melhoria no padro da manuteno, em especial a limpeza pblica. Fala da
possibilidade de uma interveno democrtica que garanta o direito cidade para todos dando
prioridade questo da moradia social e defendendo a produo dessas moradias em reas
centrais. A autora reconhece os esforos das prefeituras municipais e governos estaduais, mesmo
na ausncia de uma poltica nacional, defende numa poltica de aluguel - uma das mais
importantes formas de moradia que est relacionado com a poltica macroeconmica e depende de
medidas federais. Ela critica tambm que cursos de arquitetura e de urbanismo tem como
RESENHA DE LIVRO: MARICATO, Ermnia. Brasil, cidades:
alternativas para a crise urbana. Petrpolis: Vozes, 2001. 204 p.
Lisandro Pezzi Schmidt
Caminhos de Geografia, Resenha 1(18)183-187, J un/2006
Pgina
186
preocupao central estudar arquitetura, urbanismo e planejamento urbano e o caso da moradia
social e planos diretores so captulos a parte. Num comparativo feito pela autora com os pases
centrais do capitalismo tomadas como modelo entre ns, constituem idias fora do lugar
restando para a maioria da populao alternativas ilegais ou informais, reforando que a maioria de
nossas classes est na irregularidade. Por isso reafirmado (p.136) a necessidade do
planejamento urbano que admita como eixo a poltica fundiria para habitao social. No que
tange a ampliao do aceso moradia, a autora bastante otimista ao mencionar algumas
medidas que deveriam ser levadas em considerao como: uma reforma financeira, uma reforma
urbana e uma estrutura institucional nacional que abarque os vrios nveis de governo e os
diversos agentes da sociedade civil. Ela sugere que as cidades deveriam ter uma banco de dados
com cadastro de todo uso residencial da populao, a fim de prever, supor, elaborar a capacidade
de financiamento e pagamento de prestaes ou aluguel pela populao e defende a idia que o
poder pblico dever ser um agente central inspirador, disseminador e articulador de iniciativas dos
diversos agentes visando as operaes orientadas de acordo com o plano geral traado. A idia j
proposta por Maricato em outra obra (2000) referia-se as idias fora do lugar que podem ser
aplicadas a partir de exemplos, dentre os quais j destacado o pouco interesse em trabalhar na
formao acadmica a questo da moradia social, como nos planos diretores ou possveis planos
de ao.
No quarto texto So Paulo e Rio de J aneiro, entre o arcaico e a ps-modernidade, salientado
que cada vez mais insustentvel o nvel do comprometimento ambiental e de qualidade de vida
dessas metrpoles que mantm, atravs de prticas polticas arcaicas e de ardilosa representao,
o encobrimento da senzala ou da cidade ilegal. Portanto, observa-se as crticas que so feitas as
prefeituras, tomando como exemplo So Paulo, salientando que em lugar de priorizar o carter
pblico e social dos investimentos municipais em uma cidade com gigantescas carncias, a
prefeitura o fez de acordo com os interesses privados em especial de empreiteiras, de agentes do
mercado imobilirio e dos chamados formadores de opinio pblica. As expresses arcaico e ps-
modernidade partem de uma anlise de campanhas que falaram de pobreza, misria e assumiram
uma abordagem fragmentada que tomou, para alguns a idia de um planejamento estratgico, a
mercadoria vendida a imagem ou o cenrio.
Por ltimo, o quinto texto Contradies e avanos da Habitat II, revela a dificuldade em poder
transmitir o que aconteceu e seu significado na Conferncia das Naes Unidas para os
Assentamentos Humanos, em Istambul, 1996, num megaevento internacional levando em
considerao os vrios grupos que l participaram. O Habitat II para Maricato constituiu um duro
golpe nas concepes de urbanismo vigente durante todo o sculo XX, o que pode representar
numa vantagem fim do planejamento tecnocrtico, burocrtico e autoritrio ou uma
desvantagem demisso do Estado em relao regulao de uso do solo. Houve para autora
um momento marcante, em que parecia fora do contexto falar do espao sem a participao dos
indivduos, comunidades ou coletividades. Houve tambm a exposio das melhores prticas e
experincias dos que participaram. Selecionou duas reunies que julgou importante: o Frum
governamental em que ocorreu uma divergncia entre os pases pensamentos opostos num
nico tema. Por exemplo, Canad e Unio Europia defenderam posies mais democrticas,
enquanto EUA e J apo defenderam posies mais conservadoras, tambm razoavelmente
amadurecidas e, o Frum paralelo em que as discusses ficaram bastante concentradas na forma
de rede dos grupos espalhados pelo mundo.
Quanto a alguns paradigmas hegemnicos foi salientada a preocupao para construo da
imagem dessa cidade mundial e competitiva e sobre o impacto socialmente negativo dos ajustes
internacionais sobre os pases, chamados pela ONU em desenvolvimento (indicadores, pobreza,
ilegalidade...). Chamou ateno da autora medidas para descentralizao e poder local, a defesa
da co-gesto Estado e sociedade e a participao direta na gesto do habitat que vo no sentido
do controle social sobre o aparelho do Estado, construir uma esfera pblica no-estatal.
mencionado tambm que h uma crise da representao poltica que evidente (autonomia,
autogoverno, democracia participativa, alguns acham terceiro setor, terceira via...), por isso
sugerido a criao de imveis para uso misto (moradia, comrcio) ou para utilizao individual ou
RESENHA DE LIVRO: MARICATO, Ermnia. Brasil, cidades:
alternativas para a crise urbana. Petrpolis: Vozes, 2001. 204 p.
Lisandro Pezzi Schmidt
Caminhos de Geografia, Resenha 1(18)183-187, J un/2006
Pgina
187
coletiva de uso pblico - espaos para gerao de renda e de emprego. Isso poderia ser
trabalhado utilizando alguns passos do oramento participativo tal como foi realizado em Porto
Alegre.
Desta forma, a partir da leitura da obra da professora Ermnia Maricato, ressalta-se que na maioria
dos estudos que enfocam questes de planejamento urbano, crise da cidade e da esfera pblica
mostra que estamos longe de esgotar assuntos que interessam a sociedade. Esse o momento de
reflexo da Reforma Urbana. Essa obra procura mostrar caminhos alternativos para
desencadeamentos do planejamento e gesto urbanos, contribuindo para diversas disciplinas,
principalmente arquitetura, geografia e reas afins. Notou-se em vrios trechos do livro crticas
s polticas urbanas de direita apontando falhas e exemplos para alternativas ao planejamento.
Recomenda-se o presente livro a estudantes de urbanismo que se preocupa como se processa o
planejamento urbano e suas matrizes e principalmente para os gestores urbanos preocupados com
a definio das diretrizes de desenvolvimento das cidades. Considerando as colocaes da Prof.
Ermnia Maricato e as recomendaes que foram apresentadas, observa-se que preciso
repensar a participao democrtica nas cidades e que o processo de planejamento de gesto
urbanos tem ainda muito o que percorrer no sentido de transpor a teoria para prtica, mediante a
participao de todos os interessados.
Você também pode gostar
- Mensagem para Santa CeiaDocumento3 páginasMensagem para Santa CeiaFABIO GONCALVES100% (1)
- Moradia popular no Recife: políticas públicasNo EverandMoradia popular no Recife: políticas públicasAinda não há avaliações
- Fichamento Os Novos Princípios Do Urbanismo ASCHER, F.Documento8 páginasFichamento Os Novos Princípios Do Urbanismo ASCHER, F.AnaCarolineCirinoAinda não há avaliações
- Resenha - Elisa GarciaDocumento5 páginasResenha - Elisa GarciaGabrielle ReginattoAinda não há avaliações
- EXERC1Documento4 páginasEXERC1mandita_rios0% (1)
- A Cidade Como Negócio by Ana Fani Alessandri Carlo 12763514Documento274 páginasA Cidade Como Negócio by Ana Fani Alessandri Carlo 12763514LEONARDO RIBEIRO FARIASAinda não há avaliações
- Favela Bairro: Uma outra história da cidade do Rio de JaneiroNo EverandFavela Bairro: Uma outra história da cidade do Rio de JaneiroAinda não há avaliações
- Compreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoNo EverandCompreendendo as Cidades: Método em projeto urbanoAinda não há avaliações
- Reflexões sobre a dinâmica de espaços públicos de lazer em cidades e suas aglomerações urbanas no século XXINo EverandReflexões sobre a dinâmica de espaços públicos de lazer em cidades e suas aglomerações urbanas no século XXIAinda não há avaliações
- A Cidade Sustentável - Erminia MaricatoDocumento28 páginasA Cidade Sustentável - Erminia MaricatoMiguel Jorge Souza100% (1)
- VILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-Urbano No Brasil.Documento3 páginasVILLAÇA, Flávio. Espaço Intra-Urbano No Brasil.Paulo Anderson FugulinAinda não há avaliações
- Carlos BrandãoDocumento25 páginasCarlos BrandãoCarlos Eduardo BarbosaAinda não há avaliações
- Mapa2000 MAPA DA EXCLUSÃO/ INCLUSÃO SOCIAL SÃO PAULO BRASIL 2000 ALDAÍZA SPOSATIDocumento86 páginasMapa2000 MAPA DA EXCLUSÃO/ INCLUSÃO SOCIAL SÃO PAULO BRASIL 2000 ALDAÍZA SPOSATIjoaosevanAinda não há avaliações
- Papeleta 02Documento1 páginaPapeleta 02Douglas Salvador100% (1)
- Relações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNo EverandRelações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- A Cidade e a Modernização:: Sociedade Civil, Estado e Mercado em Disputa Pelo Conceito de Planejamento UrbanoNo EverandA Cidade e a Modernização:: Sociedade Civil, Estado e Mercado em Disputa Pelo Conceito de Planejamento UrbanoAinda não há avaliações
- Intervenções na Cidade: Relatos de Experiência de Pesquisa-ExtensãoNo EverandIntervenções na Cidade: Relatos de Experiência de Pesquisa-ExtensãoAinda não há avaliações
- Planejamento Territorial V 1: reflexões críticas e perspectivasNo EverandPlanejamento Territorial V 1: reflexões críticas e perspectivasAinda não há avaliações
- Planejamento Urbano e Regional Victor Hugo GodoyDocumento10 páginasPlanejamento Urbano e Regional Victor Hugo GodoyRaquel Beatriz SilvaAinda não há avaliações
- Cidade e Cultura: Rebatimentos no espaço públicoNo EverandCidade e Cultura: Rebatimentos no espaço públicoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Planejamento Territorial V 2: reflexões críticas e práticas alternativasNo EverandPlanejamento Territorial V 2: reflexões críticas e práticas alternativasAinda não há avaliações
- Questões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaNo EverandQuestões Urbanas: Diálogos entre Planejamento Urbano e Qualidade de VidaAinda não há avaliações
- Temas da geografia contemporânea: Relações internacionais, natureza e gênero em debateNo EverandTemas da geografia contemporânea: Relações internacionais, natureza e gênero em debateNota: 4 de 5 estrelas4/5 (1)
- Habitação social e desenvolvimento urbano em cidades médiasNo EverandHabitação social e desenvolvimento urbano em cidades médiasAinda não há avaliações
- O Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesNo EverandO Indivíduo Urbano: cotidiano, resistência e políticas públicas em pequenas cidadesAinda não há avaliações
- Aplicação Dos Instrumentos Urbanísticos em São Paulo Limites e Possibilidades Do Planejamento Urbano - BOOK. E. C. Nobre.2021Documento315 páginasAplicação Dos Instrumentos Urbanísticos em São Paulo Limites e Possibilidades Do Planejamento Urbano - BOOK. E. C. Nobre.2021ALEXANDRE NASCIMENTOAinda não há avaliações
- Dimensões Intervir em FavelasDocumento14 páginasDimensões Intervir em FavelasDouglas AlmeidaAinda não há avaliações
- A Cidade, Os Comportamentos e A Lei (Carlos Nelson Ferreira Dos Santos) PDFDocumento5 páginasA Cidade, Os Comportamentos e A Lei (Carlos Nelson Ferreira Dos Santos) PDFDiogoCruzAinda não há avaliações
- A Producao Social Do Espaço UrbanoDocumento7 páginasA Producao Social Do Espaço UrbanoIgorJose0% (1)
- Segregação Socioespacial em Campo Grande - Objeto de Intervenção UrbanaDocumento184 páginasSegregação Socioespacial em Campo Grande - Objeto de Intervenção UrbanaEliane FraulobAinda não há avaliações
- 5 - Planejamento Regional e Urbano - Pós-GraduaçãoDocumento43 páginas5 - Planejamento Regional e Urbano - Pós-GraduaçãoProf. Eduardo AlmeidaAinda não há avaliações
- Urbanização BrasileiraDocumento20 páginasUrbanização BrasileiraFelipe Amaral BorgesAinda não há avaliações
- Agentes, Hegemonia e Poder na Produção do EspaçoNo EverandAgentes, Hegemonia e Poder na Produção do EspaçoAinda não há avaliações
- A Palavra Arquitetônica - Renato Leão RegoDocumento96 páginasA Palavra Arquitetônica - Renato Leão RegoRicardo_Sobral_8129Ainda não há avaliações
- Currículos Diferenciados Das Escolas Indígenas, Quilombolas e CaiçarasDocumento288 páginasCurrículos Diferenciados Das Escolas Indígenas, Quilombolas e CaiçarasPedro NevesAinda não há avaliações
- CASTRIOTA - Urbanizacao Brasileira Redescobertas (Cap1)Documento23 páginasCASTRIOTA - Urbanizacao Brasileira Redescobertas (Cap1)patriciattakAinda não há avaliações
- Resenha Livro o Que É CidadeDocumento2 páginasResenha Livro o Que É CidadeLAIS ROSAAinda não há avaliações
- Definindo A Cidade - Raquel RolnikDocumento2 páginasDefinindo A Cidade - Raquel RolnikJuliana Carvalho100% (1)
- A Construção Do Urbanismo ModernoDocumento20 páginasA Construção Do Urbanismo ModernoRaquel WeissAinda não há avaliações
- Tese - PLANEJAMENTO URBANO NO BRASILDocumento110 páginasTese - PLANEJAMENTO URBANO NO BRASILrossi35Ainda não há avaliações
- Resenha Impactos Ambientais Urbanos No BrasilDocumento3 páginasResenha Impactos Ambientais Urbanos No BrasilYasmin JuhazAinda não há avaliações
- Cidade Como Um Jogo de CartasDocumento2 páginasCidade Como Um Jogo de CartasChristian PimentelAinda não há avaliações
- A Cidade Do Capital (ROLNIK, Raquel)Documento15 páginasA Cidade Do Capital (ROLNIK, Raquel)Sidnei Souza100% (2)
- Os Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto Da Cidade Balanço Crítico e PerspectivasDocumento296 páginasOs Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto Da Cidade Balanço Crítico e PerspectivasThiago Hennemann100% (1)
- Sposito, M.Encarnação (LASA 2019)Documento25 páginasSposito, M.Encarnação (LASA 2019)Wagner Vinicius AmorimAinda não há avaliações
- Urbanismo, Planejamento Urbano e Direito UrbanísticoDocumento125 páginasUrbanismo, Planejamento Urbano e Direito UrbanísticoRogerio SantosAinda não há avaliações
- Anais Do Seminário Internacional Cidade e AlteridadeDocumento241 páginasAnais Do Seminário Internacional Cidade e AlteridadeJosiane BragatoAinda não há avaliações
- Região e RegionalizaçãoDocumento24 páginasRegião e RegionalizaçãoKelly AlfaiaAinda não há avaliações
- VILLAÇA, Flávio. Efeitos Do Espaço Sobre o Social Na Metrópole Brasileira. In-SOUZA, Maria Adélia de (Org) - Metrópole e Globalização PDFDocumento13 páginasVILLAÇA, Flávio. Efeitos Do Espaço Sobre o Social Na Metrópole Brasileira. In-SOUZA, Maria Adélia de (Org) - Metrópole e Globalização PDFEdmilson SoaresAinda não há avaliações
- Neil Smith - Desenvolvimento Desigual: Natureza, Capital e A Produção de EspaçoDocumento4 páginasNeil Smith - Desenvolvimento Desigual: Natureza, Capital e A Produção de EspaçoKaoriAinda não há avaliações
- Disputas em Torno Do Espaço UrbanoDocumento472 páginasDisputas em Torno Do Espaço UrbanoRodrigo AlmeidaAinda não há avaliações
- BNCC - Geografia EfDocumento29 páginasBNCC - Geografia EfJoãoMiranda100% (1)
- Metodologia de Análise UrbanaDocumento36 páginasMetodologia de Análise UrbanaMariana LopesAinda não há avaliações
- Resumo - Morte e Vida de Grandes Cidades Jane JacobsDocumento92 páginasResumo - Morte e Vida de Grandes Cidades Jane JacobsInes Pozza100% (2)
- Plano de AulaDocumento2 páginasPlano de AulaIale CamboimAinda não há avaliações
- Espaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaNo EverandEspaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaAinda não há avaliações
- LIVRO 3 - Quadro Geral Da Forma e Do Sistema de Espaços Livres Das Cidades Brasileiras - 20-07Documento378 páginasLIVRO 3 - Quadro Geral Da Forma e Do Sistema de Espaços Livres Das Cidades Brasileiras - 20-07Paula RibeiroAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Sustentável - Prefácio: IGNACY SACHSDocumento2 páginasDesenvolvimento Sustentável - Prefácio: IGNACY SACHSJáder Michael VasqueAinda não há avaliações
- Escolas de Samba Como Geradores de Economia - Gera RendaDocumento31 páginasEscolas de Samba Como Geradores de Economia - Gera RendaEduardo Alfonsi100% (1)
- TESAURO Linguagem de Representacao Da Memoria Documentaria PDFDocumento119 páginasTESAURO Linguagem de Representacao Da Memoria Documentaria PDFCarolina FiaschiAinda não há avaliações
- Esquizofrenia e EspiritualidadeDocumento6 páginasEsquizofrenia e EspiritualidadeMateus Silvestre100% (1)
- Casa de Praia No Centro de Caraguatatuba, Caraguatatuba - Preços Atualizados 202Documento8 páginasCasa de Praia No Centro de Caraguatatuba, Caraguatatuba - Preços Atualizados 2025qq72vq8ysAinda não há avaliações
- Cópia de Cópia de Solicitaçao Vale-TransporteDocumento2 páginasCópia de Cópia de Solicitaçao Vale-TransporteAndre LuizAinda não há avaliações
- Armazenamento Materias Primas PDFDocumento25 páginasArmazenamento Materias Primas PDFCarolina CunhaAinda não há avaliações
- Colecao Agrinho 7Documento56 páginasColecao Agrinho 7emilene silvaAinda não há avaliações
- Artigo Sobre Patologia de Revestimentos Cerâmicos em FachadasDocumento16 páginasArtigo Sobre Patologia de Revestimentos Cerâmicos em FachadasHeleide SouzaAinda não há avaliações
- Simulado 4Documento8 páginasSimulado 4Anderson LopesAinda não há avaliações
- Manual Celta 2009Documento129 páginasManual Celta 2009Guilherme Dias0% (1)
- Tecido Epitelial - Partedoisset2007Documento19 páginasTecido Epitelial - Partedoisset2007Eduardo GarciaAinda não há avaliações
- HD 400Documento12 páginasHD 400Alessandro DA SilvaAinda não há avaliações
- Amigurumi Mama Lemur - En.ptDocumento10 páginasAmigurumi Mama Lemur - En.ptMárcia AlvesAinda não há avaliações
- Comunicacao e Oratoria 02 - oDocumento12 páginasComunicacao e Oratoria 02 - oConcurseiro FocadoAinda não há avaliações
- Série 2 Estudo 14Documento2 páginasSérie 2 Estudo 14Elisangela CristinaAinda não há avaliações
- Fisiologia Celular (Parte 2)Documento52 páginasFisiologia Celular (Parte 2)Vitória Fernanda LisboaAinda não há avaliações
- Jurisdição - Conceito Principios Fundamentos Políticos - Slides - Flávia PitaDocumento24 páginasJurisdição - Conceito Principios Fundamentos Políticos - Slides - Flávia PitafapitataAinda não há avaliações
- Urgências PeriodontaisDocumento9 páginasUrgências Periodontaisp5qjrbzgy5Ainda não há avaliações
- Ciência e Propriedade Dos MateriaisDocumento249 páginasCiência e Propriedade Dos MateriaisMarilia Isabela de MeloAinda não há avaliações
- O Cânhamo Como Material de Construção-Viabilidade e Oportunidade. Mariana Santos, Nº18716Documento73 páginasO Cânhamo Como Material de Construção-Viabilidade e Oportunidade. Mariana Santos, Nº18716doidbrAinda não há avaliações
- AÇÃO ALIMENTOS BB CORRIGIDO - AssinadoDocumento5 páginasAÇÃO ALIMENTOS BB CORRIGIDO - AssinadoHiram CamaraAinda não há avaliações
- Brasilidades Bahianas 02Documento79 páginasBrasilidades Bahianas 02quituteira100% (2)
- Revista Capital 76Documento80 páginasRevista Capital 76Revista Capital100% (1)
- Gestão Dos Tipos de Serviços Da InternetDocumento186 páginasGestão Dos Tipos de Serviços Da InternetThiago Laurindo 2Ainda não há avaliações
- Entrevista Por CompetênciaDocumento9 páginasEntrevista Por Competênciawellington Evans Pereira GomesAinda não há avaliações
- Memorial Do ProjetoDocumento30 páginasMemorial Do ProjetoHebert NiceAinda não há avaliações
- 2 - Arteterapia-E-Oficina-De-ArteDocumento21 páginas2 - Arteterapia-E-Oficina-De-ArteFernando TinocoAinda não há avaliações
- Ficha KojiroDocumento3 páginasFicha Kojirofrancafp2Ainda não há avaliações