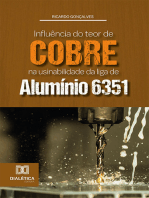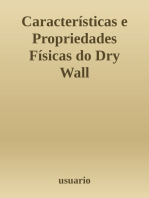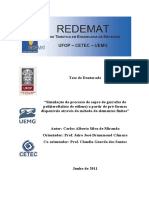Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Parametros Dosagem Concreto
Parametros Dosagem Concreto
Enviado por
Valdir Junior0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações145 páginasDosagem Concreto
Título original
parametros_dosagem_concreto
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDosagem Concreto
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
16 visualizações145 páginasParametros Dosagem Concreto
Parametros Dosagem Concreto
Enviado por
Valdir JuniorDosagem Concreto
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 145
1
UNIVERSIDADE DA AMAZNIA UNAMA
CENTRO DE CINCIAS EXATAS E TECNOLOGIA CCET
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
PARMETROS QUE DEFINE UMA DOSAGEM DE
CONCRETO
HERMESTRON PINTO DE OLIVEIRA
Belm - Par
2007
2
UNIVERSIDADE DA AMAZNIA UNAMA
CENTRO DE CINCIAS EXATAS E TECNOLOGIA CCET
CURSO DE ENGENHARIA CIVIL
PARMETROS QUE DEFINE UMA DOSAGEM DE
CONCRETO
HERMESTRON PINTO DE OLIVEIRA
Orientador: JOS ZACARIAS RODRIGUS DA SILVA JNIOR
Co-Orientador: PEDRO FRANCO DE S
Trabalho de Concluso de Curso
apresentado como exigncia para
obteno do ttulo de Engenheiro Civil,
submetido banca examinadora do
do Centro de Cincias Exatas e Tecnologia
da Universidade da Amaznia.
Belm - Par
2007
3
Trabalho de Concluso de Curso submetido Congregao do Curso de
Engenharia Civil do Centro de Cincias Exatas e Tecnologia da Universidade da
Amaznia, como parte dos requisitos para a obteno do ttulo de Engenheiro Civil,
sendo considerado satisfatrio e APROVADO em sua forma final pela banca
examinadora existente.
APROVADO POR:
____________________________________________
JOS ZACARIAS RODRIGUES DA SILVA JNIOR, Mestre (Unama).
(ORIENTADOR)
____________________________________________
PEDRO FRANCO DE S, Mestre (Unama).
(CO-ORIENTADOR)
____________________________________________
EVARISTO CLEMENTINO REZENDE DOS SANTOS JNIOR, Mestre (Unama).
(EXAMINADOR)
DATA: BELM PA, 18 de dezembro de 2007.
4
A minha me, Ana.
A meu pai, Reinaldo.
A meu irmo, Jnior.
A minha namorada Alessandra.
A todos os meus amigos.
E em memria de Srgio Pompeu,
que Deus o tenha.
5
AGRADECIMENTOS
A Deus;
Ao meu amigo Sergio Pompeu, que Deus o tenha.
A Universidade da Amaznia UNAMA, por ter me recebido e me acolhido e por ter
feito parte do corpo docente.
Ao Professor Jos Zacarias Rodrigues da Silva Jnior, pela ajuda, pela amizade.
Ao Professor Pedro Franco de S, pela pacincia e permanente disponibilidade no
desenvolvimento deste trabalho.
Ao pessoal do Laboratrio de Materiais de Construo, ao Professor Wandemir, aos
Laboratoristas Beto e Sandoval, pela colaborao e pacincias no desenvolvimento
dos trabalhos prticos.
Aos professores e funcionrios (verdinhos) do Centro de Cincias Exatas e
Tecnologia da Unama, pelos ensinamentos e apoio recebidos.
A POLIMIX na pessoa do Leonardo que gentilmente me recebeu e doou materiais
para o experimento.
A DI BRITA na pessoa do Srgio que gentilmente me recebeu e doou materiais para
o experimento.
A minha me, minha famlia, minha namorada, meus amigos pelo incentivo,
compreenso e imenso carinho ao longo destes anos, pois sem eles eu no teria
fora pra lutar.
A todos que direta ou indiretamente, contriburam para a elaborao desta pesquisa.
Um grande abrao do seu amigo Jack ao canil, aos formandos do Curso de
Engenharia Civil do ano de 2007 por fazerem parte desta vitria.
A todos.
A min.
Amm.
6
SUMRIO
LISTA DE FIGURAS...................................................................................................vii
LISTA DE TABELAS....................................................................................................x
RESUMO.....................................................................................................................xi
ABSTRACT.................................................................................................................xii
1. INTRODUO.......................................................................................................01
1.1 Importncia da pesquisa......................................................................................01
1.2 Objetivo da pesquisa............................................................................................02
1.3 Metodologia da pesquisa......................................................................................02
1.3.1 Determinao relao tima dos agregados grado e mido...........................03
1.3.1.1 Determinao da Massa Unitria Compactada..............................................06
1.3.2 Anlise de Regresso: Mtodo de Mnimo Quadrado......................................07
1.4 Estrutura do trabalho............................................................................................10
1.5 Limitaes da pesquisa........................................................................................10
2. EVOLUO DO CONCRETO................................................................................13
2.1 Histrico Internacional..........................................................................................13
2.2 A evoluo no Brasil.............................................................................................20
2.3 Considerao da Dosagem nas Normas Nacionais.............................................26
3. DURABILIDADE DO CONCRETO.........................................................................28
3.1 Definio..............................................................................................................28
3.2 Observaes Gerais.............................................................................................29
3.3 gua como um agente de deteriorao...............................................................29
3.3.1 A estrutura da gua...........................................................................................30
3.4 Permeabilidade do concreto.................................................................................31
3.4.1 Determinao da Permeabilidade gua.........................................................35
3.5 Classificaes das Causas da Deteriorao do Concreto...................................36
7
3.6 Ataque Qumico ao Concreto...............................................................................37
3.6.1 Ataque por Sulfato.............................................................................................37
3.6.2 Ataque por cidos.............................................................................................40
3.6.3 Reao lcali-agregado.....................................................................................40
3.6.3.1 Mecanismo de Expanso...............................................................................42
4. PROPRIEDADE DO CONCRETO........................................................................ 44
4.1 No Estado Fresco.................................................................................................44
4.1.1 Trabalhabilidade................................................................................................44
4.1.1.1 Definio.........................................................................................................44
...
4.1.1.2 Medida da Trabalhabilidade...........................................................................49
4.1.1.2.1 Ensaio de Abatimento do Tronco de Cone.................................................51
4.1.1.2.2 Ensaio Vebe................................................................................................53
4.1.1.2.3 Ensaio de fator de compactao.................................................................54
4.1.1.3 Segregao e exsudao...............................................................................55
4.2 No Estado Endurecido..........................................................................................56
4.2.1 Peso especfico.................................................................................................56
4.2.2 Resistncia do concreto....................................................................................56
4.2.2.1 Definio.........................................................................................................57
4.2.2.2 Influncia do agregado grado sobre a resistncia.......................................57
4.2.2.3 Influencia do teor de cimento na resistncia..................................................58
4.2.2.4 Condio de cura...........................................................................................58
4.2.3 Fatores que influem na resistncia....................................................................59
5 DOSAGEM DO CONCRETO..................................................................................62
5.1 Mistura Mecanizada.............................................................................................62
5.2 Uniformidade da Mistura......................................................................................62
8
5.3 Tempo de mistura.................................................................................................63
5.4 Mtodo de Powers................................................................................................65
5.4.1 Resistncia de dosagem...................................................................................65
5.4.2 Determinao da resistncia do concreto.........................................................66
5.4.3 Teor de agregado (A%).....................................................................................66
5.4.4 Teor de argamassa seca...................................................................................67
5.4.5 Consumo de cimento.........................................................................................67
6 PESQUISA EXPERIMENTAL.................................................................................68
6.1 Planejamento dos ensaios...................................................................................68
6.2 Caracterizao dos materiais...............................................................................70
6.2.1 Cimento.............................................................................................................70
6.2.2 Agregado mido................................................................................................70
6.2.3 Agregado grado...............................................................................................73
6.3 Vazios, superfcie especfica e outros fatores que influem nas misturas dos
agregados..................................................................................................................78
6.3.1 Agregado Di Brita..............................................................................................78
6.3.2 Agregado Polimix..............................................................................................83
6.3.3 Agregado Seixo Fino Lavado............................................................................85
6.4 Consideraes sobre as dosagens dos concretos...............................................86
7 ANLISE DOS RESULTADOS...............................................................................90
7.1 Diagrama de dosagem.........................................................................................96
7.2 Resumo dos resultados......................................................................................100
7.3 Clculo dos traos de concreto com emprego do Mtodo de Power.................100
8 CONSIDERAES FINAIS..................................................................................102
8.1 Concluses.........................................................................................................102
9
8.2 Sugestes para futuras pesquisas.....................................................................103
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS........................................................................104
ANEXO 1 Resultados dos Ensaios de Resistncia Compresso do Concreto
ANEXO 2 Anlise de Varincia: mtodo de Mnimo Quadrado
ANEXO 3 Tabela e Grficos das Funes
ANEXO 4 Planilha dos Ensaios de Proporcionamento dos Materiais
10
LISTA DE FIGURAS
Figura 1.01: Compactao dos agregados da mistura areia com a proporo de
brita.............................................................................................................................05
Figura 1.02: Compactao dos agregados da mistura areia com seixo fino lavado..05
Figura 1.03: Colocao da 1 camada da mistura aps ter sido homogeneizado.....06
Figura 1.04: Presses na gua intersticial do solo em funo das distncias
superfcie (VARGAS, MILTON, 1977)........................................................................12
Figura 2.05: Sntese cronolgica da evoluo dos mtodos de dosagem no exterior e
no Brasil (HELENE, 1992)..........................................................................................25
Figura 3.06: Estrutura da gua em diferentes estgios (MEHTA, P. KUMAR,
1994)..........................................................................................................................30
Figura 3.07: Permeabilidade da pasta de cimento (NEVILLE, A. MATTHEW,
1982)..........................................................................................................................32
Figura 3.08: Influncia da relao gua / cimento e dimenso mxima do agregado
na permeabilidade do concreto (MEHTA, P. KUMAR, 1994).....................................34
Figura 3.09: Causas fsicas da deteriorao do concreto (MEHTA, P. KUMAR,
1994)..........................................................................................................................36
Figura 3.10: Esquema ilustrativo do desenvolvimento das reaes lcalis-agregado
(SCANDIUZZI, 1986)..................................................................................................42
Figura 4.11: Retirada do tronco-cnico de forma a no interferir na consistncia
final.............................................................................................................................50
Figura 4.12: Medio da consistncia do concreto....................................................50
Figura 4,13: Procedimento de ensaio de abatimento do tronco de cone (MEHTA, P.
KUMAR, 1994)...........................................................................................................52
Figura 4.14: Concreto de consistncia seca sendo medida no tronco-cnico...........53
Figura 4.15: Equipamento para medida da consistncia do concreto: aparelho Vebe
(MEHTA, KUMAR, 1994)............................................................................................54
Figura 4.16: Aparelho de medio do fator de compactao (MEHTA, P. KUMAR,
1994)..........................................................................................................................55
Figura 4.17: Corpos-de-prova moldados e etiquetados.............................................59
Figura 4.18: Corpos-de-prova dentro da cmara mida do laboratrio da Unama....60
11
Figura 4.19: Principais fatores que influenciam o resultado da resistncia
compresso medida no ensaio de controle (HELENE, 1992)....................................61
Figura 5.20: Mistura do concreto executada no laboratrio da Unama.....................63
Figura 5.21: Efeito do tempo de mistura sobre o concreto (GIAMMUSSO S.
EUGNIO, 1992)........................................................................................................64
Figura 6.22: Corpo-de-prova rompido evidenciando formao do cone de ruptura...68
Figura 6.23: Ruptura paralela ao comprimento do corpo-de-prova...........................69
Figura 6.24: Locais de explorao dos agregados midos no estado do Par
(MACAMBIRA, P. M. FECURY, 2001).......................................................................71
Figura 6.25: Locais de explorao dos agregados grados no estado do Par
(MACAMBIRA, P. M. FECURY, 2001).......................................................................74
Figura 6.26: Granulometria do agregado grado brita 0............................................77
Figura 6.27: Relao da composio dos agregados grados e a porcentagem de
vazios.........................................................................................................................81
Figura 6.28: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios..............................................................................................81
Figura 6.29: Relao da composio dos agregados e a trabalhabilidade do concreto
fresco..........................................................................................................................82
Figura 6.30: Relao da resistncia do concreto e a composio dos agregados....82
Figura 6.31: Relao da composio dos agregados grados e a porcentagem de
vazios.........................................................................................................................84
Figura 6.32: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios..............................................................................................84
Figura 6.33: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios..............................................................................................85
Figura 7.34: Resistncia mdia aos 7 dias para seixo fino lavado............................92
Figura 7.35; Resistncia mdia aos 7 dias para pedra britada..................................93
Figura 7.36: Resistncia mdia aos 28 dias para seixo fino lavado..........................94
Figura 7.37; Resistncia mdia aos 28 dias para pedra britada................................95
Figura 7.38: Diagrama de dosagem do concreto para o trao com o emprego do
seixo fino lavado.........................................................................................................96
12
Figura 7.39: Diagrama de dosagem do concreto para o abatimento com o emprego
do seixo rolado...........................................................................................................97
Figura 7.40: Diagrama de dosagem do concreto para o trao com o emprego da
pedra britada..............................................................................................................98
Figura 7.41: Diagrama de dosagem do concreto para o abatimento com o emprego
da pedra britada.........................................................................................................99
13
LISTA DE TABELAS
Tabela 3.01: Percentual de vazios versos reduo da resistncia do concreto
(GIAMMUSSO S. EUGNIO (1992)...........................................................................32
Tabela 3.02: Reduo da permeabilidade de pasta de cimento com a evoluo da
hidratao (NEVILLE, A. MATTHEW., 1982).............................................................33
Tabela 5.03: Valores de Kn para o nmero de ensaios correspondentes (HELENE,
1992)..........................................................................................................................65
Tabela 6.04: Caracterstica do agregado mido areia (Di Brita).............................72
Tabela 6.05: Caracterstica do agregado mido areia (Laboratrio).......................72
Tabela 6.06: Caracterstica do agregado mido areia (Polimix).............................73
Tabela 6.07: Caracterstica do agregado grado Brita 0........................................75
Tabela 6.08: Caracterstica do agregado grado Brita 1........................................76
Tabela 6.09: Caracterstica do agregado grado seixo fino lavado........................76
Tabela 6.10: Trao do concreto, teor de argamassa, consumo de cimento e
abatimento do concreto para cada relao gua / cimento (Di Brita)........................87
Tabela 6.11: Trao do concreto, teor de argamassa, consumo de cimento e
abatimento do concreto para cada relao gua / cimento (Seixo Fino Lavado)......88
Tabela 7.12: Coeficientes de explicao das funes (pedra britada aos 7 dias)..93
Tabela 7.13: Coeficientes de explicao das funes (pedra britada aos 28
dias)........................................................................................................................... 95
Tabela 7.14: Coeficientes das funes (pedra britada)............................................100
Tabela 7.15: Coeficientes das funes (seixo fino lavado)......................................100
14
RESUMO
Este projeto de pesquisa trata da dosagem de concreto de cimento Portland,
abordando a resistncia a compresso como fator importante para durabilidade das
estruturas de concreto armado, pretendendo contribuir com o proporcionamento dos
materiais (agregados, gua e cimento), com destaque para dosagem racional do
concreto. Tem como estudo os agregados empregados na Regio Metropolitana de
Belm RMB, estabelecendo os parmetros de dosagem de concreto atravs do
Mtodo de Powers, que parte de duas formulaes conhecidas: resistncia de
dosagem com base na determinao da NBR 6118 e na Lei de Abrams pela relao
entre a resistncia, fcj e no fator gua / cimento (a/c). Aps a caracterizao dos
materiais com os procedimentos de execuo da dosagem e a j consolidada
metodologia, feita uma anlise do Mtodo de Mnimos Quadrados para os
parmetros k1 e k2 do Mtodo de Powers para os diversos tipos do cimento utilizado
em nossa regio. Alm disso, sero testadas vrias funes cujo objetivo
determinar a melhor curva de regresso para descrever melhor o comportamento do
concreto submetido compresso axial.
Palavraschaves: Dosagem de concreto, Mtodo de Powers, Mtodo do Mnimo
Quadrado, Regresso de Funes.
15
ABSTRACT
This project of research deals with the dosage of concrete Portland cement,
approaching the resistance the compression as important factor for durability of the
structures of armed concrete, intending to contribute with the proporcionamento of
the materials (aggregates, water and cement), with prominence for rational dosage of
the concrete. It has as study the aggregates used in the Region Metropolitan of
Belm - RMB, establishing the parameters of dosage of concrete through the Method
of Powers, that has left of two known formularizations: dosage resistance on the
basis of the determination of NBR 6118 and in the Law of Abrams for the relation
between the resistance, fcj and in the factor water/cement (w/c). After the
characterization of the materials with the procedures of execution of the dosage and
already consolidated methodology, is made an analysis of the Method of Minimums
Squared for the parameters k1 and k2 of the Method of Powers for the diverse types
of the cement used in our region. Moreover, some functions will be tested whose
objective is to determine the best curve of regression to better describe the behavior
of the concrete submitted to the axial compression.
Keywords: Dosage of concrete, Method of Powers, Method of the Squared
Minimum, Regression of Functions.
16
1. INTRODUO
O emprego crescente das construes de concreto armado, a partir do incio
do sculo atual, exigiu de um lado o aperfeioamento dos mtodos de clculo de
estruturas, e de outro o estudo completo quanto possvel dos materiais empregados
e dos processos construtivos.
A dosagem dos concretos, feita a princpio de maneira quase que
inteiramente arbitrria, passou a construir uma das maiores preocupaes dos
experimentadores que, em diversos pases, se dedicaram tecnologia das
construes. Surgiu assim a dosagem chamada racional, denominao essa
adotada em contraposio dosagem emprica, isto , arbitrria.
A dosagem racional, cuja designao consideramos imprpria, consiste na
aplicao de vrias regras empricas. Essas regras ou leis experimentais, apenas
aproximadas, e de aplicao sempre condicionada a um grande nmero de
restries permitem, dada a composio de um concreto, prever as suas principais
propriedades. No entanto, so diversos os fatores que influem nas propriedades de
um concreto. Teoricamente estes poderiam ser deduzidas das leis gerais da fsica e
da qumica, mas isso infelizmente impossvel.
Conhecidos os materiais disponveis na regio, podemos determinar qual a
composio a dar um concreto, para que suas propriedades correspondam s que
forem exigidas em cada projeto. Basicamente, as principais propriedades fixadas
consistem principalmente nas caractersticas de resistncia s aes mecnicas,
como por exemplo, a resistncia compresso, indispensvel estabilidade das
estruturas a serem executadas, e nas caractersticas das quais depende a
durabilidade dessas estruturas, ou resistncia desintegrao, que tanto pode provir
de defeitos do prprio concreto, como da ao de agentes agressivos externos.
1.1 Importncia da Pesquisa
A importncia da pesquisa se faz devido os parmetros k1 e k2, pois a
dosagem deixa de ser emprica ou tabelada aquela em que a proporo com que
se devem misturar os materiais componentes estabelecida arbitrariamente ou por
consulta a cartilhas, sem base em estudos comprobatrios que provam o contrrio; e
passa a ser racional, ou seja, todos os materiais constituintes so estudados e
17
ensaiados em laboratrio com base em uma metodologia e um referencial terico
desenvolvido ao longo dos anos por vrios pesquisadores. Alm do mais, os
agregados (areia e seixo) da nossa regio apresentam caractersticas (fsicas e
granulomtrica) prprias, diferentes das demais regies do pas, ou seja, agregados
com caractersticas diferentes resultam em concretos com propriedades diferentes,
logo os valores dos parmetros so tambm diferentes.
Nos ensaios de caracterizao dos agregados grados tm mostrado que sua
granulomtrica diverge da curva granulomtrica ideal empregada nos mtodos de
propores fixas das diferentes fraes do agregado grado adotada no Mtodo do
Instituto Nacional de Tecnologia (INT) e o mdulo de finura de nossa areia
apresentar valores abaixo do proposto pelo Mtodo da Associao Brasileira de
Cimento Portland (ABCP) inviabilizando o emprego desses mtodos de dosagem,
por isso optou-se pelo Mtodo de Powers que nada mais do que a generalizao
de todos os mtodos.
1.2 Objetivo da Pesquisa
Esta pesquisa tem como objetivo a determinao dos parmetros de
dosagem k1 e k2 do Mtodo de Powers a partir de materiais facilmente encontrados
na Regio Metropolitana de Belm (RMB).
De forma mais especfica, tratar da influencia: do proporcionamento dos
agregados sobre a consistncia (abatimento) da mistura de tal forma que permita-
nos determinar o melhor pacote desse material, do tipo de cura utilizada, do fator
gua / cimento (a/c) e do grau de hidratao sobre a de resistncia do concreto.
1.3 Metodologia da Pesquisa
A pesquisa foi dividida em duas partes:
q Anlise terica: levantamento bibliogrfico, coleta e analise de dados e a
transposio em forma de questionamentos norteadores da pesquisa,
determinada com base nos diversos mtodos de pesquisa.
q Anlise prtica: a metodologia para a execuo e anlise dos dados dos
ensaios de caracterizao dos materiais que constitui o concreto bem como o
18
adensamento, e posterior, rompimento dos corpos de prova tiveram como
base as normas vigentes da ABNT (Associao Brasileira de Normas
Tcnicas), para o estudo de dosagem foi utilizado a metodologia para a
determinao da relao tima dos agregados grado e mido do Mtodo de
OReilly Daz, Vitervo para a determinao do percentual de areia sobre a
mistura (Teor de argamassa) e o Mtodo de Powers para a determinao do
A/ms. Para determinao dos parmetros k1 e k2 desse mtodo ser utilizado
o Mtodo de Mnimos Quadrados atravs da Anlise de Regresso de Linear
ou de funes que por transformao tornam-se lineares.
A seguir ser descrita a metodologia do mtodo de OReilly Daz, Vitervo
(1998), com algumas adaptaes no que diz respeito proporo e compactao
dos materiais para assim podermos fazer a Anlise de Regresso por Mnimos
Quadrados para estimar as curvas de proporcionamento dos materiais e da
dosagem.
1.3.1 Determinao da relao tima dos agregados grado e mido
Segundo OREILLY DAZ (1998), o mtodo mais precisa o experimental,
que consiste na determinao da porcentagem de vazios da mistura dos agregados
midos e grados, ou seja, o que d o melhor pacote. A porcentagem de vazios e a
superfcie especfica mnima da mistura de agregados indicaro a composio
tima, para a qual o consumo de cimento ser mnimo.
Para a determinar a porcentagem de vazios e a superfcie especfica
mnimos, temos que ensaiar as misturas dos agregados com as seguintes
propores em massa de areia e brita:
20:80; 25:75; 30:70; 35:65; 40:60; para areia x seixo fino;
25:75; 30:70; 35:65; 40:60; 45:55; para areia x proporo (S.fino x S.mdio);
35:65; 40:60; 45:55; 50:50; 55:45; para areia x proporo (Brita. 0 x Brita 1).
Primeiramente, deve-se determinar por mtodo normalizado a massa unitria
compactada da mistura dos agregados (MUC
m
) de cada uma das misturas acima.
19
Os ensaios sero realizados pelo mesmo procedimento normalizados
empregado para determinar a massa unitria compactada da areia ou dos
agregados grados, como mostra a (Figura 1.01) e (Figura 1.02). necessrio
trabalhar com os materiais secos e bem misturados de tal forma que a mistura fique
mais homognea possvel (Figura 1.03). Em seguida, determinar a massa especfica
absoluta da mistura dos agregados, tambm com os materiais secos. Para obt-la,
temos que determinar a massas especfica absoluta de cada mistura entre os
agregados determina-se pela seguinte expresso:
MEA
m
= (MEA
a
. %A + MEA
b
. %B)/100 Eq.(01)
Onde:
MEA
m
: massa especfica absoluta da mistura dos agregados;
MEA
a
: massa especfica absoluta da areia;
%A: porcentagem da areia na mistura;
MEA
b
: massa especfica absoluta da brita;
%B: porcentagem da brita na mistura.
De posse da massa especfica absoluta e da massa unitria compactada da
mistura de agregados, podemos determinar a porcentagem de vazios da mistura dos
agregados:
Porcentagem de Vazios = ((MEA
m
MUC
m
) / MEA
m
)x100 Eq. (02)
Calculadas as porcentagens de vazios para todas as combinaes de areia e
agregados grados, selecionamos a combinao que tenha a porcentagem menor
como sendo a tima para a composio do concreto.
20
Figura 1.01: Compactao dos agregados da mistura areia com a proporo de
brita.
Figura 1.02: Compactao dos agregados da mistura areia com seixo fino lavado.
Caso se utilizem dois tipos de agregado grado, por exemplo, Brita 1 (de 6,35
a 19 mm) e Brita 2 (de 12,7 a 38 mm), necessrio determinar primeiro a
porcentagem de vazios mnimos da mistura dos dois tipos de agregado grado. No
21
nosso caso, foram utilizados brita 0 e brita 1. Em seguida, faz-se sua composio
com a areia nas cinco propores mencionadas e acha-se a porcentagem mnima
de vazios da mistura dos agregados grados com o mido.
Figura 1.03: Colocao da 1 camada da mistura aps ter sido homogeneizado.
1.3.2 Determinao da Massa Unitria Compactada
Para a determinao da massa unitria compactada ser utilizado o Proctor
Modificado, devido limitao do Proctor Standard quanto ao tamanho do agregado.
Por Norma NBR 7810.
q Peso do soquete: 4,5 kg;
q Altura de queda do soquete: 45,72 cm = 18;
q Nmero de camadas: 5;
q Nmero de golpes cada camada: 12
22
q Chamado Proctor Modificado.
Adotado:
q Peso do soquete: 4,5 kg;
q Altura de queda: 45,72 cm = 18;
q Nmero de camadas: 3;
q Nmero de golpes cada camada: 28;
q Chamado Proctor Modificado.
Esse aumento da energia de compactao tem por finalidade a rpida
definio da curva de porcentagem de vazios versos propores dos materiais e
menor nmero de repeties do ensaio por cada proporo. Ao fazermos essa
considerao constatamos que ocorreu pequena fragmentao dos agregados,
conseqentemente tm se que diminuir a energia de compactao.
Deve ser salientado que o ponto crtico do ensaio a mistura homognea do
material, pois se trata de um material no coesivo (Figura 1.03) que ao ser
compactado pode ocasionar grandes variaes no ndice de vazios (Figura 6.32 e
Figura 6.33).
1.3.3 Anlise de Regresso: Mtodo de Mnimo Quadrados
Como se observa, para um dado Xi, existe uma diferena D entre o valor Y
observado e o seu correspondente , dado pela reta estimada. Os Di so os erros
ou desvios. Simblicamente, teremos D = Y - ou D = Y (a + bX). O mtodo dos
Mnimos Quadrados um mtodo atravs do qual determinamos os valores de a e b
de tal forma que a soma dos desvios ao quadrado seja mnima, isto :
23
D
1
+ D
2
+ ... D
n
= mnima
Ou M - D
i
= ( Y - ) seja mnima
M = (Y a bX)
Obs.: Por convenincia, abandonaremos os ndices das variveis X, Y, bem como
do sinal.
Basta lembrarmos que as variaes i = 1, 2, ..., n.
Note-se que M depende dos valores de a e b. derivando M com relao (a e
b) temos:
M/a = -2 (Y a bX)
M/b = -2 X(Y a bX)
Para que M seja mnimo, M/a e M/b devem ser ambos iguais a zero;
dessa forma, teremos o sistema:
(Y a bX) = 0
X(Y a bX) = 0
ou seja,
Y = na + bX (I)
XY = aX + bX (II)
que so conhecidas como as equaes normais para a determinao de a e b.
Vamos agora resolver o sistema, ou seja, encontrar as expresses para a e b.
Primeiro dividimos todos os termos da equao (I) por n; assim:
Y / n = na / n + bX / n
Lembrando que Y / n = e X / n = vem:
24
= a + b ou a = - b
Substituindo-se o valor de a na equao (II), teremos:
XY = ( - b )X + bX
desenvolvendo o parntese,
XY = X - b X + bX
ou
XY - YX / n = b[X - (X) / n]
portanto,
b = (XY - YX / n)/(X - (X) / n)
Chamando: S
XX
= X - (X) / n = (X - )
e S
XY
= XY - YX / n = (X - )(Y )
teremos que:
b = S
XY
/ S
XX
a = - b e = a + bX
Comentrios:
1) Pode-se verificar que a reta de mnimos quadrados passa pelo ponto ( , ),
isto , quando X = teremos = .
2) O coeficiente de regresso mede a variao que ocorre em Y, por unidade de
variao em X.
3) Se no houver relao entre X e Y, teremos = , isto , S
XY
ser prximo de
zero; ento b ser zero, indicando que Y no depende de X.
1) Uma parcial simplificao dos clculos obtida tomando-se como origem
dos X a mdia = X / n, isto , centrando a varivel X; obtendo x = X -
, onde x so os novos valores da varivel X. Como x = 0, o sistema
25
de equaes se reduz, facilitando dessa maneira os clculos. No
utilizaremos freqentemente tal mudana, para evitar futuras indecises
quanto escolha das frmulas. Devemos lembrar que geralmente os
problemas de Anlise de Regresso utilizados em computadores usam tal
procedimento.
1.4 Estrutura do trabalho
Este trabalho est estruturado em oito captulos, incluindo a Introduo
(Captulo 1). No segundo captulo ser abordado sobre a Evoluo do Concreto a
nvel nacional e internacional. No terceiro captulo ser abordado sobre Durabilidade
do concreto dando enfoque para os agentes causadores e as causas de sua
destruio. No quarto captulo falaremos sobre a Propriedade do Concreto: no
estado fresco (Trabalhabilidade) e endurecido (Resistncia do Concreto). No quinto
captulo abordaremos sobre a Dosagem de Concreto falando sobre a mistura do
concreto e o desenvolvimento do Mtodo de Powers. No sexto captulo falaremos
sobre o programa experimental enfocando sobre o planejamento dos ensaios e
caracterizao dos materiais e sua localizao. No stimo captulo ser feitas a
Anlise dos Resultados com a construo do diagrama de dosagem, determinando
dos coeficientes A e B das melhores funes e da funo de Abrams e a construo
de roteiro de dosagem de concreto. Por ultimo ser feita a CONCLUSO de todo o
estudo realizado neste trabalho.
1.5 Limitaes da pesquisa
A pesquisa est limitada quanto ao tipo e classe de cimento, pois foi utilizado
o cimento portland composto CP II Z 32.
Tipo de cimento
Segundo MEDEIROS (2003 apud SANTOS e TANCREDI, 2003, p.86), o
mercado nacional dispe de 8 opes, que atendem com igual desempenho aos
mais variados tipos de obras, conforme descriminado abaixo.
a) Cimento Portland Comum (CP I)
26
b) Cimento Portland Composto (CP II)
c) Cimento Portland de Alto-Forno (CP III)
d) Cimento Portland Pozolnico (CP IV)
e) Cimento Portland de Alta Resistncia Inicial (CP V-ARI)
f) Cimento Portland Resistente a Sulfatos (RS)
g) Cimento Portland de Baixo Calor de Hidratao (BC)
h) Cimento Portland Branco (CPB)
Classe de cimento
Giammusso S. Eugnio (1992), segundo o texto da MB -1, subdividem-se em
de classe 25 MPa, classe 32 MPa e classe 40 MPa.
A pesquisa estar limitada quanto ao tipo de agregado, pois na dosagem dos
concretos foram utilizados a pedra britada (brita 0, brita 1) e o seixo fino lavado.
Segundo SANTOS e TANCREDI (2003) classificam a pedra britada como:
q Brita 0: 4,8 9,5 mm
q Brita 1: 9,5 19,0 mm (mais usada)
q Brita 2: 19,0 25,0 mm (mais usada)
q Brita 3: 38,0 mm
q Brita 4: 64,0 mm
q Pedra de mo: cerca de 76,0 mm
Limita-se ainda, na utilizao de seixo mdio mesmo se esse material seja de
mesmo cava, ou seja, mesma formao geolgica.O fato de se usar um seixo fino
no lavado, no constitui uma limitao. Mas se o agregado estiver envolvido por
partculas de argila pode constituir um problema para a dosagem, pois parte da gua
da mistura ser absorvida, devida ao fato de que as molculas de gua funcionarem
27
como dipolos eltricos os quais prendem-se diretamente s cargas negativas dos
gros. Para VARGAS, (1977) nas argilas a gua intersticial estar sujeita fora
atrativa das partculas a qual decai rapidamente com a distncia superfcie, como
mostra a (Figura 1. 04). Certamente provocar uma reduo no abatimento, uma
melhora quanto plasticidade da mistura devida sua coeso por constituir um
aumento de finos no concreto. Alm do mais, esse envolvimento provocar a
reduo da aderncia entre a pasta de cimento e o agregado resultando no
decrscimo da resistncia.
Figura 1.04: Presses na gua intersticial do solo em funo das distncias
superfcie (VARGAS, 1977).
A pesquisa estar limitada para o emprego de qualquer adio mineral: seja
ela utilizada como substituio de parte do aglomerante ou em forma de adio,
para o emprego de aditivos que altere a resistncia do concreto.
Para as anlises de regresses das funes, no ser feita a anlise de
resduo limitando-se apenas ao melhoramento e a regresso das funes bem como
a elaborao de diagrama de disperso. A despeito da equao polinomial, ser
empregado apenas um caso particular e muito aplicado que surge quando k = 2,
conforme o ANEXO 2, originando a parbola do 2 grau, isto : Y = a+b
1
.X+b
2
.X+U.
28
2- EVOLUO DO CONCRETO
2.1 Histrico Internacional
O proporcionamento dos materiais no podia ser arbitrrio e, porm era
necessrio obter um conglomerado compacto e slido. Os conglomerados eram
usados sem muita responsabilidade estrutural as solicitaes atuantes eram muito
baixas e, conseqentemente, as regras de proporcionamento eram inteiramente
empricas e provinham do conhecimento tradicional do proporcionamento de
argamassas. Estavam limitadas obteno de conglomerados nos quais os ligantes
eram cales areas e cales combinadas com pozolanas, denominadas cales
hidrulicas. Esses critrios alguns eventualmente ainda adotados nos tempos
atuais asseguram uma certa compacidade com excesso ntido de aglomerante, o
que conduz a misturas no econmicas.
Segundo COUTINHO, (1973 apud HELENE, 1992, p.55) at o incio do sculo
XIX pouco se sabia acerca das qualidades a serem exigidas dos materiais
constituintes dos concretos e argamassas. A postura com relao ao
proporcionamento dos materiais e sua influncia no comportamento dos cimentos
portland e sua fabricao em escala comercial.
Em 1818, Maurice de Saint-Lger sob a orientao de Louis Vicat um dos
pesquisadores franceses pioneiros no estudo de ligantes e conglomerados
hidrulicos patenteia o processo de fabricao de cales hidrulico artificiais obtido
a partir da calcinao de calcrio e argilas a temperaturas da ordem de 1000C. A
partir de 1826 iniciam a fabricao regular de cal hidrulica artificial numa instalao
industrial situada em Moulineaux, perto de Paris.
No mesmo perodo, Joseph Aspdin patenteia na Inglaterra, em 15 de
dezembro de 1824, um processo de fabricao de cales hidrulicas artificiais que
difere do processo de Maurice de Saint-Lger quanto temperatura de calcinao,
neste caso bastante mais alta. Dessa forma, consegue obter um produto final de
maior valor hidrulico e de resistncia mecnica elevada. Esse aumento da
temperatura de calcinao compensava a elevao do custo de fabricao na
medida em que o produto resultante apresentava caractersticas significativamente
superiores s cales hidrulicas, viabilizando sua fabricao e emprego em larga
escala.
29
O ligante assim obtido passou a denominar-se cimento portland, uma vez
que, aps sua mistura com gua e correspondente endurecimento, resultava numa
massa ptrea semelhante em cor, solidez e durabilidade ao ento bem conhecido
calcrio da ilha inglesa de Portland.
Em 1828, na Frana, Louis J. Vicat publica informaes que o colocam como
o precursor dos conhecimentos atuais sobre a importncia da quantidade de gua
de amassamento e da granulometria da areia na resistncia das argamassas.
Constata experimentalmente que uma determinada relao cal hidrulica / areia
conduz mxima resistncia das argamassas e faz consideraes sobre os
inconvenientes do excesso e da insuficincia de areia, ressaltando a importncia da
finura relativa da areia e da cal, chegando a formular, inclusive, as vantagens da
mistura de areias grossas com areias finas. Registra ainda a influncia da
compacidade sobre a resistncia e os inconvenientes do excesso de gua e da
consistncia muito fluida, antecipando o definitivo predomnio da relao gua /
aglomerante sobre as propriedades dos conglomerados, comprovado anos mais
tarde por Fert e Abrams.
Na mesma poca, Rondelet, em 1830, afirma que a natureza da areia no
tem importncia fundamental na resistncia da argamassa porque apenas a sua
finura intervem de forma significante na qualidade final. Esse conceito vigora at
hoje apesar de estar atualmente comprovada a sua inconsistncia tecnolgica, ou
seja, possvel obter concretos equivalentes tcnica e economicamente, tanto com
o uso de areias finas quanto com o emprego de areias grossas.
Em 1887, poca do incio do conhecimento cientfico e tecnolgico sobre os
compostos do cimento portland, Henry L Chtelier determina quais so os
compostos presentes nos cimentos portland e indica como se do s reaes
principais atravs de observaes efetuadas por em microscpio tico, semelhante
s tcnicas empregadas em mineralogia e petrografia. Desse trabalho fundamental
deriva o conhecimento atual sobre a qumica do cimento. R. H. Bogue, em 1929,
prope as frmulas clssicas para se obter em primeira aproximao a
composio qumica potencial dos cimentos portland a partir dos resultados de
anlise qumica convencional (mtodo gravimtrico), universalmente aceito at hoje.
A partir desse maior conhecimento dos cimentos portland e do seu crescente
consumo nas obras civis, h um correspondente incremento no estudo e
30
conhecimento dos conglomerados e da influncia da natureza e proporo dos seus
materiais constituintes.
Praudeau, em 1881, apresenta formalmente um mtodo de dosagem das
argamassas e concretos. Prope que seja determinado o volume de vazios da areia
e que o volume da pasta aglomerante seja 5% superior ao volume de vazios
encontrados no agregado mido. A seguir, deve-se determinar o volume de vazios
da pedra, a partir do qual se calcula o volume de argamassa como sendo 10%
superior ao volume de vazios do agregado grado, antecipando o mtodo da
granulometria descontnua, enunciado em 1927 por Leclerc Du Sablon.
Em 1888, Paul Alexandre ao estudar a influncia da dosagem de gua na
resistncia compresso das argamassas considera-a dividida em duas partes. A
primeira destinada a formar pasta com o cimento e a segunda a molhar a areia,
estabelecendo ento o conceito de gua de molhagem. No entanto, considera-se
que o primeiro estudo de proporcionamento racional dos materiais tenha sido feito
por Ren Fert Chefe do Laboratrio de Ponts et Chausses, da Frana. Em
1892 Ren descobre a lei fundamental que relaciona a resistncia da argamassa
com sua compacidade. Mais tarde, em 1896, aperfeioou esse modelo matemtico
que correlaciona a resistncia compresso com o volume de gua e de vazios,
propondo a seguinte expresso:
f
cj
= k
1
(C
abs
/1-M)
2
Eq. (03)
onde: fcj = resistncia compresso das argamassas a j dias de idade;
k
1
= constante que depende da natureza dos materiais, da idade e das
condies de cura;
C
abs
= volume absoluto de cimento por unidade de volume de argamassa
M = volume absoluto do agregado mido por unidade de volume de
argamassa.
Cronologicamente o prximo passo significativo foi dado pelo americano
William B. Fuller, em 1901, que a partir das curvas granulomtricas do agregado
total verificou, experimentalmente, quais conduziam a concretos de mxima
resistncia compresso. Posteriormente junto com Sanford E. Thompson, em
31
1907, estabeleceu uma srie de regras para proporcionamento dos materiais,
podendo-se citar como mais importantes:
1. Com determinado consumo de cimento, para certa areia e agregado grado,
o concreto mais resistente e compacto obtido quando o volume da
argamassa preenche somente os vazios do agregado grado;
2. Certas distribuies granulomtricas dos agregados, para mesmos consumos
de cimento, conduzem a concretos mais resistentes, ou seja, agregados
graduados so preferveis a no graduados.
Fuller e Thompson podem ser considerados como os pioneiros na defesa da
importncia da considerao da composio granulomtrica dos agregados na
dosagem dos concretos, seguidos posteriormente, por Bolomey e Otto Graf.
Uma das maiores contribuies para o estudo da dosagem dos concretos foi
publicao, em 1918, por Duff A Abrams, do estudo de inmeros traos e anlise
de mais de 50.000 corpos-de-prova enunciando a seguinte lei: Dentro do campo
dos concretos plsticos, a resistncia aos esforos mecnicos, bem como as demais
propriedades do concreto endurecido variam na relao inversa da relao gua /
cimento. Segundo CARDOSO (1976), embora fazendo referncia ao campo dos
concretos plsticos, a lei de Abrams pode se aplicar aos concretos mais secos
desde que estes sejam colocados na obra com trabalhabilidade prpria para
adensamento por vibrao. Abrams chegou s mesmas concluses que Fert havia
chegado h 22 anos, desprezando, porm, o volume de vazios e considerando
apenas a relao entre o volume de gua e o volume aparente de cimento para o
qual adotava a massa unitria fixa de 1.500 kg/m
3
. Dessa forma prope o seguinte
modelo matemtico para expressar a dependncia entre as variveis em questo:
fcj = k
2
/ k
3
H/Cap
Eq. (04)
onde: fcj = resistncia compresso a j dias de idade;
A e B = so constantes que dependem da natureza dos materiais, da idade e
das condies de cura;
H = volume de gua por unidade de concreto
32
C
ap
= volume aparente do cimento por unidade de concreto.
Considerando: a = massa de gua = H x 1.000, uma vez que a 22C pode-se
considerar a massa especfica da gua igual a 1.000 kg/m; c = massa de cimento =
C
ap
x 1.500
,
uma vez que Abrams adotava a massa unitria do cimento como sendo
1500 kg/m;
Pode-se transformar a (Equao 05) em:
fcj = k
2
/ k
4
a/c
Eq.(05)
Esse modelo matemtico mostrou-se perfeitamente vlido sem necessidade
de ajustes sempre que:
1. A quantidade de pasta de cimento suficiente para preencher os vazios
dos agregados;
2. Os agregados so de elevada resistncia compresso ( 60 MPa);
3. O concreto fresco esteja perfeitamente adensado ( 1,5% de ar
aprisionado).
Abrams ainda introduz tambm o termo Mdulo de Finura que props para
representar, por meio de um nico ndice, a distribuio granulomtrica dos
agregados. O mdulo de finura obtido a partir da anlise granulomtrica dos
agregados com base numa srie de nove peneiras comeando com a de abertura de
malha 0,15 mm, sendo que a abertura das demais deve crescer na razo dois: #
0,30; # 0,60; # 1,2; # 2,4; # 4,8; # 9,5 e # 38 mm. O mdulo de finura a soma das
porcentagens retidas acumuladas em cada peneira, dividido por cem (100). O ndice
assim obtido mostrou-se to til que foi adotado mundialmente nas normas de
agregados para concreto, inclusive na brasileira. A contribuio de Abrams foi ainda
mais longe quando introduziu a noo de trabalhabilidade do concreto e props a
medida da sua consistncia a partir do abatimento de um cilindro de 15 cm de
dimetro e 30 cm de altura moldado com o concreto recm misturado. Mais tarde,
em 1922, modificou o molde para um tronco de cone de altura 30 cm e bases 10 cm
e 20 cm, que entrou na utilizao corrente da produo mundial de concreto,
33
transformando-se no nico mtodo normalizado no Brasil para medida da
consistncia do concreto fresco at 1986, quando foi introduzido tambm o mtodo a
mesa de espalhamento, atualmente em vigor, porm ainda muito pouco conhecido e
utilizado.
Segundo DRAFFIN, (1943 apud HELENE, 1992, p.59) dois pesquisadores da
Universidade de Illinois, A N. Talbot e F. E. Richart questionaram por volta de 1923 a
validade da abrangncia do modelo de Abrams que afirmava ser a resistncia do
concreto determinada somente pela relao entre o volume de cimento e de gua.
Talbot e Richart, da mesma forma que Ren Fert, defendiam que a magnitude do
total de vazios no concreto os espaos ocupados pela gua e pelo ar que
determinava a resistncia final. Desenvolvendo essas idias, atestavam que dentro
de certos limites a resistncia de um concreto era a mesma de sua argamassa, pois
o agregado grado atuava somente como inerte de enchimento. Com o advento das
tcnicas de incorporao de ar e com o uso de concretos de consistncia seca de
difcil adensamento comprovou-se que a teoria universal de Abrams realmente tem
suas limitaes requerendo pequenos ajustes quando no se trata de concretos
plsticos nem de baixos teores de ar aprisionado.
Em 1931, Inge Lyse publicou sua contribuio ao estudo da dosagem dos
concretos, demonstrando que dentro de certos limites possvel considerar a massa
de gua por unidade de volume de concreto como a principal determinante da
consistncia do concreto fresco, qualquer que seja a proporo dos demais
materiais da mistura. Essa verdade se verifica sempre que sejam mantidos materiais
de mesma natureza, com gros de mesma forma, textura e dimenso caracterstica.
Lyse sugeriu ainda empregar na Lei de Abrams a relao gua / cimento em
massa e no em volume como originalmente proposto por Abrams.
Em 1937, Caquot estabelece a lei de variao do ndice de vazios de uma
composio granulomtrica com o inverso da raiz quinta da mxima dimenso do
inerte e enuncia o princpio do efeito parede. Um pouco antes, em 1925, Bolomey
havia introduzido a considerao da trabalhabilidade s propostas de curvas
granulomtricas ideais, elaboradas por Fuller e Thompson. Incorporando as
contribuies de Caquot e Bolomey, Faury, em 1941, props um mtodo de
dosagem baseado numa curva granulomtrica que considerava alm da
compacidade do concreto e da rea especfica total dos gros da mistura a
trabalhabilidade e o efeito parede. De fato a melhor granulometria e
34
conseqentemente a melhor dosagem ser aquela que leve em conta tambm a
trabalhabilidade do concreto, ou seja: a dimenso da formas de lanamento de
concreto e os equipamentos disponveis. Em 1952, apoiado nos mesmos princpios,
Joisel levou ao limite as possibilidades oferecidas pelas curvas de referencia de
granulometria contnua iniciada por Fuller, propondo um complexo mtodo que leva
em conta praticamente tudo: a trabalhabilidade, o efeito parede, o consumo de
cimento, o consumo de gua, a compacidade do concreto e a rea especfica total
da mistura.
Contrariando essa tendncia a granulometria contnua, Leclerc du Sablon
publica em 1927 os seguintes princpios:
1. Quanto mais uniformes forem as dimenses dos gros, maior a
compacidade atingvel no concreto obtido da mistura desse agregado com a
argamassa;
2. O mximo de compacidade atingido quando o volume da argamassa for
35% superior ao volume de vazios do agregado grado;
3. Deve existir a relao 2,5 entre a mnima dimenso do agregado grado e a
mxima dimenso do agregado mido.
Com base nesses princpios, Vallete, em 1948, prope o seguinte modelo
vlido para a situao de granulometria descontnua: o agregado primrio de
dimenso D
1
, composto apenas por gros dessa dimenso, deve ser misturado com
os agregados secundrios, uniformes tambm e de dimenso D
2
, de forma que D
2
se ajuste dentro dos vazios deixados por D
1
, sem que distncia entre os gros do
primeiro seja aumentada, ou seja, sem expanso do volume de vazios de D
1
. O
agregado tercirio dever ser uniforme e de dimenso D
3
tal que se ajuste dentro
dos vazios da mistura de D
1
e D
2
, sem alterar a distncia entre os gros, e assim
sucessivamente at o cimento.
Apesar de lgica e de impor-se razo como uma verdade intuitiva, esses
mtodos, baseados na granulometria descontnua, no se generalizaram devido
dificuldade de obter, prtica e economicamente, agregados com gros uniformes
que obedeam a uma dada relao geomtrica, varivel de uma a outra situao.
35
Em 1944 publicado nos EUA o primeiro documento normativo consensual
sobre a dosagem do concreto, pois at ento s se dispunha de propostas
individuais de pesquisadores mais ou menos felizes nas suas observaes
experimentais e tentativas tericas de generalizao. Trata-se do texto elaborado
pelo Commitee 613 instalado em 1936 sob a coordenao de Robert F. Blanks do
Bureau of Reclamation USA, publicado pelo American Concrete Institute ACI,
aps oito anos de intensas discusses.
Contudo, admite-se que a teoria atual mais abrangente das tcnicas de
dosagem a proposta por Powers em 1968. a partir de estudos no concreto fresco e
no concreto endurecido, possvel, com base nos modelos de Powers, representar
o comportamento resistente integral do concreto, tendo em conta as envoltrias de
Coulomb e Mohr.
Assim segundo o professor HERNANI S. SOBRAL (1977 apud HELENE,
1992, p.21) que se expressou dizendo: A anlise proposta por Powers, que se
baseou na mais seleta literatura tcnica sobre o assunto, permite uma generalizao
das tcnicas de dosagem, possibilitando uma viso bem mais ampla das
propriedades do que aquela oferecida pelos limitados mtodos rotineiramente
usados.
2.2 A evoluo no Brasil
O incio da tecnologia no Brasil est relacionado com a instalao pela
Escola Politcnica da Universidade de So Paulo do Gabinete de Resistncia dos
Materiais, em 1899. Em 1926, passou a denominar-se Laboratrio de Ensaios de
Materiais e, a partir de 1934, Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So
Paulo, tendo comemorado, em 1989, 90 anos de tecnologia.
Nos trabalhos de VASCONCELOS, (1985 apud HELENE, 1992, p.63), j em
1905 era publicado, pelo Grmio Politcnico, o Manual de Resistncia dos Materiais
resultante das atividades laboratoriais empreendidas pelos engenheiros Willhem
Fisher e Hyppolyto Gustavo Pujol, no ento Gabinete de Resistncia dos Materiais,
no qual constavam resultados de ensaios em cimentos e cales, alm de metais e
madeiras.
A partir da dcada de 20 h um grande desenvolvimento da engenharia
nacional e as obras de concreto armado passam a assumir cada vez maior
36
importncia. Deste modo, inicia-se a produo brasileira de cimento portland,
induzindo o maior estudo dos conglomerados. No exterior so difundidos os
trabalhos de Ren Fert, Otto Graf e Abrams sobre a dosagem dos concretos. O
engenheiro Ary Frederico Torres, ento diretor do Laboratrio de Ensaios de
Materiais, publica em 1927 o Boletim Epusp nmero 1 intitulado Dosagem dos
Concretos, que constitui uma obra histrica para confirmao dos modelos
propostos por Fert e Abrams para explicar a correlao entre as resistncias
compresso do concreto endurecido e a compacidade deste quando fresco. O
mtodo de dosagem proposto por Ary Torres baseava-se nas recomendaes de
Abrams, dando importncia para o Mdulo de Finura do agregado total. O boletim
nmero 1 teve sua segunda edio revista e publicada em 1932 e a terceira, e
ltima, editada em setembro de 1936, j pelo Instituto de Pesquisa Tecnolgicas do
Estado de So Paulo. Cabe registrar tambm que Ary Torres introduziu no Brasil a
prtica de medir a resistncia compresso em corpos-de-prova cilndricos igual
prtica americana em substituio aos corpos-de-prova cbicos at ento
empregados.
Em dezembro de 1931, o engenheiro Rmulo de Lemos Romano, colaborador
de Ary Torres, publica o Boletim nmero 5 do Laboratrio de Ensaios de Materiais
da Epusp, no qual apresenta um balano da situao dos cimentos existentes no
mercado e prope os termos de uma especificao racional. Em 1933, junto com Ary
Torres, prope, no Boletim nmero 11, um mtodo para os ensaios mecnicos dos
cimentos, que dar origem mais tarde, em 1940, com a fundao da Associao
Brasileira de Normas Tcnicas - ABNT, ao mtodo brasileiro de ensaios de cimento
MB-1.
Nessa poca, no Rio de Janeiro, a Estao Experimental de Combustveis e
Minrios, do ento Ministro da Agricultura, da Industria e do Comrcio,
transformada, em 24 de maio de 1933, no Instituto Nacional de Tecnologia - INT.
Paulo S, na qualidade de chefe da Diviso de Indstria da Construo do INT,
publica em 1936 o trabalho pioneiro sobre os parmetros caractersticos dos
materiais de construo. Tomando por referncia o relatrio do Committee on
Manual on Presentation of Data editado em 1933 pela American Society for Testing
and Materials - ASTM, Paulo S mostrou a necessidade, as implicaes e as
vantagens de uma anlise estatstica dos resultados de ensaios na avaliao dos
parmetros caractersticos das madeiras, abordando inclusive o problema da
37
segurana estrutural. Na mesma linha de raciocnio, o engenheiro Alberto pastor de
Oliveira, tambm do Instituto Nacional de Tecnologia - INT, publica em 1939 a
primeira aplicao dos conceitos estatsticos no controle da resistncia
compresso do concreto, analisando 600 corpos-de-prova de uma mesma obra.
Na poca fazia parte da equipe do INT o engenheiro Fernando Lus Lobo
Carneiro que no incio de sua carreira estagiou em So Paulo no Instituto de
Pesquisa Tecnolgicas, tendo se entusiasmado com as questes relativas
dosagem dos concretos. Segundo Vasconcelos, ao retornar ao Rio de Janeiro, Lobo
Carneiro tentaram aplicar o mtodo de dosagem de Ary Torres, encontrando srias
dificuldades com os materiais disponveis, pois s dispunha de areias muito finas e
britas, enquanto em So Paulo empregavam-se areias grossas e pedregulhos.
O mtodo do mdulo de finura proposto naquela ocasio pelo IPT no
indicava como corrigir os problemas decorrentes da granulometria da areia. Foi
necessrio enveredar pelos mtodos das curvas granulomtricas proposta por Otto
Graf e Bolomey. Atravs de transformaes adimensionais nessas curvas, Lobo
Carneiro conseguiu transform-las em apenas uma, independente da dimenso
mxima caracterstica do agregado. Publica ento, em 1937, o seu mtodo de
dosagem dos concretos plsticos, ampliando em 1943 para concretos de
consistncia seca.
Nesse perodo de euforia das propostas de dosagem com base a curvas
granulomtricas de referencia, interessante registrar a contribuio do eng. Jayme
Ferreira da Silva Jr. da Seo de Aglomerante e Concretos do IPT que apresenta,
em 1944, um processo grfico de simples emprego para misturas de n agregados.
Durante muitos anos esse processo foi largamente empregado, caindo em desuso
somente na ltima dcada, devido existncia dos equipamentos eletrnicos de
clculo que podem efetuar uma mistura de dois, trs, quatro ou mais agregados em
segundos.
Ainda segundo HELENE (1992), no ano de 1944, por ocasio do simpsio de
estruturas realizado no Rio de Janeiro, promovido pelo Instituto Nacional de
Tecnologia, Lobo Carneiro prope adoo de resistncia de dosagem com base a
valores mnimos representados pelo quantil de 2,5%. Essas idias so
avanadssimas para a poca, uma vez que, internacionalmente, apenas poucos
meses antes, haviam sido publicados os trabalhos de Morgan e Stanton Walker.
Esses pesquisadores propunham a adoo de uma resistncia mnima que fosse
38
ultrapassada em 99% das vezes, ou seja, correspondente ao quantil de 1%. O
tempo demonstrou que Lobo Carneiro estava mais prximo do consenso, pois,
atualmente adota-se, a nvel mundial a resistncia mnima (caracterstica) como
aquela correspondente ao quantil de 5%. Oito anos mais tarde, em 1952, por
ocasio das terceiras Jornadas de Engenharia Estrutural, o engenheiro Eldio
Petrucci, do ento Instituto Tecnolgico do Estado do Rio Grande do Sul ITERS
apresenta um trabalho na mesma linha de pensamento intitulado Sugestes para
fixao das tenses de ruptura do concreto na dosagem racional.
Ruy Aguiar da Silva Leme, em 1953, e Francisco de Assis Baslio, em 1954,
reforam uma vez mais a importncia da considerao da variabilidade da
resistncia do concreto nos critrios de dosagem. Eram partidrios da adoo do
coeficiente de variao como parmetro de referencia do rigor da produo de
concreto. Suas idias prevaleceram na elaborao do texto da NB 1/60 _ Clculo e
Execuo de Obras de Concreto Armado (ABNT). Na poca j no havia consenso
entre os pesquisadores sobre que parmetro adotar coeficiente da variao ou
desvio-padro verificando-se mais tarde que a escolha do mais adequado parece
depender do nvel de resistncia compresso do concreto.
No campo das aplicaes prticas destacam-se as cartilhas e calculadores de
traos de concreto elaborados por Ablio de Azevedo Caldas Branco. Citado por
Vasconcelos, esse engenheiro foi quem mais contribuiu, no Brasil, para levar os
mtodos de dosagem ao alcance dos mestres-de-obras e at aos engenheiros
pouco dedicados ao estudo terico.
Em 1951, o professor e engenheiro Eldio Petrucci, da Seo de Aglomerante
e Concretos do Iters, apresenta o mtodo de dosagem por ele desenvolvido. Esse
mtodo diferia dos anteriores de Ary Torres e Lobo Carneiro, por ser mais simples
desviando-se do enquadramento da granulometria dos agregados a curvas ou faixas
preestabelecidas e por abandonar a composio total com mdulo de finura
compreendidos entre limites estreitos e timos. Petrucci enfatizava no seu mtodo a
composio que conduzia mxima trabalhabilidade dos concretos, observada com
base a experimentos em laboratrio e obra. As experincias de Petrucci
demonstraram que o concreto mais compacto, aps o lanamento nos moldes ,
necessariamente, o mais trabalhvel quanto fresco.
Em 1956 publicado, pela Associao Brasileira de Cimento Portland
ABCP, o mtodo para dosagem racional do concreto elaborado por Ary Torres e
39
Carlos Eduardo Rosman do Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So
Paulo IPT. Nessa proposta so incorporados os conhecimentos da estatstica para
a adoo da resistncia mdia de dosagem, ao mesmo tempo em que,
praticamente, abandona o critrio do mdulo de finura para a escolha da proporo
dos agregados, incorporando algumas das idias de Eldio Petrucci.
Demonstrando apurada viso tecnolgica, em 1971-72, Gilberto Molinari do
IPT, funda junto com Baslio, Petrucci, Bauer, Kuperman, Priszkunik e outros o
Instituto Brasileiro do Concreto Ibracon que passa a representar a partir de ento o
mais expressivo canal de divulgao dos trabalhos sobre argamassa, concreto,
concreto armado e concreto protendido. O Ibracon promoveu, nos ltimos 18 anos,
31 reunies tcnicas, das quais se pode destacar como de interesse deste tema:
a) Em setembro de 1973: Colquio sobre Controle de Qualidade do Concreto
Estrutural no qual so apresentadas sete comunicaes;
b) Em junho de 1974: Colquio Paraguaio - Brasileiro sobre Tecnologia do
Concreto Massa no qual so apresentadas 20 comunicaes;
c) Em maio de 1977: Colquio sobre Dosagem do Concreto no qual so
apresentadas dez comunicaes;
d) Em novembro de 1979: Seminrio sobre Controle da Resistncia do Concreto
no qual so apresentadas nove comunicaes;
e) Em junho / julho de 1983: Seminrio sobre Controle da Resistncia do
Concreto no qual so apresentadas 20 comunicaes;
f) Em julho de 1986: Seminrio sobre Sugestes para Reviso da NBR 6118 no
qual so apresentadas seis comunicaes.
De todas as contribuies sempre oportunas e de elevado nvel vale
ressaltar as comunicaes de Hernani Sobral sobre a generalizao das tcnicas de
dosagem efetuada a partir do mtodo de Powers e a de Wander Miranda de
Camargo, tambm dentro da mesma linha de pensamento de obteno de um
modelo nico que possa ser aplicado para representar indistintamente o
comportamento do concreto no estado fresco e endurecido para as diversas
situaes.
Para sintetizar cronologicamente a evoluo nacional e internacional dos
mtodos de dosagem, apresenta-se na (Figura 2.05).
40
Figura 2.05: Sntese cronolgica da evoluo dos mtodos de dosagem no exterior e
no Brasil (HELENE, 1992).
41
2.2 Considerao da Dosagem nas Normas Nacionais
interessante verificar como evoluiu a considerao da dosagem dos
concretos nos textos das normas de projeto e execuo de obras de concreto
armado no Brasil. Essa evoluo mais lenta que aquela observada no mbito dos
trabalhos tcnicos individuais, uma vez que necessria h obteno do consenso
de vrios tcnicos, antes da incorporao definitiva das novas descobertas ao texto
de norma.
No Brasil, em nenhum momento de sua histria parece ter havido
movimentao ou interesse do meio tcnico para a elaborao de uma norma
especfica sobre dosagem dos concretos, como o ocorrido nos EUA que, atravs do
American Concrete Institute, constituiu em 1936 o Comit 613 (posteriormente
alterado para 211), com o encargo de elaborar um primeiro texto consensual sobre
dosagem. Os ingleses tambm publicam, em 1947, um primeiro texto de carter
consensual e normativo especfico sobre dosagem seguida por outros paises.
O assunto dosagem, no Brasil, foi ento sempre referido nas normas de
projeto e execuo de obras de concreto, limitando-se especificao do clculo da
resistncia mdia de dosagem a partir da qual se faz o proporcionamento do
concreto a ser produzido em obra. Apesar de a resistncia de dosagem ser apenas
uma das atividades de estudo de dosagem, ela tem importncia econmica e tcnica
destacada. Sua importncia tcnica est diretamente relacionada com os mtodos
de introduo da segurana no projeto estrutural, enquanto o custo do concreto ,
essencialmente, funo do consumo de cimento por metro cbico que depende da
resistncia mdia desejada.
Pode-se considerar que o primeiro texto consensual nacional sobre projeto e
execuo de obras de concreto foi o Regulamento para as Construes em
Concreto Armado, publicado em 3 de junho de 1931 pela associao Brasileira de
Concreto ABC. Nesse regulamento, na seo V, a dosagem do concreto assim
tratada:
35 Dosagem arbitrria
1. Para os efeitos deste Regulamento, entender-se- por dosagem arbitrria a
que for feita sem levar em conta a porcentagem de gua e a graduao dos
agregados;
42
2. Em qualquer concreto dosado arbitrariamente obrigatrio um teor mnimo
de 300 kg de cimento por metro cbico de concreto;
3. Em geral, os concretos dosagem arbitrria compor-se-o de: 500 litros de
agregado mido; 800 litros de agregado grado, e 300, 350 ou 400 kg de
cimento para um metro cbico de concreto.
16 -... A quantidade de gua no poder ultrapassar:
220 litros para o concreto de 300 kg de cimento por metro cbico;
250 litros para o concreto de 350 kg de cimento por metro cbico;
280 litros para o concreto de 400 kg de cimento por metro cbico.
36 - Dosagem racional
4. Entender-se- por concreto dosado racionalmente um concreto cuja
composio tenha sido determinada de acordo com o disposto no boletim n 1
do Laboratrio da Escola Politcnica de So Paulo; isto , de acordo com os
processos modernos que baseia a resistncia do concreto na relao gua /
cimento e na granulometria do agregado.
43
3 DURABILIDADE DO CONCRETO
O interesse principal dos projetistas de estruturas de concreto tem sido as
caractersticas de resistncia do material; por vrias razes, eles agora devem torna-
se conscientes em relao durabilidade. Hoje em dia, o crescimento no custo de
reposio de estruturas e a nfase crescente no custo do ciclo de vida ao invs do
custo inicial esto forando os engenheiros a tomarem conscincia dos aspectos de
durabilidade.
A gua geralmente est envolvida em toda forma de deteriorao, e em
slidos porosos a permeabilidade do material gua habitualmente determina a taxa
de deteriorao. Portanto, no incio deste capitulo, a estruturas e propriedades da
gua so descritos com ateno especial ao seu efeito destrutivo sobre materiais
porosos.
Efeitos fsicos que influenciam negativamente a durabilidade do concreto
incluem desgaste da superfcie, fissuras causadas pela presso da cristalizao de
sais nos poros e exposio a temperaturas externas, tais como congelamento,
desgelo ou fogo. Incluem tambm, a lixiviao da pasta de cimento por solues
cidas, e reaes expansivas envolvendo ataque por sulfato, reao lcali-agregado
e corroso das armaduras no concreto. No final, dada especial ateno ao
desempenho do concreto na gua do mar.
3.1 Definio
Uma longa vida til considerada sinnimo de durabilidade. Para DAL
MOLIN, segundo o comit 201 do ACI, durabilidade do concreto de cimento portland
definida como a sua capacidade de resistir ao das intempries, ataques
qumicos, abraso ou qualquer outro processo de deteriorao; isto , o concreto
durvel conservar a sua forma original, qualidade e capacidade de utilizao
quando exposto ao seu meio ambiente.
Nenhum material inerentemente durvel; como um resultado de interaes
ambientais, a microestrutura e, conseqentemente, as propriedades dos materiais
mudam com o passar do tempo. Admite-se que um material atingiu o fim da sua vida
til quando as suas propriedades sob dadas condies de uso deterioram a um tal
44
ponto que a continuao do uso deste material considerada como insegura ou
antieconmica.
3.2 Observaes Gerais
A gua que o agente primrio tanto da criao quanto da destruio de
muitos tipos de processos fsicos de degradao. Como veculo para o transporte de
ons agressivos, a gua tambm pode ser uma fonte de processos qumicos de
degradao. Os fenmenos fsico-qumicos associados com os movimentos da gua
em slidos porosos so controlados pela permeabilidade do slido. A taxa de
deteriorao afetada pelo tipo de concentrao de ons na gua e pela
composio qumica do slido. O concreto um material bsico (porque compostos
alcalinos de clcio constituem os produtos de hidratao da pasta de cimento
portland); portanto, guas cidas tendem a ser particularmente prejudicial ao
concreto.
Na prtica, a deteriorao do concreto raramente devida a uma causa
nica. Em geral, as causas fsicas e qumicas da deteriorao esto proximamente
entrelaadas e reforando-se mutuamente que at mesmo a separao entre causa
e efeito se torna impossvel.
3.3 gua como um agente de deteriorao
O concreto no o nico material vulnervel aos processos fsicos e qumicos
de deteriorao associados gua. A gua sem dvida o fluido mais abundante
na natureza. Sendo pequenas, as molculas de gua so capazes de penetrar em
cavidades ou poros extremamente finos. Como solvente a gua notvel por sua
habilidade de dissolver mais substancias do que qualquer outro lquido conhecido.
Esta propriedade responde pela presena de muitos ons e gases em algumas
guas. Alm disso, tem a maior temperatura de evaporao entre os lquidos
comuns.
Em slidos porosos, sabe-se que movimentos internos e mudanas da
estrutura da gua causam mudanas de volume que produzem rupturas de muitos
tipos, por exemplo, o congelamento da gua, a formao de estruturas ordenadas
de gua dentro de poros finos, o desenvolvimento da presso osmtica devido a
45
diferenas na concentrao inica, e a presso hidrosttica resultante de presses
de vapor diferenciais.
3.3.1 A estrutura da gua
A molcula H-O-H possui ligao covalente. Esta fora de atrao
relativamente fraca, chamada ligao de hidrognio, responsvel pela estrutura
ordenada da gua, (Figura 3.06). O gelo funde a 0 C quando aproximadamente
15% das ligaes de hidrognio se rompem. Como resultado da ruptura parcial na
direo da ligao tetradrica, cada molcula de gua pode adquirir mais de quatro
vizinhos, aumentando sua densidade. Em outras palavras, a gua lquida, ao
solidificar-se, expande-se ao invs de contrair-se.
Figura 3.06: Estrutura da gua em diferentes estgios (MEHTA, P. KUMAR, 1994)
Comparada estrutura do gelo, a gua temperatura ambiente tem
aproximadamente 50% das ligaes de hidrognio rompidas, o que geram energias
superficiais desequilibradas. A energia superficial em lquidos causa tenso
superficial e a alta tenso superficial da gua (definida como a fora necessria para
afastar as molculas de gua) que a impede de agir como uma agente plastificante
46
eficiente em misturas de concreto at que aditivos adequados sejam adicionados.
Essa energia alta quando numerosos poros finos esto presentes. Se a gua for
capaz de permear tais microporos e se as foras de atrao na superfcie dos poros
forem suficientemente intensas para romperem a tenso superficial da massa de
gua e dispuserem as molculas para a forma de uma estrutura orientada, ir
requerer mais espao, tendendo, portanto, a causar expanso.
3.4 Permeabilidade do concreto
A penetrao de materiais em soluo, no concreto, pode afetar, de maneira
contrria, a sua durabilidade como, por exemplo, quando Ca (OH)
2
lixiviado ou
quando ocorre um ataque por lquidos agressivos. Esta penetrao depende da
permeabilidade do concreto. J que a permeabilidade determina a relativa facilidade
com que o concreto se satura com gua, esta propriedade tem papel importante na
vulnerabilidade do concreto ao congelamento. Alm disso, no caso de concreto
armado, a entrada de umidade e ar provocar a corroso da armadura. Como essa
corroso decorre o aumento do volume do ao, pode se seguir a fissurao e
desagregao do concreto.
A permeabilidade do concreto tambm tem interesse com respeito a
estanqueidade de estruturas para conteno de lquidos e outras estruturas, e com o
problema de presses hidrostticas no interior de barragens. Alm disso, a entrada
de gua no concreto tem influncia sobre as suas propriedades de isolao.
Pode-se notar que o movimento da gua atravs de uma parede de concreto
pode ser causado no s por uma coluna de gua, mas tambm por um diferencial
de umidade nas duas faces do concreto, ou por efeitos osmticos. Tanto a pasta de
cimento como o agregado contm poros. Alm disso, o concreto contm vazio
causado por adensamento incompleto, ou por exsudao. Giammusso S. Eugnio
(1992) afirma que estes vazios ocupam cerca de 1% a 10% do volume do concreto o
que provoca uma grande perda de resistncia (Tabela 3.01).
47
Tabela 3.01: Percentual de vazios versos reduo da resistncia do concreto
(GIAMMUSSO S. EUGNIO (1992).
Teor de Vazios 1% 2% 3% 4$ 5% 10%
Reduo de Resistncia 8% 17% 24% 31% 37% 60%
A permeabilidade do concreto no uma funo simples da porosidade, mas
depende tambm das dimenses, distribuio e continuidade dos poros, ou seja,
quanto maior o tamanho do agregado, maior o coeficiente de permeabilidade.
Assim, embora a porosidade do gel de cimento seja de 28%, a sua permeabilidade
apenas cerca de 7 x 10
-16
m/s. isto devido textura extremamente fina da pasta de
cimento endurecida: os poros e as partculas slidas so muito pequenos e
numerosos, ao passo que nos minerais os poros, embora em pequena quantidade,
so muito maiores e resultam em permeabilidade elevada. Pela mesma razo, a
gua pode fluir mais facilmente atravs dos poros capilares do que dos poros do gel
de cimento: a pasta de cimento de 20 a 100 vezes mais permevel do que o gel.
Conclui-se assim, que a permeabilidade tambm controlada pela sua porosidade
capilar, como mostra a (Figura 3.07).
Figura 3.07: Permeabilidade da pasta de cimento (NEVILLE, A. MATTHEW, 1982).
48
A permeabilidade da pasta de cimento varia com a evoluo da hidratao
dos gros de cimento. Nas pastas secas, o fluxo da gua depende do tamanho,
forma e concentrao dos gros de cimento originais. Com a evoluo da
hidratao, a permeabilidade decresce rapidamente porque o volume bruto do gel
(inclusive os poros de gel) , aproximadamente, 2,1 vezes o volume do cimento no
hidratado, de modo que o gel ocupa progressivamente, parte do espao
originalmente ocupado pela gua. Numa pasta madura, a permeabilidade depende
do tamanho, forma e concentrao das partculas de gel e dos capilares se tornarem
descontnuos ou no. A (Tabela 3.02) mostra alguns valores do coeficiente de
permeabilidade, em vrias idades, de uma pasta de cimento com a relao gua /
cimento igual a 0,7.
Tabela 3.02: Reduo da permeabilidade de pasta de cimento com a evoluo da
hidratao (NEVILLE, A. MATTHEW, 1982).
Idade - dias Coeficiente de permeabilidade K m / s
pasta fresca 2 x 10
-6
5 4 x 10
-10
6 1 x 10
-10
8 4 x 10
-11
13 5 x 10
-12
24 1 x 10
-12
final 6 x 10
-13
(calculado)
A permeabilidade do concreto tambm depende das propriedades do cimento.
Para uma mesma relao gua / cimento, um cimento mais grosso tende a produzir
uma pasta com porosidade mais elevada do que um cimento mais fino. Em linhas
gerais, pode-se dizer que quanto maior a resistncia da pasta, menor a sua
permeabilidade fato que seria de se esperar, pois a resistncia uma funo do
volume relativo do gel no espao disponvel.
Segundo DAL MOLIN teoricamente a introduo de partculas de agregados
com baixa permeabilidade em uma pasta de cimento deveriam diminuir a
permeabilidade do sistema (especialmente em pastas com alta relao gua /
cimento nos estgios iniciais quando a porosidade capilar alta) porque as
49
partculas de agregado deveriam interceptar os canais de fluxo dentro da matriz da
pasta de cimento. Comparados com a pasta de cimento pura, portanto, argamassa
ou concreto com a mesma relao gua / cimento e grau de maturidade deveriam
apresentar um coeficiente de permeabilidade menor. Dados experimentais indicam
que, na prtica, no este o caso, como mostra a (Figura 3.08).
Figura 3.08: Influncia da relao gua / cimento e dimenso mxima do agregado
na permeabilidade do concreto (MEHTA, P. KUMAR, 1994).
A explicao para por que a permeabilidade da argamassa ou concreto
maior que a permeabilidade da pasta de cimento correspondente reside nas
microfissuras que esto presentes na zona de transio entre o agregado e a pasta
de cimento. Durante os perodos iniciais de hidratao a zona de transio fraca e
vulnervel fissurao devido a esforos diferenciais entre a pasta do cimento e o
agregado, induzido geralmente por retrao de secagem, contrao trmica e carga
aplicada externamente.
Assim, a permeabilidade do concreto, segundo DAL MOLIN, gua depende
principalmente da relao gua / cimento (que determina o tamanho, volume e
continuidade dos espaos capilares) e da dimenso mxima do agregado (que
influncia as microfissuras na zona de transio entre o agregado grado e a pasta
de cimento).
50
3.4.1 Determinao da Permeabilidade gua
A permeabilidade do concreto pode ser determinada em laboratrio por um
ensaio simples, mas os resultados so, em geral, apenas comparativos. As paredes
laterais de um corpo de prova so seladas e aplica-se gua, sob presso, na
superfcie superior. Quando tiver sido atingido um regime constante o que pode
no ocorrer at por volta de 10 dias aps o incio do ensaio determina-se a
quantidade de gua que flui atravs de um certa espessura de concreto num tempo
estabelecido e a permeabilidade expressa por um coeficiente, K, dado pela
equao de Darcy:
(dq/dt) = (k.HA)/L Eq. (06)
onde:
dq/dt a taxa do fluxo de fluido dada em m/s;
a viscosidade do fluido;
H o gradiente de presso dado em m;
A a rea de superfcie dada em m;
L a espessura do slido;
K expresso em m/s.
O ensaio de permeabilidade pode ser efetuado em corpos de prova extrados
das estruturas para estudo dos efeitos das variaes das propores do concreto, e
das tcnicas de mistura, aplicao e cura do concreto. Alm de dar uma estimativa
da durabilidade do concreto sujeito ao corrosiva da gua de percolao.
Assim a permeabilidade definida como sendo a propriedade que governa a
taxa de fluxo de um fluido para o interior de um slido poroso HELENE (1992).
51
3.5 Classificaes das Causas da Deteriorao do Concreto
DAL MOLIN relata o trabalho de Mehta e Gerwick os quais agruparam as
causas da deteriorao do concreto (Figura 3.09) em duas categorias: desgaste
superficial ou perda da massa devida abraso, eroso e cavitao; e fissurao
devida a gradientes normais de temperatura e umidade, presses de cristalizao de
sais nos poros, carregamento estrutural e exposio a extremos de temperatura tais
como congelamento ou fogo. Do mesmo modo, os autores agruparam as causas
qumicas da deteriorao em trs categorias: (1) hidrlise dos componentes da
pasta de cimento por gua pura; (2) trocas inicas entre fluidos agressivos e a pasta
de cimento; e (3) reaes causadoras de produtos expansveis, tais como na
expanso por sulfatos, reao lcali-agregado e corroso da armadura no concreto.
Figura 3.09: Causas fsicas da deteriorao do concreto (MEHTA, P. KUMAR, 1994).
Deve ser enfatizado novamente que a distino entre causas fsicas e
qumicas da deteriorao puramente arbitrria; na prtica, as duas freqentemente
se sobrepem.
52
3.6 Ataque Qumico ao Concreto
A resistncia do concreto, para DAL MOLIN, a processos destrutivos iniciados
por reaes qumicas envolve geralmente, mas no necessariamente, interao
qumica entre agentes agressivos presentes em meio externo e os constituintes da
pasta de cimento.
Entre as excees esto as reaes lcalis-agregado que ocorrem entre os
lcalis na pasta de cimento e certos materiais reativos quando presentes no
agregado, hidratao retardada do CaO e MgO cristalinos, se presentes em
quantidades excessivas no cimento portland e corroso eletroqumica da armadura
no concreto.
Teoricamente segundo MEHTA, P. KUMAR (1994), qualquer meio com pH
menor que 12,5 pode ser qualificado como agressivo porque a reduo da
alcalinidade do fluido dos poros levaria, no final, a uma desestabilizao dos
produtos cimentceos de hidratao. Portanto, do ponto de vista do concreto de
cimento portland, a maioria das guas industriais e naturais pode ser classificada
como agressiva. Entretanto, a taxa de ataque qumico ao concreto ser funo do
pH do fluido agressivo e da permeabilidade do concreto.
Alm do mais, deve ser enfatizado que as reaes qumicas se manifestam
atravs defeitos fsicos nocivos, tais como aumento na porosidade e permeabilidade,
diminuio na resistncia, fissurao e lascamento.
3.6.1 Ataque por Sulfato
Os sais slidos no atacam o concreto, mas quando presentes em solues
podem reagir com a pasta de cimento endurecido. O resultado das reaes qumicas
entre cimento portland hidratado e ons sulfato de uma fonte externa tomam duas
formas que diferem distintamente uma da outra. Na primeira, o ataque por sulfato
pode-se manifestar na forma de expanso do concreto. Onde o sulfato reagi com o
Ca (OH)
2
e com o aluminato triclcico hidratado. Os produtos dessas reaes, o
gesso e o sulfo-aluminato de clcio tm um volume consideravelmente maior do que
os compostos iniciais, de modo que as reaes com os sulfatos levam expanso e
degradao do concreto.
53
A reao do sulfato de sdio com o Ca (OH)
2
pode ser representada pela
(Equao 07):
Ca (OH)
2
+ Na
2
SO
4
. 10.H
2
O CaSO
4
. 2H
2
O + 2NaOH + 8H
2
O Eq.(07)
Na gua em movimento, o Ca (OH)
2
pode ser completamente lixiviado, mas
se depositar NaOH, chega-se ao equilbrio, sendo apenas uma parte de SO
3
depositado sob a forma de gesso.
A reao com o aluminato triclcico hidratado demonstrada pela seguinte
(Equao 8):
2(3 CaO.Al
2
O
3
.12H
2
O) + 3(Na
2
SO
4
.10H
2
O) 3CaO.Al2O
3
. 3CaSO
4
. 31H
2
O
+ 2 Al (OH)
3
+ 6NaOH + 17H
2
O. Eq.(08)
O CaSO4 ataca somente o aluminato triclcico hidratado formando sulfo-
aluminato triclcico (3CaO. Al
2
O
3
. 3CaSO
4
. 31H
2
O). Por outro lado, o sulfato de
magnsio ataca tanto os silicatos de clcio hidratado como o Ca (OH)
2
e o aluminato
triclcico hidratado.
A reao pode ser representada pela (Equao 9):
3CaO. 2SiO
2
. aq + MgSO
4
. 7H
2
O CaSO
4
. 2H
2
O + Mg (OH)
2
SiO
2
. .Eq. (09)
A velocidade de ataque dos sulfatos aumenta com a concentrao da
soluo, mas acima de 0,5 % de MgSO
4
ou 1 % de Na
2
SO
4
, torna-se menor a
velocidade de crescimento da intensidade do ataque. Alm da concentrao do
sulfato, a velocidade com que o concreto atacado depende tambm da velocidade
com que pode ser reposto o sulfato removido pela reao com o cimento.
O concreto atacado por sulfato apresenta uma aparncia esbranquiado
caracterstica. A deteriorao comumente comea nos cantos e arestas, seguida
por uma fissurao progressiva e um desprendimento de lascas que reduzem o
concreto a uma condio frivel ou at fraca. A vulnerabilidade dos concretos ao
ataque dos sulfatos pode ser reduzida pelo uso de cimento com baixo teor de C
3
A.
Consegue-se tambm, melhorar a resistncia aos sulfatos com adoo de
pozolanas, ou mesmo, pela substituio parcial de cimento, por esses materiais. As
54
pozolanas removem o Ca (OH)
2
livre e tornam inativas as fases que contm alumina,
mas necessrio um tempo suficiente para permitir o desenvolvimento da atividade
pozolnica antes que o concreto seja exposto aos sulfatos. Muitas pozolanas se
mostraram bastantes eficazes para tornar o concreto resistente aos sulfatos,
principalmente quando usadas com cimentos resistentes aos sulfatos.
Por tanto, segundo NEVILLE (1982), a resistncia dos concretos ao ataque
por sulfatos depende da impermeabilidade do concreto que depende da relao
gua / cimento e do consumo de cimento e do tipo de cimento.
DAL MOLIN, com base em normas desenvolvidas originalmente pelo U.S.
Bureau of Reclamation, a exposio ao sulfato classificada em quatro graus de
severidade no ACI Building Code 318-83, que contm os seguintes requisitos:
Ataque negligencivel: Quando o contedo de sulfato est abaixo de 0,1 por
cento no solo, ou abaixo de 150 ppm (mg/l) na gua, no deve haver restrio
quanto ao tipo de cimento e relao gua / cimento.
Ataque moderado: Quando o contedo de sulfato no solo de 0,1 a 0,2 por
cento, ou 150 a 1500 ppm na gua, devem ser usados o cimento portland tipo
II ASTM, ou cimento pozolnico ou cimento portland com escria, com uma
relao gua / cimento menor que 0,5 para concreto de peso normal.
Ataque severo: Quando o contedo de sulfato no solo de 0,2 a 2,00 por
cento, ou 1500 a 10.000 ppm na gua, devem ser usados o cimento portland
tipo V ASTM, com uma relao gua / cimento menor que 0,45.
Ataque muito severo: Quando o contedo de sulfato no solo est acima de
2,00 por cento, ou acima de 10.000 ppm na gua, devem ser usados os
cimentos portland tipo V ASTM com adio pozolnica, com relao gua /
cimento menor que 0,5.
55
3.6.2 Ataque por cidos
Em ambientes midos o CO
2
, o SO
2
e outros gases cidos presentes na
atmosfera atacam o concreto dissolvendo e removendo do cimento endurecido,
sendo deixada, no final, uma massa gelatinosa. Esta forma de ataque ocorre em
chamins e tneis de ferrovias a vapor, mas encontrado em meios industriais.
Na prtica segundo NEVILLE (1982), ocorre em valores de pH inferiores a
6,5. Para valores de pH entre 3 e 6, o ataque evolui a uma velocidade proporcional
raiz quadrada do tempo. Isto significa que o fator determinante a difuso atravs
dos produtos pouco solveis que permanecem, depois que o Ca (OH)
2
foi dissolvido.
Assim, no s o pH que influencia a evoluo do ataque, mas tambm a
capacidade de os ons serem transportados. A velocidade de ataque tambm
diminui quando o agregado fica exposto, pois a superfcie vulnervel passa a ser
menor alm de o agente agressivo ter que contornar as partculas de agregado.
Pode-se conseguir uma boa proteo contra o ataque de cidos ao se
submeter o concreto ao do gs tetrafluoreto de silcio, no vcuo. Esse gs reage
com a cal: 2 Ca (OH)
2
+ SiF
4
2 CaF
2
+ Si (OH)
4
. Esse tratamento s pode ser
aplicado a concretos pr-moldados, que so designados como Ocrat concrete. O
Ca (OH)
2
tambm pode ser fixado pelo tratamento com vidro lquido (silicato de
sdio). Formam-se o silicato de clcio que preenchem os poros e a resistncia do
concreto aos cidos fica aumentada devida formao de um gel slico-flurico
coloidal.
3.6.3 Reao lcali-agregado
Em muitas regies do pas h uma abundancia de agregado reativos ou
potencialmente reativos em relao aos incuos de tal forma que seus minerais
apresentam-se reativos com os lcalis (Na
2
O), existentes no cimento. Em
conseqncia dessa reao podem ser observadas expanses acompanhadas de
fissurao do concreto fabricado com este tipo de material.
O processo reativo relativamente lento, o que dificulta a avaliao da
qualidade do material, sendo que em alguns casos os primeiros sinais de
deteriorao tm aparecido dentro de um ano aps a concretagem, mas em outros,
os sinais s aparecem muitos anos depois. Nos Estados Unidos esse assunto, tem
56
sido objeto de acompanhamento detalhado podendo-se citar a barragem de Matilija,
perto de Ventura, na Califrnia, construda em 1948, sendo que havia sido
especificado um cimento de baixo lcali e que apresentou expanses e fissurao
em vrias regies. A deteriorao da barragem de Drum Afterbay, na Califrnia foi
de tal ordem que a soluo tcnico-econmica adotada foi a de reconstruo.
SCANDIUZZI (1986) referncia Thomas e Stanton como os primeiros
pesquisadores, a descrever o processo de reao lcali-slica, no ano de 1940.
Ainda, segundo o autor, durante o perodo de 1940 a 1975 vrios autores
procuraram descrever o funcionamento da reao lcali-slica, de diversas forma,
evidenciando, entretanto que o mecanismo dessa reao controvertido e ocorre
com as formas de slica ativa, hidratadas, amorfas ou vtreas microcristalinas,
criptocristalinas constituintes das opalas, calcednias ou tridimitas, etc.
Observa-se que o andamento da reao depende fundamentalmente da
concentrao dos lcalis, da quantidade e granulometria dos gros reativos.
Apesar disso h determinados materiais inibidores da reao. Esses materiais
denominados pozolnicos agem incorporando um material altamente silcico,
finamente modo (granulometria dos gros reativos), que produza membranas ricas
em slica, afastando, dessa maneira, as propores dos materiais reativos de seu
ponto timo.
Atualmente, para DAL MOLIN a matria-prima usada na manufatura do
cimento portland, respondem pela presena de lcalis no cimento na faixa de (0,20 a
1,50)% de Na
2
O equivalente. Para SCANDIUZZI (1986), a limitao do teor de
lcalis do cimento em 0,60%, por si s, no previne contra os riscos de reao
deletria por no levar em conta a possibilidade de introduo adicional de lcalis de
outras fontes. DAL MOLIN relata que essas fontes podem provir dos aditivos, de
agregados contaminados com sais e penetrao de gua do mar ou soluo salina
degelante no concreto.
A reao lcali-slicato envolve os lcalis com tipos complexos de rochas
como grauvaques, filitos siltitos, argilitos, arenitos, etc. Ocorre de modo mais lento e
com menor formao de gel do que a reao lcali-slica.
A reao lcali-carbonato ocorre entre alguns calcrios delomticos de
granulao fina contendo argilas e os lcalis do cimento, manifestando-se por
expanses no concreto, em presena de umidade. Caracteriza pela formao de
57
trincas em torno das partculas reativas do agregado com conseqente perda de
aderncia com a pasta de cimento.
Para avaliao de expanso decorrente de reao lcali-slica pode-se lanar
mo do Mtodo das Barras de argamassas. A reatividade avaliada em termos de
grau de expanso.
3.6.3.1 Mecanismo de Expanso
O mecanismo na reao lcalis-agregado , ainda hoje, uma questo que foi
observada, em primeira vista nos Estados Unidos por volta de 1940, mas que no
tem uma explicao completa e totalmente esclarecida.
SCANDIUZZI (1986) relata que os principais estudos a respeito do assunto,
da poca, no que se refere ao mecanismo da reao, foram resumidos por Gitahy
conforme a (Figura 3.10).
Figura 3.10: Esquema ilustrativo do desenvolvimento das reaes lcalis-agregado
(SCANDIUZZI, 1986).
A pasta de cimento contm, entre outros, ons (Ca
++
) proveniente do
hidrxido de clcio dissolvido, liberado durante a hidratao do cimento e ons (Na
+
e K
+
) dos compostos alcalinos dissolvidos, presentes no cimento. Os ons (Ca
++
e
CNa
+
) reagem com o gro de slica reativa, em meio bsico, formando-se na
superfcie do gro um gel cal-lcali-slica que no absorve gua e que, portanto, no
58
se expande. No seu incio, o processo seguro e inofensivo (fase segura da
reao). Na continuao do processo reativo os ons (Ca
++
e Na
+
) esto separados
do gro de slica solvel pela camada de gel no expansivo de cal-lcali-slica e
devem atravessar a membrana para que a reao tenha continuidade.
O gel que forma a membrana tem rea interna muito grande sendo capaz de
absorver quantidades apreciveis de (Ca
++
e Na
+
) sendo predominantemente Na
+
,
quando a concentrao de lcalis alta e Ca
++
, quando a concentrao de lcalis
baixa. Os ons (Na
+
) tm maior mobilidade que os ons (Ca
++
) por sua maior
velocidade de difuso.
Dessa forma, no incio do processo forma-se sempre gel no expansivo de
cal-lcali-slica, mas em seu prosseguimento podem ocorrer duas situaes:
O consumo de lcalis na reao sendo grande, a concentrao de lcalis na
pasta no chega a predominar sobre a de cal, de modo que os ons (Ca ++ e
Na +) agem simultaneamente, e asseguram a formao contnua de gel de
cal-lcali-slica, no expansivo. Nesse caso, as reaes continuam seguras e
cessam quando atingem o centro da partcula, ou quando os lcalis tenham
sido inteiramente consumidos.
O consumo de lcalis na reao, no sendo grande a concentrao de lcalis
permanece alta predominando sobre a da cal e garantindo a ao dos ons
(Na +), que atravessam a pelcula de gel no expansivo e atacam o gro de
slica solvel, na ausncia de cal, dando origem ao gel de lcali-slica
expansivo que, ao contrrio de gel cal-lcali-slica, adsorve gua, aumenta de
volume e exerce foras de expanso capazes de romper o sistema quando
ultrapassa a resistncia a trao da pasta de cimento.
59
4 PROPRIEDADE DO CONCRETO
4.1 No Estado Fresco
4.1.1 Trabalhabilidade
4.1.1.1 Definio
A trabalhabilidade do concreto fresco determina a facilidade com a qual um
concreto pode ser manipulado sem segregao nociva. De todas as formas, um
concreto que seja difcil de lanar e adensar no s aumentar o custo de
manuteno como tambm ter resistncia, durabilidade e aparncia, inadequadas.
De forma similar, misturas com elevada segregao e exsudao, so mais difcies e
mais caras na hora do acabamento e fornecer concreto menos durvel. Portanto, a
trabalhabilidade pode afetar tanto o custo quanto a qualidade do concreto (HELENE,
1992).
Apesar de ser a mais importante caracterstica do concreto no estado fresco
de difcil conceituao, visto envolver ou englobar uma srie de outras propriedades.
PETRUCCI, ELADIO (1987) cita, a seguir, uma srie de definies de
trabalhabilidade dadas por pesquisadores de renome na tecnologia do concreto:
Troxell e Davis Trabalhabilidade o conjunto de propriedades que
englobam facilidade de colocao e resistncia segregao;
Blanks, Vidal, Prince e Russel A trabalhabilidade a facilidade com que um
dado conjunto de materiais pode ser misturado para formar o concreto e,
posteriormente, ser transportado e colocado com um mnimo de perda de
homogeneidade;
Lea e Desh Trabalhabilidade a facilidade com que o material concreto
flui, enquanto, ao mesmo tempo, fica coerente e resistente segregao.
E conclui dizendo que trabalhabilidade a propriedade do concreto fresco
que identifica sua maior ou menor aptido para ser empregado com determinada
finalidade, sem perda de sua homogeneidade.
HELENE (1992) recorre ao texto da ASTM C 125 ao dizer que a
trabalhabilidade do concreto a propriedade que determina o esforo necessrio
60
para manipular uma quantidade de concreto fresco com uma perda mnima de
homogeneidade.
Com a mesma linha de raciocnio SCANDIUZZI (1986) afirma que a
trabalhabilidade de um concreto pode ser entendida como sendo a facilidade com a
qual o concreto pode ser misturado, manuseado, transportado, colocado e
compactado, com a menor perda de homogeneidade. Termos como consistncia,
plasticidade, coeso e fluidez expressam elementos de trabalhabilidade. Para uma
betonada de concreto depende, sobretudo, das caractersticas e da proporo
relativa dos vrios componentes, ao passo que o grau de trabalhabilidade,
necessrio para o lanamento e adensamento adequados a uma estrutura, depende
dessa estrutura em termos de armadura e geometria, ou seja, o grau de
trabalhabilidade depende do tipo e condies da estrutura e de lanamento e, a
capacidade de trabalhabilidade do concreto depende dos materiais e de como eles
so dosados.
Segundo LOBO CARNEIRO (1953) a trabalhabilidade dos concretos a
maior ou menor facilidade com que podem ser lanados e adensados, envolvendo
eficazmente as armaduras, e preenchendo perfeitamente os moldes, sem deixar
vazios, os denominados ninhos. A trabalhabilidade de um concreto bem graduado
tanto maior quanto mais fluida a pasta, pelo menos at certo limite. Em todo caso,
a consistncia conveniente do concreto depende do processo de adensamento, que
pode ser manual ou vibratrio, das dimenses das peas, e da disposio das
armaduras, devendo ainda ser considerado o sistema de transporte.
O termo trabalhabilidade representa vrias e diversas caractersticas do
concreto fresco de difcil avaliao quantitativa. Conseqentemente o
proporcionamento do concreto para uma trabalhabilidade desejvel, mas no
totalmente mensurvel e definvel, permanece mais como uma arte que uma cincia.
Esta outra razo porque um conhecimento superficial dos procedimentos de
dosagem, sem um entendimento dos princpios bsicos envolvidos, no suficiente
para obter xito numa dosagem.
As consideraes gerais que dirigem as decises relativas a trabalhabilidade
dos concretos frescos so:
1. A fluidez do concreto no deve ser superior necessria para o lanamento,
adensamento e acabamento do concreto.
61
2. A quantidade de gua para uma dada consistncia depende
preponderantemente das caractersticas do agregado, apesar de que sempre
possvel aumentar a coeso e a facilidade de acabamento atravs do
aumento da relao areia / agregado grado em lugar do aumento das
partculas finas na areia.
3. Para concretos que requeiram elevada fluidez no momento da concretagem,
o uso de aditivos redutores de gua e retardadores de pega devem ser
prefervel ao lanamento de mais gua ao concreto, no canteiro de obra.
Essas guas extras, que no foi considerada no proporcionamento do
concreto tem sido, freqentemente, responsvel por falhas de desempenho
do concreto em relao s especificaes de projeto.
A trabalhabilidade envolve certas caractersticas do concreto fresco, tais como
consistncia e coeso.
Consistncia, de maneira ampla, a medida da umidade do concreto, a qual
normalmente avaliada em termos de abatimento do tronco de cone, (ou seja,
quanto mais mida a mistura maior o abatimento). Desde que o consumo de gua
por m um dos fatores chaves que afetam a economia, pode-se notar que o
abatimento do tronco de cone diretamente proporcional ao consumo de gua para
um certo conjunto de materiais. Para um dado abatimento, o consumo de gua
geralmente decresce com: (1) aumento da dimenso mxima caracterstica do
agregado grado; (2) a reduo das partculas angulares e de superfcie spera nos
agregados, e, (3) com o aumento do teor de ar incorporado ao concreto Helene
(1992).
Segundo HELENE (1992) no texto da ASTM C 125 a consistncia medida
pelo ensaio de abatimento do tronco de cone ou pelo aparelho Vebe sendo usada
como um simples ndice da mobilidade ou da fluidez do concreto fresco.
PETRUCCI, ELADIO (1987) a consistncia um dos principais fatores que
influenciam a trabalhabilidade e seus principais fatores so:
1. Fatores internos:
q Consistncia, que pode ser identificada pela relao gua / cimento ou
teor de gua / materiais secos;
62
q Proporo entre cimento e agregado, usualmente denominado trao;
q Proporo entre agregado mido e grado, que corresponde
granulometria do concreto;
q Forma do gro dos agregados, em geral dependendo do modo de
obteno (agregado em estado natural e obtido por britagem);
q Aditivos com finalidade de influir na trabalhabilidade, normalmente
denominados plastificantes.
2. Fatores externos:
q Tipo de mistura (manual ou mecanizada);
q Tipo de transporte quer quanto ao sentido vertical ou horizontal, quer
quanto ao meio de transporte: em guinchos ou vagonetes, calhas,
bombas;
q Tipo de lanamento, de pequena ou grande altura: por ps, calhas,
trombas de elefante, etc;
q Tipo de adensamento; os mais usuais: manual e vibratrio, alm de
vcuo, centrifugao, etc;
q Dimenses e armadura da pea a executar.
Com relao atuao desses fatores, cumpre ressaltar que sua influncia
no se manifesta sempre num mesmo sentido, ainda mais considerando a influencia
conjunta de todos eles.
Coeso a medida da facilidade de adensamento e de acabamento, a qual
geralmente avaliada por facilidade de desempenhar e julgamento visual da
resistncia segregao. Quando a coeso deficiente nas misturas experimentais,
63
esta pode ser, geralmente, melhorada atravs dos seguintes passos: (1) aumento da
proporo areia / agregado grado; (2) substituio de parte da areia grossa por
areia fina, e, (3) aumento da relao pasta / agregados (para uma mesma relao
gua / cimento) HELENE (1992).
Uma medida qualitativa destas caractersticas usualmente coberta pelo
termo coeso. A estabilidade um ndice simultneo de capacidade de reteno de
gua (o oposto de exsudao) e de capacidade de reteno do agregado grado na
massa do concreto fresco (o oposto de segregao).
Por tanto, trabalhabilidade uma propriedade composta de pelo menos dois
componentes principais:
1. A fluidez, que descreve a facilidade de mobilidade;
2. A coeso, que descreve a resistncia exsudao ou segregao.
SCANDIUZZI (1986) relata que o elemento da trabalhabilidade que indica a
maior aspereza de um concreto a coeso. Concretos finos (com pequenos mx.)
so normalmente mais consistente que concretos grossos. Os concretos com
agregados britados so mais speros que concretos com seixos arredondados e
tendem a segregar mais facilmente. A areia grossa causa aspereza no concreto. A
gua de exsudao um ndice que demonstra a maior ou menor capacidade de
segregao.
Vrios so os fatores que podem alterar consideravelmente a trabalhabilidade
das misturas. Dentre os fatores comumente controlveis pode-se citar:
1. Quantidade de gua;
2. Quantidade e qualidade dos aglomerantes;
3. Temperatura;
4. Quantidade e qualidade dos agregados;
5. Tipos e quantidades de aditivos.
E ainda, com o aumento ou diminuio do teor de gua de mistura pode
alterar significativamente a trabalhabilidade e a consistncia do concreto e tornar a
mistura spera, facilmente segregvel e com grande capacidade para sofre retrao
por secagem.
64
Outra maneira de se verificar a trabalhabilidade, segundo LOBO CARNEIRO
(1953) a simples inspeo visual que o engenheiro, com alguma prtica de
execuo de obras de concreto, poder executar traos experimentais com grau de
trabalhabilidade conveniente, com preciso maior que se usado o slump test. A
fixao da consistncia exige do engenheiro alm da prtica de execuo de obras
de concreto, uma forte dose de bom senso. Essa consistncia dever ser a
necessria e suficiente; o interesse tanto econmico quanto tcnico de usar a menor
quantidade possvel de gua no deve conduzir ao exagero de se adotar um
concreto excessivamente seco e dificilmente trabalhvel. E preciso combater a lenda
de que os concretos dosados racionalmente so dificilmente trabalhveis.
Em muitos casos, a consistncia s poder ser fixada na obra, aps a
observao das dificuldades encontradas na execuo. Em caso algum dever ser
ultrapassado o fator gua / cimento prefixado. Assim, por meio da reduo das
quantidades de agregados adicionais ao cimento, mas sem alterao do fator gua /
cimento. Logicamente, o novo trao ser naturalmente um pouco menos econmico.
A consistncia conveniente para concretos vibrados a mais difcil de
determinar-se; depender muito do tipo de vibrao e da prtica dos operrios.
Devemos prevenir aqui que a vibrao quando mal conduzida nociva (o concreto
passvel de segregao); entretanto se as pessoas que iro execut-la no tem
prtica, prefervel o adensamento manual.
4.1.1.2 Medida da Trabalhabilidade
Infelizmente, no existe ensaio aceitvel que mea diretamente a
trabalhabilidade tal qual definida anteriormente. No entanto, foram feitas numerosas
tentativas para correlacionar trabalhabilidade com algumas grandezas fsica
facilmente mensurvel, mas nenhuma chegou a ser inteiramente satisfatria,
embora possam fornecer informaes teis dentro de uma faixa de variao de
trabalhabilidade NEVILLE (1982). A (Figura 4.11) e (Figura 4.12) mostra parte da
excusso do ensaio de slump test.
65
Figura 4.11: Retirada do tronco-cnico de forma a no interferir na consistncia final.
Figura 4.12: Medio da consistncia do concreto.
Para Lobo Careiro (1953) no h nenhum ensaio satisfatrio por meio do qual
se possa medir o grau de trabalhabilidade de um concreto. O slump test adotado
66
pelos americanos, por exemplo, pretende medi-lo pelo ndice de consistncia, que
o abatimento de um tronco de cone de concreto fresco moldado em forma especial
e segundo uma tcnica prefixada (Figura 4.11). O uso do slump test s apresenta
utilidade em ensaios de laboratrio, quando se deseja fabricar vrios traos de
concreto da mesma consistncia, com os mesmos materiais.
Os ensaios universalmente usados, que medem a consistncia do concreto,
so denominados ensaio de abatimento do tronco de cone. Para o mesmo propsito,
o segundo mtodo em ordem de importncia o ensaio Vebe, que mais significado
para misturas mais secas. O terceiro mtodo o ensaio do fator de compactao,
que procura avaliar a caracterstica de compatibilidade de uma mistura de concreto.
O ensaio de abatimento prescrito na ASTM C 143 e os outros dois no ACI
Standard 211.
4.1.1.2.1 Ensaio de Abatimento do Tronco de Cone.
O equipamento para o ensaio de abatimento do tronco de cone realmente
muito simples. Consiste de uma haste de socamento e de um tronco de cone de 300
mm de altura, 100 mm de dimetro no topo e 200 mm de dimetro na base. O tronco
de cone preenchido com concreto, e depois vagarosamente suspenso. O concreto
sem suporte abate-se pelo seu prprio peso. A diminuio da altura do tronco de
cone chamada de abatimento do concreto. Detalhe do procedimento mostrado
na (Figura 4.13).
67
Figura 4.13: Procedimento de ensaio de abatimento do tronco de cone (MEHTA, P.
KUMAR, 1994).
O ensaio de abatimento no adequado para medir a consistncia de
concreto muito fluido ou muito seco (Figura 4.14). No uma boa medida da
trabalhabilidade, embora seja satisfatrio para medida da consistncia ou das
caractersticas de fluidez de um concreto. A principal funo deste ensaio fornecer
um mtodo simples e conveniente para controlar a uniformidade da produo de
concreto de diferentes betonadas. Assim, uma variao fora do normal no resultado
do abatimento pode significar numa mudana imprevista nas propores da mistura
(trao), granulometria do agregado ou teor de gua do concreto.
68
Figura 4.14: Concreto de consistncia seca sendo medida no tronco-cnico.
4.1.1.2.2 Ensaio Vebe.
O equipamento de ensaio, que foi desenvolvido pelo engenheiro sueco V.
Bhrner, apresentado na (Figura 4.15). Este consiste em uma mesa vibratria, um
recipiente cilndrico, um tronco de cone, e um disco de vidro ou plstico com
movimento livre e descendente o qual serve como referncia do final do ensaio. O
tronco de cone colocado no recipiente, em seguida preenchido com concreto, e
depois removido. O disco posicionado no topo do tronco de cone de concreto e a
mesa vibratria ligada. O tempo necessrio para remoldar o concreto da forma
tronco-cnica para a cilndrica, at que o disco esteja em contato com todo o
concreto, a medida da consistncia e este valor anotado como sendo o ndice
Vebe, em segundos.
69
Figura 4.15: Equipamento para medida da consistncia do concreto: aparelho Vebe
(MEHTA, P. KUMAR, 1994).
4.1.1.2.3 Ensaio de fator de compactao.
Este ensaio, desenvolvido na Inglaterra, mede o grau de compactao
alcanado quando uma mistura de concreto est sujeita a um esforo padro. O
grau de compacidade, denominado fator de compactao, medido pelo fator de
massa especfica (isto , a relao entre a massa especfica obtida no ensaio Vebe
e a massa especfica do mesmo concreto em condies ideais de compactao
total). A aparelhagem consiste essencialmente de dois reservatrios tronco-cnicos
adaptados com portinholas na base e colocados um sobre o outro (Figura 4.16), e
de uma frma cilndrica de 150 x 300 mm colocada abaixo desses reservatrios. O
reservatrio superior maior do que o inferior preenchido do fundo do reservatrio,
o concreto cai por gravidade no reservatrio inferior e transborda. Dessa forma,
obtida uma dada poro de concreto em estado padro de compactao, sem a
influncia do fator humano. A portinhola do reservatrio inferior aberta e o concreto
cai no cilindro. O excesso de material retirado, e a massa de concreto no volume
do cilindro previamente conhecido determinada, a partir do qual massa especfica
facilmente calculada.
70
Figura 4.16: Aparelho de medio do fator de compactao (MEHTA, P. KUMAR,
1994).
4.1.1.3 Segregao e exsudao
A segregao definida como sendo a separao dos componentes do
concreto fresco de tal forma que a sua distribuio no seja mais uniforme. Existem
dois tipos de segregao. O primeiro, que uma caracterstica das misturas secas,
consiste na separao dos agregados da argamassa do concreto (por exemplo, por
vibrao excessiva), Exsudao o segundo tipo de segregao e caracterstica
das misturas de concretos muito fluidos.
A exsudao definida como um fenmeno cuja manifestao externa o
aparecimento de gua na superfcie aps o concreto ter sido lanado a adensado,
porm antes de ocorrer a sua paga. A gua o componente mais leve da mistura de
concreto; conseqentemente, a exsudao uma forma de segregao, porque os
slidos em suspenso tendem a se sedimentar sob a ao da fora da gravidade. A
exsudao resulta da inabilidade dos materiais componentes em reterem toda a
gua da mistura em estado disperso, enquanto os slidos mais pesados estiverem
assentando.
De qualquer forma, importante reduzir a tendncia segregao na mistura
de concreto, porque a compactao total que essencial para atingir o potencial
mximo de resistncia, no ser possvel aps o concreto ter segregado. Entretanto,
no existem ensaios para medida da segregao; a observao visual e a inspeo
por testemunhos extrados do concreto endurecido so, geralmente, adequados
71
para determinar se a segregao um problema em uma dada situao. Mas
segundo HELENE (1992) existe, porm, um ensaio normalizado da ASTM para
medio da taxa de exsudao e da capacidade total de exsudao de uma mistura
de concreto o qual uma amostra colocada e consolidada num recipiente de 250
mm de dimetro e 280 mm de altura. A gua de exsudao acumulada na superfcie
retirada em intervalos de 10 minutos durante os primeiros 40 minutos e, da em
diante, em intervalos de 30 minutos. A exsudao expressa em termos da
quantidade de gua acumulada na superfcie, em relao quantidade de gua
existente na amostra.
4.2 No Estado Endurecido
4.2.1 Peso especfico
SANTOS E TANCREDI (2003), afirmam que o peso especfico do concreto
endurecido depende principalmente da natureza dos agregados, de sua
granulometria e do mtodo de compactao empregado sendo maior quando maior
for o peso especfico dos agregados usados e muito maiores quanto mais agregados
grados conterem. A peso especfico do concreto normalmente utilizado o peso
por unidade de volume, incluindo os vazios. Esse peso especfico varia entre 2.300 e
2.500 kg / m.
4.2.2 Resistncia do concreto
A resistncia do concreto a propriedade mais valorizada pelos engenheiros
projetistas e de controle de qualidade. Embora o fator gua / cimento seja o mais
importante na determinao de ambas porosidades, da matriz e da zona de
transio, e conseqentemente da resistncia do concreto, fatores como
adensamento, condies de cura, dimenses e mineralogia e condies de umidade
do corpo de prova, tipo de tenso, e velocidade de carregamento, podem interferir
na resistncia do concreto.
Para muitos autores, como ARAJO, MILTON (2003); NEVILLE (1982), o
concreto no mais que um material formado pela mistura dos agregados (naturais
ou britados) com cimento e gua. Entretanto, a resistncia do concreto endurecido
72
depende de vrios fatores, como o consumo de cimento e de gua da mistura, o
grau de adensamento, o tipo de agregado, etc. quanto maior o consumo de
cimento e quanto menor a relao gua-cimento, maior a resistncia
compresso. A relao gua-cimento determina a porosidade da pasta de cimento
endurecida e, portanto, as propriedades mecnicas do concreto. Concretos feitos
com agregados de seixos arredondados e lisos apresentam uma menor resistncia
do que concretos com agregados britados.
4.2.2.1 Definio
A resistncia de um material definida como a capacidade de este resistir a
tenso sem ruptura. A ruptura algumas vazes identificada com o aparecimento de
fissuras. De qualquer modo, deve ser lembrado que, ao contrrio da maioria dos
materiais estruturais, o concreto contm microfissuras antes mesmo de ser
submetido a tenses externas. No concreto, portanto, a resistncia relacionada
com a tenso requerida para causar a fratura e sinnimo do grau de ruptura no
qual a tenso aplicada alcana seu valor mximo. No ensaio de trao, a fratura do
corpo-de-prova normalmente significa ruptura; na compresso, o corpo-de-prova
considerado rompido mesmo quando no h sinal de fratura externa visvel, porm a
fissura interna muito avanada, tal que o corpo-de-prova incapaz de suportar
uma carga maior sem fraturar-se.
4.2.2.2 Influncia do agregado grado sobre a resistncia
A tenso em que se formam as fissuras depende muito das propriedades do
agregado grado; os seixos lisos conduzem a uma fissurao a tenses menores do
que as pedras britadas speras e angulosas, provavelmente porque a aderncia
mecnica seja influenciada pelas caractersticas da superfcie, pela forma do
agregado (Figura 6.26). As propriedades dos agregados, especialmente as forma e
a textura superficial, tm muito menor influencia sobre a resistncia final
compresso do que sobre a resistncia trao ou sobre a tenso de fissurao por
compresso. Agregados inteiramente lisos levaram a resistncia compresso
cerca de 10% mais baixos do que agregados speros.
73
A influencia do tipo de agregado grado sobre a resistncia do concreto varia
em grandeza e depende da relao gua / cimento. Com relaes gua / cimento
abaixo de 0,4, agregados britados resultaram em resistncias at 38% mais altas do
que seixos rolados. A influencia do agregado diminui com o aumento da relao
gua / cimento devido ao fato de que passe a prevalecer resistncia da pasta. No
entanto, a resistncia do concreto bem maior do que a da argamassa, o que, de
acordo com KAPLAN (1959 apud NEVILLE, 1982, p.273), indicando que o
intertravamento (pacote) mecnico dos agregados grados com o mido contribuiria
para a resistncia do concreto a compresso.
4.2.2.3 Influencia do teor de cimento na resistncia
No h dvidas de que a relao agregada / cimento apenas um fator
secundrio da resistncia do concreto, mas foi constatado que para uma mesma
relao gua / cimento os concretos os concretos mais pobres tm resistncia maior
NEVILLE (1982). Como resultado, numa mistura pobre os vazios ocupam uma
frao menor do volume do concreto e so esses vazios que tm um efeito
prejudicial sobre a resistncia. Um outro aspecto importante que pode ser
considerado o calor de hidratao liberado durante a hidratao do cimento que
ser menor. Como conseqncia, o concreto ter menor retrao e estar menos
susceptvel a microfissurao (no estado plstico) com considervel ganho de
resistncia no estado endurecido.
4.2.2.4 Condio de cura
Cura o nome dado aos procedimentos adotados para promover a hidratao
do cimento e consiste num controle da temperatura e da movimentao de umidade
de ir para o interior do concreto. O objetivo da cura manter o concreto saturado, ou
o mais prximo possvel dessa condio, at que os espaos iniciais ocupados pela
gua na pasta fresca de cimento, sejam ocupados pelos produtos de hidratao do
cimento. No caso dos concretos, em obra, a cura ativa interrompida quase sempre
bem antes que tenha ocorrido o mximo possvel de hidratao. A perda de
resistncia devida cura inadequada mais acentuada em elementos mais
delgados, mas menor em concretos preparados com agregados leves. A
74
resistncia trao e compresso influenciada de maneira semelhante; nos dois
casos as misturas mais ricas so menos sensveis. Na (Figura 4.18) mostra vrios
corpos-de-prova dentro da cmara mida do laboratrio da Unama que foram
ensaiados aps 7 e 28 dias.
Para NEVILLE (1982) a necessidade de cura devida ao fato de que a
hidratao do cimento s pode se efetuar nos capilares cheios de gua. por esse
motivo que deve ser evitada a perda de gua dos capilares. Alem do mais, a gua
perdida internamente por autodessecao deve ser reposta com gua vinda de fora
do concreto, isto , deve-se tornar possvel a entrada de gua no concreto. Para o
fato de que no necessrio que todo o cimento se hidrate para que se consiga um
valor satisfatrio de resistncia, e na verdade, isso muito raramente conseguido na
prtica; como j foi mencionada, a qualidade do concreto depende
fundamentalmente da relao gel / espao da pasta. No entanto, se o espao
ocupado pelos produtos da hidratao, uma hidratao mais completa levar a uma
resistncia mais alta e a permeabilidade mais baixa.
Aps a moldagem os corpos de prova devem ser sazonados sob condies
padres at a idade do ensaio (Figura 4.17).De maneira geral as normas requerem
condies bastante prximas para a cura, sendo que a temperatura deve estar ao
redor de 23C e a umidade acima de 90%. A condio de umidade para a cura
importante, pois pode causar, segundo SCANDIUZZI (1986), queda no valor da
resistncia em mais de 10%.
Figura 4.17: Corpos-de-prova moldados e etiquetados.
75
Figura 4.18: Corpos-de-prova dentro da cmara mida do laboratrio da Unama.
4.2.3 Fatores que influem na resistncia
A uniformidade do concreto decorre da uniformidade apresentada pelos
agregados, o cimento e os aditivos usados, uma vez que cada um tem sua
contribuio na resistncia final obtida. Alm disso, a mistura do concreto derivada
de um processo mecnico de dosagem dos materiais, passvel de apresentar
disperso em torno de um valor mdio. A prpria betoneira utilizada e o tempo em
que a mistura permanece em movimento no seu interior tm influncia
preponderante no resultado obtido. H atualmente betoneiras de sistema
contracorrente de alta rotao que conseguem alterar a reatividade dos gros de
cimento e aumentar em mais de 10% a resistncia mdia compresso de um dado
concreto, mantidos os mesmos materiais e trao.
Por outro lado, disperso na coleta de exemplares, moldagem, cura,
capeamento e ruptura dos corpos-de-prova podem introduzir variaes na
resistncia que no correspondem a variaes no concreto da estrutura.
As operaes de controle devem ser rigorosamente constantes, a fim de no
prejudicar a avaliao real do processo de produo do concreto, objetivando
primordialmente do controle.
76
Na (Figura 4.19) apresenta-se a lista dos principais fatores responsveis pela
variabilidade da resistncia compresso indicando-se quantitativamente a mxima
variao que cada um poder causar na resistncia de controle de concreto. Est
submetido a que se trata de variabilidades normais geralmente encontradas em
materiais de mesmo tipo e procedncia. A troca de tipos de classe de cimento, erros
grosseiros na proporo dos materiais, na mistura ou nas operaes de ensaios no
est computados.
Figura 4.19: Principais fatores que influenciam o resultado da resistncia
compresso medida no ensaio de controle (HELENE, 1992).
77
5 DOSAGEM DO COMCRETO
A mistura do concreto tem por objetivo a obteno de um material homogneo
com todos os componentes bem distribudos em toda a massa do concreto.
Cada partcula de cimento deve entrar em contato com a gua, formando uma
pasta homognea que deve envolver todas as partculas de agregado, ligando-os e
preenchendo os vazios entre eles. Essa caracterstica da mistura poderia se
denominar efetividade ou integridade GIAMMUSSO, S. EUGNIO (199).
5.1 Mistura Mecanizada
O objetivo da mistura revestir a superfcie de todos os agregados com pasta
de cimento e juntar todos os ingredientes do concreto em uma massa uniforme; essa
uniformidade no deve ser alterada pela retirada do concreto da betoneira
(misturador). De fato, o mtodo de descarga uma das bases de classificao das
betoneiras. H diversos tipos. Nas betoneiras basculantes, a cmara de mistura,
denominada tambor, bscula para a descarga. No tipo fixo, o eixo da betoneira
sempre horizontal, e a descarga feita pela insero de uma calha no tambor ou
pela inverso do sentido de rotao do tambor. H, tambm, betoneiras do tipo
batedeira, semelhantes no modo de operar a uma batedeira de bolo; so as
chamadas betoneiras de ao forada ou contracorrente diferente das basculantes
inclinadas e fixas que se baseiam na queda livre do concreto NEVILLE (1982)
5.2 Uniformidade da Mistura
Em qualquer betoneira essencial que haja suficiente intercmbio de
materiais que entre as diversas partes do recipiente, de modo a se obter um
concreto uniforme (Figura 5.20). A eficincia da betoneira pode ser medida pela
variabilidade de mistura descarregada num nmero de recipientes sem interrupo
do fluxo de concreto. Deve-se ressaltar que o desempenho de uma betoneira
depende da consistncia da mistura e do tamanho mximo do agregado.
78
Figura 5.20: Mistura do concreto executada no laboratrio da Unama.
5.3 Tempo de mistura
importantes saber qual o tempo mnimo de mistura necessrio para se obter
um concreto com a composio uniforme e, conseqentemente, com a resistncia
satisfatria. Segundo NEVILLE (1982) esse tempo varia com o tipo de betoneira e, a
rigor, no o tempo de mistura, mas o nmero de rotaes da betoneira que
constitui o critrio de mistura adequada. No entanto, como existe uma velocidade
tima de rotao recomendada pelo fabricante do equipamento, nmero de rotaes
e o tempo de mistura so interdependentes.
Para uma mesma betonada existe uma relao entre tempo e uniformidade
de mistura. A (Figura 5.21) mostra dados tpicos da variabilidade representada como
o intervalo de variao da resistncia de amostra retirado de determinada mistura
aps um tempo de mistura especificado. Percebe-se que a taxa de crescimento cai
rapidamente aps um minuto, no havendo acrscimo significativo aps dois
minutos. O valor exato do tempo mnimo varia com o tipo de misturador e tambm
depende do seu tamanho.
79
Figura 5.21: Efeito do tempo de mistura sobre o concreto (GIAMMUSSO S.
EUGNIO, 1992).
Para NEVILLE (1982) no existem regras gerais para a ordem de
carregamento dos materiais, pois tais recomendaes dependem das propriedades
da mistura e do misturador. Geralmente, uma pequena quantidade de gua deve ser
colocadas primeiras, seguidas de todos os materiais slidos, de preferncia
carregamento uniforme e simultneo. Se possvel, a maior parte da gua deveria
tambm ser colocada ao mesmo tempo, lanando-se o resto da gua depois dos
slidos. No entanto, em algumas betoneiras de tambor, quando se usa uma mistura
muito seca, preciso colocar primeiro um pouco de gua assim como o agregado
grado, pois de outra maneira sua superfcie no seria suficiente molhada. Para
misturas muito rijas, algumas betoneiras de pequeno porte do tipo contracorrente,
acharam-se conveniente colocar primeiramente areia, uma parte do agregado
grado e cimento, depois, a gua e, finalmente, o restante do agregado grado, a
fim de desmanchar pelotas de argamassa que se formam durante a mistura.
80
5.4 Mtodo de Powers
5.4.1 Resistncia de dosagem
HELENE (1992), quando forem conhecidos os desvios-padro Sn das
resistncias determinado nos ensaios com corpo-de-prova da obra considerada ou
de outra obra cujo concreto tenha sido executado com o mesmo equipamento e
igual organizao e controle de qualidade, a resistncia de dosagem ser calculada
pela frmula:
Fcj = fck + 1,65.Sd Eq. 10
Sendo o desvio-padro de dosagem Sd determinado pela expresso:
Sd = Kn x Sn Eq. 11
Onde
Kn = fator majorador do desvio-padro em funo do nmero de exemplares e
/ ou ensaios dispostos na (Tabela 5.03).
Tabela 5.03: Valores de Kn para o nmero de ensaios correspondentes (HELENE,
1992).
n = 20 25 30 50 200
Kn = 1,35 1,30 1,25 1,20 1,10
Obs: no se tomar para Sd valor inferior a 2 MPa.
Se no for conhecido o desvio-padrao Sn, o construtor indicar, para efeito da
dosagem inicial, o modo como pretende conduzir a construo, de acordo com o
qual ser fixado o desvio-padro Sd pelo critrio abaixo.
a) Quando houver assistncia de profissional legalmente habilitado,
especializado em tecnologia do concreto, todos os materiais forem medidos
em peso e houver medidor de gua, corrigindo-se as quantidades de
agregados midos e de gua em funo de determinaes freqentes e
81
precisas do teor de umidade dos agregados, e houver garantia de
manuteno, no decorrer da obra, da homogeneidade dos materiais a serem
empregados:
Sd = 4 MPa
b) Quando houver assistncia de profissional legalmente habilitado,
especializado em tecnologia do concreto, o cimento for medido em peso e os
agregados em volume, e houver medidor de gua, com correo do volume
do agregado mido e da quantidade de gua em funo de determinaes
freqentes e precisas do teor de umidade dos agregados:
Sd = 5,5 MPa
c) Quando o cimento for medido em peso e os agregados em volume e houver
medidor de gua, corrigindo-se a quantidade de gua em funo da umidade
dos agregados simplesmente estimada:
Sd = 7,0 MPa
5.4.2 Determinao da resistncia do concreto
A determinao da resistncia do concreto dada a partir da Equao de
Abrams pela relao inversa do fator gua / cimento sobre a resistncia do concreto.
Fcj = A / B
^(a/c)
Eq. 12
Onde:
A e B so duas constantes que depende: da natureza dos materiais, da idade
do concreto e das condies de cura.
(a/c) a relao gua / cimento.
5.4.3 Teor de agregado (A%)
Um conceito se faz necessrio considerando a consistncia da mistura:
1) (gua / Cimento) / (Cimento + Agregado total)
82
Denominado (a/c) e A% de fator gua / cimento e gua / materiais secos,
respectivamente.
A% = (a/c) / (1 + m) Eq. 13
Ou
m = (100. (a/c) / A) - 1
5.4.4 Teor de argamassa seca
Os dois conceitos necessrios considerando massa so:
1) Argamassa seca = Cimento + Agregado mido
2) Teor de argamassa seca = Argamassa seca / (cimento + agregado total)
Denominado a e p respectivamente os teores de agregados mido e de agregado
grado, sendo # o teor de argamassa seca, tem-se:
m = a + p Eq. 14
# = (1 + a) / (1 + m) Eq. 15
5.4.5 Consumo de cimento
C = 1.000 / (1 / $
c
+ a / $
a
+ p / $
p
+ (a/c) / $
(a/c)
) Eq. 16
Onde
$
c
= massa especfica absoluta do cimento (3,14 kg / dm);
$
a
= massa especfica absoluta da areia;
$
p
= massa especfica absoluta do agregado grado;
$
(a/c)
= massa especfica da gua (1,0 kg / dm).
83
6 PESQUISA EXPERIMENTAL
Tendo como objetivo a dosagem de concreto convencional de consistncia
normal produzidos com materiais disponveis na Regio Metropolitana de Belm,
procedeu-se na execuo nos procedimento para a determinao da relao tima
dos agregados grados e midos do mtodo de dosagem de concreto de elevado
desempenho de OReilly Daz, Vitervo (1998).
6.1 Planejamento dos ensaios
Para a realizao deste trabalho, procedeu-se com a aquisio das amostras
nas concreteiras e em estncia.
Com a obteno das amostras demos incio a realizao dos ensaios de
caracterizao e da determinao da relao tima entre eles conforme o item 1.3.1
do captulo 1.
Aps a obteno das propores entre os materiais, os concretos foram
dosados nas seguintes relaes gua / cimento: 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60.
Para cada relao gua / cimento foram moldados 10 (dez) corpos-de-prova sendo 3
(trs) para serem rompidos aos 7 (sete) dias e 7 (sete) aos 28 (vinte e oito) dias. A
(Figuras 6.22) mostra um corpo-de-prova rompido, percebam a formao do cone de
ruptura evidenciando uma boa moldagem.
Figura 6.22: Corpo-de-prova rompido evidenciando formao do cone de ruptura.
84
Apesar da maioria dos corpos-de-prova terem como formao o cone de
ruptura, tivemos problemas de moldagem em alguns corpos-de-prova (Figura 6.23),
nos traos cujo abatimento foi inferior a 30 mm, devido o A% adotado que para as
baixas relaes gua / cimento comprometeu a moldagem. sabido que para cada
tipo de agregado adotamos um A% diferente conforme a necessidade de
trabalhabilidade da mistura e que o mesmo permaneceu constante para todas as
relaes gua / cimento adotada.
Figura 6.23: Ruptura paralela ao comprimento do corpo-de-prova.
85
6.2 Caracterizao dos materiais
6.2.1 Cimento
Foi utilizado um cimento que comercialmente facilmente encontrado na rea
metropolitana de Belm, o CP II-Z 32 da Nassau. bom lembrar que no houve
preferncia por marca de cimento.
BARATA, R. V. (1998), no seu trabalho sobre concreto de alta resistncia,
apresenta as caracterizaes qumicas, fsicas e mecnicas do cimento CP II-Z 32.
6.2.2 Agregado mido
BARATA (1998 apud BARATA, RGIS VICTOR, 1998, p.57) fala que o
agregado mido mais utilizado em Belm extremamente fino e proveniente de
jazidas de areias quartzosas localizadas dentro de um raio de aproximadamente
80km de Belm. Essa regio compreende os municpios de castanhal, Vigia, Santo
Antnio do Tau e os distritos de Americano, Mosqueiro e Vila do Ape.
Os agregados empregados no trabalho de pesquisa, uma parte foi doada pela
Di Brita e Polimix e a outra se encontrava no laboratrio de materiais da instituio.
Esses materiais so provenientes de Santo Antnio do Tau, Castanhal Km 21,
Santo Antnio do Tau, respectivamente. A (Figura 6.24) mostra os locais de
explorao dos agregados midos no estado do Par.
Percebam que nossos agregados midos so provenientes de regies bem
prximas capital, de forma que seu custo torna-o bastante acessvel para a
utilizao como agregado mido na dosagem de concreto.
86
Figura 6.24: Locais de explorao dos agregados midos no estado do Par
(MACAMBIRA, P. M. FECURY, 2001).
87
A seguir a (Tabela 6.04), (Tabela 6.05) e a (Tabela 6.06) mostra a
caracterstica do agregado mido usado pela Di Brita, Laboratrio e Polimix.
Tabela 6.04: Caracterstica do agregado mido areia (DI Brita)
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
4,80 0 0,00
2,40 2,51 0,25
1,20 17,09 1,96
0,60 100,10 11,97
0,30 298,80 41,85
0,15 431,65 85,02
Composio granulomtrica
Fundo 149,85 100,00
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica 1,20 mm NBR 7217
Mdulo de finura 1,41 NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,65 kg / dm NBR 9937
Materiais pulverulentos
Massa unitria, solta 1,89 kg / dm NBR 7251
Tabela 6.05: Caracterstica do agregado mido areia (Laboratrio)
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
4,80 0 0
2,40 0,05 0,05
1,20 2,921 2,971
0,60 7,876 10,847
0,30 52,947 63,794
0,15 34,582 98,376
Composio granulomtrica
Fundo 3,213 100,00
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica 1,20 mm NBR 7217
Mdulo de finura 1,76 NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,66 kg / dm NBR 9937
Materiais pulverulentos
Massa unitria, solta 1,88kg / dm NBR 7251
88
Tabela 6.06: Caracterstica do agregado mido areia (Polimix)
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
4,80
2,40
1,20
0,60
0,30
0,15
Composio granulomtrica
Fundo
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica NBR 7217
Mdulo de finura NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,66g / dm NBR 9937
Materiais pulverulentos
Massa unitria, solta 1,88kg / dm NBR 7251
No foram feitos os ensaios de caracterizao, do mdulo de finura e nem to
pouco determinou sua dimenso mxima caracterstica, pois esses materiais foram
utilizados para podermos determinar a relao tima dos agregados grados e
midos, ou seja, foram insuficientes para todos os ensaios, Anexo 4.
6.2.3 Agregado grado
Os agregados naturais encontrados no mercado da Construo Civil em
Belm so procedentes da regio Nordeste do Estado do Par, onde no h
disponibilidade de agregados de boa qualidade para a produo de concreto, com
raras excees. Constituem - se de seixos extrados de jazidas de solo arenoso ou
areno-argiloso, com partculas friveis e / ou a presena de elevados teores de
material pulverulento (argila e silte). A utilizao de pedra britada de granito
recomendada para a produo de concreto de alto desempenho, entretanto, a jazida
mais prxima de Belm localiza-se a aproximadamente 300km, do municpio de
Bragana, fato que torna muito restrito o uso desse agregado na capital BARATA
(1998 apud BARATA, R. V., 1998, p.58). A (Figura 6.25) mostra os locais de
explorao dos agregados grados no estado do Par. Percebam a distancia que
percorrida pelo agregado para chegar capital.
89
Figura 6.25: Locais de explorao dos agregados grados no estado do Par
(MACAMBIRA, P. M. FECURY, 2001).
90
O agregado grado utilizado na pesquisa, uma parte foi doada pala Di Brita e
Polimix e a outra foi adquirida. Os agregados fornecidos pela Di Brita foram: brita 0 e
brita 1 e brita 2 mas foram empregados apenas a brita 0 e brita 1. Os agregados
fornecidos pela Polimix foram seixo fino e seixo mdio. O agregado adquirido foi um
seixo fino lavado. So provenientes de Tracateua (prximo a Bragana), Ourn e
Ourn, respectivamente.
A seguir a (Tabela 6.07), (Tabela 6.08) e a (Tabela 6.09) mostra as
caracterstica do agregado grado da brita 0, brita 1 e o seixo fino lavado. Apesar de
no termos criado uma tabela de caracterizao do agregado proveniente da
concreteira Polimix foi feito o ensaio para determinao da sua massa especfica
cujos resultados constam no ANEXO 4.
Tabela 6.07: Caracterstica do agregado grado brita 0
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
9,52 8,4624 8,4624
6,35 52,1566 60,619
4,76 19,7170 80,336
2,40 19,6117 99,9324
1,20 0,0576 100,00
0,60 0 100,00
Composio granulomtrica
0,30 0 100,00
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica 9,52 mm NBR 7217
Mdulo de finura 1,89 NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,66g / dm NBR 9937
Abraso (Los Angeles) 62,60 % NB 170
91
Tabela 6.08: Caracterstica do agregado grado brita 1
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
12,7 83,83 83,83
9,52 14,20 98,03
6,35 1,84 99,87
4,76 0,13 100,00
2,40 0 100,00
1,20 0 100,00
Composio granulomtrica
0,60 0 100,00
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica 12,7 mm NBR 7217
Mdulo de finura 0,98 NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,62g / dm NBR 9937
Abraso (Los Angeles) 65,20 % NB 170
Tabela 6.09: Caracterstica do agregado grado seixo fino lavado
DETERMINAES VALORES OBTIDOS
MTODO
DE
ENSAIO
Porcentagem retida,
em massa
Abertura da
peneira
(ABNT (mm) Individual Acumulada
12,7 23,89 0,2389
9,52 759,51 7,834
6,35 2935,51 37,189
4,76 2097,59 58,165
2,40 3265,65 90,821
1,20 673,85 97,56
0,60 154,51 99,105
0,30 37,86 99,483
0,15 34,75 99,83
Composio granulomtrica
FUNDO 16,88 100,00
NBR 7217
Dimenses mx. caracterstica 12,70 mm NBR 7217
Mdulo de finura 5,53 NBR 7217
Massa especfica absoluta 2,60 kg /m NBR 9937
Abraso (Los Angeles) 47,30% NB 170
notvel a grande perda de material, quase 40% por parte da brita 0 e 35%
por parte da brita 1, uma vez que sua forma lamelar (Figura 6.26) tenha contribudo
para a acentuar esse desgaste. No seixo esse desgaste chegou a 53% que segundo
SOUZA, P. SERGIO (2007) a pouca resistncia deste material a este tipo de
92
solicitao, pode ser decorrente da sua friabilidade. Esta caracterstica no seixo
resultar em diminuio da durabilidade, da resistncia ao impacto e na dificuldade
quando da necessidade de obteno de altos valores de resistncia compresso
por parte do concreto.
importante citar que o parmetro normativo menor que 50% de perda
mxima de agregado, imposto pela norma NBR 6465 da ABNT (1984 apud SOUZA,
P. SERGIO, 2007, P.7), para concreto.
A (Figura 6.26) mostra as formas das diferentes graduaes do agregado
grado brita 0. interessante notar que a forma lamelar est presente em todas as
graduaes, o que fragiliza ainda mais esse material e limita a resistncia do
concreto.
Nota: O termo seixo fino lavado no quer dizer que o agregado foi coletado e
submetido a uma lavagem e sim que ele j era lavado no processo de obteno,
segundo o vendedor.
Figura 6.26: Granulometria do agregado grado brita 0.
93
6.3 Vazios, superfcie especfica e outros fatores que influem nas misturas dos
agregados.
Os valores da porcentagem de vazios obtidos nos ensaios realizados podem
ser expressos graficamente, o que possibilita a determinao mais adequada do
valor mnimo, a eliminao dos valores inexatos e estabelecer relaes com outros
fatores importantes do concreto.
Para desenhar os grficos, as propores das misturas dos agregados so
colocadas no eixo das abscissas e as porcentagens de vazios, no eixo das
ordenadas. A curva resultante representa a variao da porcentagem de vazios.
Primeiramente vamos proceder com a descriminao e interpretao dos
grficos dos agregados oriundos das concreteiras Di Brita, Polimix e do seixo fino
lavado, respectivamente.
6.3.1 Agregado Di Brita
O ponto mnimo da porcentagem de vazios, como fator determinante para
mistura tima dos agregados, muito significativo quando tratamos de determinar a
relao mtua entre os agregados grados e a areia (Figura 6.28). Mas se
determinamos por esse mtodo a composio tima entre os agregados grados
(antes de fazer as misturas com areia), os resultados no so to significativos e a
determinao da composio tima requer certos conhecimentos tericos e alguma
experincia prtica.
Pelo exemplo seguinte, desdobra-se o problema de forma simples, com uma
soluo facilmente aplicvel.
1 Passo. Elaboramos as misturas de brita 1 e brita 0 para todas as relaes
mtuas (a partir de 80% de brita 1), diminuindo gradualmente 5% de brita 1 e
aumentando desta porcentagem a brita 0, at obter 100% dela (Figura 6.27).
Observa-se que at a relao 35% de brita 0 e 65% de brita 1, o decrscimo
da porcentagem de vazios significativo, enquanto a partir do 35% at 45%
de brita 0 na mistura, o decrscimo muito pequeno e a partir de 45% at
100% de brita 0, a porcentagem de vazios volta a crescer.
94
Como se sabe, com o aumento dos agregados de menor dimenso, cresce
tambm a superfcie especfica da mistura dos agregados e aumenta a
quantidade de pasta de cimento requerida para envolver a superfcie total das
partculas. Por isso, selecionamos como relao tima, a de 35% de brita 0 e
65% de brita 1 (ponto 1 do grfico da Figura 6.27), e no a relao de 45% de
brita 0 e 30% de brita 1 (ponto 2), que tem a porcentagem mnima de vazios.
Estas misturas de agregados ensaiadas foram empacotadas em sacos
plsticos e devidamente armazenadas, para aproveit-las nos ensaios
posteriores.
2 Passo. Investigamos a quantidade tima de areia ao misturar esta, em vrias
propores, com a mistura dos agregados grados, composta de 35% de
brita 0 e 65% de brita 1. os resultados foram muito significativos, como mostra
o grfico da (Figura 6.28), em que o ponto timo da relao foi 45% de areia e
55% da mistura dos agregados grados. Para os ensaios posteriores,
utilizamos sempre como constante 45% de areia.
3 Passo. Para comprovar se a composio dos agregados grados obtida era a
tima, realizamos outra srie de ensaios, mantendo constantes as
quantidades de areia, cimento e gua, variando as propores dos agregados
grados, j citadas. Determinou-se primeiro o abatimento pelo tronco de cone
e, posteriormente foi desenhado o grfico da (Figura 6.29). Adotou-se para
relao gua / cimento (a/c) = 0,40 e para A% = 10,50 conforme o ANEXO 4.
Com essas mesmas misturas moldaram-se corpos-de-prova normalizados,
para ruptura compresso aos 28 dias, e com os resultados desenhou-se o
grfico da (Figura 6.30).
A relao tima entre a brita 0 e a brita 1 foi selecionada segundo os
requisitos bsicos que exigem os concretos, ou seja, visando :
q Maior compacidade possvel; isto se consegue com a mxima quantidade de
agregados e a porcentagem mnima de vazios. A mxima compacidade
garante melhores propriedades mecnicas do concreto, inclusive a
95
impermeabilidade, que se obtm com a mnima quantidade de pasta de
cimento;
q Melhor trabalhabilidade possvel nas condies dadas;
q Mxima resistncia compresso nas condies dadas.
Pelos resultados dos ensaios de comprovao realizados, representados nos
grficos das (Figuras 6.29 e 6.30), podemos deduzir que a relao de 30% de brita 0
e 70% brita 1 a tima relao para esta jazida, porque:
q Apresentou a maior resistncia uma vista que a trabalhabilidade da mistura
de concreto (Figura 6.29) decresce medida que se aumenta quantidade de
brita 0 (ponto 2). No entanto, os concreto foram dosados com 35% de brita 0
e 65% de brita 1, o que provocou uma perda de resistncia de 0,55 MPa.
(ponto 1);
Como os resultados da (Figura 6.29) no iriam ficar pronto a tempo para
podermos analisar e decidir pelo melhor pacote, tomou-se a deciso de dosar os
concreto com 35% de brita 0 e 65% de brita 1, o que provocou uma perda de
resistncia de 0,55 MPa (ponto 1).
96
Figura 6.27: Relao da composio dos agregados grados e a porcentagem de
vazios
Figura 6.28: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios.
97
Figura 6.29: Relao da composio dos agregados e a trabalhabilidade do concreto
fresco.
Figura 6.30: Relao da resistncia do concreto e a composio dos agregados.
98
6.3.2 Agregado Polimix
O ponto mnimo da porcentagem de vazios, como fator determinante para
mistura tima dos agregados, muito significativo quando tratamos de determinar a
relao mtua entre os agregados grados e a areia (Figura 6.32). Mas se
determinamos por esse mtodo a composio tima entre os agregados grados
(antes de fazer as misturas com areia), os resultados no so to significativos e a
determinao da composio tima requer certos conhecimentos tericos e alguma
experincia prtica.
Pelo exemplo seguinte, desdobra-se o problema de forma simples, com uma
soluo facilmente aplicvel.
4 Passo. Elaboramos as misturas de s.mdio e s.fino para todas as relaes
mtuas (a partir de 80% de s.mdio), diminuindo gradualmente 5% de
S.mdio e aumentando desta porcentagem s.fino, at obter 100% dela
(Figura 6.31). Observa-se que at a relao 35% de s.fino e 65% de s.mdio,
o decrscimo da porcentagem de vazios significativo, enquanto a partir do
35% at 45% de s.fino na mistura e a partir de 45% at 100% de s.fino, a
porcentagem de vazios volta a crescer.
Como se sabe, com o aumento dos agregados de menor dimenso, cresce
tambm a superfcie especfica da mistura dos agregados e aumenta a
quantidade de pasta de cimento requerida para envolver a superfcie total das
partculas. Por isso, selecionamos como relao tima, a de 35% de s.fino e
60% de s.mdio (ponto 1 do grfico da Figura 6.31), e no a relao de 45%
de s.fino e 65% de s.mdio (ponto 2), que tem a porcentagem mnima de
vazios. Estas misturas de agregados ensaiadas foram empacotadas em
sacos plsticos e devidamente armazenadas, para aproveit-las nos ensaios
posteriores.
5 Passo. Investigamos a quantidade tima de areia ao misturar esta, em vrias
propores, com a mistura dos agregados grados, compostos de 35% de
s.fino e 65% s.mdio. Os resultados foram muito significativos, como mostra o
grfico da (Figura 6.32), em que o ponto timo da relao foi 35% de areia e
65% da mistura dos agregados grados. Para os ensaios posteriores,
utilizamos sempre como constante 35% de areia.
99
Infelizmente no foi possvel prosseguir com os ensaios, pois os materiais
coletados foram insuficientes para o prosseguimento da pesquisa.
Figura 6.31: Relao da composio dos agregados grados e a porcentagem de
vazios
Figura 6.32: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios.
100
6.3.3 Agregado Seixo Fino Lavado
Como se tratava apenas de um agregado grado, prosseguimos para o 6
passo como mostra a (Figura 6.33).
6 Passo. Investigamos a quantidade tima de areia ao misturar esta, em vrias
propores, com os agregado grado (Figura 6.33), em que o ponto timo da
relao foi 30% de areia e 70% de agregado.
Com essas mesmas misturas foram moldadas corpos-de-prova normalizados,
para ruptura compresso aos 28 dias.
q Maior compacidade possvel; isto se consegue com a mxima quantidade de
agregados e a porcentagem mnima de vazios. A mxima compacidade
garante melhores propriedades mecnicas do concreto, inclusive a
impermeabilidade, que se obtm com a mnima quantidade de pasta de
cimento;
q Melhor trabalhabilidade possvel nas condies dadas;
q Mxima resistncia compresso nas condies dadas.
Figura 6.33: Relao da composio dos agregados grados e midos, e a
porcentagem de vazios.
101
evidente que no se pode aplicar mecanicamente a regra da porcentagem
mnima de vazios nas misturas dos agregados, mas deve-se levar em conta os
outros fatores no menos importante, que influenciam na qualidade do concreto.
Resumidamente o Mtodo de OREILLY DAZ trata da dosagem de concreto
levando em considerao no s a resistncia compresso, mas tambm a
trabalhabilidade da mistura. Como varivel de sada ele nos d o teor de agregado
mido / agregado total e a proporo entre os agregados grados que so definidos
pelas relaes:
%P = a / m; %P
m
= P
1
/ (m a); P
2
= (1 - %P + %P
m
).m Eq. 17
Sendo;
%P = porcentagem de areia preestabelecida nos ensaios;
%P
m
= porcentagem de brita 0 preestabelecida nos ensaios;
a = agregado mido (areia);
P
1
= agregado grado (brita 0);
P
2
= agregado grado (brita 1);
m = agregado total (trao).
Deste modo fica mais fcil de se dosar o concreto, pois o Mtodo de Power
tem como incgnitas duas variveis: o # (teor de argamassa) e o A% - (gua /
materiais secos).
6.4 Consideraes sobre as dosagens dos concretos
Aps ser determinado o percentual de areia a ser utilizado para cada tipo de
agregado determinou-se os teores de argamassas, o consumo de cimento para cada
relao gua / cimento. Para isso foi preciso, primeiramente, estabelecer o A% (a
consistncia do concreto) dos traos para os diversos agregados.
Conseqentemente houve uma variao da trabalhabilidade do concreto, em funo
do ter de argamassa e gua de dosagem, que determinada pelo slump test
(abatimento do tronco de cone). A seguir as (Tabelas 6.10) e (Tabela 6.11) mostram
102
os teores de argamassas, o consumo de cimento, o abatimento do concreto e com
seus respectivos traos.
q Agregado pedra britada (Di Brita)
Considerando o A% = 10, 65 e a/c = 0, 35, teremos:
m = (100. (a/c))/A 1
m = (100. (0,35))/10,65 1
m = 2,286 kg
Com o valor pr-determinado de a = 0,45. m, temos:
# = (1+ a) / (1+ m)
# = (1+ 0,45. m) / (1+m)
# = (1+ 0,45. 2,286) / (1+2,286)
# = 0,617
No Item 6.2 so determinados os valores das massas especficas dos
agregados midos e grados. Assim o consumo de cimento pode ser determinado
pela seguinte expresso:
C = 1.000 / (1 / $
c
+ a / $
a
+ p / $
p
+ (a/c) / $
(ag)
)
C = 1000 / (1 / 3,14+1,0287/2,65+0,440055/2,66+0,817245/2,62+0,35/1,00).
C = 651,88 kg de cimento
Tabela 6.10: Trao do concreto, teor de argamassa, consumo de cimento e
abatimento do concreto para cada relao gua / cimento (Di Brita).
a/c 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
m 2,286 2,756 3,225 3,695 4,164 4,634
# 0,617 0,596 0,580 0,567 0,557 0,548
C 651,88 567,54 502,63 450,96 408,98 374,19
Ab 12,0 34,0 51,0 70,0 100,0 151,0
103
q Agregado seixo fino lavado
Considerando o A% = 9,50 e a/c = 0, 35, teremos:
m = (100. (a/c))/A 1
m = (100. (0,35)) / 9,50 1
m = 2,684 kg
Com o valor pr-determinado de a = 0,30. m, temos:
# = (1+ a) / (1+ m)
# = (1+ 0,30. m) / (1+m)
# = (1+ 0,30. 2,684) / (1+2,684)
# = 0,490
No Item 6.2 so determinados os valores das massas especficas dos
agregados midos e grados. Assim o consumo de cimento pode ser determinado
pela seguinte expresso:
C = 1.000 / (1 / $
c
+ a / $
a
+ p / $
p
+ (a/c) / $
(ag)
)
C = 1000 / (1 / 3,14 + 0,8052/2,65 + 1,8788/2,60 + 0,35/1,00).
C = 590,39 kg de cimento
Tabela 6.11: Trao do concreto, teor de argamassa, consumo de cimento e
abatimento do concreto para cada relao gua / cimento (Seixo Fino Lavado).
a/c 0,35 0,40 0,45 0,50 0,55 0,60
m 2,684 3,211 3,737 4,263 4,789 5,316
# 0,490 0,465 0,448 0,433 0,421 0,411
C 590,39 514,11 455,36 408,67 370,65 339,07
Ab 10 27 42 51 68 78
Com o aumento da relao gua / cimento ocorre um aumento do trao (m) e
no abatimento do concreto, pois se manteve constante o A%. Entretanto, houve um
decrscimo no teor de argamassa e no consumo de cimento (Tabela 6.10) e (Tabela
104
6.11). Vale ressaltar que a proporo entre os agregados (pacote) continua a
mesma, mas com a diminuio do teor de argamassa corre-se o risco, com o
aumento da relao gua / cimento, de segregao da mistura, pois h um excesso
de gua de amassamento, considerando que a menor quantidade de gua
necessria para a hidratao do cimento 0,23% de sua massa. Caso tenha-se
necessidade, pode-se aumentar o teor de argamassa para manter uma
trabalhabilidade adequada em funo do tipo de elemento estrutural a executar e
para evitar possvel segregao do concreto. Porm, no foram observados
problemas quanto segregao do concreto.
Na determinao do consumo de cimento no se considerou a porcentagem
de vazios incorporados mistura do concreto o que poderia nos levar a um menor
consumo de cimento. Nos trabalhos de JNIOR e JNIOR (2006), o teor de ar
incorporado durante a mistura foi de 3,3% na fabricao de um concreto com fck de
35MPa contendo 0,25% de aditivo superplastificante e para um abatimento de 140
mm. J no concreto de 40MPa contendo 0,20% de aditivo superplastificante para um
abatimento de 140 mm foi observado apenas 3,2% o que nos leva a concluir que
quanto maior for resistncia do concreto menor ser o percentual de ar
incorporado na mistura dado s mesmas circunstncias, ou seja, quanto menor for a
relao gua / cimento menor ser o percentual de ar incorporado e maior ser a
resistncia do concreto. Da mesma forma pode-se dizer que os concretos que
tiverem o melhor proporcionamento (pacote entre os agregados) tambm tero
melhores propriedades.
Nos traos de seixo fino lavado tivemos uma melhora da trabalhabilidade em
funo granulometria contnua por parte dos agregados e pelo fato de que o
agregado grado possuir mais de 40% de areia grassa ocasionando um menor
consumo de gua.
105
7 ANLISE DOS RESULTADOS
Aps a obteno dos resultados dos ensaios de resistncia a compresso do
concreto ANEXO 1, foram testadas 10 (dez) funes cuja finalidade principal era
correlacionar a resistncia compresso do concreto com a relao gua / cimento
aos 7 e 28 dias possibilitando a determinao matematicamente dos parmetros A =
k
1
e B = k
2
do Mtodo de Power para os diversos tipos de agregados levando em
considerao a maturidade do concreto. Assim, determinamos para cada funo seu
coeficiente de explicao e sua projeo para podermos avaliar seu comportamento
com os dados reais possibilitando a determinao da que melhor se ajustam a eles.
Foram utilizadas as seguintes funes:
1) Funo Potncia (curva geomtrica) Z = x
(
-
)
2) Funo Hiperblica ou Inversa Z = x / ( x - )
3) Funo Exponencial Z = .e
(.x)
4) Funo Logartmica Z = + .ln (x)
5) Funo Exponencial (Lei de Abrams) Z = .
(-x)
6) Funo Hiprbole ou Inversa (Lei de Bolomey) Z = / x +
7) Funo Hiprbole ou Inversa (Lei de Lise) Z = + / x
8) Funo Logstica Z = e
+ .x
/ (1 + e
+ .x
).
9) Funo Hiprbole ou Inversa Z = 1/ ( + x)
10) Funo Inversa, Logartmica Z = e
( + / x)
106
Alm dessas foram utilizadas a funo polinomial (parbola do 2 grau) para a
determinao da proporo entre os materiais e a funo linear para a correlao
dos traos de concreto com suas respectivas relaes gua / cimento. Com base na
(Tabela 6.10) e (Tabela 6.11) construiu-se os diagramas de dosagens dos concretos
para cada tipo de agregado definindo a curva de resistncia do concreto, do
consumo de cimento, do trao e do abatimento.
No ANEXO 2 esto suas respectivas transformaes e com elas o
desenvolvimento do mtodo de Mnimo Quadrado que serviu de suporte para a
determinao de seus coeficiente. No ANEXO 4 foi construdo uma tabela, para
cada funo, com o objetivo de facilitar os clculos e a obteno dos resultados das
regresses.
Aps efetuarmos a construo do grfico de disperso e realizarmos as
regresses das funes, procedemos com o teste de melhoramento das funes
que consistia em eliminar os pontos reais que apresentavam grande disperso e / ou
variao devido os fatores que influem na resistncia do concreto. Vale ressaltar que
esse melhoramento no consiste na manipulao dos resultados obtidos e sim na
adequao curva de resistncia do concreto.
Assim, os resultados da pesquisa foram divididos em dois grupos:
q Resistncia do concreto aos 7 dias
Para o seixo rolado levando em considerando mdia dos resultados da
resistncia compresso do concreto ANEXO 1, a funo que melhor se ajustou foi
a 9 funo como mostra a (Figura 7.34) conforme ANEXO 3. Nela esto contidos o
coeficiente de explicao e a funo de regresso com sua respectiva projeo, no
eixo da abscissa as relaes gua / cimento, no eixo da coordenada as resistncia
do concreto. No foi possvel fazer o melhoramento, pois os resultados estavam
dispersos e no havia uma tendncia ntida a curva de resistncia do concreto. Alm
do mais, corria-se o risco da manipulao dos resultados.
107
Figura 7.34: Resistncia mdia aos 7 dias para seixo fino lavado
Para a pedra britada levando em considerando mdia dos resultados da
resistncia compresso do concreto ANEXO 1, a funo que melhor se ajustou foi
a 10 funo como mostra a (Figura 7.35) conforme ANEXO 3. Nela esto contidos o
coeficiente de explicao e a funo de regresso com sua respectiva projeo, no
eixo da abscissa as relaes gua / cimento, no eixo da coordenada as resistncia
do concreto. Aps a elaborao do diagrama de disperso, percebemos que
poderamos efetuar o melhoramento com a eliminao do ponto (0,50; 26,04), pois
se apresentava disperso em relao curva de resistncia do concreto. Percebemos
que aps efetuarmos o melhoramento dos dados, os coeficientes de explicao das
funes tiveram uma melhora significativa como mostra a (Tabela 7.12). Apesar de o
coeficiente de explicao da 2 funo ter uma melhora de pouco mais de 20% sua
projeo no se adequou perfeitamente aos resultados reais.
108
Figura 7.35: Resistncia mdia aos 7 dias para pedra britada.
Tabela 7.12: Coeficientes de explicao das funes (pedra britada aos 7 dias).
q Resistncia do concreto aos 28 dias
Para o seixo fino lavado levando em considerando a mxima resistncia
compresso do concreto ANEXO 1, a funo que melhor se ajustou foi a 6 funo
como mostra a (Figura 7.36) conforme ANEXO 3. Nela esto contidos o coeficiente
de explicao e a funo de regresso com sua respectiva projeo, no eixo da
109
abscissa as relaes gua / cimento, no eixo da coordenada as resistncia do
concreto. No foi possvel fazer o melhoramento, pois os resultados estavam
dispersos e no havia uma tendncia ntida a curva de resistncia do concreto.
Alm do mais, havia o risco da manipulao dos resultados. Apesar da 8 funo ter
como coeficiente de explicao igual R = 0, 9561, a resistncia compresso do
concreto no constitui uma reta e sim uma curva bem acentuada em funo do
decrscimo da relao gua / cimento.
Figura 7.36: Resistncia mdia aos 28 dias para seixo fino lavado.
Para a pedra britada levando em considerando a mxima resistncia
compresso do concreto ANEXO 1, a funo que melhor se ajustou foi a 6 funo
como mostra a (Figura 7.37) conforme ANEXO 3. Nela esto contidos o coeficiente
de explicao e a funo de regresso com sua respectiva projeo, no eixo da
abscissa as relaes gua / cimento, no eixo da coordenada as resistncia do
110
concreto. Aps a elaborao do diagrama de disperso, percebemos que
poderamos efetuar o melhoramento com a eliminao dos pontos (0,35; 38,05) e
(0,40; 29,72), pois se apresentava disperso em relao curva de resistncia do
concreto devido a problemas de moldagem. Percebemos que aps efetuarmos o
melhoramento dos dados, os coeficientes de explicao das funes tiveram uma
melhora significativa como mostra a (Tabela 7.13). Apesar de o coeficiente de
explicao da 2 e 10 funo ter uma melhora de 23% sua projeo no se
adequou perfeitamente aos resultados reais.
Figura 7.37; Resistncia mdia aos 28 dias para pedra britada.
Tabela 7.13: Coeficientes de explicao das funes (pedra britada aos 28 dias).
111
7.1 Diagrama de dosagem
Com base nos dados apresentados na (Tabela 6.10) e (Tabela 6.11) e no
ANEXO 3, prosseguiu-se na plotagem do diagrama de dosagem para a pedra
britada e o seixo fino lavado conforme a (Figura 7.38, 7.39, 7.40 e 7.41).
q Diagrama de dosagem para o seixo rolado (trao).
Figura 7.38: Diagrama de dosagem do concreto para o trao com o emprego do
seixo fino lavado.
112
q Diagrama de dosagem para o seixo fino lavado (abatimento).
Figura 7.39: Diagrama de dosagem do concreto para o abatimento com o emprego
do seixo rolado.
113
q Diagrama de dosagem para a pedra britada (trao).
Figura 7.40: Diagrama de dosagem do concreto para o trao com o emprego da
pedra britada.
114
q Diagrama de dosagem para a pedra britada (abatimento).
Figura 7.41: Diagrama de dosagem do concreto para o abatimento com o emprego
da pedra britada.
115
7.2 Resumo dos resultados
Aps analisarmos todas as funes e determinar as melhores correlaes,
fizemos a (Tabela 7.14) e (Tabela 7.15) com os resultados dos coeficientes das
funes determinadas comparando-os com os da equao de Abrams para a pedra
britada e seixo fino lavado.
Tabela 7.14: Coeficientes das funes (pedra britada).
Funes
Abrams Abrams 10 6
Coeficientes
7 28 7 28
A 48,8130 80,2474 2,4809 15,7540
B 4,3920 7,0315 0,3207 -1,3493
Tabela 7.15: Coeficientes das funes (seixo fino lavado).
Funes
Abrams Abrams 9 6
Coeficientes
7 28 7 28
A 56,1633 64,9525 0,0078 9,7446
B 5,2848 4,5094 0,0672 10,8308
7.3 Clculo dos traos de concreto com emprego do Mtodo de Power.
Sero considerados para efeito de dosagem os coeficientes da equao de
Abrams, concreto com resistncia medida aos 28 dias e executado em central.
1 Trao 30 MPA
fck = 30 MPa Sd = 4,0
fcj = fck + 1,65.Sd
fcj = 30 + 1,65.4,0
fcj = 36,60 MPa
116
fcj = A / B^x
36,60 = 80,2474 / 7,3015^x
Logaritmando temos:
log (36,60) = log (80,2474) log (7,3015).x
1,5635 = 1,9044 0,8634.x
1,5635 1,9044 = -0,8634.x
x = 0,3409 / 0,8634
x = 0,395
Teor de agregado:
Considerando (A% = 11) temos
m = (100. x)/A - 1
m = (0,39. 100)/11 - 1
m = 2,545 kg
Teor de argamassa:
Considerando a = 45%. m
# = (1+ a) / (1+ m)
# = (1+ 0,45. m) / (1+m)
# = (1+ 0,45. 2,545) / (1+2,545)
# = 0,605
Areia
a = 0,45. m
a = 0,45. 2,545
a = 1,145 kg
Pedra
m = a + p
p = m a
p = 2,545 1,145
p = 1,40 kg
b
0
= 0,35. p
b
0
= 0,35 . 1,40
b
0
= 0,490 kg
b
1
= 0,65. p
b
1
= 0,65. 1,40
b
1
= 0,910 kg
Trao unitrio
1: 1,145: 0,490: 0,910: 0,39.
117
Consumo de cimento
C = 1.000 / (1 / $
c
+ a / $
a
+ p / $
p
+ (a/c) / $
(ag)
)
C = 1000 / [(1/3,14) + (1,145/2,65) + (0,490/2,66) + (0,910/2,62) + (0,39/1)]
C = 598,05 kg de cimento.
8 CONSIDERAES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo determinar as constantes do Mtodo de
Power. Para isso foi preciso a realizao de regresso pelo mtodo de Mnimo
Quadrado ajustando a equao de Abrams aos resultados dos rompimentos dos
corpos-de-prova aos 7 dias e 28 dias.
8.1 Concluses
Graficamente ficou evidencia de que o melhor pacote conduz a mxima
resistncia para um mesmo fator gua / cimento.
Tivemos problemas de moldagem para os concretos que tiveram abatimento
inferior a 30 mm.
Apesar da equao de Abrams no obter a melhor correlao para os
resultados da pesquisa, ainda continua sendo uma boa opo para futuros estudos.
A melhor proporo para a pedra britada 30% de brita 0 e 70% de brita 1
considerando 45% de areia no trao.
A melhor proporo para seixo fino lavado e areia foi a de 30% de areia e
70% de agregado.
118
No foi observado problema quanto segregao do concreto, apesar de
estarmos trabalhando com o percentual mnimo de areia.
Os agregados grados no interferiram negativamente na evoluo da
resistncia a compresso do concreto aos 7 dias, pois representavam mais 75% da
resistncia do concreto aos 28 dias.
8.2 Sugestes para futuras pesquisas
Como sugesto gostaria que fossem investigados profundamente os
resultados principalmente no que tange na anlise de varincia das funes
estudadas.
Temos que ampliar mais nosso conhecimento a respeito do comportamento
das propriedades do concreto, para isso ter que fazer um novo estudo com os
mesmos materiais e com outros, para que possamos aprimorar e melhorar essa
tcnica.
Temos que determinar para os outros agregados da Regio Metropolitana de
Belm os valores das constantes de Power.
Deve-se continuar com os estudos para com os agregados utilizados pela
Polimix.
Deve-se definir novamente o percentual mnimo de areia para os agregados
da Di Brita, pois a melhor proporo entre eles foi 30% de brita 0 e 70% de brita 1 e
no 35% de brita 0 e 65% de brita 1 como foi adotado.
Deve-se aumentar o nmero de exemplares para aumentar nosso universo
amostral para a obteno dos parmetros A e B, estatisticamente, mais confiveis.
Para isso deve-se aumentar o nmero de traos (mnimo trs) para cada relao
119
gua / cimento adotada, tirando 6 (seis) corpos-de-prova (CPs) de cada trao sendo
3 (trs) para serem rompidos aos 7 dias e 3 (trs) para serem rompidos aos 28 dias.
Descartam-se os CPs que alcanarem as menores resistncias de cada traos e
tira-se a mdia dos trs maiores resultados para 7 e 28 dias.
REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Agregado Determinao
da composio granulomtrica: NBR 7217. Rio de Janeiro, 1987.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Agregado em estado
compacto e seco Determinao da massa unitria: NBR 7810. Rio de Janeiro,
1982.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Agregado em estado solto
Determinao da massa unitria: NBR 7251. Rio de Janeiro, 1982.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Agregado - Determinao
da massa especfica de agregados midos por meio do Frasco de Chapman: NBR
9776. Rio de Janeiro, 1987.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Agregado para concreto:
NBR 7211. Rio de Janeiro, 1983.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Cmaras midas para cura
de corpos de prova de cimento: NBR 9479. Rio de Janeiro, 1986.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Cimento Portland
Determinao da resistncia compresso: NBR 7215. Rio de Janeiro, 1991.
120
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Concreto Determinao da
consistncia pelo abatimento no tronco de cone: NBR 7223. Rio de Janeiro, 1982.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Controle tecnolgico de
materiais componentes do concreto: NBR 12654. Rio de Janeiro, 1992.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Confeco e cura de corpos
de prova de concreto cilndricos ou prismticos: NBR 5738. Rio de Janeiro, 1984.
ASSOCIAO BRASILEIRA DE NORMAS TCNICAS. Ensaios de compresso de
corpos de prova cilndricos de concreto: NBR 5739. Rio de Janeiro, 1980.
ANDRADE, J. J. OLIVEIRA. Avaliao das Caractersticas Mecnicas e da
Durabilidade ao Ataque Qumico de Diferentes tipos de Cimento Portland. Revista de
Inicieo Cientfica da ULBRA n 2 2003.
ARAJO, JOS MILTON. Curso de Concreto Armado por Jos Milton de Arajo.
Rio Grande: Dunas, 2003. v2. 2 ed.
BARATA, RGIS VICTOR. Contribuio ao estudo das propriedades mecnicas de
concretos de alta resistncia com a utilizao de materiais comumente encontrados
na rea metropolitana de Belm. Belm: Trabalho de Concluso de Curso, Unama,
1998.
BAUER. FALCO L. A. Materiais de Construo. Rio de Janeiro: Livros Tcnicos e
Cientficos, 1987.
BUSSAB, WILTON OLIVEIRA, 1940. Anlise de Varincia e de Regresso: mtodos
quantitativos por Wilton de Oliveira Bussab. 2 ed. So Paulo: Atual, 1988.
CARDOSO, MAXIMO FRANCISCO SILVA. Dosagem de concretos. Rio de Janeiro,
1976.
121
DEMTRIOS, C. A. M. SANTOS e TRANCREDI, J. A. LIMA. Concreto de Ps
Reativos. - Belm: Trabalho de Concluso de Curso, Unama, 2003.
FONSECA, JAIRO SIMON, 1938. Estatstica Aplicada por Jairo Simon da Fonseca,
Gilberto de Andrade Martins e Geraldo Luciano Toledo. 2 ed. So Paulo: Atlas,
1985.
GIAMMUSSO, SALVADOR EUGNIO, 1926. Manual do Concreto por Salvador
Eugnio Giammusso. So Paulo: Pini, 1992.
GIAMMUSSO, SALVADOR EUGNIO. Preparo do Concreto. 2 ed. So Paulo:
Atual, 1983.
HANAI, JOO BENTO, 1949. Construes de Argamassa Armada: fundamentos
tecnolgicos para projeto e execuo por Joo Bento Hanai. So Paulo: Pini,
1992.
HELENE, PAULO R. L., 1949. Manual de Dosagem e Controle do Concreto por
Paulo Helene, Paulo Terzian. So Paulo: Pini, 1992.
JOHNSTON, J. Mtodos Economtricos por J. Johnston; traduo Seiko Kaneko
Endo. 1 ed. So Paulo: Atlas, 1971.
LOBO CARNEIRO, FERNANDO LUIZ. Dosagem de Concretos. 2 ed. Rio de
Janeiro, 1953.
MACAMBIRA, PAULO MARCELO FECURY. O Concreto em Belm do Par: uma
viso analtica de seus componentes, mo-de-obra e patologias. Belm: Trabalho
de Concluso de Curso, Unama, 2001.
MEHTA, POVINDAR KUMAR. Concreto: estrutura, propriedades e materiais por
Povindar Kumar Mehta, Paulo J. M. Monteiro. So Paulo: Pini, 1994.
122
NEVILLE, ADAM MATTHEW, 1923. Propriedade do Concreto por Adam M. Neville;
traduo Salvador Eugnio Giammusso. So Paulo: Pini, 1982.
OREILLY DAZ, VITERVO, 1932. Mtodo de Dosagem de Concreto de Elevado
Desempenho por Vitervo OReilly Daz; tarduo Avelino Aparecido de Pdua,
Leonel Tula Sanabria, Nelson Daz Brito. So Paulo: Pini, 1998.
PETRUCCI, ELADIO G. R., 1922 1975. Concreto de Cimento Portland por Eldio
G. R. Petrucci. 11 ed. Rio de Janeiro: Globo, 1987.
SCANDIUZZI, LURCIO, 1946. Concreto e seus Materiais: propriedade e ensaios
por Lurcio Scandiuzzi, Francisco Rodrigues Andriolo. So Paulo: Pini, 1986.
SOUZA, PAULO SERGIO LIMA. Estudo das propriedades dos agregados grados
naturais, usados na produo de concreto e disponveis na Regio Metropolitana de
Belm. ANAIS DO 49 CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO. Ibracon, 2007.
SOUZA, PAULO SERGIO LIMA. Levantamento das caractersticas fsicas dos
agregados midos disponveis na Regio Metropolitana de Belm. ANAIS DO 49
CONGRESSO BRASILEIRO DO CONCRETO. Ibracon, 2007.
123
ANEXO 2
124
1.Anlise de Regresso: Mtodo de Mnimo Quadrado
1.1 Introduo Gnese do Modelo de Regresso
Para Fonseca, J Simon (1985), para conhecermos a finalidade e a utilizao
do modelo de regresso, ir compor uma srie de conjuntos de variveis. Utilizando
simplesmente a intuio, ser conveniente examina o comportamento (grandeza,
mdia e variao) de cada varivel do conjunto, bem como tentar formar idia da
existncia da relao funcional entre as variveis. Assim,
A = {peso e altura};
B = {preo de residncias e idade das residncias};
C = {gastos da famlia; nmero de dependente; renda};
E = {fator gua / cimento e resistncia a compresso axial}.
Mesmo no tendo conhecimento de algumas variveis enunciadas,
acreditamos que, de maneira geral, gostaramos de encontrar alguma forma de
medir a relao entre as variveis de cada conjunto, de tal modo que essa medida
pudesse mostrar:
q Se h relao entre as variveis e, caso afirmativo, se fraca ou forte;
q Que, se essa relao existir, estabeleceremos um modelo que interprete a
relao funcional existente entre as variveis;
q Que, construdo o modelo, us-lo para fins de predio.
Para atingirmos tais objetivos, desenvolveremos a Anlise de Regresso, que
se constitui num conjunto de mtodos e tcnicas para o estabelecimento de frmulas
empricas que interpretem a relao funcional entre variveis com boa aproximao.
Suponhamos que Y seja uma varivel que nos interessa estudar e prever seu
comportamento. de se esperar que os valores da varivel Y (dependente) sofram
influncia dos valores de um nmero finito de variveis: X1, X2, ..., Xn
(independente) e que exista uma funo g que expresse tal dependncia, ou seja:
Y = g(X1, X2, ..., Xn) Eq.(01)
125
fcil perceber que se torna impraticvel a utilizao das n variveis, ou por
desconhecimento dos valores de algumas ou pela dificuldade de mensurao e
tratamento de outras. Portanto, utilizaremos um nmero menor de variveis (k) e
nosso modelo ficar:
Y = f(X1, X2, ..., Xk) + h( Xk+1, Xk+2, ..., Xn) Eq.(02)
Todas as influncias das variveis Xk+1, Xk+2, ..., Xn, sobre as quais no
exercemos controle, sero consideradas como casuais, e associaremos uma
varivel aleatria U, obtendo o seguinte modelo de regresso:
Y = f(X1, X2, ..., Xk) + U Eq.(03)
Onde f(X1, X2, ..., Xk) ser a componente funcional do modelo e U a parte aleatria.
Comentrios:
1) A distino entre variveis dependentes e variveis independentes ou
variveis de controle nem sempre muito clara, e algumas vezes
depende de nossos objetivos. Entretanto, na prtica, os papis das
variveis so em geral facilmente caracterizados.
2) Apesar de a expresso varivel de controle ser padronizada, no deve
ser interpretada literalmente. muito difcil na pratica a ocorrncia de
situaes onde a varivel independente esteja rigorosamente sob
controle, isto , no esteja sujeita a erros. Na maioria dos casos,
contudo, suficiente a hiptese de que exata, considerando-se
dessa maneira erros (disperses) somente na varivel aleatria Y.
1.2 Problema da Anlise de regresso
1) O problema da Especificao do Modelo
Sabemos que k variveis influenciam a varivel dependente Y. o problema
determinar a forma pela qual essas variveis exercem tal ascendncia, ou seja,
encontrarmos a relao entre Y e X1, X2, ..., Xk. Detalhando ainda mais: qual o tipo
de funo f: linear ; polinomial; exponencial; logartmica, etc.
126
A especificao poder ser feita de duas maneiras, que no so mutuamente
exclusivas. Assim que a teoria subjacente ao desenvolvimento do problema pode
surgir a forma funcional a ser utilizada, ou ento poder indicar certas condies
parciais sobre o intercepto, declividade, presena de assntota ou a curvatura da
funo. Nesse caso, estaremos partindo de uma especificao a priori. Um modo
alternativo de especificao da relao funcional no caso de considerarmos apenas
uma das k variveis independentes o emprego do diagrama de disperso.
Mediante uma amostra de n elementos, estabelecemos n partes de valores
(xi, yi); i = 1, 2, ..., n; que colocados num grfico resultaro no diagrama de
disperso.
No caso das regresses lineares simples, que estudaremos a seguir, o
diagrama de disperso apresentar uma nuvem de pontos, que nos indicar uma
relao linear entre as variveis. Se julgarmos que a funo do tipo Y = X^
(funo potencial), convir utilizarmos o papel bilogartmico. Nesse caso, ser
confirmada nossa hiptese se a nuvem de pontos apresentar-se retilnea. No caso
de estabelecermos uma funo exponencial Y = ^x, usaremos o papel
monologartmico para a marcao dos pontos, sendo que a faixa de pontos dever
apresentar-se retilnea.
2) O problema da Estimao dos Parmetros
Este problema consiste em estimar o valor dos diversos parmetros que
aparecem na especificao adotada.
Se o modelo escolhido for uma forma linear Y = + X + U, ser necessrio
estimarmos os parmetros + . Nesse caso, designaremos por a e b os
estimadores de + , respectivamente. A partir da observao de uma amostra de n
pares de valores (xi, yi); i = 1, 2,...,n; obteremos as estimativas a e b e, dessa forma,
obteremos uma estimativa do modelo adotado, compondo as estimativas a e b
atravs da frmula:
= a + bx Eq.(04)
Onde (l-se y chapu) ser o estimador de Y.
127
Para a determinao das expresses dos estimadores existem vrios
mtodos. Neste trabalho, utilizaremos o Mtodo dos Mnimos Quadrado.
3) O problema da Adaptao e Significncia do Modelo Adotado.
Consiste em verificar se a especificao adotada na primeira etapa se adapta
convenientemente aos dados observados. Este problema ser analisado depois de
obtidas as estimativas dos parmetros, atravs da comparao entre os Y
obs
(Y
observados) e Y
cal
(Ycalculados).
Outra abordagem dessa anlise, que no exclui o procedimento anterior,
consiste no emprego dos testes de hiptese e construo de intervalos de confiana
para o modelo e seus parmetros.
1.3 O Modelo de Regresso Linear Simples
1.3.1 Conceito e Hipteses
Quando a funo f que relaciona as variveis do tipo f(x) = + X temos o
modelo de regresso linear simples:
Yi = + X + U Eq.(05)
Como vemos, um valor de Y formado por dois componentes: o componente
funcional ou regresso f(x), que representa a influencia da varivel independente X
sobre o valor de y e define o eixo da nuvem de pontos, que nesse caso ser uma
reta (Grficos 1) e o (Grfico 2); o componente aleatrio U representa a influncia de
outros fatores, bem como os erros de medio da varivel Y. Este componente
surge devido variabilidade dos valores de Y para cada valor de X.
Para a fixao e ilustrao desses conhecimentos, que so a essncia da
anlise de regresso, faremos a seguinte configurao:
Y: gastos de uma famlia;
X: renda.
Podemos notar que o gasto mdio observado para determinar renda fixada
aumenta medida que a renda aumenta. Esta curva, obtida pelos gastos mdios
128
observados para as vrias rendas, chamada curva de Regresso, e essa
dependncia de Y expressa por E[Y/X] (l-se mdia de Y dado X); logo, o modelo
poder ser reescrito da seguinte maneira:
Yi = E[Yi/Xi] + Ui Eq.(06)
ou
Yi = f(Xi) + Ui Eq.(07)
onde E[Y/X] = [Y/X] a mdia de Y para um dado X.
Grfico 1: A variao de Y e a curva de regresso.
Fonte: Estatstica Aplicada
Grfico 2: Configurao: Os componentes funcional e aleatrio.
129
Fonte: Estatstica Aplicada
Analisando o (Grfico 2), notamos que foram admitidas certas hipteses
quanto ao componente aleatrio. Explicitamente, so as seguintes:
1) as variveis aleatrias Ui tm distribuio normal;
2) Ui uma varivel aleatria com mdia igual a zero, isto , E[Ui] = 0;
3) a varivel Ui tem varincia igual para todos os valores de X, isto ,
E [Ui, Uj] = para i = j
E [Ui, Uj] = 0 para i j
Explicando a 3 hiptese: para cada valor de X; (xi) teremos uma varivel
aleatria Ui. Com esta hiptese estamos admitindo que as varincias das variveis
Ui so iguais a uma constante ; e que a covarincia entre duas quaisquer variveis
Ui, Uj nula. Quando tais hipteses no so verificadas, surgem os problemas da
heterocedasticidade (quebra da hiptese de varincias constantes
homocedasticidade) e o problema da autocorrelao (quebra da hiptese de
covarincia nula). Solues para tais problemas so tratadas em compndios de
Econometria.
Resumidamente, as hipteses podero ser expressas da seguinte forma:
Ui = N(0; )
Por outro lado, poderemos determinar a mdia e varincia de Y:
Sabemos que Y = f(X) + U.
Logo:
E[Y] = E[f(X) + U] = Var [f(X)] + Var [U] =
130
Ento poderemos estabelecer que:
Y = N (f(X); )
1.4 Estimao dos Parmetros
Como foi estabelecido anteriormente, designaremos por a e b os estimadores
de e e = a + bx a reta estimada.
Retirada uma amostra de n pares (Xi, Yi) = 1, 2, 3, ..., n, desejamos que
nossa reta seja to prxima quanto possvel do conjunto de pontos marcados; isto
equivale a querermos minimizar a discrepncia total entre os pontos marcados e a
reta estimada. O (Grfico 3) ilustra tal situao:
Grfico 3: Exemplo de aplicao do mtodo dos Mnimos Quadrados
Fonte: Estatstica Aplicada
Como se observa, para um dado Xi, existe uma diferena D entre o valor Y
observado e o seu correspondente , dado pela reta estimada. Os Di so os erros
ou desvios. Simblicamente, teremos D = Y - ou D = Y (a + bX). O mtodo dos
Mnimos Quadrados um mtodo atravs do qual determinamos os valores de a e b
de tal forma que a soma dos desvios ao quadrado seja mnima, isto :
D
1
+ D
2
+ ... D
n
= mnima
131
Ou M - D
i
= ( Y - ) seja mnima
M = (Y a bX)
Obs.: Por convenincia, abandonaremos os ndices das variveis X, Y, bem como
do sinal.
Basta lembrarmos que as variaes i = 1, 2, ..., n.
Note-se que M depende dos valores de a e b. derivando M com relao (a e
b) temos:
M/a = -2 (Y a bX)
M/b = -2 X(Y a bX)
Para que M seja mnimo, M/a e M/b devem ser ambos iguais a zero;
dessa forma, teremos o sistema:
(Y a bX) = 0
X(Y a bX) = 0
ou seja,
Y = na + bX (I)
XY = aX + bX (II)
que so conhecidas como as equaes normais para a determinao de a e b.
vamos agora resolver o sistema, ou seja, encontrar as expresses para a e b.
Primeiro dividimos todos os termos da equao (I) por n; assim:
Y / n = na / n + bX / n
Lembrando que Y / n = e X / n = vem:
132
= a + b ou a = - b
Substituindo-se o valor de a na equao (II), teremos:
XY = ( - b )X + bX
desenvolvendo o parntese,
XY = X - b X + bX
ou
XY - YX / n = b[X - (X) / n]
portanto,
b = (XY - YX / n)/(X - (X) / n)
Chamando: S
XX
= X - (X) / n = (X - )
e S
XY
= XY - YX / n = (X - )(Y )
teremos que:
b = S
XY
/ S
XX
a = - b e = a + bX
Comentrios:
4) Pode-se verificar que a reta de mnimos quadrados passa pelo ponto ( , ),
isto , quando X = teremos = .
5) O coeficiente de regresso mede a variao que ocorre em Y, por unidade de
variao em X.
6) Se no houver relao entre X e Y, teremos = , isto , S
XY
ser prximo de
zero; ento b ser zero, indicando que Y no depende de X.
7) Uma parcial simplificao dos clculos obtida tomando-se como origem dos
X a mdia = X/n, isto , centrando a varivel X; obtendo x = X - , onde x
so os novos valores da varivel X. Como x = 0, o sistema de equaes
se reduz, facilitando dessa maneira os clculos. No utilizaremos
133
freqentemente tal mudana, para evitar futuras indecises quanto escolha
das frmulas. Devemos lembrar que geralmente os problemas de Anlise de
Regresso utilizados em computadores usam tal procedimento.
1.5 Regresso Polinomial
Todo modelo do tipo Y = +
1
X +
2
X +
3
X + ... +
k
X
k
+ U, constitui-se no
modelo de Regresso Polinomial de grau K em x.
Um caso particular e muito aplicado surge quando K = 2, originando a
parbola do 2 grau, isto : Y = +
1
X +
2
X
2
+ U.
Para estimar os parmetros, neste caso, basta fazer X = X
1
e X = X
2
e utilizar
o mesmo processo de determinao dos estimadores utilizado na regresso linear
mltipla.
As equaes normais para determinao de a, b
1
e b
2
, neste caso, sero:
Y = na + b
1
X
1
+ b
2
X
2
(I)
YX
1
= aX
1
+ b
1
X
1
+ b
2
X
1
. X
2
(II)
YX
2
= aX
2
+ b
1
X
1
. X
2
+ b
2
X
2
2
(III)
Caso os valores de X Sejas eqiespaados, ser possvel simplificar bastante
o sistema, centrando a varivel, isto , fazendo X = Xi - . Neste caso teremos X =
0 e (X) = 0, reduzindo o sistema a:
Y = na + b
2
(X)
YX = b
1
(X)
YX = a(X) + b
2
(X)
4
De qualquer forma, vamos ter que resolver os sistemas:
Dividindo-se a equao (I) por n teremos:
Y/n = na/n + b
1
X
1
/n + b
2
X
2
/n
134
= a + b
1
.
1
+b
2
.
2
ou a = - b
1
.
1
- b
2
.
2
Substituindo se o valor de a na equao (II), vem:
YX
1
= ( - b
1
.
1
- b
2
.
2
). X
1
+ b
1
X
1
+ b
2
X
1
. X
2
=. X
1
- b
1
.
1
. X
1
- b
2
.
2
. X
1
+ b
1
X
1
+ b
2
X
1
. X
2
=(Y. X
1
)/n - b
1
. (X
1
)
2
/n - b
2
. (X
2
. X
1
)/n + b
1
X
1
+ b
2
X
1
. X
2
Colocando-se b1 e b2 em evidncia,
YX
1
- (Y. X
1
)/n = b
1
(X
1
- (X
1
)
2
/n) + b
2
(X
1
. X
2
+(X
1
. X
2
)/n).
Chamando-se SY1 =YX
1
- (Y. X
1
)/n
S11 = (X
1
- (X
1
)
2
/n) e S12 = (X
1
. X
2
+(X
1
. X
2
)/n)
Teremos: SY1 = b
1
. S11 + b
2
. S12
Analogamente, substituindo-se o valor de a na equao (III), temos:
SY2 =b
1
. S21 + b
2
. S22
onde
SY2 =YX
2
- (Y. X
2
)/n;
S21 =(X
2
. X
1
+(X
2
. X
1
)/n);
S22 = (X
2
- (X
2
)
2
/n).
Ento, uma das maneiras para encontrarmos a, b
1
e b
2
ser resolvermos o
sistema
SY1 = b
1
. S11 + b
2
. S12 (I)
135
SY2 =b
1
. S21 + b
2
. S22 (II)
Colocando b
1
em evidncia na equao (II):
b
1
. S21 = SY2 - b
2
. S22
b
1
= (SY2 - b
2
. S22) / SY21
Substituindo b
1
na equao (I):
SY1 = (SY2 - b
2
. S22) / SY21). S11 + b
2
. S12
= (SY2. S11 S22. S11. b
2
) / SY21 + b
2
. S12
SY1. SY21 = SY2. S11 S22. S11. b
2
+ b
2
. S12. SY21
Colocando b
2
em evidncia, teremos:
SY1. SY21 - SY2. S11 = b
2
(S22. S11 + S12. SY21).
b
2
= (SY2. S11 - SY1. SY21) / (S22. S11 + S12. SY21)
ou
b
2
=[(SY2/S21) - (SY1/S11)] / [(S22/S12) - (S12/S11)]
encontrando b
1
e b
2
e, assim, determinamos o valor de a, substituindo b
1
e b
2
em: a = - b
1
.
1
- b
2
.
2
. Lembrando que
1
= X
1
/n
2
= X
2
/n = Y/n
que se constituiro na soluo do sistema encontrado acima.
1.6 Regresses que se tornam lineares por transformao
H vrias funes importantes que, mediante simples transformaes, se
tornam lineares, e cujos parmetros podem ser estimadas pelas frmulas anteriores.
Apresentaremos alguns tipos de transformaes mais usadas para linearizar
relao entre as variveis. Assim:
1) Funo Potncia (curva geomtrica) Z = x
(
-
)
A funo linear resultante de uma transformao logartmica dupla ser:
136
log Z = log - log x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = log Z, a = log , b = -, X = log x
Eis o (Grfico 4) da funo potncia:
Grfico 4: Funo Potencial
Fonte: Estatstica Aplicada
2) Funo Hiperblica ou Inversa Z = x / ( x - )
A funo linear resultante de uma transformao ser:
Y = 1 / Z
X = 1 / x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = 1 / Z, X = 1 / x, a = , b =
137
Eis o (Grfico 5) da funo hiperblica:
Grfico 5: Funo Hiperblica ou Inversa (3)
Fonte: Anlise de Varincia e Regresso: Mtodos Quantitativos
3) Funo Exponencial Z = .e
(.x)
A funo linear resultante de uma transformao logartmica neperiana ser:
Y = ln Z
a = ln
Ou seja,
Y = a + bx
Onde: Y = ln Z, X = x, a = ln , b =
Eis o (Grfico 6) da funo exponencial:
138
Grfico 6: Funo Exponencial
Fonte: Anlise de Varincia e Regresso: Mtodos Quantitativos
4) Funo Logartmica Z = + .ln (x)
A funo linear resultante de uma transformao logartmica neperiana ser:
X = ln x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = Z, X = ln x, a = , b =
Eis o (Grfico 7) da funo logartmica:
Grfico 7: Funo Logartmica
139
Fonte: Anlise de Varincia e Regresso: Mtodos Quantitativos
5) Funo Exponencial (Lei de Abrams) Z = .
(-x)
A funo linear resultante de uma transformao logartmica ser:
Y = log z
a = log
b = log
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = log z, X = -x, a = log , b = log
Eis o (Grfico 8) da funo exponencial:
Grfico 8: Funo Exponencial (Lei de Abrams)
140
Fonte: Estatstica Aplicada
6) Funo Hiprbole ou Inversa (Lei de Bolomey) Z = / x +
A funo linear resultante de uma transformao ser:
X = 1 / x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = Z, X = 1 / x, a = , b =
Eis o (Grfico 9) da funo hiprbole (Lei de Bolomey):
Grfico 9: Funo Hiprbole ou Inversa
141
Fonte: Mtodos Economtricos
7) Funo Hiprbole ou Inversa (1) (Lei de Lise) Z = + / x
A funo linear resultante de uma transformao ser:
X = 1 / x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = Z, X = 1 / x, a = , b =
Eis o (Grfico 10) da funo hiprbole (Lei de Lise):
Grfico 10: Funo Hiprbole ou Inversa
142
8) Funo Logstica Z = e
+ .x
/ (1 + e
+ .x
).
A funo linear resultante de uma transformao logartmica neperiana ser:
Y = ln (Z / 1 Z)
Obs.: Recomendada para quando 0 < Y < 1. Deste modo ela sofrer mais uma
transformao devido a resistncia do concreto (Z
1
) ser maior que 1 MPa. Caso ela
fosse maior que 100 MPa teria que ser dividida por um valor acima da mxima
resistncia e assim por diante.
Z = Z
1
/ 100
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = ln (Z / 1 Z), X = x, a = , b =
143
Eis o (Grfico 11) da funo logstica:
Grfico 11: Funo Logstica (i)
Fonte: Anlise de Varincia e Regresso: Mtodos Quantitativos
9) Funo Hiprbole ou Inversa (2) Z = 1/ ( + x)
A funo linear resultante de uma transformao ser:
Y = 1 / Z
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = 1 / Z, X = x, a = , b =
Eis o (Grfico 12) da funo hiprbole ou inversa:
Grfico 12: Funo Hiprbole ou Inversa
144
Fonte: Anlise de Varincia e Regresso: Mtodos Quantitativos
10) Funo Inversa, Logartmica Z = e
( + / x)
A funo linear resultante de uma transformao logartmica neperiana ser:
Y = ln Z
X = 1 / x
Ou seja,
Y = a + bX
Onde: Y = ln Z, X = 1 / x, a = , b =
Eis o (Grfico 13) da funo inversa, logartmica:
Grfico 13: Funo Inversa, Logartmica.
145
Fonte: Mtodos Economtricos
Você também pode gostar
- Engenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaNo EverandEngenharia Civil: Concepção, Teoria E PráticaAinda não há avaliações
- Influência do teor de cobre na usinabilidade da liga de alumínio 6351No EverandInfluência do teor de cobre na usinabilidade da liga de alumínio 6351Ainda não há avaliações
- Sistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoNo EverandSistema De Construção De Paredes De Gesso AcartonadoAinda não há avaliações
- Tratamento de Fundação para Barragens de ConcretoNo EverandTratamento de Fundação para Barragens de ConcretoNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Elementais e o PentagramaDocumento5 páginasElementais e o PentagramaRac A BruxaAinda não há avaliações
- Tabela de Potência de Tratores de RodasDocumento24 páginasTabela de Potência de Tratores de Rodasfrancisco62% (13)
- Manualufcd3481 TurismoseguroDocumento49 páginasManualufcd3481 Turismoseguroalex100% (1)
- Sistema Individual de Tratamento de Esgoto PDFDocumento122 páginasSistema Individual de Tratamento de Esgoto PDFPedro Diego SaquettoAinda não há avaliações
- Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)Documento4 páginasMovimento Retilíneo Uniforme (MRU)Wellington FerreiraAinda não há avaliações
- Ode TriunfalDocumento10 páginasOde TriunfalMarcelo RibeiroAinda não há avaliações
- Apostila 1 de Química X - Prof Zila - UERJ PDFDocumento58 páginasApostila 1 de Química X - Prof Zila - UERJ PDFIsabelle ChristineAinda não há avaliações
- Texto O MACACO E O CROCODILODocumento6 páginasTexto O MACACO E O CROCODILOAnonymous ZAv6SIKAinda não há avaliações
- Ingold Sobre LatourDocumento20 páginasIngold Sobre LatourJosé GlebsonAinda não há avaliações
- MasterDocumento136 páginasMasterSeiichi Okada PereiraAinda não há avaliações
- SSA - Ficha de QuimicaDocumento19 páginasSSA - Ficha de Quimica010260100% (1)
- Barragens de Rejeito PDFDocumento93 páginasBarragens de Rejeito PDFedunobreAinda não há avaliações
- Aplicação Do Ultra-Som Na Estimativa Da Profundidade de Fendas Superficiais e Na Avaliação Da Eficácia de Injeções em Elementos de Concreto ArmadoDocumento200 páginasAplicação Do Ultra-Som Na Estimativa Da Profundidade de Fendas Superficiais e Na Avaliação Da Eficácia de Injeções em Elementos de Concreto ArmadoCaio E Laís SAinda não há avaliações
- Nanotecnologia Aplicada Ao Concreto: Efeito Da Mistura Física de Nanotubos de Carbono em Matrizes de Cimento PortlandDocumento147 páginasNanotecnologia Aplicada Ao Concreto: Efeito Da Mistura Física de Nanotubos de Carbono em Matrizes de Cimento PortlandeupasseiAinda não há avaliações
- 000772914Documento0 página000772914Marcelle GoliniAinda não há avaliações
- Desenvolvimento e Avaliação de Padrão de Torque para Calibração de Torquímetros em 3 Faixas de MediçãoDocumento122 páginasDesenvolvimento e Avaliação de Padrão de Torque para Calibração de Torquímetros em 3 Faixas de MediçãoDaniel Simas100% (1)
- Migração IônicaDocumento146 páginasMigração IônicaJackeline SantosAinda não há avaliações
- São Francisco Engenharia Mecânica - Automação e SistemasDocumento77 páginasSão Francisco Engenharia Mecânica - Automação e Sistemaspaulo.fernandesAinda não há avaliações
- BDocumento558 páginasBLucas CastroAinda não há avaliações
- Aguiar Adriana MestradoDocumento154 páginasAguiar Adriana MestradoNatan BastosAinda não há avaliações
- UntitledDocumento86 páginasUntitledCamila SantosAinda não há avaliações
- Bianca de Oliveira Lobo - Capacidade de Carga de Estacas Ensaio SPTDocumento139 páginasBianca de Oliveira Lobo - Capacidade de Carga de Estacas Ensaio SPTmateus456Ainda não há avaliações
- Bianca de Oliveira Lobo - Método de Previsão de Capacidade de Carga de EstacasDocumento139 páginasBianca de Oliveira Lobo - Método de Previsão de Capacidade de Carga de Estacasmateus456Ainda não há avaliações
- Avaliação de Tenacidade A Fratura Da Liga INCONEL 718 Sob Proteção Catódica em Agua Do Mar Sintética Utilizando A Técnica STEP LOADING.Documento122 páginasAvaliação de Tenacidade A Fratura Da Liga INCONEL 718 Sob Proteção Catódica em Agua Do Mar Sintética Utilizando A Técnica STEP LOADING.HagenPFAinda não há avaliações
- Brita PavaimentoDocumento168 páginasBrita PavaimentoJoãoAinda não há avaliações
- Liga Niquel Titanio PDFDocumento146 páginasLiga Niquel Titanio PDFVivian Maria MariniAinda não há avaliações
- TCC - Letícia e Maria Helena PDFDocumento75 páginasTCC - Letícia e Maria Helena PDFAlexCruvinelAinda não há avaliações
- DissertaçãoDocumento106 páginasDissertaçãoCarmen Dias CastroAinda não há avaliações
- Afonso G. Azevedo e Euzébio ZanelatoDocumento135 páginasAfonso G. Azevedo e Euzébio ZanelatoLucas Pereira VieiraAinda não há avaliações
- Controle Da Temperatura Do Aço Líquido em Uma Aciaria ElétricaDocumento141 páginasControle Da Temperatura Do Aço Líquido em Uma Aciaria ElétricaAristeudesQuintinoAinda não há avaliações
- Deformacao Lenta - Dissertacao - CassioDocumento162 páginasDeformacao Lenta - Dissertacao - CassioLuis Guilherme FloresAinda não há avaliações
- TCC Phellipe Lopes Oficial Rev00 PDFDocumento53 páginasTCC Phellipe Lopes Oficial Rev00 PDFRomulo Aguiar SousaAinda não há avaliações
- DISSERTAÇÃO UsoAplicaçãoPoliestirenoDocumento123 páginasDISSERTAÇÃO UsoAplicaçãoPoliestirenoCarlos RibeiroAinda não há avaliações
- Estudo de Caso - Ausência de ImpermeabilizaçãoDocumento62 páginasEstudo de Caso - Ausência de ImpermeabilizaçãoEdilson MacielAinda não há avaliações
- 2002 Dis EmsilvaDocumento100 páginas2002 Dis EmsilvaHORUS DIGITALAinda não há avaliações
- PDF - Douglas Cavalcante Do CarmoDocumento57 páginasPDF - Douglas Cavalcante Do CarmoraphaelpalitotAinda não há avaliações
- Adriano de OliveiraDocumento78 páginasAdriano de Oliveiramarcelo_lidioAinda não há avaliações
- Ventilação Natural em Galpões Utilizando LanterninsDocumento214 páginasVentilação Natural em Galpões Utilizando LanterninsWeber GregorioAinda não há avaliações
- Everaldo Pletz - Passarela Estaiada Com Tabuleiro de Madeira Laminada Protendida em Módulos CurvosDocumento211 páginasEveraldo Pletz - Passarela Estaiada Com Tabuleiro de Madeira Laminada Protendida em Módulos Curvosmateus456Ainda não há avaliações
- Projeto de Graduacao Biazi Agrizzi Versao Final 210909Documento85 páginasProjeto de Graduacao Biazi Agrizzi Versao Final 210909Vitim FerreiraAinda não há avaliações
- 2003DO AndreaPAReis PDFDocumento355 páginas2003DO AndreaPAReis PDFLuciana Paes de BarrosAinda não há avaliações
- 194633Documento233 páginas194633guilherme Souza LopesAinda não há avaliações
- McKinsey & CompanyDocumento126 páginasMcKinsey & Companygabriel rodriguesAinda não há avaliações
- Contribuição Ao Estudo Da Influência Da Forma eDocumento295 páginasContribuição Ao Estudo Da Influência Da Forma ePastor Alex FerreiraAinda não há avaliações
- Dissertao Mestrado PEC UFRN - Anlise Numrica Do Comportamento de Muros de ArDocumento136 páginasDissertao Mestrado PEC UFRN - Anlise Numrica Do Comportamento de Muros de Ar246824Ainda não há avaliações
- GP Coeci 2019-1 06Documento73 páginasGP Coeci 2019-1 06Irosemberg AraujoAinda não há avaliações
- TCC - João Paulo de Barros Cavalcante PDFDocumento51 páginasTCC - João Paulo de Barros Cavalcante PDFbrunorb90Ainda não há avaliações
- Incertezas Na Medição Por Coordenadas Com Ênfase Na Contribuição Da Forma Da Peça E Da Estratégia de MediçãoDocumento101 páginasIncertezas Na Medição Por Coordenadas Com Ênfase Na Contribuição Da Forma Da Peça E Da Estratégia de MediçãoVitor StorckAinda não há avaliações
- Candianfilho Edisonluis MDocumento104 páginasCandianfilho Edisonluis MVeronica MaierAinda não há avaliações
- Petrucci, Aron L. - Metodologia para Seleção de Configuração de Sistemas Prediais de Água em Edificações Que Abriguem Múltiplas EconomiasDocumento533 páginasPetrucci, Aron L. - Metodologia para Seleção de Configuração de Sistemas Prediais de Água em Edificações Que Abriguem Múltiplas EconomiasFrancis DrakeAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Do Processo de Construção de Curvas Limite de ConformaçãoDocumento90 páginasDesenvolvimento Do Processo de Construção de Curvas Limite de ConformaçãoTaciane Barbosa Silva Reis100% (1)
- Estudo Do Comportamento de Materiais Compósitos Fibrosos para Aplicação Como Reforço de Base de Fundações SuperficiaisDocumento248 páginasEstudo Do Comportamento de Materiais Compósitos Fibrosos para Aplicação Como Reforço de Base de Fundações SuperficiaisMarcel NogueiraAinda não há avaliações
- Concon Garofalo AndersonDocumento145 páginasConcon Garofalo AndersoncaiosilvaaAinda não há avaliações
- Disseratação Furadeira PDFDocumento181 páginasDisseratação Furadeira PDFIdalina CaraçaAinda não há avaliações
- Pereira 2021Documento142 páginasPereira 2021João GomesAinda não há avaliações
- Monopoli 10012289Documento77 páginasMonopoli 10012289Alexsandro Cavalcanti de SouzaAinda não há avaliações
- Sapatas Apoiadas em Solo SuperficialDocumento95 páginasSapatas Apoiadas em Solo Superficialdpm1982Ainda não há avaliações
- NR 18 - Fundações Profundas em EstacasDocumento11 páginasNR 18 - Fundações Profundas em EstacasCPSSTAinda não há avaliações
- Dureza NaceDocumento85 páginasDureza NaceMadirley PimentaAinda não há avaliações
- Dissert Zainaghi Gislaine CorDocumento127 páginasDissert Zainaghi Gislaine CorSara Caroline Gomes da SilvaAinda não há avaliações
- Processo de Sopro PDFDocumento156 páginasProcesso de Sopro PDFFernando DomeniconiAinda não há avaliações
- Método Simplificado Da Avaliação Da BritabilidadeDocumento69 páginasMétodo Simplificado Da Avaliação Da BritabilidadeJassele Leite no CuAinda não há avaliações
- Estudo Ruido224Documento117 páginasEstudo Ruido224Edgar SchlickmannAinda não há avaliações
- MONOG PropostaG3stão Pr0jetosDocumento90 páginasMONOG PropostaG3stão Pr0jetosOtmarAinda não há avaliações
- Extrusão PDFDocumento107 páginasExtrusão PDFJhonata SantosAinda não há avaliações
- Tese - 4002 - Andreia Fernandes MunizDocumento303 páginasTese - 4002 - Andreia Fernandes MunizEdnilson Oliveira FerreiraAinda não há avaliações
- Determinação Do Padrão Helicoidal Do DNADocumento36 páginasDeterminação Do Padrão Helicoidal Do DNABeto RosalinAinda não há avaliações
- Relatório Medição Relógios ComparadoresDocumento5 páginasRelatório Medição Relógios ComparadoresJenifer LarissaAinda não há avaliações
- Manual de Instalação de SPLIP - Iom - HW - Carrier - Multi-C-06.11 - (View) PDFDocumento52 páginasManual de Instalação de SPLIP - Iom - HW - Carrier - Multi-C-06.11 - (View) PDFcdbseletrica100% (1)
- Leis de Newto 1Documento2 páginasLeis de Newto 1alex silvaAinda não há avaliações
- Dirce Ribeiro de Melo. Geossistemas, Slstemas Territoriais NaturaisDocumento8 páginasDirce Ribeiro de Melo. Geossistemas, Slstemas Territoriais NaturaisMaurílio Nepomuceno100% (1)
- Abyssus AbyssumDocumento8 páginasAbyssus Abyssumsofia-1992Ainda não há avaliações
- Gerenciamento de Resíduos Na Indústria de Saneantes PDFDocumento111 páginasGerenciamento de Resíduos Na Indústria de Saneantes PDFTulyhander Nascimento100% (1)
- Química - Pré-Vestibular7 - Resoluções I - Modulo1bDocumento70 páginasQuímica - Pré-Vestibular7 - Resoluções I - Modulo1bCiencias PPT100% (2)
- Lista de ExercíciosDocumento2 páginasLista de ExercíciosRenan Guilherme de Oliveira GuihAinda não há avaliações
- Sensores Industriais - GabaritoDocumento16 páginasSensores Industriais - GabaritoRicardo Pasquati Pontarolli100% (1)
- Lista de Mcu II Profa MichelleDocumento2 páginasLista de Mcu II Profa MichelleClifford NeitzelAinda não há avaliações
- Absorção, Reflexão e Transmissão em SuperfíciesDocumento48 páginasAbsorção, Reflexão e Transmissão em SuperfíciesGabriel DechichiAinda não há avaliações
- Ebook GuinorBetsDocumento17 páginasEbook GuinorBetsMateus DuarteAinda não há avaliações
- 2902IB - Bancada de Instalação Elétricas Industriais - Módulos Didáticos DatapoolDocumento8 páginas2902IB - Bancada de Instalação Elétricas Industriais - Módulos Didáticos DatapoolJoão PedroAinda não há avaliações
- 2011 ED PR MatematicaDocumento2 páginas2011 ED PR MatematicaOtavioAinda não há avaliações
- Sintese Do Cloreto de Sódio - TassyaDocumento11 páginasSintese Do Cloreto de Sódio - TassyaTassya Regina FontesAinda não há avaliações
- ÁLGEBRA LINEAR Prova PresencialDocumento3 páginasÁLGEBRA LINEAR Prova PresencialClayton MouraAinda não há avaliações
- Terraceamento EmbrapaDocumento9 páginasTerraceamento EmbrapaChrys PrazeresAinda não há avaliações
- Representação Gráfica Dos Dados EstatísticosDocumento22 páginasRepresentação Gráfica Dos Dados EstatísticosPaulo RicardoAinda não há avaliações