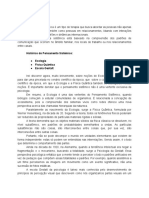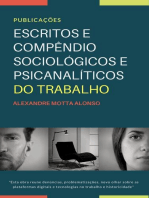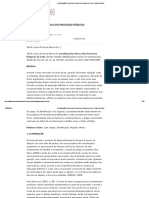Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Abordagem Clinica No Comunitario
Abordagem Clinica No Comunitario
Enviado por
Henry Dorsett CaseDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Abordagem Clinica No Comunitario
Abordagem Clinica No Comunitario
Enviado por
Henry Dorsett CaseDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Psicologia & Sociedade; 17 (2): 33-41; mai/ago.
2005
ABORDAGEM CLNICA NO CONTEXTO COMUNITRIO:
UMA PERSPECTIVA INTEGRADORA
Liana Fortunato Costa
Universidade de Braslia
Shyrlene Nunes Brando
Universidade Catlica de Braslia
RESUMO: Esse texto busca circunscrever uma categoria de interveno que de natureza clnica, mas que
ocorre em contexto social/comunitrio. Os conceitos de clnica e de comunidade so brevemente discutidos, a
fim de que o desenvolvimento dessa interveno surja no da superposio ou transposio de abordagens,
mas, sobretudo, que possibilite reformular e criar novas formas de atuao. Propomos definir uma prtica que
revela uma epistemologia, que se situa nessa observao clnica, mas que tambm do contexto, do grupo, da
famlia e da dimenso poltica, porque se passa nessa zona complementar de interao de pessoas que so
sujeitos de emoo e afeto, mas seres sociais por excelncia.
Palavras-chave: Psicologia Clnica; Psicologia Social Comunitria; Psicossociologia; comunidade; interveno
comunitria.
CLINICAL APPROACH IN A COMMUNITARIAN CONTEXT: AN INTEGRATING PERSPECTIVE
ABSTRACT:This paper focuses on a category of intervention which is of clinical nature, although it occurs in a
social/community context. We briefly discuss the concepts of clinic and community, so that the development of
such intervention may emerge not from the juxtaposition or transposition of approaches, but, above all, that it
gives the possibility of reformulating and creating new courses of action. We propose the definition of a practice
which reveals an epistemology, which is situated in clinical observation as well as belonging to a context,
group, family and political dimension, because it takes place in the complementary zone of interaction among
people who are subjects of emotion and affection, however, social beings per excellence.
Key-words: clinical psychology, community social psychology, psychossociology, community, community
intervention.
A complexidade dos objetos de estudos da psicologia levou a uma diversidade terico-metodolgica
que visa explicar/compreender e intervir nos fenmenos estudados, em diferentes reas de atuao dessa
cincia. No possvel pensarmos a Psicologia apenas a partir de uma abordagem, nem como sendo
representada por uma rea de atuao. No entanto,
essa multiplicidade que poderia enriquecer, ao se fechar em suas compreenses, depaupera a capacidade
do profissional de promoo do bem-estar dos indivduos e da comunidade, um dos princpios fundamentais do exerccio da profisso de Psiclogo (Conselho
Federal de Psicologia, 1987). Diante dessa questo e
do desafio da complexidade dos fenmenos abordados em Psicologia Comunitria, buscamos nesse texto circunscrever uma proposta de interveno clnica,
que ocorre em contexto de comunidade, e que considera o contexto social mais amplo, e suas influncias
sobre os sujeitos, os grupos e as famlias.
Essa discusso ser traada a partir das contribuies de cinco campos do conhecimento da Psico-
logia e da Sociologia: Psicologia Clnica, Psicologia
Social Comunitria, Psicologia Scio-histrica,
Psicossociologia e a Sociologia Clnica. Cada uma
dessas reas, algumas com diferentes fundamentaes
epistemolgicas e no redutveis umas s outras, tem
contribudo para construir uma prtica no proveniente da superposio ou transposio de modelos, mas,
sobretudo, da tentativa de reformulao e elaborao
de novas formas de atuao.
Esse texto est organizado em um primeiro
momento, no qual sero discutidas algumas contribuies epistemolgicas dessas reas para a proposta
de interveno, e em seguida o desenvolvimento da
proposta.
CLNICA COMO ABORDAGEM
Ao propormos o dilogo da Psicologia Social
Comunitria com a Psicologia Clnica, tomamos o
significado de clnica em nossa proposta, no como
uma rea, mas como uma abordagem, uma forma de
olhar. Alguns tericos da Psicossociologia e da Socio33
Costa, L.F.; Brando, S.N. Abordagem clnica no contexto comunitrio: uma perspectiva integradora
logia Clnica, a nosso ver, definem de uma forma
ampla essa compreenso de clnica ao voltarem
origem da palavra.
Barbier (1985) explica que a origem da palavra clnica provm do grego, klin, que significa procedimento de observao direta e minuciosa (p. 45).
Esse autor tambm aponta que a clnica inclui a explorao e compreenso dos significados presentes nas
aes do sujeito, bem como dos grupos de sujeitos,
buscando-se lhes apreender o sentido que leva a determinadas direes de relacionamentos, conflitos e
decises. Para Svigny (2001) o sentido etimolgico
da palavra se refere observao direta, junto ao leito do paciente. Essa compreenso tem norteado a proposta do autor de uma abordagem clnica nas cincias humanas, na qual o foco a mudana, preveno
ou melhoria de uma determinada situao, no sentido de construo de novas respostas.
Na proposta apresentada nesse texto, o leito
a comunidade, as famlias, grupos e instituies que
dela fazem parte. A complexidade presente nesse contexto exige que utilizemos diferentes contribuies
tericas, sem reduzi-las, mas reconhecendo os aspectos convergentes e divergentes presentes entre elas. Por
um lado, atuamos numa perspectiva que Vasconcellos
(2002) aponta como sistmica, na medida em que
reconhece o pensamento estruturado no trip: subjetividade, complexidade e contexto. Esses trs aspectos
so bases da compreenso e das aes com os grupos
e/ou indivduos. Por outro lado tambm pautamos
nossa leitura numa perspectiva de que as relaes na
comunidade esto permeadas por relaes de poder,
e que esse poder est intimamente vinculado ao
pertencimento, a classe social e ao momento histrico (Saffioti, 1992).
COMUNIDADE: CONTEXTO DE RELAES
Conceituamos comunidade como dimenso espao/temporal na qual os sujeitos so compreendidos
com foco em suas relaes, sendo constitudos por
meio destas, em uma constante dialtica entre individual e coletivo. A comunidade se expressa como espao de construo de cidadania, no qual todas as
falas so legtimas (Freitas, 2000; Guareschi, 2003).
Esse conceito, que pode parecer utpico, tomado
nessa perspectiva para que marque o desafio de atuarmos focando as relaes entre indivduos, e entre
estes e a sociedade, em uma busca de valorizao das
relaes comunitrias que visem o bem comum (Ricci,
2003).
Nos ltimos quinze anos temos trabalhado na
sistematizao de metodologias de interveno clnica em contexto comunitrio (Costa, 1998; Costa 1998
a; Costa, 1998/1999; Costa, 1999; Costa, 2003;
Brando, 2001; Brando e Costa, 2003), que buscam
34
descrever aes com famlias, visando intervir em seu
sofrimento, e que so complementares em seus
paradigmas clnicos com expresso no ambiente scio-comunitrio. Entendemos que o sistema familiar
propicia o mbito dessa experincia porque oferece
conflitos de natureza pessoal (a baixa auto-estima da
me, por exemplo), conflitos de natureza relacional
(violncia na interao conjugal), bem como conflitos entre os membros da famlia que esto vinculados
gerao de renda local (adolescentes ingressando
no narcotrfico).
Guareschi (2004) aponta como primordial a
reflexo sobre o conceito de relao, colocando-o como
o conceito central da Psicologia Social (p. 60), e
enfatizando que estamos em relao, e que o grupo
a existncia ou no de relaes. Esse mesmo ponto
focal tambm a proposta epistemolgica de
Vasconcellos (2002). Essa autora, uma psicloga com
grande produo nacional e reconhecimento internacional, tem inspirado a discusso, no contexto dos
terapeutas familiares, sobre o que se trata uma abordagem relacional. Sua proposta compreende uma
perspectiva sistmica que se configura numa viso do
sujeito na relao com o outro, na sua condio inerente de complexidade, no reconhecimento da presena da subjetividade/individualidade nas relaes.
Essa perspectiva de contextualizao, a partir de
causalidades recursivas, da instabilidade dos sistemas
e da incluso do observador na observao e na construo do conhecimento.
Em uma perspectiva da Psicologia Scio-histrica e da Psicologia Social Comunitria, as relaes
so analisadas na forma como se do entre indivduos e/ou entre indivduos e instituies. A dimenso do
poder tem relevncia central na anlise das relaes.
Elas podem ser configuradas como relaes de dominao, quando h a assimetria de poder ou como relaes comunitrias, que ocorre quando h igualdade de direitos e deveres (Guareschi, 2000).
So dois enfoques diferentes para pensar relao, porm complementares, que podem ser contemplados nas questes que emergem no contexto comunitrio, possibilitando ampliar a compreenso dos
fenmenos abordados, produzindo uma interveno
mais complexa que integre a dimenso individual e
social.
RELAO INDIVDUO E SOCIEDADE:
SUA IMPLICAO PARA PENSAR O SOFRIMENTO
Uma interveno comunitria, em alguma
medida se d quando h sofrimento, do indivduo, de
um grupo e/ou de uma comunidade. Intervir nesse
sofrimento, sem pensar sobre os inmeros elementos
envolvidos em sua produo, pode ser, no mnimo,
desastroso.
Psicologia & Sociedade; 17 (2): 33-41; mai/ago.2005
Nesse sentido, pensamos necessrio retomar a
antiga discusso sobre a relao indivduo-sociedade, no dicotomicamente, mas de uma maneira
dialtica, para se repensar a constituio do indivduo. Vicent de Gaulejac (2001), um terico da Sociologia Clnica, considera o homem como produto tanto dos determinantes psquicos e sociais, no sendo
estes equivalentes, porm dificilmente dissociveis.
Para esse autor, os determinantes sociais produzem
um efeito psicolgico que no pode ser compreendido
apenas na sua dimenso individual, sob o risco de
aprisionarmos os indivduos na impotncia e culpabilidade (p.39). Como tambm no podemos deixar
de ver como as questes sociais e econmicas influenciam a forma como os indivduos se organizam em
sociedade.
Sawaia (2001) considera o sofrimento humano como tico-poltico, produzido por uma histria
de desigualdades e injustias sociais, vivenciado pelo
indivduo, mas que tem origem nas relaes
intersubjetivas constitudas socialmente. Essa viso
contribui para uma releitura do sofrimento, no como
caracterstico do indivduo, mas como produto de processo histrico poltico, social e econmico de excluso.
Nesse aspecto, a viso de homem scio-histrico, apresentada por autores da Psicologia Social Comunitria e da Psicologia Scio-Histrica se faz necessria nesse dilogo entre a clnica e a comunidade. A Psicologia como cincia, e da mesma forma a
Psicologia Clnica, em sua busca de reconhecimento
cientfico, construiu uma noo de fenmeno psicolgico como algo interno ao homem. Bock (2002), ao
criticar essa compreenso, aponta para a necessidade
de compreender o fenmeno psicolgico como subjetividade, concebida como algo que se constitui na relao com o mundo material e social, mundo que s
existe pela atividade humana (p.23). Essa perspectiva crtica da Psicologia Social apresenta tambm uma
crtica prpria histria da Psicologia, que muitas
vezes sustentou (e ainda sustenta) uma ideologia dominante e prticas excludentes, ao naturalizar o normal, negando sua naturalizao histrica, e ao
culpabilizar o indivduo pelo seu prprio sofrimento
(Bock, 2002).
preciso cuidado para que no sigamos ajudando as pessoas a conviverem mais felizes em suas
condies perversas de vida, naturalizando-as. normal que a mulher cuide dos filhos, mas isso no faz
parte da sua natureza. normal ter poucos negros
nas universidades, mas no porque eles no sejam
capazes de ingressar em um curso superior. A naturalizao no indivduo de fenmenos sociais deve ser
denunciada em nossas prticas. Ns, profissionais da
psicologia, e de outras reas, que lidamos com o ser
humano, precisamos assumir nossa responsabilidade
nos processos de excluso e estar atentos para no
continuar estigmatizando e excluindo (Camino &
Ismael, 2003). Para isso, precisamos continuamente
de uma prtica reflexiva que questione a ns mesmos
e a nossa viso de mundo para que nossas ideologias
estejam evidenciadas.
Essa reflexo tambm tem estado presente entre expoentes da Terapia Familiar, ao criticarem a
atuao, principalmente com famlias pobres e/ou de
culturas distintas do grupo dominante, que possibilitava muito mais um ajuste condio de pobreza, do
que uma mudana efetiva da realidade (Pakman, 1998,
2003). Isso tambm exemplificado pelo mtodo da
Just Therapy, desenvolvido por um grupo da Nova
Zelndia (Waldegrave, 2001; Waldegrave & Tamasese,
2001).
Wiesenfeld (1998) prope que os conceitos e
paradigmas utilizados na Psicologia Comunitria estejam em constante dilogo para a produo do conhecimento. Aponta ainda que o enfoque do trabalho
comunitrio seja visto como uma epistemologia, desse modo influenciando outras prticas referentes a
outros contextos, como por exemplo, o clnico.
CONSTRUINDO UMA DEMANDA
Em nossa prtica procuramos desenvolver uma
circunstncia de interveno que tenha respaldo numa
perspectiva sistmica, como debatido por
Vasconcellos (2002) em sua discusso por compreender o enfoque sistmico como sendo principalmente
contextual. Procuramos ainda desenvolver uma ao
que oferea sadas para o principal impasse da interveno comunitria, que a falta de demanda. No
entendemos falta de demanda como falta de pedido
de ajuda. Demanda, no sentido descrito na literatura
(Neuburger, 1984), refere-se a um pedido de ajuda
formulado, a um sofrimento declarado e a uma
sintomatologia definida. Na viso da Psicossociologia,
toda demanda , ao mesmo tempo, uma demanda de
objeto, endereada a um outro compreendido como
capaz de supri-la, o que torna inerente a isso uma
relao de poder e dominao; e uma dimenso no
explcita, do plano da psicologia, que expressa um
desejo, uma falta mais difcil de ser percebida, chamada de demanda de amor (Lvy, 1994).
Na comunidade, em geral, so expressas as
demandas de objeto s instituies que ali atuam, que
atendem a essa finalidade. No entanto, no h escuta
do que est por trs dessa demanda concreta, e por
isso, a demanda de amor, quase nunca ouvida, sendo freqentemente reformulada em uma outra demanda de objeto. O sofrimento que acompanha tais pedidos no tem a quem ser endereado, o sofrimento o
lugar comum e, assim, porque declar-los? E os sin35
Costa, L.F.; Brando, S.N. Abordagem clnica no contexto comunitrio: uma perspectiva integradora
tomas no se constituem em problemas. Em nossa
experincia, essa demanda necessita ser vista e escutada de outra forma. Todas as vezes que pudemos oferecer tempo, dilogo rico, disponibilidade para relao, a demanda de amor surgiu.
Refletir sobre a natureza da demanda faz-se
necessrio quando nos deparamos com uma compreenso generalizada no senso comum, e, alarmantemente, no meio acadmico, de que as pessoas de baixa renda no tm sofrimento psquico, mas necessidade de encher a barriga. Nada mais ingnuo e
insultuoso. Sem negarmos questes concretas de sobrevivncia, consideramos errado e incompetente oferecer a essa populao modos de ao que estejam
ligados a valores e regras de convivncia de outras
classes scio-econmicas, negando a elas o que supomos no ser uma necessidade bsica. Essa questo
tem sido abordada por diferentes tericos, como podemos exemplificar com a contribuio de Marcelo
Pakman, que discute que o atendimento a famlias e
pacientes situados em uma fronteira cultural e
socioeconmica diferente da nossa, requer uma reflexo constante do trabalho realizado, bem como uma
terapia da terapia, para se evitar prticas alienadas e
alienantes (Pakman, 1993, 1998, 1999, 2003a). Da
mesma forma, Pedro Demo (1991) insiste em denunciar que constantemente dado ao pobre o que pobre.
Nossa proposta de atendimento clnico comunitrio busca situar-se em uma zona de interseco
da Psicologia Clnica com a Psicologia Social Comunitria, busca superar as diversas crticas j realizadas sobre trabalhos clnicos em comunidade, que no
apresentavam uma reflexo terica, metodolgica,
nem epistemolgica, sendo apenas a transposio de
modelos de consultrio, para o contexto comunitrio
(Freitas, 1998, 2000).
Apoiadas nos pressupostos epistemolgicos acima explicitados, ns apresentamos, a seguir, alguns
elementos fundamentais para o trabalho comunitrio
a partir de uma abordagem clnica.
a) Enfoque nas relaes
Conforme apontado, anteriormente, a comunidade definida por tericos da Psicologia Social Comunitria a partir do conceito de relao. Consideramos fundamental que a interveno comunitria nessa perspectiva clnica seja focada nas relaes familiares, comunitrias, institucionais. Alguns trabalhos
mostram a possibilidade de intervir junto a famlias
de baixa renda, a partir do resgate da auto-estima e
das competncias, contribuindo tambm com a
mobilizao das redes sociais (Dabas, 1995).
O trabalho com Grupos Multifamiliares se apresenta como um instrumento que alcana tais objeti36
vos, bem como demonstra eficcia no alvio de tenses, compartilhamento de sentimentos e ampliao
da conscincia sobre os problemas enfrentados e busca de solues (Costa 1998, 1998a). Complementar a
essa proposta mais educativa e preventiva dos Grupos
Multifamiliares, Brando (2001) investigou a to praticada - mas pouco estudada - Visita Domiciliar como
estratgia de interveno com famlias de baixa renda. Esse instrumento mostrou-se adequado para
aprofundar intervenes de questes que no so possveis em grupo; vincular a famlia instituio pela
qual a visita acontece e mobilizar as redes sociais,
pois o espao da casa em famlias de periferia no
tem o aspecto privado das famlias de classe mdia
alta. A presena constante de vizinhos indica, no
apenas que eles tambm compartilham daquela realidade, como tambm expressam uma rede de apoio
da famlia (Brando, 2001; Brando & Costa, 2003).
A interveno a partir desse enfoque tem sido
possibilitada por meio de tcnicas desenvolvidas por
terapeutas familiares, como a circularizao e a devoluo. A circularizao uma tcnica que visa mobilizar fala de todos os presentes (Anderson &
Goolishian, 1993; Boscolo, Cecchin, Hoffman & Penn,
1993) e a devoluo, utilizada nas visitas, uma carta que os visitadores escrevem para a famlia sobre o
tema conversado, com o objetivo de mostrar novas
formas de pensar sobre ele, provocar a famlia e ampliar a compreenso sobre o problema discutido
(Ausloos, 1996; Molina-Loza, 2000; 2000a; Neubern
et al., 2000).
Em ambas as estratgias de interveno, o
enfoque na mobilizao das redes sociais constitui
preocupao central, a fim de que possam ser includos, na resoluo das questes que emergem, outros
indivduos e instituies da comunidade.
b) Mobilizao da rede social
Rede social um conceito que enfoca a interao
humana e trata da mobilizao da rede natural de
contatos para o desenvolvimento e mudanas tanto
individuais como familiares, e para a resoluo de
crises na famlia e na comunidade. Esse conceito surgiu em funo da crise de identidade da sociedade
atual, com a ruptura das redes sociais de pertencimento
e de segurana. Uma reviso dos processos sociais,
antropolgicos e econmicos nos tem mostrado um
processo de migrao forte levando a desfiliao
(Castel, 1994), isto , quando os laos de pertencimento
vo se debilitando.
Pensar em rede significa abandonar um
paradigma de perceber a clientela como um alvo nico da interveno, e o profissional o nico recurso
possvel. Significa repensar a relao que se estabelece entre as pessoas, as famlias, os adolescentes e os
Psicologia & Sociedade; 17 (2): 33-41; mai/ago.2005
profissionais que com estas pessoas trabalham. No
mais uma relao desigual de reconhecimento de competncias, mas um crdito na capacidade reflexiva e
gerenciadora das pessoas de criarem e gerirem seus
projetos de vida. Participar da construo de rede
social , antes de tudo, acreditar na rede de solidariedade entre pessoas e no potencial que elas possuem
para compartilhar os problemas e as solues em comum. Tentar conceituar rede social nos leva, antes, a
assumir uma epistemologia (Saidn, 1995).
Para isto, precisamos retomar alguns pensamentos bsicos sobre aportes tericos atuais que trazem
grandes contribuies para as cincias humanas. Um
primeiro aspecto a ser pensado o ser humano enquanto uma unidade biopsicosociocultural. Este
enfoque traz em si a idia de no dissociar da pessoa
sua impregnao cultural, seu comportamento social
e sua capacidade de se adaptar ao meio. O ser humano resultado de sua histria de relaes com outras
pessoas, com a famlia, com os grupos sociais e com
a cultura.
Maturana (1998) enfoca o ser humano como
um ser autopoitico, isto , possuidor de uma organizao de produo de componentes que em suas
interaes, constitui a rede de produes que o produz. O organismo se autoproduz. E continua: Ns,
seres vivos, somos sistemas determinados em nossa
estrutura (p.27). Somos determinados estruturalmente, mas no pr-determinados. Temos uma estrutura
plstica que muda, em contato com o meio. Somos
organizados de tal forma que, quando algo ocorre
conosco, nossa reao depende de ns, depende desta
nossa estrutura, e no daquele algo externo.
Um outro aspecto a perspectiva de ordem/
desordem trazida por Morin (1995). A perspectiva de
ordem, determinismo, linearidade, reducionismo
substituda por circularidade, desordem, complexidade, acaso, emergncia do novo. a partir desta compreenso de que a desordem aparente e contm em
si uma organizao, que se expressa no ciclo do desenvolvimento. Isto implica perceber a unidade na
diversidade e a diversidade na unidade.
Pakman (1992) traz uma concepo de que a
auto-organizao vem acompanhada de uma desorganizao no sistema circundante. Existe uma
regulao permanente do contato destas duas foras:
auto-organizao e desorganizao. Sendo assim,
entendemos que os organismos, os sistemas sociais se
constituem em sistemas auto-organizadores, que produzem mudanas atravs da instalao e reinstalao
de ordem e desordem sucessivamente.
Pensar em rede, como diz Osvaldo Saidn
(1995), constitui-se mais num plano de consistncia
do que numa organizao, mais um plano de
imanncia, do que de transcendncia. Por isto pen-
sar em rede traz um caminho terico e, s vezes,
prtico; em outros momentos uma estratgia e tambm uma organizao, uma epistemologia e um
instrumental. No h especialista em rede, a no ser
aquele que encontra um modo de faz-la funcionar.
A rede faz sentido na medida em que entra em
nossa prtica, no s como pensamento, mas tambm como promoo de acontecimentos que levem
participao e solidariedade. Est implcito formao de rede um resgate do ser como protagonista
de sua vida e de suas relaes sociais, uma transformao de pessoa-objeto em pessoa-sujeito, uma clara
visualizao de seus recursos emocionais e mentais,
uma valorizao de seus saberes, uma conscincia de
seu papel social. E isto diz respeito ao profissional
que trabalha na facilitao desta construo, como
para a clientela que participa do seu enriquecimento.
c) Vinculao com instituies e lderes da
comunidade
caracterstico da interveno psicossocial o
vnculo com alguma instituio da comunidade. A
instituio , normalmente, o espao no qual as relaes comunitrias se estabelecem, sendo, assim, o
contexto no qual os indivduos apresentam suas demandas, explcitas ou implcitas. Rochael Nasciutti
(2000) define, a partir da contribuio da
psicossociologia, instituio como tudo aquilo que
se tornou institudo, reconhecido como tendo existncia materializada na vida social (p.103). Instituies
so estabelecidas a partir da dinmica social, e, dessa forma, fundamental que a atuao comunitria
seja por meio destas.
As demandas que chegam psicologia, de forma geral, so originrias de alguma instituio. Postos de sade, escolas, centros de assistncia social;
bem como instituies constitudas a partir de organizao social, como Associao de Moradores, ONGs,
ou instituies de natureza religiosa, so as portadoras iniciais dos pedidos da comunidade. Parte desse
pedido inicial a busca de compreender as demandas,
nem sempre claras, que existem na comunidade. O
profissional deve partir dessas questes, escutar o que
se fala na instituio, considerando que ela uma
das instituies na qual se apresenta a demanda. Quais
outras dimenses do pedido existem? O que faz com
que aquele pedido se expresse daquela forma naquela
instituio? Qual a relao entre os integrantes da
comunidade com a instituio que veicula o pedido?
Qual a histria da instituio naquela comunidade?
Essas questes so importantes para evitar a
ingenuidade de pensar que uma instituio representa todos os integrantes da comunidade, ou de acreditar na eficcia de uma interveno que no se concretize via instituio. A instituio , pois, mediadora
37
Costa, L.F.; Brando, S.N. Abordagem clnica no contexto comunitrio: uma perspectiva integradora
38
entre a comunidade e o profissional. O trabalho deste
ocorre nesse ponto de tenso: estar submetido s regras, ao funcionamento e dinmica da instituio,
sem sucumbir ao institudo.
Ainda nesse aspecto, a relao com instituies
em comunidades de baixa renda apresenta um desafio especfico: o de no atender ao carter
assistencialista que historicamente caracteriza as entidades que atuam nesse contexto.
contribuir para uma interveno que repense
paradigmas e metodologias de forma a adequ-los
realidade social e econmica brasileira.
d ) Ao que vise autonomia e autogesto
O assistencialismo no caracteriza apenas a
doao de produtos concretos. H os assistencialismos
afetivo e emocional que tambm sustentam relaes
de dominao (Guareschi, 2000). Essa forma de relao inviabiliza a emergncia do sujeito como ator
social, a potencializao das suas prprias capacidades de refletir sobre social e de transformar sua realidade. Minuchin e colaboradores (1999) analisam que
as famlias pobres no esto acostumadas a exercer
um papel ativo na resoluo de seus problemas. Isso
porque as aes das instituies sociais muitas vezes
assumem as decises em busca de proteger quem possa parecer mais frgil e/ou ameaado, deixando de
ver o sistema de forma mais ampla. Os autores apontam ser necessrio que a equipe tenha habilidades para
estimular uma postura mais ativa da famlia, paradoxalmente, aprendendo a trabalhar muito ao assumir um papel menos importante (Minuchin e cols.,
1999, p.46).
A interveno comunitria deve viabilizar que
os prprios membros da comunidade desenvolvam
mecanismos de ajuda, no permanecendo dependentes da interveno efetuada. Parafraseando Pedro Demo
(1991), interveno bem feita aquela que se torna
dispensvel. Para isso, o trabalho realizado deve ser
uma negociao entre profissional e comunidade, bem
como deve ser constantemente avaliado pela comunidade, estando a cargo da mesma, a definio da continuidade ou no.
Sem esgotar as possibilidades de reflexo sobre as contribuies tericas da abordagem clnica
em contexto comunitrio e com muito ainda a ser
construdo em termos metodolgicos, adequados as
particularidades de cada contexto, apresentamos nesse trabalho a forma como temos produzido a nossa
prtica, a fim de contribuir para esse contnuo processo.
Nessa proposta, o trabalho com grupos comunitrios deve considerar no apenas a questo da sade mental, como tradicionalmente tem sido enfocado
(Celia, 1997), mas incluir a dimenso scio-histrica, as relaes de poder como passveis de produzir
sofrimento psquico, devendo ser abordadas de forma
mais ampla. Esse dilogo proposto nesse texto visa
Ausloos, G. (1996). A Competncia das Famlias. Tempo, caos e processo. Lisboa: CLIMEPSI.
REFERNCIAS
Anderson H. & Goolishian, H. (1993). O Cliente o
Especialista. Uma abordagem para terapia a partir
de uma posio de No Saber. Nova Perspectiva
Sistmica, Rio de Janeiro, ano II, n. 3: 8-23.
Barbier, R. (1985). Pesquisa ao na instituio
educativa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Bock, A.M.B. (2002). A Psicologia Scio-Histrica:
uma perspectiva crtica em psicologia. In: A.M.B. Bock;
M.G.M. Gonalves & O. Furtado (Orgs.). Psicologia
Scio-Histrica (pp.15-35). Uma perspectiva crtica em
Psicologia. So Paulo: Cortez. 2 Ed..
Boscolo, L.; Cecchin, G.; Hoffman, L. & Penn, P. (2003).
A Terapia Familiar Sistmica de Milo. Conversaes
sobre teoria e prtica. Porto Alegre: Artes Mdicas.
Brando, S. N. & Costa, L. F. (2004). Visita Domiciliar
como Proposta de Interveno Comunitria. In: M. A.
Ribeiro & L. F. Costa. Famlia e Problemas na
Contemporaneidade: Reflexes e Intervenes do Grupo
Socius (pp. 157-179).Braslia: Universa.
Brando, S.N. (2001). Visita Domiciliar: ampliando
intervenes clnicas em comunidade de baixa renda.
Dissertao de Mestrado, Universidade de Braslia,
Braslia-DF.
Camino, L. & Ismael, E. (2003). O papel da psicologia nos processos de excluso. In: A.M.C. Guerra; L.
Kind; L. Afonso; M.A.M. Prado (Orgs.). Psicologia
Social e Direitos Humanos (pp.185-200). Belo Horizonte: Edies Campo Social.
Carone, I. (2003). A Psicologia tem paradigmas? So
Paulo: Casa do Psiclogo/FAPESP.
Castel, R. (1994). Da indigncia excluso, a
desfiliao. Precariedade do trabalho e
vulnerabilidade relacional. In: Lancetti, A. (Org.).
Sade Loucura, n.4, (pp. 21-48). So Paulo: Hucitec.
Celia, S. (1997). Grupos Comunitrios. In:
Zimmerman, D.E & Osorio, L.C. Como trabalhamos
com grupos (pp.101-105). Porto Alegre: Artes Mdicas.
Psicologia & Sociedade; 17 (2): 33-41; mai/ago.2005
Conselho Federal de Psicologia. (Acesso em 05 abr.
2005.) Cdigo de tica do Profissional Psiclogo, 1987.
Disponvel em: <http://www.pol.org.br/legislacao/
pdf/codigo_de_etica.pdf>.
Costa, L. F. (2003). E Quando Termina em Mal Me
Quer? Reflexes acerca do Grupo Multifamiliar e da
Visita Domiciliar como Instrumentos da Psicologia
Clnica na Comunidade. Braslia: Universa.
Costa, L. F. (1999). O Trabalho da Psicologia Clnica
na Comunidade atravs do Psicodrama: a Reunio
Multifamiliar. Revista Brasileira de Psicodrama, So
Paulo, v. 7, n. 2: 17 34.
Costa, L. F. (1998/1999.). Possibilidade de criao de
um contexto educativo: grupos multifamiliares. Linhas
Crticas, Braslia, v. 4, n. 7-8: 159-174.
Costa, L.F. (1998a). Reunies multifamiliares:
condio de apoio, questionamento e reflexo no
processo de excluso de membros da famlia. Ser
Social, Braslia, n. 3: 245-272.
Costa, L.F. (1998). Reunies Multifamiliares: Uma
Proposta de Interveno em Psicologia Clnica na
Comunidade. Tese de Doutorado, Universidade de So
Paulo, So Paulo.
K.S;. Michels, L.R.F; Schlindwein, L.M. & Guareschi,
P.A. (Orgs.) tica e Paradigmas na Psicologia Social.
(p.17-33). Porto Alegre: ABRAPSOSUL.
Guareschi, P. (2000). Relaes Comunitrias - Relaes de Dominao. In: Campos, R.H.F. (Org.). Psicologia Social Comunitria - da solidariedade autonomia. (pp.81-99). 4 Ed. Petrpolis: Vozes.
Guareschi, P. (2004). Psicologia Social Crtica como
prtica de libertao. Porto Alegre: EDIPUCRS.
Lvy, A. A. (1994). Psicossociologia: crise ou
renovao? In: Mata Machado, M.N. et al (Orgs.)
Psicossociologia. Anlise social e interveno (pp.101121). Petrpolis: Vozes.
Maturana, H. Emoes e Linguagem na Educao e na
Poltica. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.
Minuchin, P.; Colapinto, J. & Minuchin, S. (1999).
Trabalhando com Famlias Pobres. Porto Alegre: Artes
Mdicas.
Molina-Loza, C.A. (2000 a.). Eu no sabia... mas Clio
me contou. Narrativas Teraputicas II. Belo Horizonte: ArteS.
Dabas, E.N. (1995). A Interveno em Rede. Nova
Perspectiva Sistmica, Rio de Janeiro n. 6, 3-18.
Molina-Loza, C.A. (2000). Histrias, contadas com
amor, para mudar e crescer. Narrativas Teraputicas
I. Belo Horizonte: ArteS.
Demo, P. (1991). Assistncia Social como direito da
cidadania. Braslia: Apostila, DME/SAE.
Morin, E. Introduo ao Pensamento Complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 2 Ed., 1995.
Freitas, M.F.Q. (1998). Novas Prticas e Velhos
Olhares em Psicologia Comunitria. In: Souza, L.;
Freitas, M.F.Q & Rodrigues, M.M.P. (Orgs.). Psicologia:
reflexes (im)pertinentes (pp. 83-108). So Paulo: Casa
do Psiclogo.
Neubern, M.; Egg, R.; Guimares, I.; Mazali, L. &
Pereira, M.H. (2000). Texto no publicado, Devolues Escritas em Terapia Familiar: Um Estudo Inicial.
Freitas, M.F.Q. (2000). Psicologia na comunidade,
psicologia da comunidade e psicologia (social)
comunitria: Prticas da psicologia em comunidade
nas dcadas de 60 a 90, no Brasil. In: Campos, R.H.F.
(Org.). Psicologia Social Comunitria - da
solidariedade autonomia. (pp.54-80). 4 Ed.
Petrpolis: Vozes.
Gaujelac, Vincent de. (2001). Psicossociologia e sociologia clnica. In Arajo, J. N. G. de e Carreteiro, T.C.
(orgs). Cenrios Sociais e abordagem clnica. (pp 3547). So Paulo: Escuta.
Guareschi, P. (2003). tica e paradigmas. In: Ploner,
Neuburger, R. (1994). Psychanalyse et thrapie
familiale systhmique. Paris: ESF.
Pakman, M. (2003a). Conhecimento disciplinar,
posmodernismo e globalizao: uma chamada
virada reflexiva de Donald Schn para as profisses
de sade mental. Nova Perspectiva Sistmica, ano XII,
n. 22: 745.
Pakman, M. (1999). Desenhando Terapias em Sade
Mental Comunitria: Potica e Micropoltica Dentro e
Alm do Consultrio. Nova Perspectiva Sistmica, Rio
de Janeiro, ano VIII, n. 13: 625.
Pakman, M. (1998). Educao e Terapia em Fronteiras
Culturais: Por Prticas Sociais Crticas nos Servios
39
Costa, L.F.; Brando, S.N. Abordagem clnica no contexto comunitrio: uma perspectiva integradora
Pakman, M. (2003). Elementos para una potica
foersteriana en la prctica psicoteraputica. Sistema Familiares y otros Sistemas, Buenos Aires, v. 19,
n. 3: 49 64.
Pakman, M. (1993). Terapia Familiar em contextos
de Pobreza, Violncia e Dissonncia tnica. Nova Perspectiva Sistmica, Rio de Janeiro, n. 4: 8-19.
Ricci, L. (2003) Psicologia Comunitria
Transformativa. In:. Guerra, A.M.C et al (Orgs.) Psicologia Social e Direitos Humanos (pp.227-243). Belo
Horizonte: Edies Campo Social.
Rochael Nasciutti, J. (2000). A instituio como via
de acesso comunidade. In: Campos, R.H.F. (Org.).
Psicologia Social Comunitria - da solidariedade autonomia (pp.100-126), 4Ed. Petrpolis: Vozes.
Saffioti, H. I. B. (1992). Rearticulando gnero e classe social. In: Costa, A.O. & Bruschini, C. (Orgs.) Uma
questo de gnero. So Paulo: Rosa dos Tempos/Fundao Carlos Chagas.
Saidn, O. (1995). Las redes: pensar de otro modo.
In: DABAS, E. & Najmanovich, D. (Orgs.) Redes. El
lenguaje de los vnculos. Hacia la reconstruccin y el
fortalecimiento de la sociedad civil (pp. 203-207).
Buenos Aires: Paids
Sawaia, B. (2000). Comunidade: a apropriao cientfica de um conceito to antigo quanto a humanidade. In: Campos, R.H.F. (Org.). Psicologia Social Comunitria - da solidariedade autonomia(pp.35-53).
4Ed. Petrpolis: Vozes.
Svigny, Robert. (2001). Abordagem clnica nas cincias humanas. In Arajo, J. N. G. de & Carreteiro,
T.C. (orgs), Cenrios Sociais e abordagem clnica (pp
12-33). So Paulo: Escuta.
Vasconcellos, M. J. E. (2002). Pensamento sistmico.
O novo paradigma da cincia. So Paulo: Papirus.
Waldegrave, C. & Tamasese, K. (2001). Algumas idias centrais no mtodo da Just Therapy. Nova Perspectiva Sistmica, Rio de Janeiro, Ano X, n. 19: 9-25.
Waldegrave, C. (2001a). Just Therapy com famlias
e comunidades. In: M.A. Grandesso (Org.) Terapia e
Justia Social: respostas ticas a questes de dor em
terapia. (pp.19-35). So Paulo: APTF
40
Wiesenfeld, E. (1998). El construccionismo crtico: su
pertinencia en la psicologia social comunitaria. Psicologia e Sociedade, So Paulo, v. 10, n. 2: 137-157.
Liana Fortunato Costa Psicloga, Terapeuta Familiar, Psicodramatista, Doutora em Psicologia Clnica
pela Universidade de So Paulo, Pesquisadora Associada Adjunto da Universidade de Braslia, afiliada
ao Departamento de Psicologia Clnica e desenvolve
suas pesquisas no Laboratrio de Famlia, Grupos e
Comunidade. O endereo para correspondncia :
Instituto de Psicologia. Universidade de Braslia,
Caixa Postal 4500 * 70.910-900 Braslia, DF, Brasil.
E-mail: lianaf@zaz.com.b
Shyrlene Nunes Brando Psicloga, Mestre em Psicologia Clnica pela Universidade de Braslia, Formao em Psicodrama no Centro de Psicodrama de
Braslia CEPB. O endereo postal da autora : Universidade Catlica de Braslia, Curso de Psicologia.
Campus 1. Q.S. 07. Lote 01. CEP: 71966700. guas
Claras, Taguatinga. E-mail: shyrlene@ucb.br
Liana Fortunato Costa
Shyrlene Nunes Brando
Abordagem clnica no
contexto comunitrio:
uma perspectiva integradora
Recebido: 16/11/2004
1 reviso: 23/05/2005
Aceite final: 21/07/2005
Você também pode gostar
- Psicologi Comunitri LivroDocumento10 páginasPsicologi Comunitri LivroAna carla Da silvaAinda não há avaliações
- Psicologia SistêmicaDocumento4 páginasPsicologia SistêmicaLivia LoubackAinda não há avaliações
- Psicologia ComunitáriaDocumento3 páginasPsicologia ComunitáriaJocelma PratesAinda não há avaliações
- Núcleos de Significação - Aguiar e OzellaDocumento24 páginasNúcleos de Significação - Aguiar e OzellaRafaela Fidêncio100% (2)
- Psicologia ClinicaDocumento12 páginasPsicologia ClinicaJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Abordagem Clínica ComunitáriaDocumento15 páginasAbordagem Clínica ComunitáriapalomavqAinda não há avaliações
- Abordagem Clinica No Contexto ComunitárioDocumento21 páginasAbordagem Clinica No Contexto ComunitárioAndressaAinda não há avaliações
- Trabalho Psi ComunitariaDocumento7 páginasTrabalho Psi ComunitariaamandaAinda não há avaliações
- Clínica PolíticaDocumento19 páginasClínica PolíticaGabriela BandeiraAinda não há avaliações
- Psicologia Social CríticaDocumento10 páginasPsicologia Social CríticaangelacezarioborgesAinda não há avaliações
- Alguns Quadros Teóricos Da Psicologia ComunitáriaDocumento6 páginasAlguns Quadros Teóricos Da Psicologia ComunitáriaJoão HorrAinda não há avaliações
- A Psicologia Social Clinica Jacqueline Barus Michel PDFDocumento28 páginasA Psicologia Social Clinica Jacqueline Barus Michel PDFLeonardo TononAinda não há avaliações
- Fichamentos para Psicologia Social - Trabalho Final PDFDocumento19 páginasFichamentos para Psicologia Social - Trabalho Final PDFEvellyn KhristalAinda não há avaliações
- O Conceito Rogeriano de Experiência Na Práxis Da Psicologia Comunitária CearenseDocumento18 páginasO Conceito Rogeriano de Experiência Na Práxis Da Psicologia Comunitária CearenseCamila MaiaAinda não há avaliações
- Contribuições Da Poética Social À Pesquisa em Psicoterapia de Grupo Carla Guanaes e Marisa JapurDocumento8 páginasContribuições Da Poética Social À Pesquisa em Psicoterapia de Grupo Carla Guanaes e Marisa JapurFabíola ShibataAinda não há avaliações
- AD 2.1 - Clínica de Bases Sócio HistóricaDocumento4 páginasAD 2.1 - Clínica de Bases Sócio HistóricaAilton do Carmo Nogueira AiltonAinda não há avaliações
- Resenha Sobre Obra de Berger e Luckman1sDocumento5 páginasResenha Sobre Obra de Berger e Luckman1sMarcelo Pustilnik VieiraAinda não há avaliações
- Teresa - A HISTÓRIA DE VIDA LABORAL COMO MÉTODO DE PESQUISA EM PSICOSSOCIOLOGIADocumento47 páginasTeresa - A HISTÓRIA DE VIDA LABORAL COMO MÉTODO DE PESQUISA EM PSICOSSOCIOLOGIAJoão LucasAinda não há avaliações
- Psicologia Comunitária e Biodança - Contribuições Da Categoria VivênciaDocumento12 páginasPsicologia Comunitária e Biodança - Contribuições Da Categoria VivênciaMayrá LobatoAinda não há avaliações
- Pertencimento e Vínculo AfetivoDocumento7 páginasPertencimento e Vínculo AfetivoNáthani SiqueiraAinda não há avaliações
- Gessione Da Cunha - Ensaio Sobre Psicologia SocialDocumento5 páginasGessione Da Cunha - Ensaio Sobre Psicologia SocialGessione CunhaAinda não há avaliações
- SILVA, Rafael Bianchi CARVALHAES, Flávia Fernandes De. Psicologia e Políticas Públicas Impasses e Reinvenções.Documento11 páginasSILVA, Rafael Bianchi CARVALHAES, Flávia Fernandes De. Psicologia e Políticas Públicas Impasses e Reinvenções.JAQUELINE MARIA GARCAO SANTANA DE MORAESAinda não há avaliações
- Anotações PIchonDocumento5 páginasAnotações PIchonJoão Pedro MurakamiAinda não há avaliações
- PSICO SOCIAL - As Relações de PoderDocumento5 páginasPSICO SOCIAL - As Relações de Poderbrunalimavi99Ainda não há avaliações
- Atividade Discursiva Do Semestre Psicologia SocialDocumento3 páginasAtividade Discursiva Do Semestre Psicologia SocialMaria GóesAinda não há avaliações
- Concepções de Família e Práticas de Intervenção Uma Contribuição AntropológicaDocumento4 páginasConcepções de Família e Práticas de Intervenção Uma Contribuição AntropológicaCristiano Jose MatiasAinda não há avaliações
- Gestalt Terapia e Psicologia Social e ComunitáriaDocumento7 páginasGestalt Terapia e Psicologia Social e ComunitáriadesconhecidoAinda não há avaliações
- Texto 5 Uma Reflexão Sobre A Psicologia Social Comunitária (Lido e Resumido)Documento4 páginasTexto 5 Uma Reflexão Sobre A Psicologia Social Comunitária (Lido e Resumido)Cássio BritoAinda não há avaliações
- ComunitariaDocumento11 páginasComunitariaRodrigoAinda não há avaliações
- Pichon Rivière ArtigoDocumento9 páginasPichon Rivière ArtigoNatáliaAinda não há avaliações
- 4 - PsicanaliseelacosocialDocumento26 páginas4 - PsicanaliseelacosocialRicardo CunhaAinda não há avaliações
- Arteterapia Como Metodologia SocialDocumento6 páginasArteterapia Como Metodologia SocialJorge Fantinel100% (1)
- Ser Ou Estar Homossexual Dilemas de Construção de Identidade SexualDocumento15 páginasSer Ou Estar Homossexual Dilemas de Construção de Identidade SexualRodrigoAinda não há avaliações
- Considerações Acerca Da Articulação Clínica Rizoma e TransdisciplinaridadeDocumento18 páginasConsiderações Acerca Da Articulação Clínica Rizoma e TransdisciplinaridadeMayrá LobatoAinda não há avaliações
- Texto 1. PSICOLOGIA SOCIAL E O ESTUDO DA DESIGUALDADEDocumento12 páginasTexto 1. PSICOLOGIA SOCIAL E O ESTUDO DA DESIGUALDADEJoaquim RochaAinda não há avaliações
- Rivero 9788599662861 12 PDFDocumento6 páginasRivero 9788599662861 12 PDFMarcio Barra-ValenteAinda não há avaliações
- T.O Social o Caminho Se Faz Ao CaminharDocumento8 páginasT.O Social o Caminho Se Faz Ao CaminharRovana PatrocinioAinda não há avaliações
- ESCRITOS E COMPÊNDIO SOCIOLÓGICOS E PSICANALÍTICOS: do TrabalhoNo EverandESCRITOS E COMPÊNDIO SOCIOLÓGICOS E PSICANALÍTICOS: do TrabalhoAinda não há avaliações
- FRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHONo EverandFRONTEIRAS: PSICANÁLISE E A SOCIOLOGIA: O SABER DO INDIVÍDUO E DA SOCIEDADE DO TRABALHOAinda não há avaliações
- Primeiro Grupo, INVESTIGAÇÃO PARTICIPATIVA EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIADocumento14 páginasPrimeiro Grupo, INVESTIGAÇÃO PARTICIPATIVA EM PSICOLOGIA COMUNITÁRIAO'incorrigivelAinda não há avaliações
- Terapias Pós Modernas Perspectiva Multidisciplinar 3Documento26 páginasTerapias Pós Modernas Perspectiva Multidisciplinar 3Emanuel ArcasAinda não há avaliações
- AV1 Políticas Públicas (Para Enviar)Documento6 páginasAV1 Políticas Públicas (Para Enviar)costagabriel188Ainda não há avaliações
- Intervencao Comunitaria - 3 AnoDocumento56 páginasIntervencao Comunitaria - 3 AnoO'incorrigivelAinda não há avaliações
- Para Uma Psicologia em MovimentoDocumento7 páginasPara Uma Psicologia em MovimentoLuisa LopesAinda não há avaliações
- A ComunidadeDocumento5 páginasA Comunidadeisadoragomesdacosta0Ainda não há avaliações
- A Psicologia Sócio-Histórica Na ClínicaDocumento16 páginasA Psicologia Sócio-Histórica Na ClínicaAnderson CastroAinda não há avaliações
- AFONSO Notas Sobre o Sujeito Da Intervenção Psicossocial PDFDocumento20 páginasAFONSO Notas Sobre o Sujeito Da Intervenção Psicossocial PDFAlba Coura100% (1)
- Trabalho de Psicologia SocialDocumento9 páginasTrabalho de Psicologia SocialAntonio Luis NhanalaAinda não há avaliações
- Bases Conceituais para o Diagnóstico Psicopedagógico InstitucionalDocumento24 páginasBases Conceituais para o Diagnóstico Psicopedagógico InstitucionalUliana DCAinda não há avaliações
- Resumo Do Livro Psicologia SocialDocumento6 páginasResumo Do Livro Psicologia SocialSamiresSouzaAinda não há avaliações
- TCC Constelação Familiar SistemicaDocumento14 páginasTCC Constelação Familiar SistemicaEdwaldo Ribeiro CordeiroAinda não há avaliações
- Aula TransdisciplinaridadeDocumento16 páginasAula TransdisciplinaridadeBianca CupulilleAinda não há avaliações
- Intervenção PsicossocialDocumento8 páginasIntervenção PsicossocialAfricanidade100% (1)
- ALVES, Míriam Cristiane e SEMINOTTI, Nédio - O Pequeno Grupo e o Paradigma Da Complexidade em Edgar MorinDocumento21 páginasALVES, Míriam Cristiane e SEMINOTTI, Nédio - O Pequeno Grupo e o Paradigma Da Complexidade em Edgar MorinPterodactilloAinda não há avaliações
- 15071-Texto Do Artigo-43889-1-10-20210110Documento13 páginas15071-Texto Do Artigo-43889-1-10-20210110Celina Calça QuadradaAinda não há avaliações
- Psi. ComunitáriaDocumento32 páginasPsi. ComunitáriaisacristhinaauroraAinda não há avaliações
- Aula 2.2 - O Papel Da Psicologia Nos Processos de Exclusão Social - Camino e IsmaelDocumento13 páginasAula 2.2 - O Papel Da Psicologia Nos Processos de Exclusão Social - Camino e Ismaeljoao vitorAinda não há avaliações
- 13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesDocumento5 páginas13 A PSICOLOGIA E O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE Quais InterfacesGessica AquinoAinda não há avaliações
- Matrizes Teoricas Da Psicologia SocialDocumento2 páginasMatrizes Teoricas Da Psicologia SocialCacilda CarvalhoAinda não há avaliações
- Cap. Livro PSADocumento8 páginasCap. Livro PSAJoão FerreiraAinda não há avaliações
- Psicologia, subjetividade e políticas públicasNo EverandPsicologia, subjetividade e políticas públicasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- Luto: Uma Descrição Sobre Os Processos de Elaboração Do EnlutadoDocumento18 páginasLuto: Uma Descrição Sobre Os Processos de Elaboração Do EnlutadoJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Denise Quaresma Da Silva PDFDocumento9 páginasDenise Quaresma Da Silva PDFJuliana Rodrigues100% (1)
- Considerações Acerca Dos Processos Psíquicos Do Luto - Artigo CientíficoDocumento22 páginasConsiderações Acerca Dos Processos Psíquicos Do Luto - Artigo CientíficoJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Alfredo JerusalinskyDocumento18 páginasAlfredo JerusalinskyJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Prefeitura Municipal de Assis Chateaubriand - PRDocumento48 páginasPrefeitura Municipal de Assis Chateaubriand - PRJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- Historia Do Brasil Boris Fausto ResumoDocumento40 páginasHistoria Do Brasil Boris Fausto ResumoJuliana RodriguesAinda não há avaliações
- L13257 - Lei Da Primeira InfanciaDocumento11 páginasL13257 - Lei Da Primeira InfanciaJuliana RodriguesAinda não há avaliações