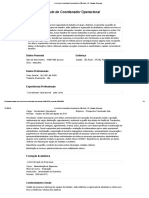Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
110810121246educacao Na Saude Saude Coletiva e Ciencias Politicas - Ricardo Burg Ceccim Fábio Pereira Bravin e Alexandre André Dos Santos
110810121246educacao Na Saude Saude Coletiva e Ciencias Politicas - Ricardo Burg Ceccim Fábio Pereira Bravin e Alexandre André Dos Santos
Enviado por
Bruno Hudson CoutinhoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
110810121246educacao Na Saude Saude Coletiva e Ciencias Politicas - Ricardo Burg Ceccim Fábio Pereira Bravin e Alexandre André Dos Santos
110810121246educacao Na Saude Saude Coletiva e Ciencias Politicas - Ricardo Burg Ceccim Fábio Pereira Bravin e Alexandre André Dos Santos
Enviado por
Bruno Hudson CoutinhoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
LUGAR COMUM N28, pp.
159-180
Educao na sade, sade coletiva e
cincias polticas: uma anlise da formao
e desenvolvimento para o Sistema
nico de Sade como poltica pblica
Ricardo Burg Ceccim
Fbio Pereira Bravin
Alexandre Andr dos Santos51
A contribuio da rea das Cincias Polticas para interpretar e discutir a
proposio, implementao e avaliao de polticas pblicas no tem sido freqente na rea da sade. A necessidade de incorporao, pelas organizaes de sade,
de dispositivos e mecanismos que possibilitem processos cognitivos e de desenvolvimento individual, coletivo e institucional, por exemplo, demanda h muito
tempo polticas pblicas com consistncia e correspondncia aos determinantes
polticos do Sistema nico de Sade, no caso brasileiro. Mais relevante se torna
esta abordagem quando reconhecemos que a tradio de polticas pblicas de formao e desenvolvimento implementados na histria dos sistemas de sade a do
treinamento em servio e dos pacotes programticos. A histria brasileira e mesmo
a do Sistema nico de Sade est farta delas. Muitos sanitaristas no conseguem
se afastar da Ao Programtica como poltica pblica, assim sonham a educao
como penduricalho da mesma. Essa uma trajetria clssica e dela no conseguem
se afastar muitos professores e sanitaristas, embora o crescente afastamento dos
gestores locais, dos trabalhadores e dos estudantes das profisses de sade.
A introduo dessas consideraes tem alguns pontos de partida, entre
outros: (1) o reconhecimento da inadequao da formao profissional em sade,
em todos os nveis, s necessidades do Sistema nico de Sade no desafio de
responder s demandas da populao e de desenvolvimento dos princpios e diretrizes do SUS; (2) a percepo de ineficcia das atividades educativas convencionais (cursos de capacitao, treinamentos e atualizaes profissionais, inclusive
51 Ricardo Burg Ceccim, Fbio Pereira Bravin e Alexandre Andr dos Santos compartilharam
as vrias etapas de organizao do texto final, aproveitando ensaios originais de aulas na psgraduao em educao na sade, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; ensaios apresentados ao estudo em polticas pblicas da Universidade de Braslia e ensaios apresentados ao
estudo em cincias polticas da Universidade de Braslia.
160
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
programas de especializao) da rea da sade em promover a transformao das
prticas, tendo em vista o acolhimento concreto dos usurios em aes e servios
de sade, segundo suas necessidades, sempre que busquem essas aes e servios, (3) a elevao de qualidade e da resolutividade da ateno e a composio
real de um trabalho e um processo de trabalho em equipes multiprofissionais e
interdisciplinares; (4) a constatao da fratura, em lugar da interseo, entre ensino e trabalho, cada qual correndo por vias paralelas, em acusao recproca,
naturalizando uma distino entre mundo do ensino e mundo do trabalho como
se pertencessem a sociedades dicotmicas, cuja nica interao possvel clientelista: um lado que demanda e um lado que oferta e (5) a negao do processo
de estudo e trabalho pelo qual indivduos, coletivos e instituies, embasados em
anteprojetos ou por fora de implicao, estabelecem processos de crescimento,
entabulam obras, empenham-se em modificaes nas estruturas de produo da
sade, isto , a negao da rea de desenvolvimento (estamos falando de formao e desenvolvimento).
Ao buscar relacionar esses elementos com a educao na sade como
poltica pblica, tecemos uma argumentao em dois blocos: o primeiro explicita
o contexto de mobilizao e implantao da Poltica Nacional de Formao e
Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educao Permanente em Sade,
entre 2003 e 2005, bem como seus pressupostos, elementos-chave e objetivos; o
segundo relaciona os movimentos de formulao e os efeitos de implementao
da Poltica Nacional de Formao e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para
a Educao Permanente em Sade, entre 2003 e 2005 s observaes de alguns
autores das Cincias Polticas e a analisa como resposta do Estado s questes
levantadas por estes autores relativamente noo de poltica pblica.
No pretendemos ser conclusivos, mas apresentar consideraes iniciais
para a discusso e a anlise da Poltica Nacional de Formao e Desenvolvimento
para o SUS: Caminhos para a Educao Permanente em Sade luz das contribuies das Cincias Polticas para pensar a montagem de polticas pblicas; destacando a importncia da formao e do desenvolvimento dos trabalhadores do
Sistema nico de Sade (SUS) para responder a seus desafios originais e atuais,
decorrentes de sua implantao e implementao.
A educao permanente em sade como agenda pblica
Em 2003, incio do governo Lula, o Ministrio da Sade criou e instituiu
em sua estrutura organizacional o Departamento de Gesto da Educao na Sade
(DEGES), componente da Secretaria de Gesto do Trabalho e da Educao na
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
Sade (SGTES), que, entre outros desafios, deveria enfrentar as questes que envolvem a formao e o desenvolvimento dos profissionais de sade. Vale registrar
que essa institucionalizao interpretou o processo iniciado no bojo da reforma sanitria brasileira e continuado ao longo da implantao e desenvolvimento do SUS,
nas questes relativas ao segmento dos trabalhadores (cf. Ministrio da Sade.
Secretaria de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, 2004 e Mehry, 2006).
O processo de Reforma Sanitria, com a construo de novos mecanismos polticos e administrativos de organizao setorial (Aes Integradas de Sade, em 1984; Sistema Unificado e Descentralizado de Sade, em 1986 e Sistema
nico de Sade, em 1988), bem como a concomitante redemocratizao do pas
pelo fim da ditadura militar e o desenrolar de um processo nacional constituinte, estimularam o debate, estudos e pesquisas sobre os vrios componentes de
um sistema de sade, inclusive sobre a fora de trabalho empregada nesse setor
(Campos, 1989). A fora de trabalho ou o segmento dos trabalhadores, aquele
campo que, nas cincias administrativas ou na psicologia organizacional, ficou
conhecido como rea de recursos humanos, ganha lugar singular no SUS: trabalhadores de sade. Para Ceccim (2005), onde sempre se falou em Recursos Humanos da Sade, deveramos falar em Coletivos de Produo da Sade, uma vez que
a formao e desenvolvimento porque passam os trabalhadores e a administrao
e organizao da fora de trabalho precisam significao junto integralidade,
educao permanente em sade, s prticas cuidadoras, gesto democrtica e
participativa e ao controle social em sade.
Ao longo da consolidao e desenvolvimento do SUS as questes do trabalho em sade afirmaram-se como elemento da agenda de lutas e como desafio
para a sua implantao e implementao. Citamos, por exemplo, a Conferncia
Nacional de Recursos Humanos da Sade, como desdobramento da 8a Conferncia Nacional de Sade; a Norma Operacional Bsica de Recursos Humanos para
o SUS (NOB-RH/SUS), aprovada em dezembro de 2000, pela 11a Conferncia
Nacional de Sade, a introduo do conceito e imagem de uma Poltica Nacional
de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade, na 12a Conferncia Nacional de
Sade (cf. Ceccim, 2004) e a realizao, em 2006, da 3 Conferncia Nacional de
Gesto do Trabalho e da Educao na Sade (3 conferncia em relao 1 e 2
conferncias nacionais designadas como de Recursos Humanos da Sade, mas
1 com a designao desdobrada da 12 Conferncia Nacional de Sade).
A partir da sua criao, o DEGES trabalhou para a construo de uma poltica de educao para o SUS, reconhecendo, desde o incio, que a execuo deste processo era uma tarefa para coletivos organizados para esta produo (Mehry, 2006).
161
162
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
Para a construo das bases dessa Poltica e na busca de uma articulao
e sinergia das aes, acrescendo elementos que pudessem promover impacto nas
aes e servios de sade em busca do referencial da integralidade, o DEGES
considerou e analisou iniciativas programticas anteriores no campo do desenvolvimento dos profissionais de sade e processos de especializao em servio,
entre elas o Programa de Desenvolvimento Gerencial de Unidades de Sade (GERUS), o Programa de Formao e Capacitao de Pessoal para a Sade da Famlia
(PSF), o Programa de Interiorizao do Trabalho em Sade (PITS) e o Programa
de Aperfeioamento e Especializao de Equipes Gestoras; experincias programticas de mudana na graduao, como o Programa de Incentivo s Mudanas
Curriculares nos Cursos de Graduao em Medicina (PROMED); programas de
educao profissional de nvel tcnico como o Projeto de Profissionalizao dos
Trabalhadores da rea de Enfermagem (PROFAE) e, ainda, os processos nacionais de formao de conselheiros de sade, alm de experincias programticas
de educao popular em sade, todas originrias do Ministrio da Sade (2004).
Embora especificamente esses programas para o desenvolvimento e a
formao de profissionais de sade fossem isolados ou desarticulados entre si - e
a maioria dos processos de especializao em servio o so -, eles provocaram
algumas alteraes na educao e na produo do cuidado em sade e, acima de
tudo, fizeram as pessoas e organizaes perceberem que era preciso mudar - ao
mesmo tempo - tanto as prticas educativas como as aes e servios do SUS
(Ceccim, 2004).
Alm da anlise dos mencionados programas, as prticas em rede de
construo da transformao da graduao nas profisses da sade, como da Comisso Interinstitucional Nacional de Avaliao do Ensino Mdico (CINAEM) e
da Rede Unida (Ceccim e Capozzolo, 2004); as acumulaes na esfera popular
como as da Rede de Educao Popular em Sade (REDEPOP) e as inovaes
na gesto do SUS como a Poltica de Educao em Sade Coletiva, da Escola
de Sade Pblica do Rio Grande do Sul (Ceccim e Armani, 2001; 2002) foram
tomadas como referncia (Ministrio da Sade, 2004).
Depois de lanadas as linhas gerais da poltica, o DEGES estabeleceu um
intensivo processo de interlocuo e aceitao de encaminhamentos para a construo de uma poltica pblica: num primeiro momento, trazendo a Braslia todas
as instituies envolvidas com processos formativos financiados pelo Ministrio
da Sade e, num segundo momento, ao longo do segundo semestre de 2003, percorrendo todo o Pas para apresentar, discutir e qualificar a proposta. Pode-se dizer de uma poltica pblica em processo de realizao, no uma programao em
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
debate ou divulgao de implantao, uma produo em ato das aes, projetos e
estratgias abrangidos pela noo de educao na sade.
Aps aprovao pela Comisso Intersetorial de Recursos Humanos do
Conselho Nacional de Sade, no ms de julho de 2003, essa proposta foi negociada com o Conselho Nacional de Secretrios Municipais de Sade (CONASEMS) e com o Conselho Nacional de Secretrios Estaduais de Sade (CONASS)
e aprovada - com louvor - no Conselho Nacional de Sade (CNS), em setembro
de 2003, sendo objeto de resoluo especfica deste Conselho, a Resoluo no
335/2003. Pactuada e aclamada como grande novidade pela Comisso Intergestores Tripartite no mesmo ms, foi exposta na mesa temtica de Informao, Comunicao e Educao Popular da 12a Conferncia Nacional de Sade, ocorrida
no ms de dezembro do mesmo ano, onde, novamente, foi aprovada em todos os
seus eixos nas discusses em grupos temticos e pela plenria da 12a Conferncia
Nacional de Sade (Braslia, 7 a 11 de dezembro de 2003).
Como deciso da 12 Conferncia Nacional de Sade, foi organizada a
3 Conferncia Nacional de Recursos Humanos da Sade, ento com o nome de
Conferncia Nacional de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade. Um exerccio interessante ainda em aberto est na comparao da NOB-RH/SUS, de 2000,
com o documento-base desta ltima Conferncia, onde as referncias educao
na sade ocuparam mais de 60% dos campos analticos e dos campos propositivos da rea dos trabalhadores. Definitivamente a poltica nacional de formao
e desenvolvimento entabulou uma aposta na educao que a encetou como um
projeto de vida, de cidadania, de autonomia e de trabalho, no mais algo complementar, acessrio, penduricalho das polticas de sade, mas ela prpria uma
poltica pblica.
Em que pese a surpresa para muitos sanitaristas de planto, a educao
conseguiu colocar os trabalhadores no mais elevado patamar de autoria na formulao de polticas para o trabalho em sade e os formadores no mais elevado
patamar de interseo com o trabalho em sade. A academia, palavra freqente
no SUS sempre se perfilou com a pesquisa, raramente com a docncia e com os
estudantes. O professor da sala de aula, do cotidiano do ensino e os estudantes
da rea da sade nunca tiveram tamanho protagonismo numa poltica pblica nacional de sade, o que colocou, para este grupo, os caminhos para a educao
permanente em sade como um tempo de defesa do SUS, de luta por uma sade
perfilada pela integralidade e de ocupao de lugar poltico. Abriu-se um tempo e
lugar semelhante ao anteriormente ocupado pelos movimentos sociais por sade,
ou seja, abriu-se mais um movimento social em defesa do SUS. Este, no mago do
163
164
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
maior n crtico, reconhecido em todas as anlises preparatrias da 3 Conferncia
Nacional de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade: o papel dos formadores,
dos processos de formao e dos estudantes. Professores e estudantes passam a
militantes da afirmao do SUS e da formao para o SUS.
Desiluso dos pensadores tradicionais: a educao no aparece mais
como complementar, mas como central; abandona-se a linguagem dos recursos
humanos ou a linguagem da modernizao em Administrao, o pessoal / as pessoas, para a linguagem dos trabalhadores ou dos operadores e dos coletivos, gente
com desejo e implicao, no treinandos em especializaes e aperfeioamentos.
A universidade, convocada para dentro do SUS, e o sistema de sade,
incitado formao e desenvolvimento com implicao da gesto e modos participativos com os trabalhadores, por meio de articulaes interinstitucionais e locorregionais de educao permanente em sade, descobrem a interseo ensino e trabalho. Interseo ainda por entender, desenvolver, prolongar e estender, mas no se
trata mais da integrao ensino-servio. A interseo se d entre mundo do ensino
e mundo do trabalho, prtica de educao-prtica de sade, produo pedaggicaproduo de sade. Surpresa: no mais os professores, profissionais da academia, e
os trabalhadores dos servios, auxiliares bobos do ensino, mas atores da educao
permanente em sade, ou seja, disseminao de capacidade pedaggica na redeescola do SUS, uma vez que desenvolvimento no pode ser tarefa privativa dos
professores ou das escolas (o terror de uma lei do Ato Pedaggico).
Comearam a proliferar centros de educao permanente em sade nas
Secretarias Municipais de Sade e projetos de Escola SUS com os nomes de redeescola, sistema municipal de sade-escola e SUS-escola (veja-se, por exemplo, as
experincias de Amparo, no estado de So Paulo; Aracaju, no estado de Sergipe;
Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais; Charqueadas, no estado do Rio Grande do Sul; Fortaleza, no estado do Cear ou Joo Pessoa, no estado da Paraba, em
2006), todos buscando interseo com a educao formal (a superior e a tcnica),
materialidade da educao permanente em sade como Poltica Pblica, no sentido que lhe constitui o estudo em Cincias Polticas.
Educao Permanente em Sade como prtica poltica
Um dos produtos de toda a discusso para a construo de uma Poltica
Nacional de Formao e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educao Permanente em Sade se materializou com a publicao, em 13 de fevereiro
de 2004, da Portaria GM/MS no 198/2004, que instituiu a Poltica Nacional de
Educao Permanente em Sade como Estratgia do Sistema nico de Sade
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
para a Formao e o Desenvolvimento de Trabalhadores para o Setor. Ao optar
pela centralidade do conceito de educao permanente em sade para uma poltica de educao para o SUS, o gestor federal atribuiu educao permanente
em sade o estatuto de poltica pblica e esta passou a ser um dispositivo estratgico para a transformao das prticas de formao, de ateno, de gesto, de
formulao de polticas, de participao popular e de controle social na sade, j
que possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal daqueles envolvidos
com o setor da sade como tambm o desenvolvimento institucional e o desenvolvimento da composio em equipes multiprofissionais e interdisciplinares para o
trabalho setorial (na gesto, na ateno e na formao).
Partindo da formulao pedaggica difundida, a partir de 1990, pela
Organizao Pan-Americana da Sade (OPAS) como Educao Permanente do
Pessoal da Sade para alcanar o desenvolvimento dos sistemas de sade na regio das Amricas, a qual reconhecia que somente a aprendizagem significativa
seria capaz da adeso dos trabalhadores aos processos de mudana no cotidiano
(Haddad; Roschke; e Davini, 1994), a educao permanente em sade, na poltica brasileira, configurou-se como um conceito operado para pensar a ligao
entre a educao e o trabalho, a relevncia social do ensino e as articulaes entre
formao para o conhecimento, formao para a vida e formao para o
trabalho.
O conceito foi, ento, ampliado, passando a envolver, conforme Ceccim
(2005), a (1) porosidade do ensino realidade mutvel e mutante das aes e dos
servios de sade; a (2) ligao poltica da formao com a composio de perfis profissionais e de servios; a (3) introduo de mecanismos, espaos e temas
que geram auto-anlise, autogesto e mudana institucional e a (4) introduo de
prticas pedaggicas e institucionais que geram, enfim, processos de pensamento
(problematizao de institudos, de frmulas e de modelos, isto , disrupturas) e
experimentao (em contexto, em ato, isto , vivncias).
A educao permanente em sade tem o prestgio da aprendizagem em
interseo com o trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano do ensino e do trabalho, mas, em outras palavras, a educao permanente
em sade vem para desinstitucionalizar as aes educativas tradicionais para a
formao e o desenvolvimento dos trabalhadores da sade e, depois, reinstitucionaliz-las sob novas bases, a principal a da implicao pessoal, coletiva e institucional com os processos de mudana. Desapega-se da necessidade de acontecer
em momentos e lugares apriorsticos (prefere cenrios de aprendizagem) e com
metodologias apriorsticas (prefere fatores de exposio) para que os processos de
165
166
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
ensino-aprendizagem ocorram com o trabalho em sade, onde operem processos
e relaes e no a transmisso de tecnologias ou tcnicas, a transmisso seria a de
um aprender e no a transmisso de informao. Alimenta-se, portanto, no carter
situacional de uma pedagogia com implicao nas relaes, no trabalho e nos prprios cenrios onde essas relaes se do, da a possibilidade de gerar processos
de ensino-aprendizagem institucional (movimentos instituintes) e transformar as
prticas profissionais ou de ensino e o prprio trabalho em sade ou o trabalho
pedaggico.
Para tanto, conforme se afirma nos documentos propositivos da Poltica,
no basta apenas transmitir novos conhecimentos para os profissionais, pois o
acmulo de saberes tcnicos apenas um dos aspectos para a transformao das
prticas e no o seu foco central. A formao e o desenvolvimento dos trabalhadores tambm teria de envolver os aspectos pessoais, os valores e as idias que cada
profissional tem sobre o SUS e os projetos de sociedade implicados nas lutas por
sade (Ministrio da Sade, 2004; Mehry et al., 2006).
importante, ainda, destacar que no se trata de desqualificar a necessidade e a relevncia da aprendizagem de novos conhecimentos e saberes tecnolgicos num contexto de clere renovao, contudo, uma educao continuada
apresenta-se pontual e especializada, validando os conceitos de separao das especialidades e dos tempos e lugares de implementao dos seus contedos. A proposta da educao permanente em sade que permeou a formulao da Poltica
avana, tendo em vista a pouca ou quase nenhuma capacidade dos treinamentos
em produzirem mudana institucional (territorializao dos movimentos instituintes j postos em cena, embora ilustrando profissionais e gestores). Corrobora
essa idia a observao de Merhy (2005), que considera como objetivo nuclear
proposto pela Poltica, a superao das vises gerenciais que afirmam que a baixa
eficcia de aes de sade seria devida falta de competncia dos trabalhadores
e que poderia ser corrigida medida que os suprssemos com cursos compensatrios, ilustrando-os com aquilo que lhes falta. As avaliaes das aes anteriormente realizadas pelo Ministrio da Sade, como o PROFAE (veja-se Peduzzi e
Anselmi, 2003) e os Plos PSF (veja-se Di Giovanni, 2002) apontaram fartamente
para essa necessidade, afirmando que as formaes no correspondiam s necessidades locais, s configuraes reais do trabalho cotidiano e s articulaes
de atores em torno do SUS. Avaliaes que sistematicamente so relegadas em
suas informaes sobre o comportamento pedaggico das formaes realizadas,
reduzindo-se s somas quantitativas e aos produtos alunos formados/atores beneficiados. Os efeitos polticos das formaes no so matria de anlise, mas
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
seus produtos, o que perfeitamente coerente com a avaliao de polticas sociais, mas discutvel diante da avaliao de polticas pblicas, onde os efeitos de
articulao, coalizo, engajamento, expresso de interesses e democratizao das
decises fator de distino e efetividade.
Estava em jogo aprofundar o SUS, por exemplo, na busca pela integralidade e pelas prticas cuidadoras, portanto, o desafio da poltica em questo era
o de gerar capacidade pedaggica em toda a rede e profissionais que tivessem
compromisso com um objeto e a sua transformao e no com o monoplio de um
saber (os ncleos de conhecimento das profisses) ou o monoplio de um campo
de conhecimento ou de um conjunto de tcnicas, como observa Rovere (2005).
A qualificao das equipes, os contedos dos cursos e as metodologias
de ensino a serem utilizadas na proposta da educao permanente em sade, deveriam, conforme os documentos da Poltica, ser determinados a partir da observao dos problemas que ocorrem no dia-a-dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os servios prestados ganhem qualidade, os usurios fiquem
satisfeitos com a ateno prestada e o Sistema ganhe em implementao prtica
de seus princpios (Ministrio da Sade, 2005; Mehry et al., 2006).
Na educao formal, toda a permeabilidade ao mundo do trabalho, os
compromissos do ensino com o desenvolvimento de apoios aos sistemas de sade,
a priorizao de aes que coloquem a universidade em interseo com o SUS e
com os movimentos de mediao pedaggica no interesse popular pela sade so
prticas de educao permanente em sade (Portaria GM/MS n 198, de 13 de
fevereiro de 2004).
Dispositivos e estratgias da educao permanente em sade como poltica pblica
A Lei 8.080/90, lei orgnica da sade, em seu artigo 14, define a criao
de comisses permanentes entre os servios de sade e as instituies de ensino
profissional e superior com a finalidade de propor prioridades, mtodos e estratgias para a formao e educao continuada dos recursos humanos do Sistema
nico de Sade (SUS), na esfera correspondente, assim como em relao pesquisa e cooperao tcnica entre essas instituies (Lei 8.080, de 19 de setembro
1990).
Para operacionalizar a poltica de formao e desenvolvimento para o
SUS, ao mesmo tempo em que se buscava viabilizar um imperativo presente na
Lei Orgnica da Sade, a constituio das Comisses Permanentes de Integrao
Ensino-Servio, se considerava o aporte de questes trazidas da opo pela educao permanente em sade. O caminho foi entabulado pela Portaria GM/MS no
167
168
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
198/2004, que apresenta os Plos de Educao Permanente em Sade como instncias/dispositivos de articulao interinstitucional e locorregional (ver quadro
resumo da conceitualizao de locorregio) e como estratgia de operacionalizao e viabilizao poltica. O dilogo, a negociao e a pactuao interinstitucional em torno das questes da formao e do desenvolvimento dos trabalhadores
da sade eram os desgnios dos Plos.
Quadro: Resumo da conceitualizao de locorregio (Ceccim, 2005)
A locorregio configura-se como um territrio formado por diferentes municpios (esferas de gesto constitucionalmente responsveis pela execuo das aes e servios
de sade), com abrangncia regional, conforme a realidade de construo da integralidade na promoo e proteo da sade individual e coletiva nos ambientes e redes
assistenciais ou sociais em que vivemos e conforme a realidade da mobilidade da
populao em busca de recursos educacionais e de pesquisa e documentao em sade. A Constituio Federal estabelece a expresso regionalizao e hierarquizao
como parte da luta poltica pela universalizao do direito sade. A regionalizao
busca aproximar as aes e os servios de sade da populao e, assim, assegurar o
acesso. A hierarquizao, por sua vez, permite melhorar a qualidade dos diferentes
mbitos ou recursos estruturados ateno e organizar os servios de forma que eles
se complementem e, assim, assegurar a resolutividade. Por essa razo, a proposta do
Ministrio da Sade utilizou o termo locorregio, uma palavra que representa a unio
na prtica da compreenso de expresso regionalizao e hierarquizao, isto ,
acessibilidade e resolutividade.
Ceccim10 aponta que o indicativo das Comisses Permanentes de Integrao Ensino-Servio, presente na Lei Orgnica da Sade, estava correto, porm no
assegurava evidncia de incluso das instncias de gesto, de participao social e
da agenda tico-poltica de mudanas. Tambm pondera que o SUS isoladamente
no teria legitimidade para dar conta do desenvolvimento dos profissionais de
sade, assim como as instituies de ensino, fora do contato com a realidade
da construo do SUS tambm no. Portanto, uma nova instncia de gesto, que
possusse capacidade intersetorial e capacidade de protagonismo, precisava ser
inventada ou dispositivos a este favor necessitavam ser interpostos.
Reunindo os atores institucionais importantes (gestores, controle social,
estudantes, trabalhadores, instituies de ensino e de servio e outros atores identificados com o campo da formao e do desenvolvimento) para pensar e realizar
a formao e o desenvolvimento dos profissionais de sade, os Plos de Educao
Permanente em Sade foram propostos como espaos de negociao, pactuao
e formulao de polticas por bases locorregionais e no como ncleos para a
execuo de aes de formao e desenvolvimento dos trabalhadores. Por isso,
foram identificados como rodas de gesto ou muito mais legitimamente, man-
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
dalas de gesto, uma vez que se afastam de outros conceitos, como o relativo
s rodas de co-gesto administrativa, e se aproximam das redes em autogesto
e auto-anlise das respectivas implicaes, onde o esquadrinhamento se faz necessrio para territorializar processos, mas sem perder a dimenso do fora que o
desterritorializa permanentemente, convocando diagramas organizativos in acto.
A mandala conforma um quadrado (dos esquadrinhamentos) envolto por um crculo do fora em agenciamento dentro-fora (dobras ou diagramas que desenham
tramas de conexo).
Diagrama bsico de uma mandala
Esses Plos, mais do que lugar para a identificao de demandas (para
a construo em separado de aes de educao por especialistas, consultores e
quaisquer organizaes especializadas) lugar para identificar problemas, discuti-los, problematiz-los, implicar-se, gerar compromissos mtuos (intersetoriais e
interinstitucionais) e construir alternativas de enfrentamento de acordo com cada
realidade locorregional.
Segundo a mesma Portaria, a composio de cada Plo de Educao Permanente em Sade e a proposio de seu plano diretor de iniciativa locorregional e decorrente da disposio inicial das diversas instituies dessa base. Caberia
ao Conselho Estadual de Sade (CES) julgar a adequao do plano diretor de cada
Plo s polticas, nacional e estadual, e s diretrizes das Conferncias, nacional
e estadual, de sade. Por sua vez, o desenho locorregional e interinstitucional de
cada Plo passaria pela Comisso Intergestores Bipartite (CIB), visando a garantir
que a organizao do conjunto de Plos abrangesse a totalidade dos municpios de
cada estado e os eventuais acordos existentes em regies fronteirias. Constitudo
o Plano Diretor, um ou vrios Planos de Atividades poderiam ser apresentados de
forma sistemtica ao Ministrio da Sade de acordo com as pactuaes internas
de cada Plo, sem necessidade de um novo Plano Diretor. O Plano Diretor e to-
169
170
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
dos os planos de atividades, a ele ligados, configurariam o projeto global do Plo
(Ceccim, 2005).
Implementada essa estratgia, caberia ao gestor federal apenas a habilitao legal das instituies para receber recursos pblicos e a acreditao e
adequao dos projetos e processos institudos com o referencial pedaggico e
institucional da educao permanente em sade, acompanhando o cumprimento
dos passos pactuados.
Ainda de acordo com a mencionada Portaria, o Plo deveria ter conduo
e coordenao colegiada, superando-se a regra hegemnica da verticalidade do
comando e da hierarquia nos fluxos. No colegiado de gesto, todas as instituies
tm igual poder e esto convidadas a trabalhar juntas, sob a mesma organizao e
conduo, cabendo a esse colegiado a elaborao das propostas sobre as escolhas
gerais, os rumos e estratgias locais e a problematizao de seus operadores (Portaria GM/MS n 198, de 13 de fevereiro de 2004).
Para viabilizar a implantao e execuo da Poltica Nacional de Formao e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educao Permanente em
Sade, com o dispositivo Plo e as suas produes, a definio do seu financiamento se baseou na construo de critrios que almejassem a eqidade por meio
da equalizao entre os estados brasileiros e na intencionalidade de garantir o
repasse permanente de recursos, o que garantiria o planejamento com critrios de
sustentabilidade a curto, mdio e longo prazo. Elementos das gestes estaduais e
municipais, o controle social, o inverso da capacidade docente instalada e a prioridade para o fortalecimento da rede de ateno bsica sade como ampliao
da cobertura e acolhimento aos problemas individuais e coletivos de sade da
populao constituram-se critrios para a definio da distribuio dos recursos.
Assim, a execuo dessa Poltica ps em experimentao uma tabela de alocao
na qual se interpretava e se redistribua, por eqidade, o montante de recursos da
rubrica de educao permanente em sade para o SUS, fruto de acordos entre as
trs esferas de gesto do SUS.
Nesse sentido, a distribuio, a alocao e a utilizao dos recursos pblicos tornaram-se mais transparentes, tanto do ponto de vista do conhecimento
de montantes, planos de aplicao e relatrios de gesto, quanto da capacidade de
gesto do gasto pblico do SUS com a educao dos profissionais de sade, em
que pese a descoberta da dificuldade e complexidade de tal postura. Igualmente
se descobriu que, a ttulo de formao e desenvolvimento altas somas de recursos
pblicos correm s instituies de ensino e pesquisa, sem qualquer critrio ou
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
com critrios muito discutveis quanto equalizao, equilbrio regional e incentivo s novas expertises.
Anlise a partir da necessidade de desenvolvimento da aprendizagem, do
crescimento institucional e da composio de equipe no trabalho em sade
Quando se aborda a necessidade de desenvolvimento de instrumentos e
condies de crescimento institucional, especialmente para favorecer os processos de tomada de deciso e formulao de polticas pblicas, vrios autores das
Cincias Polticas apresentam-se como referncias importantes por suas consideraes e sugestes. Fazer o dilogo entre os autores da cincia poltica e da sade,
relacionando-o poltica de formao e desenvolvimento para o SUS, sua formulao, implantao e execuo, levanta elementos que indicam a potencialidade
desta proposta como resposta a essa necessidade. Alm disso, aponta caminhos
para todo um conjunto de polticas pblicas setoriais vinculadas aos processos de
trabalho.
Uma outra dimenso desta anlise a possibilidade de revelar elementos
importantes para a leitura e a avaliao dessa poltica pblica, que devido ao baixo tempo de implantao/execuo (menos de dois anos) parece ter como mais
coerente o desenvolvimento de um olhar mais atencioso sobre os processos que
instituiu do que a simples aferio de resultados. Leve-se em considerao que,
nesse pequeno perodo, os processos desencadeados a partir da Poltica conseguiram identificar vrios ns crticos na gesto de sade, em vrios locais do pas,
e produziram mudanas na forma como a gesto pautava o processo de formao e desenvolvimento para a qualificao da ateno sade (Ceccim, 2005).
No deve ser desconsiderado, entretanto, que o documento oficial Notas sobre
o Desempenho do Departamento de Gesto da Educao na Sade perodo de
fevereiro de 2004 a junho de 2005 (Ministrio da Sade, 2005) apontou resultados expressivos na formao e no desenvolvimento dos trabalhadores de sade e
ntima relao entre as aes produzidas pelos Plos de Educao Permanente em
Sade e as polticas nacionais prioritrias do setor (Ceccim, 2005).
Um primeiro aporte trazido da cincia poltica vem de Scott (1998), que
estudou vrios casos na histria tentando demonstrar como a rigidez no planejamento e a normatizao estatal levavam ao fracasso os projetos inicialmente
traados. Essa dificuldade adviria, segundo o autor, da necessidade do Estado de
reduzir e simplificar a leitura das complexas interaes sociais, necessrias para
facilitar a sua atuao frente a tal realidade. Ao simplificar e reduzir a complexidade, o Estado ganhava capacidade de formulao e execuo nas suas aes,
171
172
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
mas perdia boa parte das condies de efetivamente cumprir com os planos originalmente traados, pela falta de flexibilidade e adaptao s diferentes realidades
encontradas.
Scott (1998) tambm argumenta que o conhecimento cientfico e o conhecimento prtico so partes de uma luta poltica pela hegemonia institucional
por expertos e suas instituies polticas e que um dos motivos de dificuldade
poderia ser evitado ou, pelos menos, diminudo, se houvesse a capacidade das
organizaes incorporarem o conhecimento prtico ou o conhecimento local (denominado pelo autor como metis) nos seus processos de planejamento.
Nesse sentido, a poltica nacional de formao e desenvolvimento para
o SUS poderia ser vista como uma resposta necessidade de incorporao do
conhecimento local na formulao de polticas pblicas ao agregar, nos Plos de
Educao Permanente em Sade, diferentes atores que lidam diretamente com o
enfrentamento dos problemas de sade (conhecimento prtico) e com as questes
relativas educao na sade de cada locorregio. Vale observar, ainda, que a
configurao dos Plos como coletivos organizados para a produo da sade e a
sua conformao como mandalas (rodas para a autogesto e auto-anlise) permitiriam que esses conhecimentos se expressassem.
Mais interessante, no entanto, observar que essa poltica d um passo
alm ao propor que as formulaes produzidas considerem o conceito de educao
permanente em sade que, como visto, busca desenvolver condies de aprendizagem em instituies em movimento, poltica fundada no carter situacional das
relaes, das implicaes, do trabalho e do ensino. O que a qualificaria tambm
para responder s consideraes de Kettl (2002), quando ele demonstra a inadequao dos paradigmas tradicionais no enfrentamento dos problemas contemporneos da sociedade americana e destaca a necessidade de o Estado possibilitar
novos desenhos e abordagens para agir em ambientes marcados pela incerteza e
pela inovao tecnolgica. Kettl (idem) sugere que para transpor esses desafios
preciso que os governos consigam desenvolver em suas equipes novas capacidades de resolver os novos problemas que se apresentam.
Sob essa perspectiva, a Poltica possibilitaria tambm aprender a lidar
com a poltica e a administrao pblica, cuja gesto estatal geralmente fragmentada, reducionista e produtora de programas de sade que muitas vezes no
contemplam a realidade e a cultura local (Spagnuollo e Gerrini (2005) citam Carlos Matus em Adeus, senhor presidente: governantes e governados).
Sabatier e Jenkens-Smith (1999), por sua vez, ao interpretarem como
o processo de mudana nas polticas pblicas, apontam para a importncia das
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
articulaes entre membros coligados para a viabilizao e defesa de interesses afins (Advocacy Coalition Framework) e a conceitualizao que formulam
para essas coligaes se presta bem para apresentar os atores que participam dos
Plos de Educao Permanente em Sade.
Para Sabatier e Jenkens-Smith (1999), grupos e pessoas oriundos de vrias posies seja indivduos eleitos para determinado fim, representantes do Estado ou dos rgos oficiais de Estado, lideranas segundo grupos de interesses ou
pesquisadores apresentam diferentes sistemas de crenas, isto , so portadores
legtimos de um conjunto de valores essenciais, suposies ocasionais e uma dada
percepo dos problemas a enfrentar, entretanto, tambm compartilham um sistema particular de opinies e mostram graus singulares de atividade coordenada ao
longo de um perodo. Segundo os autores, o aprendizado orientado em processo,
como uma das fontes que alimentam as mudanas em poltica pblica, advm da
experincia adquirida ao longo do tempo ou de novas informaes originadas:
(1) do conhecimento recente dos parmetros dos problemas e das causas que os
afetam; (2) dos feedbacks da efetividade das polticas pblicas e/ou (3) da evoluo das percepes dos provveis impactos de polticas alternativas. Todas essas
condies podem estar presentes ou aflorar das discusses nos Plos de Educao
Permanente em Sade.
Os mesmos autores destacam, ainda, que para existir efetivamente alterao nas polticas pblicas, preciso aliar ao processo de aprendizado fatores
exgenos, entre eles: (1) mudanas socioeconmicas de porte, como mudanas
na economia ou surgimento de movimentos sociais; (2) mudanas na coalizo
de governo, incluindo eleies que realinhem os grupos no poder e (3) decises
polticas e impactos de outros subsistemas, por exemplo, mudanas na poltica tributria que tm grandes conseqncias em todos os subsistemas polticos. Abordam, tambm, que a competitividade, recursos financeiros e regras institucionais
so importantes, mas o aprendizado o que far a mudana acontecer. Por fim,
propem a criao de fruns profissionais para estimular a troca de experincias,
para aprimorar a capacidade das redes de sustentabilidade (coalizo em torno de
um advocacy) e promover o aprendizado orientado.
Nesse ltimo ponto, novamente a poltica pblica brasileira de que estamos tratando se coloca um passo frente ao propor, no um frum profissional,
mas intersetorial e interinstitucional. Os Plos de Educao Permanente em Sade so formados por profissionais, estudantes, usurios vinculados ao controle
social ou articulao de movimentos e prticas de educao popular em sade,
docentes, pesquisadores, gestores e trabalhadores da sade para fazer o encontro
173
174
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
das diferentes percepes e experincias, problematizar a situao da ateno
sade, produzir pactos coletivos, gerar aes para o enfrentamento da realidade
e conduzir a mudana das prticas profissionais com a finalidade de responder s
necessidades de sade da populao.
Por fim, propomos a reflexo sobre as consideraes de North (2005) em
Understanding the process of Economic Change e Beck, Giddens e Lash (1997)
em Modernizao reflexiva: poltica, tradio e esttica na ordem social moderna. Muitas formulaes em cincia poltica para a formulao e a avaliao de
polticas pblicas, nestes autores, fazem interface com a poltica de formao e
desenvolvimento para o SUS de que estamos falando, dede a definio da sua
agenda e formulao poltica at a sua implantao e execuo, passando pelos
conceitos que utiliza e pelos dispositivos e estratgias que implementa.
North (2005) identifica nas instituies tentativas de regrar e, assim, diminuir as incertezas com que lida a humanidade. Afirma que o desenvolvimento
do mtodo cientfico com o uso da matemtica e da estatstica e sofisticadas interaes entre a teoria e a evidncia emprica transformaram o desenvolvimento
humano. Argumenta, tambm, que a diversidade de experincias produziu diferentes graus de flexibilidade no enfrentamento das incertezas associadas ao desenvolvimento da capacidade de resolver problemas complexos e que, no mundo
atual, no existem os parmetros prvios, preciso aprender fazendo. Conclui,
por sua vez, que a capacidade de compreender a realidade e propor solues est
condicionada pela herana cultural e que, por isso, as mudanas sero sempre
incrementais. Alm disso, afirma que o processo cognitivo se apresenta como um
processo social, maior que os condicionantes apresentados pela gentica e pelo
ambiente individualmente analisados.
Beck, Giddens e Lash (1997) apresentam uma importante contribuio
ao tratar das caractersticas da modernidade e de seus reflexos junto ao processo
decisrio. Os autores reconhecem um cenrio onde a desmonopolizao da especializao, a informalizao da jurisdio, a abertura da estrutura da tomada de
deciso, a criao de um carter pblico parcial e a autolegislao e auto-obrigao so tratadas como caractersticas intrnsecas ao processo decisrio.
O processo decisrio, afirmam, deve incorporar conceitos, vises e prticas inovadoras, como: (1) a desconstruo da noo de que as administraes e os
especialistas sempre sabem o que certo e bom para todos; (2) a aceitao de que
o crculo de grupos com permisso de participar do processo decisrio no pode
continuar fechado em razo de consideraes internas aos especialistas, mas ao
contrrio, devem estar abertas de acordo com os padres sociais de importncia;
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
(3) o entendimento de que as decises ainda no foram tomadas e que, portanto,
no precisariam apenas ser vendidas ou implementadas externamente; (4) a ressignificao de que o processo de negociao, antes realizado a portas fechadas
entre os especialistas e aqueles que tomam decises, devem ser transformados
em um dilogo entre a mais ampla variedade de agentes, tendo como resultado
um descontrole adicional e, por fim, (5) o esforo para que as normas envolvidas
neste processo modos de discusso, protocolos, debates, avaliaes de entrevistas, formas de votao e aprovao possam ser resolvidas pelo consenso e
sancionadas.
Assim que o SUS apresentou para a sociedade uma Poltica que pretendeu transformar cada unidade e/ou servio de sade em ambiente de aprendizagem, alm de fazer de cada momento de cuidado e gesto em sade, um momento de respeito e de coordenao coletiva e da gesto setorial uma gesto em
educao permanente em sade (Ceccim, 2005). Fez isso por entender que uma
proposta como a do SUS precisa de uma maneira diferente de ser e essa maneira
diferente de ser precisa ser aprendida na prtica, no dia-a-dia, no cotidiano. O
que somente ser possvel quando os dispositivos polticos puderem reverter os
modelos clssicos de gesto que imperam na grande maioria dos espaos de cuidado e de gesto da sade e, assim, captar a complexidade intrnseca da produo
brasileira na sade.
Acreditando que apenas apontamos diferentes argumentaes e novos
elementos para a anlise da poltica de formao e desenvolvimento para o SUS,
esperamos ter alargado o debate cientfico pela interpretao da noo de poltica
pblica de educao na sade no lugar dos programas de capacitao. Entendemos que entrou em cena a interseo entre o ensino e o trabalho na formao
e desenvolvimento para o SUS, uma necessidade social que encontrou resposta
poltica.
Concluses
A descentralizao e a disseminao de capacidade pedaggica na rede
de sade e a interseo entre instituies de ensino e sistema de sade era uma
das metas histricas da Reforma Sanitria brasileira, materializada no texto da
lei do Sistema nico de Sade, inclusive no texto constitucional, onde consta a
determinao do ordenamento da formao de profissionais de sade como tarefa
do SUS (Ceccim, 2002).
A escolha por viabilizar essa atribuio segundo o estatuto da educao
permanente em sade foi a escolha por alimentar capacidades pedaggicas, des-
175
176
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
centralizadas e disseminadas em mandalas. Mandalas de formao e desenvolvimento articulam diagramas rizomticos de significados e produzem conhecimento coletivo. Est a um aprendizado que a educao permanente em sade pode
transferir ao sistema de sade. Por exemplo: no existe educao de um ser que
sabe para um ser que no sabe, o que existe a troca, intercmbio e estranhamento
de saberes, com conseqente construo de conhecimento. Se no se constituir
uma tenso entre o que j se sabe e o que h por saber, no bastaro as novas informaes, mesmo que preciosamente bem comunicadas. Por que queremos tanto
que novas informaes cheguem aos servios, aos trabalhadores, aos usurios e
aos gestores? Para esclarec-los? Para torn-los mais cultos? Para torn-los mais
letrados em cincia e tecnologias? Porque queremos gerar um novo domnio de
informaes que levem a novas maneiras de realizar atividades, com maior responsabilidade, com maior inclusividade e acolhimento e com maior compartilhamento (Ceccim, 2005).
Estas so questes candentes para a educao permanente em sade, a
informao necessria aquela que prope ocasio de aprendizagem, ocasio de
maior sensibilidade diante de si, do trabalho, das pessoas, do mundo e das realidades. Ento, a melhor informao no est no seu contedo formal, mas naquilo
de que portadora em potencial e naquilo que permite de modos construtivos
de conhecimento. Por exemplo: a nova informao gera inquietao, interroga a
forma como estamos trabalhando, coloca em dvida a capacidade de resposta coletiva da nossa unidade de servio, mobiliza coletivos de aprendizagem, organiza
coletivos de produo? Se uma informao nos impede de continuarmos a ser o
mesmo que ramos, nos impede de deixar tudo apenas como est e tensiona nossas implicaes ela desencadeou educao permanente em sade, no havendo
necessidade de um curso e de professores em seus formatos apriorsticos, requer
interface interseo e, ainda, interseo, isto , efeitos de estranhamento, mutao
recproca e co-responsabilidade entre as instncias que se desafiam.
A educao permanente em sade um processo coletivo e desafiador das
realidades, uma vez que coloca o trabalho e o cotidiano sob questo de aprendizagem. A educao permanente em sade traz como efeitos: a aceitao de que as
realidades no so dadas, so produzidas por ns mesmos, por nossa sensibilidade
diante dos dados e por nossa operao com os dados de que dispomos ou de que
vamos a busca; a organizao de espaos inclusivos de debate e problematizao
das realidades sem segregar a educao aos espaos escolares formais ou aos professores tradicionais; o estabelecimento de comunicao entre os conhecimentos
que cada aluno dispe (suas explicaes), interfaces e articulaes inditas; a
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
produo de informaes de valor local num movimento inventivo que no se
furte s exigncias do trabalho e dos cotidianos em que estamos inseridos.
O quadriltero da formao (Ceccim e Feuerwerker, 2004), proposto na
Poltica Nacional de Formao e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para
a Educao Permanente em Sade, coerente com a noo de construo do conhecimento, coloca em articulao o ensino, a ateno, a gesto e a participao
para que o exerccio e a formao profissional em sade sejam lugar de atuao
crtica, reflexiva, propositiva, compromissada e de alta responsabilidade com o
acolhimento, com a resolutividade e com o desenvolvimento da autodeterminao dos usurios. Diferentemente das noes programticas de implementao de
prticas previamente selecionadas onde os conhecimentos so empacotados e
despachados por entrega rpida s mentes racionalistas dos trabalhadores e usurios (Ceccim, 2005), as aes de educao permanente em sade desejam os
coraes pulsteis dos estudantes, dos trabalhadores e dos usurios para construir
um ensino e um sistema produtor de sade (uma abrangncia) e no um sistema
prestador de assistncia (um estreitamento). A poltica de formao e desenvolvimento para o SUS de que falamos foi proposta para congregar, articular e colocar
em articulao rizomtica (Lvy, 1998) diferentes atores, destinando a todos um
lugar de protagonismo, seja na conduo do ensino em cada escola, seja nos sistemas locais de sade.
Um plano de sintonia com as mais de 100 articulaes interinstitucionais
e locorregionais que a poltica de formao e desenvolvimento para o SUS gerou
entre fevereiro de 2004 e junho de 2005 (Ministrio da Sade, 2005) pode ampliar a compreenso de que os Plos de Educao Permanente em Sade podem
no servir para acumular e construir solues, mas servem para experimentar e
compartilhar problematizao e ao, assim como servem para inventar caixas de
ferramentas (Deleuze, em Foucault, 1989) aos diversos e complexos problemas
em sua insero local, onde a educao passa a ser um dispositivo de afirmao
da vida e do SUS.
Para atender educao permanente em sade, o acesso e a circulao
de aprendizagens crucial, assim como o debate crtico sobre as informaes
obtidas e sua problematizao entre os membros das equipes de trabalho. o
debate e a problematizao que transformam aprendizagem em conhecimento. A
aprendizagem diferente da erudio, enquanto para ficar erudito basta acumular
informao, para ficar inteligente necessrio apropriar em sentidos e personalizar cada informao (Ceccim e Ferla, 2005). A informao o insumo bsico das
aprendizagens, mas sem o contato emocionado do aprendiz com as informaes
177
178
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
elas no passam de dados que podem ilustrar acervos mentais, mas no operar
realidades. Uma vez que aqueles que organizam formaes em sade desejem que
elas operem transformaes na realidade ou germinem novas realidades, querem
um ensino com implicao e autoria, no a simples acumulao de registros tericos ou prticos.
Referncias
BECK, U.; GIDDENS, A.; LASH, S. Modernizao reflexiva: poltica, tradio e
esttica na ordem social moderna. So Paulo: Editora da Unesp; 1997.
BRASIL. MINISTRIO DA SADE. Secretaria de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade. Departamento de Gesto da Educao na Sade. EducarSUS: notas
sobre o desempenho do Departamento de Gesto da Educao na Sade - perodo de
janeiro de 2003 a janeiro de 2004. Braslia: Editora do Ministrio da Sade; 2004.
BRASIL. MINISTRIO DA SADE. Secretaria de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade. Departamento de Gesto da Educao na Sade. EducarSUS: notas
sobre o desempenho do Departamento de Gesto da Educao na Sade - perodo de
fevereiro de 2004 a junho de 2005. Braslia: Editora do Ministrio da Sade; 2005.
BRASIL. MINISTRIO DA SADE. Secretaria de Gesto do Trabalho e da Educao na Sade. Departamento de Gesto da Educao na Sade. A educao permanente entra na roda: Plos de Educao Permanente em Sade - conceitos e caminhos a
percorrer. Braslia: Editora do Ministrio da Sade; 2005.
CAMPOS, G.W.S. Recursos humanos na sade: fator de produo e sujeitos sociais
no processo de reforma sanitria no Brasil. In: CAMPOS, G.W.S.; MERHY, E.E.;
NUNES, E.D. (eds.) Planejamento sem normas. So Paulo: Editora Hucitec; 1989.
p. 45-52.
CECCIM, R.B. Educao permanente em sade: desafio ambicioso e necessrio. Interface comunicao, sade, educao. Botucatu, 2005; 9 (16): 161-68.
______. Educao permanente em sade: descentralizao e disseminao de capacidade pedaggica na sade. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro, 2005; 10 (4):
975-86.
______. Onde se l recursos humanos da sade, leia-se coletivos organizados de
produo da sade: desafios para a educao. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A.
(orgs.) Construo social da demanda: direito sade, trabalho em equipe, participao e espaos pblicos. Rio de Janeiro: Editora da Abrasco; 2005. p.161-80.
______. Redes de conhecimento no SUS: a educao permanente em sade, em ato
(Editorial). INFOSade, Rio de Janeiro, 2005; 9 (3): 1-3.
Ricardo B. Ceccim, Fbio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos
CECCIM, R.B.; ARMANI, T.B. Educao na sade coletiva: papel estratgico na
gesto do SUS. Divulgao em sade para debate, Rio de Janeiro, 2001; 23: 30-56.
______. Gesto da educao em sade coletiva e gesto do Sistema nico de Sade.
In: FERLA, A.; FAGUNDES, S.M.S. (orgs.) Tempo de inovaes: a experincia da
gesto na sade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora Dacasa e Escola de
Sade Pblica/RS; 2002. p. 143-62.
CECCIM, R.B.; ARMANI, T.B.; ROCHA, C.M.F. O que dizem a lei e o controle social em sade sobre a formao de recursos humanos e o papel dos gestores pblicos,
no Brasil. Cincia & Sade Coletiva, Rio de Janeiro, 2002; 7 (2): 373-83.
CECCIM, R.B.; CAPOZZOLO, A.A. Educao dos profissionais de sade e afirmao da vida: a prtica clnica como resistncia e criao. In: MARINS, J.J.N.; REGO,
S.; LAMPERT, J.B.; ARAJO, J.G.C. (orgs.). Educao mdica em transformao:
instrumentos para a construo de novas realidades. So Paulo: Editora Hucitec;
2004. p. 346-90.
CECCIM, R.B.; FERLA, A.A. Notas cartogrficas sobre escrita e escuta: contribuies educao das prticas de sade. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R.A. (orgs.)
Construo social da demanda: direito sade, trabalho em equipe, participao e
espaos pblicos. Rio de Janeiro: Editora da Abrasco; 2005. p.253-66.
CECCIM, R.B.; FEUERWERKER, L.C.M. O quadriltero da formao para a rea
da sade: ensino, gesto, ateno e controle social. Physis - revista de sade coletiva,
Rio de Janeiro, 2004; 14 (1): 41-65.
DI GIOVANNI, G. (Coord.). A concepo dos plos como recurso institucional de capacitao, formao e educao permanente de pessoal para a sade da famlia, etapa
3. In: ______. Formao de profissionais para a sade da famlia: plos de formao,
capacitao e educao permanente de pessoal para o PSF. Campinas: Unicamp Universidade Estadual de Campinas / Nepp - Ncleo de Estudos de Polticas Pblicas,
maio; 2002. 161p.
FOUCAULT, M. Microfsica do poder. 8 ed. Rio de Janeiro: Editora Graal; 1989.
HADDAD Q.; ROSCHKE, M.A.; DAVINI, M.C. Educacin permanente de personal
de salud. Washington, DC: Editora da OPS/OMS; 1994.
KETTL, D.F. The transformation of governance: public administration for twentyfirst century. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 2002.
LEI 8.080, DE 19 DE SETEMBRO 1990. Dispe sobre as condies para a promoo, proteo e recuperao da sade, a organizao e o funcionamento dos servios
correspondentes e d outras providncias. Dirio Oficial da Unio 1990; 20 set.
LVY, P. A inteligncia coletiva: por uma antropologia do ciberespao. So Paulo:
Edies Loyola; 1998.
179
180
EDUCAO NA SADE, SADE COLETIVA E CINCIAS POLTICAS
MERHY, E.E. O desafio que a educao permanente tem em si: a pedagogia da implicao. Interface comunicao, sade, educao. Botucatu, 2005; 9 (16): 172-74.
MERHY, E.E.; FEUERWERKER, L.; CECCIM, R.B. Educacin permanente en salud: una estrategia para intervenir en la micropoltica del trabajo en salud. Salud Colectiva, Buenos Aires, 2006; 2 (2): 147-60.
NORTH, D.C. Understanding the process of economic change. Princeton: Princeton
University Press; 2005.
PEDUZZI, M.; ANSELMI, M.L. Relatrio final de pesquisa Avaliao do impacto
do Profae na qualidade dos servios de sade, fase 1. So Paulo. Ministrio da Sade/
Escola de Enfermagem da USP/Escola de Enfermagem da USP Ribeiro Preto; 2003.
130p.
PORTARIA GM/MS n 198, de 13 de fevereiro de 2004. Institui a poltica nacional
de educao permanente em sade como estratgia do Sistema nico de Sade para a
formao e o desenvolvimento de trabalhadores para o setor e d outras providncias.
Dirio Oficial da Unio 2004; 16 fev.
ROVERE, M. Comentrios estimulados por la lectura del artculo Educao Permanente em Sade: desafio ambicioso e necessrio, de Ricardo Burg Ceccim. Interface
comunicao, sade, educao. Botucatu, 2005; 9 (16): 169-71.
SABATIER, P.; JENKENS-Smith, H. The advocacy coalition framework: an assessment. In: SABATIER, P. (editor). Theories of Policy Process. Boulder, CO: Wet view;
1999. p. 117-66.
SCOTT, JC. Seeing like a state: how certain schemes to improve the human condition
have failed. New Haven: Yale University Press; 1998. (Yale Agrarian Studies).
SPAGNUOLLO, RS; GUERRINI, I.A. A construo de um modelo de sade complexo e transdisciplinar. Interface - comunicao, sade, educao. Botucatu, 2005;
9 (16); 191-94.
Ricardo Burg Ceccim, EducaSade - Ncleo de Educao, Avaliao e Produo
Pedaggica em Sade, Programa de Ps-Graduao em Educao, Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Endereo para correspondncia burg.ceccim@ufrgs.br.
Fbio Pereira Bravin, Grupo de Estudos em Sade Coletiva e Polticas Sociais,
Programa de Ps-Graduao em Poltica Social, Universidade de Braslia.
Alexandre Andr dos Santos, Grupo de Estudos em Sade Coletiva e Geografia,
Programa de Ps-Graduao em Geografia, Universidade de Braslia.
Você também pode gostar
- Administracao EscolarDocumento21 páginasAdministracao EscolarAdec Moz100% (8)
- Tarefa 2 Ufcd 0594Documento5 páginasTarefa 2 Ufcd 0594Miguel Marques100% (1)
- Projeto - de - Automação - Fábrica - de - Velas - OFICIALDocumento23 páginasProjeto - de - Automação - Fábrica - de - Velas - OFICIALIago AlencarAinda não há avaliações
- MIT054 - Plano - de - ViradaDocumento7 páginasMIT054 - Plano - de - Viradargoltaras100% (1)
- Siopi Perguntas Frequentes - V17Documento20 páginasSiopi Perguntas Frequentes - V17Alexandre PeresAinda não há avaliações
- Política Comercial OficialDocumento39 páginasPolítica Comercial OficialMarcos Ribas89% (9)
- Diagnóstico Situacional Breve Da Farmáccia e Dos ClientesDocumento4 páginasDiagnóstico Situacional Breve Da Farmáccia e Dos Clienteseduardo silvaAinda não há avaliações
- Esforço Reflexivo e Apontamentos Acerca Da Gestão Escolar de Qualidade No BrasilDocumento12 páginasEsforço Reflexivo e Apontamentos Acerca Da Gestão Escolar de Qualidade No BrasilAlexandre AndréAinda não há avaliações
- Relatorio Nacional Pisa 2012 Resultados BrasileirosDocumento66 páginasRelatorio Nacional Pisa 2012 Resultados BrasileirosAlexandre AndréAinda não há avaliações
- Relatorio Brasil PISA 2006Documento154 páginasRelatorio Brasil PISA 2006Alexandre AndréAinda não há avaliações
- Documento - Basico - Preliminar - Sistema Nacional de Avaliação Da Educação BásicaDocumento74 páginasDocumento - Basico - Preliminar - Sistema Nacional de Avaliação Da Educação BásicaAlexandre AndréAinda não há avaliações
- I - O Homem e o Trabalho PDFDocumento27 páginasI - O Homem e o Trabalho PDFzangamano6191Ainda não há avaliações
- 7-Noções Da Evolução Da AdministraçãoDocumento18 páginas7-Noções Da Evolução Da AdministraçãoamandaAinda não há avaliações
- Politica de Recrutamento e Selecao de PessoalDocumento3 páginasPolitica de Recrutamento e Selecao de PessoalRobson MauroAinda não há avaliações
- Resolução Seseg #1240 de 25 de Outubro de 2018 - Doerj 26out2018Documento4 páginasResolução Seseg #1240 de 25 de Outubro de 2018 - Doerj 26out2018Alberto FelixAinda não há avaliações
- Farmácia Hospitalar - Aula 02Documento63 páginasFarmácia Hospitalar - Aula 02Jessica de Castro FonsecaAinda não há avaliações
- Ip006 ComunicaçõesDocumento25 páginasIp006 ComunicaçõesDaniel David AthosAinda não há avaliações
- Agenda SASSEPEDocumento4 páginasAgenda SASSEPERafaella OliveiraAinda não há avaliações
- Plano de Negocio SimplificadoDocumento33 páginasPlano de Negocio SimplificadoGalileo AlfândegaAinda não há avaliações
- Plano Diretor de TiDocumento50 páginasPlano Diretor de Tidont4getAinda não há avaliações
- Topicos 2 - Unidade II-3Documento80 páginasTopicos 2 - Unidade II-3Fernanda MANTOVANIAinda não há avaliações
- 358 - Um Estudo Sobre A Gestao Do Capital de GiroDocumento15 páginas358 - Um Estudo Sobre A Gestao Do Capital de GirommymzkAinda não há avaliações
- Trabalho Nocoes INNODocumento17 páginasTrabalho Nocoes INNOAssane Ibraimo Augusto AssibraAinda não há avaliações
- Projeto IntegradorDocumento3 páginasProjeto IntegradorJuliana FischercarneiroAinda não há avaliações
- RH X DPDocumento15 páginasRH X DPdannascimentoAinda não há avaliações
- Resoluon 44 Aprovao Regul Programa Institucionalde Incentivoa Qualififdosservidoresdo IFAMDocumento16 páginasResoluon 44 Aprovao Regul Programa Institucionalde Incentivoa Qualififdosservidoresdo IFAMjuanzitoramos23Ainda não há avaliações
- Política de Uso de Uniforme e Apresentação PessoalDocumento5 páginasPolítica de Uso de Uniforme e Apresentação Pessoalnayara Cordeiro Silva100% (1)
- Gestao Estrategicas de NegociosDocumento10 páginasGestao Estrategicas de NegociosVanessa Aparecida de Siqueira de LimaAinda não há avaliações
- Anexoll Conteudosprogramaticos Unir PDFDocumento9 páginasAnexoll Conteudosprogramaticos Unir PDFSsmr SmrAinda não há avaliações
- Modulo 6 OtetDocumento37 páginasModulo 6 Otetsoujaime1952100% (1)
- Currículo de Coordenador Operacional em São Paulo - SPDocumento3 páginasCurrículo de Coordenador Operacional em São Paulo - SPNicodemos de JesusAinda não há avaliações
- RENATA TCC RH e A Reforma Trabalhista Formatado OKDocumento20 páginasRENATA TCC RH e A Reforma Trabalhista Formatado OKLuh SantosAinda não há avaliações
- Prova Eletrônica - Fundamentos Da Administração MDocumento12 páginasProva Eletrônica - Fundamentos Da Administração MJose AugustoAinda não há avaliações
- ADM I Planejamento em EnfermagemDocumento18 páginasADM I Planejamento em EnfermagemFernando MoraisAinda não há avaliações