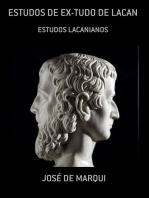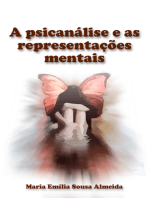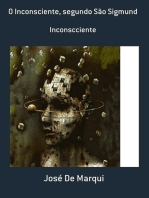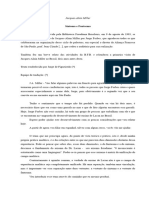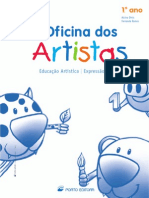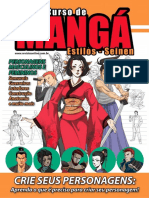Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
O Desejo No Neurotico Obsessivo PDF
O Desejo No Neurotico Obsessivo PDF
Enviado por
Stephanie PiresTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O Desejo No Neurotico Obsessivo PDF
O Desejo No Neurotico Obsessivo PDF
Enviado por
Stephanie PiresDireitos autorais:
Formatos disponíveis
O desejo no neurtico obsessivo*
The Desire in Obsessive Neurotic
Alexandre Mendes de Almeida
Resumo
Buscou-se trabalhar a difcil relao do obsessivo com seu desejo. Inicialmente focou-se na leitura do desejo a partir de Freud e Lacan. Posteriormente
buscamos trabalhar a neurose obsessiva na viso dos dois mestres, para
finalmente concluir com a difcil, seno impossvel, relao do obsessivo com
o desejo
Palavras-chave: obsessivo, desejo, prazer.
Abstract
We sought to work the difficult relationship between the obsessive and his
desire. Initially, we focused on the understanding of desire from Freuds and
Lacans perspectives. Later, we sought to work on the Obsessive Neurosis
based on the point of view of these two masters, and then to conclude with the
difficult, if not impossible, relationship between the obsessive and his desire.
Keywords: obsessive, desire, pleasure.
INTRODUO
Freud foi o primeiro a conferir contedo terico antiga clnica das
obsesses, situando a doena no registro da neurose e tambm fazendo dela,
frente histeria, o segundo componente da estrutura neurtica humana.
* Artigo elaborado a partir de monografia apresentada como parte dos requisitos para o
certificado de Especializao do curso de Ps Graduao Lato Senso PSICANLISE E LINGUAGEM: UMA OUTRO PSICOPATOLOGIA COGEAE (Pontifcia Universidade Catlica
PUC-SP), ano de 2008. E-mail: alexandre.alex@terra.com.br
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
34
Alexandre Mendes de Almeida
Assim retirou-se a neurose obsessiva, do campo da psicose, subvertendo
a perspectiva psiquitrica. A idia de Freud era como dar conta de uma
loucura (mania) que no afetava o raciocnio? (Freud, S (1950), 1996)
Na neurose, mais especificamente na neurose obsessiva, temos o
sujeito distante do desejo, distncia esta relacionada sensao de prazer
que foi recalcada, que se tornou inconsciente. Esse distanciamento acaba
transformando-se em impossibilidade de reconhecimento devido fora
do afeto de desprazer que a sua presena acarreta. Assim, como em toda
teoria psicanaltica, tambm na neurose obsessiva, o desejo o centro de
seu estudo e de sua prtica.
O DESEJO EM FREUD
O desejo no projeto para uma psicologia cientfica
(Freud. S, (1950) 1996)
Freud utilizaria em trabalhos futuros muitos dos conceitos que, de
alguma forma, j estavam dispostos no Projeto. O aparelho psquico, na
obra, se organiza em torno do que Freud denominava funo primordial
do sistema nervoso que seria manter o menor nvel de excitao possvel
em seu interior.
A criana, no incio de vida, seria incapaz de dar conta sozinha da
descarga da energia e precisaria da ajuda de um adulto para faz-lo. A interveno de um adulto, quase sempre a me, ajudaria a realizar a descarga
na amamentao, por exemplo e criaria um trilhamento (bahnung) que
associaria nos registros neuronais do beb o estado do incmodo sentido
(excitao) e o objeto que auxiliou a descarga. Estaria inscrita no aparelho
psquico do indivduo a experincia da satisfao.
O trilhamento, segundo Freud, serviria como uma via facilitadora da
descarga de foras. Com a repetio da excitao, ou de desejo, a imagem
do objeto seria reinvestida. J que no h correspondncia com o objeto
externo o que teramos, na realidade, uma alucinao e um posterior
desapontamento na tentativa da descarga. A experincia da satisfao inicial
seria buscada e no mais encontrada, caracterizando o desejo.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
35
A via rgia do desejo na interpretao dos sonhos
(Die Traumdeutung)
No trabalho de desenvolvimento da teoria psicanaltica, e mais especificamente do desejo, podemos considerar que a obra A Interpretao dos
Sonhos (Freud, S. (1900) 1996) herdeira do Projeto. Freud durante a obra
falar em desejos pertencentes ao Sistema Consciente e desejos pertencentes
ao Sistema Pr-Consciente na induo dos sonhos, afirmando, porm, que
necessrio que haja um reforo de outro lugar, o inconsciente.
A teoria psicanaltica v no Desejo o determinante da vida de cada
um, quer o sujeito queira ou no. Cabe ressaltar que o mecanismo da
formao dos sonhos se d numa oposio entre o eu (consciente) e o
recalcado (inconsciente), batalha que acompanhar o neurtico durante
toda sua vida. Na vida do neurtico, o Desejo no aparecer seno por
vias de representao, de transferncia, quase sempre no percebidos, ou
identificados.
A representao do Desejo nos sonhos se d por dois mecanismos
descobertos por Freud: a condensao, que o processo pelo qual vrias
idias inconscientes se juntam, se condensam numa s; e o deslocamento,
que a forma pela qual o recalcado se transveste.
Na obra A Interpretao dos Sonhos, Freud, diferentemente da forma
tratada no Projeto, no fala mais num aparelho psquico com sistemas de
neurnios diferenciados, mas de sistemas psquicos diferenciados. Cabe
salientar, tomando este ponto como referncia, que Freud j iniciara o
rompimento com o discurso mdico, que j no era capaz de definir a
verdade sobre o funcionamento da psique humana. Freud passa a falar
de outro lugar.
No ponto, chamado por Freud de umbigo do sonho, talvez nos
vejamos frente a algo que nos escapa, ou melhor, algo que escapa a ser
representado, algo definitivamente perdido, algo comparado coisa (das
Ding) perdida, que se localizaria num ponto no alcanvel, e a Freud
fortemente influenciado por Kant, e esse ponto j est presente na obra de
Freud desde o Projeto.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
36
Alexandre Mendes de Almeida
Para ratificar e ao mesmo tempo esclarecer a idia exposta no pargrafo anterior, citamos Garcia-Roza1:
O que Freud nos diz, de uma maneira que lhe prpria, que na relao
me-filho, a me (a coisa-me) ocupa o lugar de das Ding. No que ela seja
das Ding, mas que ela ocupa o lugar de das Ding, na medida em que das
Ding o centro do qual gravitam as Sachevorstellungen. Desejar a me ,
portanto, desejar das Ding... A me-Ding interditada pela cultura e esse
interdito que nos constitui como humanos (e que constitui a prpria cultura).
Em termos psicanalticos, podemos dizer que na medida em que o desejo de
possuir das Ding fosse satisfeito, cessaria toda demanda, e precisamente
esta demanda que funda o inconsciente humano.2
Aproveitando a remisso feita filosofia, citamos aqui uma observao do autor anteriormente citado: Enquanto na perspectiva filosfica
clssica a relao do homem com o mundo uma relao ser a ser, na
perspectiva freudiana essa relao do ser com a falta Se Freud iniciara
um distanciamento da postura mdica, tambm no fora diferente seu
posicionamento frente filosofia clssica.
Conclumos que o ncleo do desejo retrocede a uma situao,
digamos, mtica, vivida quando da infncia e que os objetos do Desejo sero
sempre substitutivos e como tais parciais, nunca podendo representar o
absoluto, movendo, entretanto, o sujeito em constante e infindvel busca.
O desejo no complexo de dipo
fato no pensamento freudiano que o Desejo busca satisfao - ou
melhor dizendo, ele procura a realizao atravs do reavivamento de uma
imagem de satisfao e o mesmo est diretamente direcionada por um
norte, por um princpio que o princpio do prazer.
Com o desenvolvimento da criana, e a frustrao sentida com o
fracasso da satisfao atravs do caminho da alucinao, esta precisa ser
1 (Garcia-Roza, L.A., (1990) 2004, pp. 87 e 88)
2 (Garcia-Roza, L.A., (1993) 2004, pg. 186.)
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
37
abandonada e os objetos de satisfao precisam ser buscados no mundo
externo. Estaria introduzido o outro princpio da atividade psquica que
o da realidade, que garante a continuidade da busca pelo prazer.
Assim como outras idias psicanalticas, a teoria sobre o Complexo
de dipo foi forjada sob grande dificuldade. Freud trabalhou a partir de sua
prpria anlise e dos trabalhos iniciais junto as suas pacientes histricas.
A partir dos princpios psquicos conceituados por Freud, do prazer
e da realidade (Freud, S, (2004)), e da relao inicial da criana com os
progenitores, o psicanalista austraco apresentar uma viso diferente da
relao entre os filhos e os pais. Freud enfatiza a presena do desejo sexual
na infncia, o que lhe causou severas crticas. Tinha fim, a partir da teoria
freudiana, a viso inocente e dessexualizada da relao familiar. O contato
da criana com os pais, principalmente com a me, marca sexualmente a
criana.
A relao com os pais na fase edipiana , conforme o termo utilizado,
complexa, estando em jogo sensaes ambivalentes, no s em relao ao
pai, mas tambm me. Freud no tem dvida que nas relaes edipianas
que se encontra o ncleo das neuroses (Freud. S, 2007).
Tomando como exemplo o caso simplificado de uma criana do sexo
masculino, temos a me como objeto natural de desejo, por ser a pessoa
vinculada criana desde o nascimento. O pai tido, primeiramente, como
objeto de identificao, acaba se tornando um obstculo ao desejo sentido
pela criana em relao me, e se transforma num adversrio. A partir
desse momento, tem-se em relao ao pai uma identificao ambivalente,
de carinho e de hostilidade, e em relao me uma relao sexualmente
objetal. Esse seria o complexo de dipo simples e positivo.
Freud, porm, nos coloca que esta no maneira mais freqente
que se desenrola a relao filho/me/pai. A forma descrita no pargrafo
anterior seria uma simplificao de como o complexo de dipo se mostra. A
relao edipiana se faz a partir de um complexo duplo em relao aos pais.
Primeiro ponto colocado, no chamado por Freud complexo de dipo
mais completo, que originalmente a criana bissexual, no sentido que
a mesma no tem definido, originalmente, a sua posio sexual, podendo
fazer uma opo masculina ou feminina, ativa ou passiva. Assim, a posio
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
38
Alexandre Mendes de Almeida
ambivalente em relao ao pai se repete tambm com a me. Neste ponto
fica claro a complexa situao em que est sujeita a criana na relao trina
edipiana e o porqu de se destacar o complexo de dipo como o ncleo
nodal da neurose, ou da estrutura psquica de forma mais geral.
O DESEJO EM LACAN
A releitura freudiana feita por Lacan marcada pela influncia da
filosofia hegeliana, ou melhor, e principalmente, pela anlise antropolgica
da filosofia de Hegel efetuada por Alexandre Kojve. A partir da anlise feita
na obra Fenomenologia do Esprito, principalmente do captulo que ficou
conhecido como Dialtica do Senhor e do Escravo, Lacan desenvolver,
alm de outras coisas, a idia de Desejo.
O desejo, que um vazio, uma falta, s ser humano quando se voltar
para algo no natural e a nica coisa que apresenta tal caracterstica o
prprio desejo. O desejo se volta para outro desejo, um vazio a outro vazio,
e assim v-se o desejo superado na sua forma natural, como o surgimento
do desejo do desejo. Dois desejos animais tornam-se humanos quando
se dirigem um ao outro.
A citada influncia de Hegel em Lacan, se por um lado se materializa
na construo da teoria do imaginrio, marcantemente na elaborao da
teoria do estdio do espelho, por outro aponta seus limites, e por isso abre
caminhos para a guinada do simblico.
Na dialtica do Senhor e do Escravo, uma das idias compreendidas
que, na noo de sujeito, a rivalidade inerente. A partir das lies de
Kojve, e da teoria psicanaltica, busca-se reinventar o sujeito cartesiano,
autnomo e incondicionado, num sentido contrrio: determinado e dependente, determinao adequada ao sujeito atravs da ordem social, o que na
dialtica hegeliana apareceria reduzida como o outro. O desejo humano
respeita essa determinao, na medida em que sua origem pensada como
uma negao da sua condio natural, se constituindo como negatividade
pura que preside a constituio do sujeito no discurso de Lacan (Lacan, J,
(1966) 1998).
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
39
O que no se deve buscar na anlise hegeliana de Kojve o vis
psicanaltico trabalhado por Lacan. Para o psicanalista francs o que est
em contraste no a servido e a liberdade, autonomia e desautonomia,
mas o reconhecimento da assujeitao aos outros imaginrios, constitutivos e determinantes da sua existncia. Na clnica, o sujeito passaria, ou
deveria passar, por este caminho, do desconhecimento ao reconhecimento
da condio de assujeitao. O sujeito reconhece que o seu desejo , na
realidade, o desejo de um pelo outro. Se esse desejo o impulsiona, sua ao
ocorre em funo de um outro. na condio de escravo que ele se encontra.
Ponto fundamental no estruturalismo lacaniano, estruturalismo
no qual Lacan ser um dos vrtices na Frana, que no h estrutura
significante sem sujeito. Na teoria de sujeito lacaniana o ser do sujeito o
Desejo, donde se conclui que o Desejo quem anima a cadeia significante,
impulsionando a passagem de um significante a outro.
Na constituio do sujeito, porm, salientar Freud que algo escapa
identificao e ao significante, que o objeto a na teoria de Lacan. O objeto
a deteria a metonmia e a frearia num ponto em que ela no alcana. Este
objeto a colocado na teoria lacaniana no como um agente do discurso
analtico, mas como um dos pilares onde o sujeito sustenta o seu pseudoser, sendo a cadeia significante seu outro pilar3. O objeto a um resto do
sujeito e do Outro, no podendo se definir a quem pertence.
A releitura do desejo do complexo de dipo em Lacan
Com relao ao complexo de dipo, Lacan o trabalhou em trs tempos
distintos e complementares (Lacan, J, (1957-58) 1999). Lacan estrutura os
trs tempos do dipo, trabalhando-o com o mbil do complexo da castrao.
Se for verdade que o ser humano muito cedo vive o peso da falta, da mesma
forma desde muito cedo ele busca cobri-la tentando dribl-la e mant-la o
mais distante possvel. Essa busca de tapamento da falta o Desejo.
3 (Rabinovich, D, (1995) 2005), pg. 25)
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
40
Alexandre Mendes de Almeida
O Desejo, indestrutvel, busca algo, busca um objeto. Neste sentido,
torna-se necessrio tratarmos do objeto do Desejo que o falo. O falo
o significante da incompletude fundamental do ser humano e ao mesmo
tempo do preenchimento do vazio que ela produz.
O curso do dipo regulado pela funo flica e neste sentido existem
quatro protagonistas participantes na histria encenada por todos: a me,
o pai, a criana e o falo. Em torno deste ltimo que gravita o desejo dos
outros trs.
Ao entrarmos no primeiro tempo do dipo, para criana, dentro da
idia j exposta de um vazio tanto dela quanto da me ela se coloca,
imaginariamente, como objeto de completude deste vazio. Ela se coloca
como o objeto flico da me e neste primeiro tempo no pode ainda ser
vista como sujeito, mas como falta, como o complemento da falta da me.
Ela o falo da me.
Esta posio do filho em relao me tem importncia fundamental
na sua constituio porque, neste momento, ele se isola nesta posio,
estando desprovido de qualquer outra coisa que no seja o desejo deste
primeiro e grande Outro, que estar presente ou ausente. A manuteno do
pequeno ser nesta posio ou as dificuldades de sair dela lhe trar conseqncias que o acompanharo durante sua vida, sendo determinante na
estrutura psquica na qual se constituir. to importante para a criana
estar na posio alienante de falo do Outro, de sentir como objeto de desejo
da me, quanto conseguir sair dela e se fazer sujeito.
A referncia ao pai, neste tempo, apenas velada: ela aparece envolta
no significante metafrico paterno. Trata-se de um significante presente na
estrutura da linguagem, e com peso no universo simblico da me, que ao
se colocar em relao ao filho comea a introduzi-lo neste universo.
Na relao com a me, a criana, na posio de objeto flico, perceber que existe, ainda, carncia no outro materno e este se mostrar faltante.
Neste momento o Outro primeiro se mostrar incompleto, tambm barrado.
Essa carncia ser sentida pela criana, envolta na situao de presena e
ausncia do outro materno, e restar a dvida: sou ou no sou o falo?
O segundo tempo do dipo marcado pela interveno do nome
do pai sobre a me, mediando a relao desta com a criana. Este tempo
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
41
marcado pelo advento do simblico e pela interveno da figura paterna
como elemento privador da me. de um modo menos velado do que
no primeiro tempo, mas no completamente revelado, que o pai aparece
atravs do discurso da me, que o reconhece como homem e como aquele
que lhe faz a lei. A demanda do filho endereada me, at ento o seu
Outro, estar agora sujeita a um pronunciamento do pai.
A ruptura citada resultar num movimento da criana em direo ao
Nome do Pai, que correlativo ao recalque originrio freudiano. O Nome
do Pai passa a representar a lei e com a linguagem, que nomeia o desejo,
produz tambm a clivagem da subjetividade em formao em consciente
e inconsciente.
Neste tempo, ocorre a castrao simblica que incide sobre um objeto
imaginrio, deixando a criana de ser o falo e a me de ocupar o lugar do
grande Outro. Para a criana, o pai passa a ser o falo, o onipotente e a
prpria lei, e desloca o desejo da me, cabendo ressaltar que ainda estamos
na dialtica do ser.
No terceiro tempo do dipo, o pai aparece desvelado para a criana
e se mostra no mais como a lei, mas como seu representante. O pai aqui
perde sua onipotncia e se mostra tambm castrado.
Neste tempo, Lacan acrescenta ao pai freudiano a figura do doador.
O pai o ser que tem o falo e tem a funo de mostrar que o falo circula,
podendo do-lo ao filho ou mostrar filha onde encontr-lo. A criana
sair da dialtica do ser para a dialtica do ter. O ser no pode ser doado,
o ter, sim. Ter ou no ter essa a problemtica a partir de ento, pois o
significante flico, assim como a pessoa da me no primeiro tempo, se far
presena e ausncia na vida do sujeito.
A participao do pai nesta fase to importante quanto na segunda
quando rompe a clula flico-narcisista, pois desta fase que depende a
sada do complexo de dipo. O pai, potente, possuidor do falo pode produzir
a ponte que recoloca o falo como objeto desejado pela me e no apenas
como objeto do qual ela pode ser privada.
Podemos dizer que a criana, capturada pelo desejo da me, liberta
pelo pai real, enquanto representante do pai simblico.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
42
Alexandre Mendes de Almeida
A NEUROSE OBSESSIVA EM FREUD
Considerando que o sujeito se estrutura a partir do recalque de um
trauma sexual ocorrido durante a infncia, no caso dos neurticos, pode se
considerar que a neurose se instala no fracasso deste recalque, no fracasso
da defesa do eu contra o trauma.
Como importante diferena da neurose obsessiva em relao
histeria, apontamos que seus sintomas no se manifestam primordialmente
no corpo. O obsessivo sofre de pensamentos.
A etiologia sexual, ou o trauma recalcado, foram experincias primeiramente acompanhadas de prazer e a sua primeira resignificao, atravs
da lembrana, tambm acompanhada de prazer, s que traz consigo a
autocensura contra o gozo instaurado. Aqui estamos tratando ainda de algo
que se passa no Consciente. Num momento posterior, tanto a lembrana
prazerosa quanto a autocensura so recalcadas e transferidas ao Inconsciente, se formando assim um sintoma antittico. Os sintomas antitticos,
as idias ambivalentes, acompanharo o neurtico obsessivo durante sua
existncia.
Embora atacada pela lgica racional, pois so consideradas e combatidas pelo eu como estranhas, o sentimento e as idias obsessivas a ele
relacionadas muitas vezes subjugam o eu e este o momento em que o
obsessivo se v frente fora inabalvel da idia obsessiva, que tambm
uma nuance da autocensura, e o vai-e-vem do pensamento que tornam a
vida do sujeito obsessivo penosa.
Freud (Freud. S, (1950) 1996) estabelece uma relao clara entre o
inconsciente e a linguagem e atravs da neurose obsessiva que ele consegue
encontrar o inconsciente se manifestando claramente de maneira verbal.
A clnica do neurtico obsessivo possibilitou a anlise do paciente a partir
de seu discurso, sendo que este passa, ento, a ocupar a mesma posio
ocupada pelo sonho. Com a diferena, porm, que no discurso do obsessivo no se trata de representaes, mas de registros sob a forma verbal.
A alucinao dos sonhos se faz presente nos pensamentos do obsessivo.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
43
A NEUROSE OBSESSIVA DO HOMEM DOS RATOS
Na introduo da anlise de Ernest, o homem dos ratos, Freud
(Freud, S., (1909) 1996) relata que procurou estruturar a neurose obsessiva, salientando a dificuldade maior de compreenso em relao neurose
histrica, e o fato da linguagem da neurose obsessiva ser um dialeto da
linguagem da histeria.
O medo que incomodava o paciente, a causa principal que o levou
at o psicanalista vienense, era que algo pudesse acontecer a duas pessoas
de quem ele gostava muito: seu pai e a dama a quem admirava. Esse algo
era, principalmente e no fundo, a morte destas pessoas.
De acordo com a indicao de Freud, a ambivalncia est presente
na vida do paciente ainda quando criana. A um desejo ertico se contrapunha, compulsivamente, um medo, um afeto aflitivo. O desejo deveria,
assim, ser evitado.
A anlise do caso de Ernst demonstra que ele se colocou na posio
do pai: ao mesmo tempo devedor e sem condio de saldar sua dvida.
Adiantando a importncia da palavra rato na linguagem, ou melhor, no
dialeto do obsessivo paciente, ele se identificara a um homem, seu pai, que
se portara como um rato, seja quando roubou o dinheiro do peloto ao qual
pertencia e era responsvel por sua guarda, seja quando optou pelo dinheiro,
no momento de seu casamento, em detrimento de seu desejo ertico. Se a
questo da dvida fica clara no caso de Ernest, a partir da identificao com
o pai, nem sempre essa dvida parece mostrar ao obsessivo sua origem nem
a quem pagar, ainda que a mesma se faa presente e o incomode.
No paciente, o antagonismo entre o carinho consciente e o dio
inconsciente em relao ao pai, e o desejo em relao mulher amada em
remisso me apresentam-se demonstrados na narrao da histria. Um
desejo inconsciente, indestrutvel, que coloca o neurtico obsessivo entre
o amor e o dio pelo pai.
O obsessivo, e isso aparece tambm na anlise de Ernst, vive uma
fantasia de onipotncia; ele tem o dom de supervalorizar seus pensamentos e sentimentos, sejam eles bons ou maus. Na sua vida psquica, isso
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
44
Alexandre Mendes de Almeida
lhe possvel ao mesmo tempo em que ele desconfia dessa possibilidade.
O antagonismo no pensar e essa supervalorizao de si, ao mesmo tempo
em que dificulta suas relaes, o mantm longe da realidade de seu Desejo.
Finalizando o caso clnico obsessivo, Freud busca destacar a origem
da neurose obsessiva no Complexo de dipo. Neste sentido destaca o
conflito de sentimentos de amor e dio em relao ao pai e dama, seja
quando opostos pai e dama, seja quando opostos os sentimentos em relao
a cada um.
O primeiro conflito remonta a situao da escolha de objeto de amor.
E como escolha coloca-se a posio ou isso ou aquilo, ou a me ou o pai.
O segundo conflito de uma estranheza maior. O amor inicial, antes
da escolha objetal citada no pargrafo anterior, passa a ser percebido como
dio, da mesma forma que esse mesmo amor, e porque no desejo, uma
vez insatisfeitos converte-se, em parte, em dio. O amor e o dio, no caso
do obsessivo, num grau elevado de intensidade, mantm-se em relao a
uma mesma pessoa. Uma luta de tits em que no h vencedor... Resta o
cansao do obsessivo em buscar equilibrar esses sentimentos opostos. O
dio, recalcado no inconsciente, est protegido e no pode ser vencido. O
amor por sua vez, busca manter o dio suficientemente recalcado.
Essa oposio de sentimentos de foras equivalentes desemboca
nas conseqncias imediatas na vida do obsessivo, numa paralisia parcial
da vontade e incapacidade para decises em que esto envolvidos objetos
de amor e desejo. Essa indeciso, ou melhor, incapacidade para decidir
vai abarcar quase toda a vida do obsessivo. O conhecido mecanismo de
deslocamento far seu trabalho e a paralisia da vontade se apoderar do
sujeito obsessivo.
Nesta linha, torna-se claro o porque da necessidade dos sintomas da
dvida e da compulso na vida psquica do neurtico. A busca de um constante regramento e de uma vida ortodoxa a partir de medidas protetoras
o reverso de sua constante condio de dvida, dvida esta que remonta
ao que deveria ser mais certo: seu prprio amor.
O obsessivo pensa muito mais do que age. O pensar do obsessivo
substitui o agir e o processo que inicialmente parece satisfatrio acaba
voltando-se contra ele e seu pensar, pois a vida passa, e o obsessivo imerso
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
45
no seu mundo de dvida sabe que o agir necessrio; o mundo externo
a sua volta precisa, pouco ou muito, ser modificado e o seu pensamento
onipotente torna-se impotente quanto a isso.
O obsessivo, no seu caminho de tornar o desejo impossvel, goza na
sua complicada forma de pensar.
A NEUROSE OBSESSIVA EM LACAN
Se certo que o caso O homem dos ratos marcante e imprescindvel no estudo da neurose aqui estudada, tambm no foi diferente com o
psicanalista francs, que, no incio de seu ensino, proferiu uma conferncia
intitulada O mito individual do neurtico4 em que abordou o caso estudado por Freud.
O mito seria a forma de descrever o que existe de essencial no seio
da experincia analtica, aquilo que no pode ser apreendido pelo discurso.
Se Freud buscou trazer o complexo de dipo ao real, Lacan trabalhou o
complexo como um mito. A palavra em si no capaz de apreender nela
mesma a verdade objetiva, ela apenas a exprime, e o faz de forma mtica.
Lacan destaca que a audio do caso de tortura narrado pelo tenente
provocou no paciente de Freud um horror fascinado, e longe de desencadear
a neurose, apenas atualizou os temas e fez aparecer ao sujeito a angstia
que o levou at a clnica. Essa constante atualizao que resulta na angstia
ser utilizada por Lacan para constatar a estrutura neurtica e o entrelaamento das questes relativas ao pai, a dvida e ao gozo, fundamentais
quando tratamos da neurose obsessiva, enquanto estrutura.
Aquilo chamado por Lacan de constelao precederia a vida do
sujeito e determinaria o seu destino. A forma como ocorrera a unio de
seus pais, e principalmente a forma como seu pai se posicionara na vida
conjugal seria determinante e contingencial na forma como o obsessivo
(Ernest) desenvolvera suas relaes e a forma como procurava em cenrios
imaginrios, como num filme, sadas para soluo das angstias desencadeadas por crises.
4 (Lacan, J., (1953) 2007).
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
46
Alexandre Mendes de Almeida
A organizao psquica, nas estruturas possveis, se constitui a partir
das variveis dos desejos da me, do pai e da criana em relao ao objeto
flico. A partir dessa relao quaternria falo/criana/me/pai, j discutida
quando estudamos o dipo, estabelecem-se os fantasmas que sero determinantes na relao do sujeito com o Desejo.
Neste instante, talvez parea verdadeiro definir que relaes originais
so aquelas vividas com a me e com o pai, tambm a partir da observao
da relao entre eles. Posteriormente, o que ocorre so repeties.
na posio ocupada pelo pai no desejo da me, que o sujeito telescopia a funo flica e negocia a sua inscrio numa determinada estrutura,
ou, conforme pensava Freud, escolhe sua neurose como defesa de uma
posio gozante em relao me.
O pai de Ernst foi um homem faltante falicamente em relao me
desde a formalizao da unio conjugal. Ele, conforme a me descrevera
ao filho, casou-se por convenincia, preferindo a boa situao financeira
em detrimento ao sentimento que teria por uma outra mulher. Ele optou
pelo gozo em detrimento do desejo. A unio que resultou no nascimento
do paciente, tinha como progenitor um homem, na origem, devedor. Na
mitologia do paciente estudado, conforme descrito, a posio do pai devedor
foi determinante, assim como na estria de Sfocles em que o homem de
ps inchados (dipo), foi precedido por um homem manco (Laio), seu pai.
O homem dos ratos, por origem e destino, tornara-se herdeiro das dvidas
paternas, e, como o pai, de uma dvida impossvel de ser quitada pela via
em que se deveria. Em sua funo flica, o pai de Ernst, esteve em dbito
com a me e a criana.
Lacan, ento, a partir do histrico do pai e da influncia que tivera
na vida de Ernst, das elocubraes mentais a partir da oitiva da narrao
do suplcio dos ratos, da situao criada para a no quitao da dvida,
que embora no mencionada deveria ser nfima, da fuga em comparecer
na presena da moa do correio, conclui ser este o cenrio fantasmtico no
qual o paciente estava envolto e que este drama resume seu mito individual.
No tocante a dvida, e lembrando a difcil situao criada por Ernest
para o pagamento ao Tenente quando na realidade a credora era a mulher
do correio apontamos, na situao, uma caracterstica do obsessivo, no
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
47
colocada por Freud, que a motivao a partir de desafios. No obsessivo,
manifesta-se uma verdadeira compulso ao engajamento s diferentes
formas de competio. E como explicar esta necessidade de desafio?
Primeiramente, tem-se que o obsessivo, e isso fica bem claro no caso
do exemplo do Homem dos ratos, cria para si uma situao imaginria
para se engajar num desafio, desafio que est estritamente ligado a uma
adversidade. O combate ao qual se sujeita o obsessivo est circunscrito a
regras determinadas s quais ele no pode desobedecer. Essa circunscrio
legalidade esconde, na realidade, o desejo do obsessivo. Ele se lana no
desafio na busca impossvel por seu Desejo.
O obsessivo busca o que consegue o perverso, o gozo, mas a Lei
nele radicalmente marcada, o que lhe impossibilita. No desafio, o obsessivo
revive a possibilidade de rivalizar-se com o Outro que lhe dita a Lei e que
lhe demonstra a castrao. Esse desafio deve ser lido a partir da rivalidade
primeira criada a partir do que nos foi colocado No dormirs com tua
me. O obsessivo, mesmo num fracasso determinado, v no desafio a
possibilidade de responder ao Outro, presumido imaginariamente na figura
paterna: Este teu desejo, quanto a mim, recuso esta limitao do meu5.
Na linha de sua proposta, se Lacan, assim como Freud, privilegiou a
anlise do sintoma no obsessivo na sua relao com o desejo, ele foi alm
ao mostrar a funo da causa do desejo no objeto a (Lacan, J., (1962-63)
2004). Na clnica no basta apontar-se, ou melhor, ...no basta que o
paciente formule seu sintoma, necessrio que o sujeito seja tocado, pelo
fato de que existe uma causa a esse sintoma.6
Se o objeto a vinculante do desejo, ele, como resto do surgimento
do sujeito no Outro, est excludo do mundo dos significantes, no
simbolizvel. Neste sentido, Lacan estabelecer a relao do objeto a com
o gozo (Lacan, J., (1962-63) 2004). O obsessivo, na sua posio de dvida
permanente, mostra que seu sintoma de compulso busca evitar aquilo que
5 (Safouan, M, (1974) 1979, pg. 64.)
6 (Peres, U, (2005), pg. 385.)
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
48
Alexandre Mendes de Almeida
lhe seu, como resto de sua sujeio ao Outro, afastando-se, ou impossibilitando o desejo, ao mesmo tempo em que procura no despertar a angstia
da posio de objeto de gozo.
No obsessivo, cuja fantasia est presa fase anal, o objeto causa do
desejo o excremento que no momento em que expelido, ou melhor,
cedido me, simboliza para ele a castrao. A criana se reconhece no
objeto em torno do qual se dirige a complexidade da demanda que se apresenta. Este objeto, porm, ao mesmo tempo em que se apresenta como uma
ddiva a ser concedida, tem a forma que lhe anterior, de dejeto, de algo
ligado necessidade de ser expelido. O excremento, objeto causa de desejo
no obsessivo, ento visto como parte sua castrada mas oferecida
pessoa amada, sendo que por outro lado no seria parte sua uma vez que
se trata de algo ruim que preciso ser expelido.
Lacan aponta o objeto a delineando a estrutura obsessiva (Lacan,
J, (1962-63) 2004), onde predomina a ambivalncia desse sim e no, de
mim sintoma, mas, todavia, no de mim. O sujeito se constitui como
dividido em relao demanda do Outro, diviso esta que permite ao objeto
em questo simbolizar o falo na fase flica.
A partir do objeto excremento, constitui-se a fantasia do obsessivo.
Na identificao flica em relao me, imperiosa no caso do obsessivo,
ela se faz a partir do valor do excremento e de sua imagem. Aqui, podemos
apontar a caracterstica do obsessivo de sempre preocupar-se com sua
imagem, pois partir desta que ele conseguir se posicionar de forma a
atender a demanda do Outro. O obsessivo, mais do que ningum, preocupase com sua imagem e com o que podem estar pensando dele, sendo que esta
preocupao est relacionada ao fantasma no qual se constituiu.
Se no momento em que Lacan proferiu a conferncia O mito individual do neurtico, sua preocupao central era introduzir o complexo
de dipo e a psicanlise numa leitura estruturalista - a partir da viso do
dipo como um mito - cabe mencionarmos a colocao, naquele momento,
de um quarto elemento, alm da me e do pai, que seria a morte. Morte que
estaria presente na constituio do eu a partir de uma imagem antecipada
pelo Outro, imagem esta que realiza, ao mesmo tempo em que se demonstra
insuficiente em demonstrar quem o sujeito .
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
49
Morte que na vida psquica, na estrutura do neurtico obsessivo lhe
remete principal questo: Estou vivo ou estou morto. Se muitos pontos
foram destacados por Lacan com relao estrutura aqui trabalhada, destacamos o que neste trabalho o principal: a forma como ele evita o seu desejo
e o dos outros com o quais se relaciona, por consider-los duplos de si. A
partir desta evitao do desejo, o sujeito se posiciona numa dimenso de
ator que lhe permite desempenhar, no drama de sua vida, alguns papis
como personagem, como se estivesse morto (Lacan, J, (1956-57) 1995).
O obsessivo tem a tendncia de procrastinar, de renunciar vida, de
se fazer de morto, ad eternum, pois a figura do pai, ou melhor, sua morte
no se concretiza, mesmo aps o seu desaparecimento real morte fsica.
Isso aparece expressamente na histria do Homem dos ratos. O obsessivo
aguarda o momento em que ocupar a posio do senhor, momento este
que nunca chegar.
O obsessivo anseia e aguarda a morte do mestre, sem perceber que
na realidade ela j ocorreu o pai que age e fissura a relao una me/
criana simblico e como tal morto. Nessa posio de escravo de um
senhor morto, o obsessivo se imobiliza.
A fala do obsessivo, eivada de objetivao como se falasse de um
outro, reflete o movimento de afastamento do prprio desejo, desejo desse
outro que ele mesmo. Nesse jogo, a agressividade e o mpeto de destruio
revertem-se ao prprio sujeito.
Lembrando o que fora mencionado por Freud, quando ligou a
autocensura a uma recriminao a partir de um gozo sentido em relao
me, para Lacan, a relao mortal do obsessivo consigo reflete a angstia
diante do Outro (Lacan, J., (1962-63) 2004); face a isso ele se faz de morto
diante do objeto de seu gozo para fugir a uma suposta clera do Senhor.
Neste sentido, nada do que acontece tem verdadeira importncia para o
obsessivo.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
50
Alexandre Mendes de Almeida
O OBSESSIVO E O DESEJO IMPOSSVEL
O fato de sentir-se demasiadamente amado pela me direciona a
abordagem a ser seguida na determinao da funo flica na estrutura
obsessiva. O sujeito obsessivo foi particularmente investido como objeto
de desejo da me, foi privilegiado em seu investimento flico.
No obsessivo e estamos falando de uma neurose nem ser preciso
pontuar que a funo do significante Nome-do-Pai cumpriu seu papel.
Porm, na lgica flica, o privilgio maternal lido pela criana de uma
forma em que ela se posiciona como o objeto que supre o desejo da me,
naquilo em que o pai no d conta. A criana, imersa no jogo de desejofantasia em que se encontra, gravitando em torno do objeto flico e do
desejo da me e do pai em relao a este objeto, se v na posio de que ...a
me seria suscetvel de encontrar aquilo que suposto esperar do pai.7
Se fossemos localizar este momento, estaramos na passagem do
primeiro para o segundo tempo do dipo, em que a criana se v frente
ao significante nome-do-pai a partir do discurso da me. o momento em
que a criana, na dialtica edipiana, para se constituir como sujeito e
como tal desejante precisa iniciar a passagem do ser ao ter e, a partir
do discurso da me, que isso fica determinado, significado, que o desejo
dela (me) se volta para a figura paterna. Em decorrncia da ambigidade
mnima que possa existir neste discurso, a criana pode, imaginariamente,
se colocar como suplente da satisfao do desejo materno.
No processo de identificao figura paterna - como tal, detentor
do falo o sujeito obsessivo se v fortemente preso identificao de ser o
falo da me. O sujeito obsessivo, na sua condio de detentor do falo, pode
ser encarado como um nostlgico: os obsessivos so os nostlgicos do ser.
Esta nostalgia, que deve ser entendida como a falta de algo que s
existiu na fantasia, coloca o obsessivo num impasse que se v representado
sintomaticamente em sua posio de dvida permanente. O desejo da me,
a partir do qual ele constitui o seu, se mostra ambguo, da mesma forma
que o reconhecimento da figura simblica do pai.
7
(Dor, J. (1989) 1991, pg. 63.)
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
51
Cabe agora, enfatizarmos os traos estruturais presentes no obsessivo e a relao deles com o desejo e o gozo, relao esta em que a busca
obsedante pelo prazer margeado pela necessidade e pelo dever.
A relao dual intensa com a me, e os investimentos erticos a ela
relacionados, d-se para a criana a partir da satisfao imediata de suas
necessidades, de cuidados que acontecem no contexto do acesso ao corpo
da criana pela me. Esses acessos favorecem o gozo. Enfatizando novamente a dialtica edipiana, temos uma me com o desejo no plenamente
satisfeito, uma relao dual desta com a criana e o posicionamento desta
numa posio de objeto de gozo, iniciada, facilitada e conduzida no processo
de seduo maternal.
A ao sedutora da me, e a intensidade do amor como esta ao
lida pela criana, induz a uma passividade sexual, testemunhada, mais
tarde, pela intensa produo fantasmtica na vida do obsessivo. Temos,
ento, um gozo, ou a busca pelo gozo materno, a passividade sexual do
filho, e a partir da, instaura-se a dificuldade de um gozo prprio pela via
do desejo, notificada pela passividade presente, muitas vezes, nas mnimas
relaes na vida do obsessivo. O gozo do obsessivo estar ligado a um fazer
gozar ao outro.
Esta busca pelo fazer gozar ao outro est relacionada, ento, a uma
evocao do sujeito, nostlgica como dita, ligada a uma identificao flica
vivenciada. O obsessivo ingressa, na dialtica do ter, com esse passivo
flico. Por este motivo a assuno da criana ao universo do desejo se v
dificultada, assim como o acesso lei, o que justifica a relao particular
e problemtica com o pai e as pessoas que ocupam qualquer posio de
autoridade a ele referida. Novamente aqui, o caso do Homem dos ratos
ilustra fielmente este trao na neurose, essa dificuldade em se relacionar
com a figura paterna, desdobrada nas autoridades.
O processo de subjetivao do obsessivo acontece de uma forma
especialmente problemtica. A passagem do ser ao ter, condicionante da
gentica da subjetivao, vivida nas experincias de insatisfao a partir
da intruso paterna e a negao da identificao flica, se torna ainda mais
difcil no obsessivo, pois onde deveria haver insatisfao, o que ocorre, na
realidade da criana, um tornar-se refm de uma situao de satisfao,
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
52
Alexandre Mendes de Almeida
na qual acredita ocupar o lugar de objeto que satisfaa plenamente o desejo
da me. A criana no conseguindo mediatizar o seu desejo, fica aprisionada
ao desejo insatisfeito da me.
O desejo no obsessivo se articular em suas relaes, assim como
ocorrera da me em relao a ele, em funo de um suprimento de necessidade. Num mundo de significantes, parece agora comear a esclarecer-se
o porqu do desejo do obsessivo ser impossvel: como i-lo existncia?
A relao do obsessivo com o desejo, uma vez que articulado s a partir
da necessidade, apresenta um carter paradoxal: ele absoluto e como
tal implica na destruio do Outro: a uma necessidade cabe um objeto.
Por outro lado, ele impossvel, pois o Outro imprescindvel ao prprio
desejo, na medida em que inerente ao desejo necessit-lo. Concluso, a
destruio do Outro implica a destruio do desejo.
Na dificuldade, ou impossibilidade, de articular o desejo com a
demanda, o obsessivo ...esfora-se em fazer adivinhar e articular pelo
outro o que deseja e no consegue ele prprio demandar.8 Em seu pensamento, parece-lhe natural que o outro saiba o que ele deseja, sem que ele
precise exprimi-lo em palavras.
A impossibilidade de demandar est inclusa na situao de servido
em que o obsessivo se encerra. Isso o leva a uma posio de tudo aceitar: o
obsessivo tudo suporta, ou acredita que suporta, pois a atitude de se colocar
no lugar de objeto do gozo do outro lhe causa um conflito que se mostra
inconcilivel com seu bem estar.
Cabe aqui uma observao: essa dificuldade em demandar, e a
disposio em fazer concretizar a demanda do outro, parecem indicar que
atrs de lderes apontados como psicticos, existem milhares de obsessivos
tornando as prprias idias, demandas possveis. A histria parece no
desmentir tal fato.
J foi tratada neste trabalho a necessidade que o obsessivo tem em se
colocar desafios. Somado a isso, e dentro da forma como eles so negociados,
s possvel um resultado: a vitria. O obsessivo no pode perder. Na sua
disposio em ser tudo para o outro, nada lhe pode escapar, sendo certo que
8 (Dor, J. (1994), pg. 104.)
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
53
a perda de algo no ou do objeto lhe remeter diretamente quilo de que ele
foge: a castrao. O confronto com sua imagem narcsica falho. Ele tem
que ter contato com um Sujeito barrado e falho, que ele mesmo.
Novamente remetendo ao desejo impossvel do obsessivo, ele busca
ultrapassar, no sentido de no enxergar sua situao de castrado, e manter
seu status flico, mas a lei do Pai permanece onipresente no horizonte de seu
desejo: da, sua culpa irrenuncivel e inegocivel. A morte do pai, na leitura
da dialtica do senhor e do escravo, esperada e impossvel, porque o pai
que onipresente o pai simblico e como tal j morto. Ele no conseguir nunca ocupar o lugar do mestre e estar fadado a se manter em sua
posio servil. A morte do Outro no se mostra possvel, embora esperada.
Na sua luta interminvel na busca de prestgio e destaque, o obsessivo
acaba tendo de reafirmar o que j existe, sempre existiu e no deixar de
existir, a despeito de ele tentar no querer ver: a existncia da castrao.
Porque a lei do pai lhe mostra a impossibilidade do absoluto. O obsessivo
ao mesmo tempo em que busca negativizar o Senhor, paradoxalmente,
busca que esse Senhor no deixe de ocupar sua posio, e at o fim. Caso
contrrio, juntamente com o desaparecimento do Senhor, seu desejo se
dissipa. Sem a figura paterna, sem o significante Nome-do-Pai, o obsessivo
no existiria como sujeito.
A busca do obsessivo em tudo controlar e dominar faz dele um
potencial conquistador. Nessa luta, nessa mobilizao na busca do domnio
fantasmtico, os resultados ou conquistas para ele simplesmente no
tm importncia. A busca do obsessivo remete sempre a novas buscas, a
novas conquistas. A atrao pela coisa conquistada remeteria o obsessivo
fronteira da iluso da possibilidade de atingir o absoluto. nisso que
ele emperra. O obsessivo tentado a abrir os caminhos mais difceis e
complicados e ainda assim sua conquista nunca ser por ele valorizada. O
absoluto sempre a caricatura de um desejo que, na maioria das vezes, se
revela perverso, mesmo quando se demonstra mstico.
Na luta do obsessivo est latente a busca da transgresso da norma
do pai e todas as normas a ela vinculadas. O obsessivo sempre um pobre
neurtico tentando ser perverso. Mas s tentando! Embora isso dificilmente ocorra, em sua encenao fantasmtica ele flerta com a transgresso.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
54
Alexandre Mendes de Almeida
A transgresso se realiza normalmente luz do seu contrrio. A escrupulosidade e a honestidade, de maneira alguma, conseguem mostrar ao mesmo
tempo em que afirmam, o desejo inconsciente de transgresso. Na cruzada
em que se engaja pela proteo da moral e da lei, o obsessivo pensa estar
protegendo algo que lhe externo, a famlia, por exemplo, quando na realidade busca se proteger de algo que lhe constituinte: justamente, o desejo
de ser como o perverso. O obsessivo neste engajamento dissocia-se de algo
que o outro, amoral, deseja, sem perceber que o imoral ele mesmo. Com
essa atitude, na verdade, o que ele procura nunca perder o controle de
permanecer senhor de si.
A necessidade de domnio marcante na clnica do obsessivo. Porque
ele resiste em obedecer a regra fundamental do processo analtico: a
associao livre. Dificilmente ele se prope a perder o controle de seus
pensamentos e o domnio de seu dizer. O obsessivo resiste. O obsessivo se
cala. Somado ao processo de controle de si, tem-se a preocupao constante com sua imagem narcsica, que nem na presena do psicanalista, ou,
sobretudo, justamente, por estar presena dele, no pode ser quebrada. O
obsessivo fala de si a partir de um outro lugar, um lugar neutro, de onde
ele no se envolva naquilo que relata.
Por fim, no poderamos terminar este trabalho sem destacar a
relao do obsessivo com seus objetos de amor. Aqui, conforme j disposto
na via do obsessivo com seu desejo, embora de forma geral, seu espao de
investimento calcado numa forma de relacionamento paradoxal. O obsessivo no admite perder, ao mesmo tempo que no tem limites na relao
com seu objeto de amor. Conforme observa Joel Dor (Dor, J. (1994)), o
obsessivo capaz de tudo dar, sem nada dar, no sentido que no admite
perder o controle na relao amorosa.
Na verdade, o que ele busca que o outro tambm no se veja em
condies de desejar. Assim, ele tem que ser tudo para o ser amado. Ele no
pode perder a posio, fantasmtica, de que complementa o Outro. Para
tanto, o desejo do outro tem que permanecer morto.
Na relao com o ser amado, o obsessivo se prope a oferecer, de
todas as formas, as condies para que nada lhe falte. A experincia da falta
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
55
no outro amado remeter a pessoa do obsessivo questo da sua prpria
inaudvel falta. O obsessivo, assim como no seu fantasma, procura reduzir
o desejo necessidade.
O obsessivo masculino, para citar um caso, coloca a mulher amada
num pedestal nico de venerao, buscando transform-la totalmente em
objeto e como tal no desejante: ela deve se fazer de morta. Assim, seu
desejo no encontra inquietao, pois uma vez que o desejo sempre o
desejo do desejo do outro, ao desejar, o objeto amado desalojar o obsessivo
da sua posio controlada em relao ao desejo. A mxima do obsessivo
no relacionamento amoroso que a amada no deva demandar nada. Se
demanda porque deseja. Se deseja, quem corre perigo ele.
O obsessivo ao mesmo tempo em que se afasta de seu impossvel
desejo, se engendra na tentativa de anular a pessoa da mulher amada, e
como j mencionado, ele no mede esforos para faz-lo, embora em vo.
Num determinado momento no ser mais possvel mulher
suportar o nus de se manter apenas como sombra do homem obsessivo.
No momento em que ela se colocar como ser desejante, o relacionamento
perde, totalmente, o seu valor. Nesse momento, o obsessivo deixa de ser
feliz e procura um novo relacionamento. Dessa forma, a mulher, embora
estejamos tratando de objetos de amor, no ocupa no imaginrio da relao
objetal do obsessivo uma posio de mais valia do que um carro esporte,
por exemplo.
Concluo, afirmando que muitos neurticos obsessivos se tornaram
expoentes, na filosofia, na medicina, na busca da verdade e do real. Para
finalizar, fao um reconhecimento, humildemente junto a Lacan (Lacan,
J., (1966) 1998, pg. 648 e 649), de algum que esteve em busca de seu
Desejo: Freud.
Quem soube melhor que ele, declarando seus sonhos, desfiar a corda em
que desliza o anel que nos une ao ser, e fazer luzir entre as mos fechadas
que o passam de uma s outras, no jogo-do-anel da paixo humana, seu
breve fulgor?
Quem trovejou como esse homem de gabinete contra o aambarcamento
do gozo por aqueles que amontoam sobre os ombros dos outros os fardos
da necessidade?
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
56
Alexandre Mendes de Almeida
Quem, to intrepidamente quanto esse clnico apegado ao terra-a-terra do
sofrimento, interrogou a vida em seu sentido, e no para dizer que ela no
o tem maneira cmoda de lavar as mos mas para dizer que tem apenas
um, onde o desejo carregado pela morte?
Homem de desejo, de um desejo que ele acompanhou a contragosto pelos
caminhos onde ele se mira no sentir, no dominar e no saber, mas no qual
soube desvendar, somente ele, qual um iniciado nos antigos mistrios, o
significante mpar: esse falo o qual receb-lo e d-lo so igualmente impossveis para o neurtico, quer ele saiba que o Outro no o tem ou que o tem,
pois em ambos os caos, seu desejo est alhures em s-lo -, e porque
preciso que o homem, macho ou fmea, aceite t-lo e no t-lo, a partir da
descoberta de que no o .
Aqui se inscreve a Spaltung derradeira pela qual o sujeito se articula com o
Logos, e sobre a qual Freud comeando a escrever nos ia dando, na ltima
aurora de uma obra com as dimenses do ser, a soluo da anlise infinita,
quando sua morte ali veio apor a palavra Nada.
BIBLIOGRAFIA
Dor, J. (1991). O pai e sua funo em psicanlise (1989) Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed.
____ (1994). Estruturas e clnica psicanaltica Rio de Janeiro: Taurus
Editora.
Freud, S. (1996). Edio Standard Brasileira das Obras Completas (1950),
Vol. I, Rio de Janeiro: Imago.
____ (1996). Edio Standard Brasileira das Obras Completas (1900),
Vol. V, Rio de Janeiro: Imago.
____ (1996). Edio Standard Brasileira das Obras Completas (1909),
Vol. X, Rio de Janeiro: Imago.
____ (2004). Escritos sobre a psicologia do inconsciente Vol. 1 Rio
de Janeiro: Imago Ed.
____ (2007). Escritos sobre a psicologia do inconsciente Vol. 3 - Rio de
Janeiro: Imago Ed.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
O desejo no neurtico obsessivo
57
Garcia-Roza, L. A (2000). Introduo Metapsicologia Freudiana
Vol. II (1993) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
____ (2004). O mal radical em Freud (1990) Rio de Janeiro: Jorge
Zahar Ed.
Lacan, J. (1995). O seminrio, livro 4: a relao de objeto (1956-57) Rio
de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
____(1999). O seminrio, livro 5: as formaes do inconsciente (1957-58)
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
____(2004). O Seminrio, livro 10: a angstia (1962-63) Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed.
____ (1998). Escritos (1966) Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.
____ (2007). O Mito Individual do Neurtico (1953) Rio de Janeiro:
Jorge Zahar Ed.
Peres, U.T. (2005). Notas sobre a neurose obsessiva em Freud e Lacan
In: Berlinck, M.T. (org.) Obsessiva neurose (pp. 328-398). - So
Paulo: Escuta.
Rabinovich, D. (2005). A angstia e o desejo do outro (1995) Rio de
Janeiro: Companhia de Freud.
Safouan, M. (1979). Estudos sobre o dipo (1974) Rio de Janeiro: Zahar
Editores.
Psic. Rev. So Paulo, volume 19, n.1, 33-57, 2010
Você também pode gostar
- Parecer JurídicoDocumento2 páginasParecer JurídicoDavi BernardiAinda não há avaliações
- Postagem 3 Ppap SeoeDocumento16 páginasPostagem 3 Ppap SeoeLucio CézarAinda não há avaliações
- O Seminário Livro XII Os Problemas Cruciais Da PsicanáliseDocumento5 páginasO Seminário Livro XII Os Problemas Cruciais Da PsicanáliseMardem Leandro SilvaAinda não há avaliações
- Exercicios Resolvidos OCamlDocumento5 páginasExercicios Resolvidos OCamlJoao SousaAinda não há avaliações
- Descrição Das Manobras PPA e PCADocumento44 páginasDescrição Das Manobras PPA e PCAPedro Marques SantosAinda não há avaliações
- FEBRASGO - Manual de Reprodução HumanaDocumento114 páginasFEBRASGO - Manual de Reprodução HumanaThálita Dos AnjosAinda não há avaliações
- A criação original: A teoria da mente segundo FreudNo EverandA criação original: A teoria da mente segundo FreudAinda não há avaliações
- A Psicanálise E As Representações MentaisNo EverandA Psicanálise E As Representações MentaisAinda não há avaliações
- Eliana Caligiuri - Quem É Você, AnaDocumento7 páginasEliana Caligiuri - Quem É Você, AnaAnna AbdalaAinda não há avaliações
- Desamparo Primordial em Nietzsche e em Freud Camargos - Prochno - e - RomeraDocumento10 páginasDesamparo Primordial em Nietzsche e em Freud Camargos - Prochno - e - RomeraGuilherme Augusto Souza PradoAinda não há avaliações
- TARRAB, Maurício - Produzir Novos Sintomas - Texto.Documento5 páginasTARRAB, Maurício - Produzir Novos Sintomas - Texto.Gustavo Batista Chaves100% (1)
- Eros e Psique MonografiaDocumento64 páginasEros e Psique MonografiaSílvia BigareliAinda não há avaliações
- Nosso Mundo Adulto e Suas Raizes Na InfânciaDocumento9 páginasNosso Mundo Adulto e Suas Raizes Na InfânciaVictor Luis DorstAinda não há avaliações
- Vocabulario de Psicanalise 2020Documento38 páginasVocabulario de Psicanalise 2020Gilvana FernandesAinda não há avaliações
- Gozo em PsicanáliseDocumento31 páginasGozo em PsicanáliseLuria Vallas100% (1)
- Texto 04 - Estruturas Clinicas-8-26Documento19 páginasTexto 04 - Estruturas Clinicas-8-26Luciana SenaAinda não há avaliações
- Trabalho BorderlineDocumento12 páginasTrabalho BorderlineAphrouddy (Koi Ni Furu)100% (1)
- Psicanalise Clinica BebesDocumento43 páginasPsicanalise Clinica Bebesvanessa saAinda não há avaliações
- Apresentação - O Sentido Dos SintomasDocumento5 páginasApresentação - O Sentido Dos SintomasMarília MangueiraAinda não há avaliações
- A Psicose Ordinaria e Seus Indices - Uma Investigações À Luz Da Clinica Borromeana PDFDocumento21 páginasA Psicose Ordinaria e Seus Indices - Uma Investigações À Luz Da Clinica Borromeana PDFDebi MullerAinda não há avaliações
- Abuso SexualDocumento78 páginasAbuso SexualDeia AlmeidaAinda não há avaliações
- Psicanalise Com CriançasDocumento8 páginasPsicanalise Com CriançasAndreza CarmonaAinda não há avaliações
- Luto em Pessoas Com Membros Amputados - As Vivências de Múltiplas DoresDocumento10 páginasLuto em Pessoas Com Membros Amputados - As Vivências de Múltiplas DoresJéssica AcorciAinda não há avaliações
- Acting Out e Passagem Ao Ato A História Do Ato No CorpoDocumento11 páginasActing Out e Passagem Ao Ato A História Do Ato No CorpoBarbara B. GuimaraesAinda não há avaliações
- Estrutura Da Personalidade Na Neurose Dunker PDFDocumento20 páginasEstrutura Da Personalidade Na Neurose Dunker PDFMardem LeandroAinda não há avaliações
- Slide Clínica PsicanalíticaDocumento10 páginasSlide Clínica PsicanalíticaBeatriz CondeAinda não há avaliações
- Entre A Fantasia e A Ilusão o DesamparoDocumento13 páginasEntre A Fantasia e A Ilusão o DesamparoWagner Da CruzAinda não há avaliações
- Autismo: Uma Outra Estrutura?Documento14 páginasAutismo: Uma Outra Estrutura?Camilla FerreiraAinda não há avaliações
- O Psicoterapeuta Diante Do Comportamento SuicidaDocumento6 páginasO Psicoterapeuta Diante Do Comportamento SuicidaOlivia de OliveiraAinda não há avaliações
- Borderline - Histeria - NPDocumento6 páginasBorderline - Histeria - NPAugusto CostaAinda não há avaliações
- Erradicando o Castigo Físico e Humilhante Contra A CriançaDocumento137 páginasErradicando o Castigo Físico e Humilhante Contra A CriançaFrancisco BritoAinda não há avaliações
- Folha de S.paulo - Psicanálise - Renato MezanDocumento2 páginasFolha de S.paulo - Psicanálise - Renato MezansupernutritivoAinda não há avaliações
- Avaliação Da Psicoterapia Breve Dinâmica Com Pacientes BorderlineDocumento19 páginasAvaliação Da Psicoterapia Breve Dinâmica Com Pacientes BorderlineVictor Kyochi100% (1)
- Avaliação LacanDocumento5 páginasAvaliação LacanVL FORMATAÇOESAinda não há avaliações
- Recordar, Repetir e Elaborar (Novos Recomendações Sobre A Técnica Da Psicanálise II)Documento5 páginasRecordar, Repetir e Elaborar (Novos Recomendações Sobre A Técnica Da Psicanálise II)Merlise Moreira SousaAinda não há avaliações
- Jacques Lacan e A Falta de ObjetoDocumento10 páginasJacques Lacan e A Falta de ObjetoDaniel CantagaloAinda não há avaliações
- Rinalda de Oliveira Duarte HISTERIADocumento120 páginasRinalda de Oliveira Duarte HISTERIApsicfernandobassoAinda não há avaliações
- Jacques Alain Miller - Sintoma e FantasmaDocumento14 páginasJacques Alain Miller - Sintoma e FantasmaCássia FernandesAinda não há avaliações
- A Familia Na Nova Economia PsiquicaDocumento10 páginasA Familia Na Nova Economia PsiquicaValdeciOliveiraAinda não há avaliações
- Recalque e Repressão PDFDocumento13 páginasRecalque e Repressão PDFKarina SAinda não há avaliações
- A Fantasia e Suas Implicações Na Clínica Psicanalítica 5 PDFDocumento21 páginasA Fantasia e Suas Implicações Na Clínica Psicanalítica 5 PDFKlecia RenataAinda não há avaliações
- As Contribuições Da Psicologia para o Entendimento Do TdahDocumento17 páginasAs Contribuições Da Psicologia para o Entendimento Do Tdahmarcelo_paoliAinda não há avaliações
- Crianças Vítimas de Abuso SexualDocumento21 páginasCrianças Vítimas de Abuso SexualKatharina Cansanção0% (2)
- Uma Leitura de Nota Sobre A Crianca de J 1 PDFDocumento17 páginasUma Leitura de Nota Sobre A Crianca de J 1 PDFLuciaBrand100% (1)
- Diagnostico Psicanalitico Do Transtorno de DeficitDocumento18 páginasDiagnostico Psicanalitico Do Transtorno de Deficitfernanda felixAinda não há avaliações
- Psicopatologia Adulto - ResumosDocumento21 páginasPsicopatologia Adulto - ResumosNena BondigaAinda não há avaliações
- A Descoberta Da Sexualidade InfantilDocumento18 páginasA Descoberta Da Sexualidade InfantilJoão Marcos de Oliveira FilhoAinda não há avaliações
- A Psicanalise Na Instituicao de Saude MentalDocumento9 páginasA Psicanalise Na Instituicao de Saude MentalBárbara CristinaAinda não há avaliações
- O Contemporâneo Na PsicanáliseDocumento10 páginasO Contemporâneo Na PsicanáliseLuiza RodriguesAinda não há avaliações
- Cristina Drummond A DevastacaoDocumento10 páginasCristina Drummond A DevastacaoAline Cristina Da Silva SouzaAinda não há avaliações
- A Dinâmica Da Transferência Na Clínica Psicanalítica Um Estudo de CasoDocumento12 páginasA Dinâmica Da Transferência Na Clínica Psicanalítica Um Estudo de CasoPablo PessanhaAinda não há avaliações
- A Interpretação Borromeana - DeffieuxDocumento3 páginasA Interpretação Borromeana - Deffieuxjr1234Ainda não há avaliações
- Cartilha EducativaDocumento12 páginasCartilha EducativaValeri Carvalho100% (1)
- Neurose ObsessivaDocumento13 páginasNeurose ObsessivaBeatriz SousaAinda não há avaliações
- Todo Mundo É Louco Ou Clinica Do Delrio GeneraliozadoDocumento142 páginasTodo Mundo É Louco Ou Clinica Do Delrio GeneraliozadoJoão Pedro SalgadoAinda não há avaliações
- Eu Te Odeio - Não Me Deixe - Jerold J. KreismanDocumento358 páginasEu Te Odeio - Não Me Deixe - Jerold J. KreismanVanessa Samer Siqueira SilvaAinda não há avaliações
- Afeto e Emoção Na EducaçãoDocumento30 páginasAfeto e Emoção Na EducaçãoKevin LeyserAinda não há avaliações
- Roseana DOUTORADO - TENDENCIA ANTI SOCIAL WINNICOTT PDFDocumento217 páginasRoseana DOUTORADO - TENDENCIA ANTI SOCIAL WINNICOTT PDFFany SimõesAinda não há avaliações
- EUD, S.O Inconsciente - In-Escritos Sobre A Psicologia Do Inconsciente - Vol II. (Partes1,2,3e4) PDFDocumento24 páginasEUD, S.O Inconsciente - In-Escritos Sobre A Psicologia Do Inconsciente - Vol II. (Partes1,2,3e4) PDFFafa de belem100% (1)
- Adolescentes em Psicoterapia Demandas PDFDocumento11 páginasAdolescentes em Psicoterapia Demandas PDFDeniseBarrosAinda não há avaliações
- Oswaldo Montenegro - Estrada Nova - Cifra ClubDocumento2 páginasOswaldo Montenegro - Estrada Nova - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Vinicius de Moraes - Carta Ao Tom 74 - Cifra ClubDocumento2 páginasVinicius de Moraes - Carta Ao Tom 74 - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Vinicius de Moraes - Apelo - Cifra ClubDocumento2 páginasVinicius de Moraes - Apelo - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Vander Lee - Onde Deus Possa Me Ouvir - Cifra ClubDocumento2 páginasVander Lee - Onde Deus Possa Me Ouvir - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Tom Jobim - Insensatez - Cifra ClubDocumento2 páginasTom Jobim - Insensatez - Cifra ClubAdil_son0% (1)
- Vinicius de Moraes - Samba Da Volta - Cifra ClubDocumento2 páginasVinicius de Moraes - Samba Da Volta - Cifra ClubAdil_son0% (1)
- Vinicius de Moraes - Samba de Benção - Cifra ClubDocumento3 páginasVinicius de Moraes - Samba de Benção - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Os Paralamas Do Sucesso - Uma Brasileira - Cifra ClubDocumento3 páginasOs Paralamas Do Sucesso - Uma Brasileira - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- João Gilberto - Meditação - Cifra ClubDocumento1 páginaJoão Gilberto - Meditação - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Vinicius de Moraes - Samba de Orly - Cifra ClubDocumento3 páginasVinicius de Moraes - Samba de Orly - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Titãs - É Preciso Saber Viver - Cifra ClubDocumento4 páginasTitãs - É Preciso Saber Viver - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Nando Reis - Por Onde Andei - Cifra ClubDocumento3 páginasNando Reis - Por Onde Andei - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Lupicínio Rodrigues - Nervos de Aço - Cifra ClubDocumento2 páginasLupicínio Rodrigues - Nervos de Aço - Cifra ClubAdil_sonAinda não há avaliações
- Ritual - Vigília PascalDocumento1 páginaRitual - Vigília PascalIr. Yara sdpAinda não há avaliações
- Produção de Fermentado Alcoólico A Partir de AbacaxiDocumento5 páginasProdução de Fermentado Alcoólico A Partir de AbacaxiTonny BarbosaAinda não há avaliações
- PS2 AMÃNCIO Identidade Social Relações IntergrupaisDocumento12 páginasPS2 AMÃNCIO Identidade Social Relações IntergrupaisJéssica ThaisAinda não há avaliações
- CF7 ResumoAula2 CamilaFaraniDocumento8 páginasCF7 ResumoAula2 CamilaFaraniAna PaulaAinda não há avaliações
- Expressao PlasticaDocumento128 páginasExpressao PlasticaIsabel Costa100% (6)
- Guia Curso de Mangá Estilo Seinen Ed 01 PDFDocumento99 páginasGuia Curso de Mangá Estilo Seinen Ed 01 PDFHenrique Luis Beltrao100% (1)
- Colaborar e Preciso Um Guia para Parcerias MultissetoriaisDocumento176 páginasColaborar e Preciso Um Guia para Parcerias MultissetoriaisVictor SantosAinda não há avaliações
- Da Desigualdade À Diferença - Direito, Política e A Invenção Da Diversidade Cultural Na América LatinaDocumento24 páginasDa Desigualdade À Diferença - Direito, Política e A Invenção Da Diversidade Cultural Na América LatinaRafaelBoemiAinda não há avaliações
- Tardes de Outono - João DinisDocumento3 páginasTardes de Outono - João DinisCarlos AmaroAinda não há avaliações
- Divisão Da História Da Educação No BrasilDocumento10 páginasDivisão Da História Da Educação No Brasilfernanda136Ainda não há avaliações
- FISPQ - Loção Limpadora de Mãos GojoDocumento1 páginaFISPQ - Loção Limpadora de Mãos GojoluizAinda não há avaliações
- Apendice - U1 - GabaritoDocumento6 páginasApendice - U1 - GabaritoemanuelleescolarAinda não há avaliações
- Gincana 2024Documento7 páginasGincana 2024camillyvitoriaduarteamorim13Ainda não há avaliações
- A Lenda Da Boa SorteDocumento85 páginasA Lenda Da Boa SorteEdgar MullerAinda não há avaliações
- 1 Lista Exercicio EconomiaDocumento3 páginas1 Lista Exercicio Economialunora36Ainda não há avaliações
- Mensagem A SalvaçãoDocumento3 páginasMensagem A SalvaçãoCLAUDINEI FERREIRA LOPESAinda não há avaliações
- Gabarito DefinitivoDocumento27 páginasGabarito Definitivocdcb1Ainda não há avaliações
- Ácidos e Bases OrgânicosDocumento39 páginasÁcidos e Bases OrgânicosMatias Bueno De CastroAinda não há avaliações
- Prova Tipo A 2022.2Documento34 páginasProva Tipo A 2022.2luizotavioribeirosouza55xAinda não há avaliações
- Uc 4 Atividade 1Documento3 páginasUc 4 Atividade 1Karen MajorryAinda não há avaliações
- Tipagem SanguíneaDocumento2 páginasTipagem SanguínealuizAinda não há avaliações
- Contrato em Branco Sulamerica - 2023Documento12 páginasContrato em Branco Sulamerica - 20233cor.comercial40Ainda não há avaliações
- Questões PMCE TIRADENTESDocumento3 páginasQuestões PMCE TIRADENTESDenir PereiraAinda não há avaliações
- Anamnese - Diees - ModeloDocumento6 páginasAnamnese - Diees - ModeloFabricio CardosoAinda não há avaliações
- Atividade Da Unidade I - PlataformaDocumento2 páginasAtividade Da Unidade I - PlataformaColégio São José OperárioAinda não há avaliações