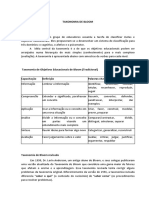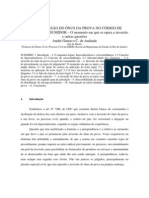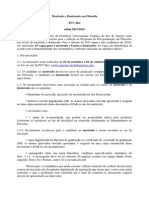Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Critica, Dedução e Facto Da Razão - Guido de Almeida
Enviado por
BelinniTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Critica, Dedução e Facto Da Razão - Guido de Almeida
Enviado por
BelinniDireitos autorais:
Formatos disponíveis
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
CRTICA, DEDUO E
FACTO DA RAZO
Guido Antnio de Almeida
UFRJ
Diversamente do que ocorre no restante de sua obra crtica, a Crtica da Razo
Prtica (1788) de I. Kant no contm o que chama uma deduo dos princpios
do poder criticado. verdade que a se pode ler um captulo com o ttulo: Da
Deduo dos Princpios da Razo Prtica Pura. Mas o objetivo desse captulo
no exatamente desenvolver uma deduo, seno mostrar que, em uma crtica
da razo prtica, a prova da validade de seus princpios impossvel. Mais ainda,
no s impossvel, como tambm dispensvel, visto que aquilo que nas outras
crticas tem de ser assegurado por uma deduo, nesta garantido pelo apelo a
um facto da razo, ou seja, a uma verdade que caracterizada - de uma maneira que pode parecer paradoxal - como uma verdade estabelecida pela razo, embora no por uma inferncia (como seria de se esperar das verdades descobertas
pela razo), por conseguinte como uma verdade imediatamente certa, mas
tampouco com base em alguma evidncia intuitiva (como seria de se esperar de
uma verdade imediata).
Na Crtica da Razo Pura (1781), ao contrrio, a deduo das categorias e
dos princpios do entendimento era uma pea essencial do projeto crtico, que
o de examinar o que podemos saber. Com efeito, sem essa deduo o filsofo no poderia examinar o bem fundado de nossa pretenso de conhecer
objetos da experincia distintos das percepes em que so dados e, ao fazer
isso, certificar-se do direito que temos de atribuir aos juzos sobre os objetos
da experncia uma necessidade e validade universal que negamos aos juzos
sobre as nossas percepes.
volume4
nmero1
1999
57
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
58
Tambm na Crtica da Faculdade do Juzo (1790) a deduo do princpio dos
juzos de gosto ser uma parte decisiva do projeto crtico, pois, sem ela, mais
uma vez, o filosfo, ao examinar agora as credenciais de nossos juzos estticos,
no poderia se certificar do direito que teramos, em princpio, de distinguir os
juzos sobre o belo dos juzos sobre o agradvel, atribuindo aos primeiros uma
validade universal que negamos aos primeiros, embora ambos estejam fundados
num estado subjetivo de nossa mente, que o sentimento de prazer.
interessante notar que, na Fundamentao da Metafsica dos Costumes (1785), a
deduo de um Imperativo Categrico como princpio dos nossos juzos morais
tambm desempenhava um papel decisivo. Sem ela, com efeito era o que a ainda parecia a Kant - o filsofo no poderia se certificar do direito que temos de
atribuir a nossos juzos morais uma necessidade e validade universal, que negamos aos juzos pragmticos sobre nossa felicidade e os meios para alcan-la.
Cabe lembrar que, na FMC,1 a deduo do Imperativo Categrico que d
obra o direito de trazer o ttulo de uma fundamentao, na medida em que assegura a passagem da mera exposio metafsica2 da frmula do Imperativo Categrico para a fundamentao crtica de sua possibilidade. Com efeito, o terceiro e ltimo captulo da obra, que trata da Passagem da Metafsica dos Costumes
para uma Crtica da Razo Prtica Pura, contm no essencial uma deduo
transcendental do Imperativo Categrico, baseada, de resto, numa prova da liberdade da vontade de todo agente racional.3
(1) Abreviaturas usadas: FMC = Fundamentao da Metafsica dos Costumes, CRP = Crtica da Razo
Pura, CRPr = Crtica da Razo Prtica, CFJ = Crtica da Faculdade do Juzo.
(2) Uma exposio metafsica no outra coisa seno a anlise do contedo de um conceito a
priori. Cf. sua definio na primeira Crtica: Entendo, porm, por exposio (expositio) a representao distinta (embora no completa) daquilo que pertence a um conceito; mas a exposio metafsica
se ela contm aquilo que apresenta o conceito como dado a priori (CRP , B 38).
(3) Kant caracteriza seu argumento no cap. 3 da FMC como uma deduo do conceito da liberdade em BA
99, Ak.IV, 447 e como uma deduo do imperativo categrico em BA 112, Ak. IV, 457 [as siglas BA e Ak.
designam respectivamente a paginao da 1 e da 2 edio da Fundamentao da Metafsica dos
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
No quero dizer com isso que a crtica da razo prtica pura, que Kant
tem em vista aqui, deva ser identificada deduo do Imperativo Categrico e
que ela esteja, pois, j realizada em seu todo no terceiro captulo da FMC.
Mas est claro que, sem essa deduo, no seria possvel realizar o programa
descrito na Introduo da obra, que , como lemos a, o de uma Aufsuchung
und Festsetzung, qual seja o de procurar e estabelecer o princpio de nossos juzos morais. 4 Com efeito, esse programa s se realiza quando passamos
do patamar atingindo no segundo captulo, que o de expor numa frmula
abstrata e geral o princpio de nossos juzos morais (Aufsuchung), para o nvel
superior da Crtica, que o de fundamentar, isto , provar a validade desse
princpio (Festsetzung).
Na CRPr, porm, a deduo do princpio de nossos juzos morais declarada no s impossvel mas tambm desnecessria, porque a validade do princpio se mostrou entrementes como um facto da razo. Por isso mesmo, Kant
tambm abandona o projeto de uma crtica da razo pura prtica, que havia
esboado e realizado em sua parte central na FMC, e o substitui pelo projeto
menos ambicioso de uma crtica da razo prtica. Esta nada mais seno o
exame dos princpios que tornam possvel o agir racional, ao qual exame incumbe: [i] mostrar pelo facto5 que a razo pode determinar a vontade por um
Costumes, tal como a encontramos indicada na edio por W. Weischedel das obras publicadas por
Kant (I. Kant, Werke hg. W. Weischedel, Frankfurt: Insel Verlag, 1956) e a paginao da edio da Academia (Kants gesammelte Schriften, vol. IV]. verdade que Kant no o caracteriza explicitamente como
uma deduo transcendental, mas visto que a se trata de responder a uma questo quid iuris,
concernindo justificao de uma proposio sinttica a priori, que o tipo de questo que segundo a
primeira Crtica requer uma deduo transcendental, temos o direito (como explica H. Allison em
Kants Theory of Freedom, p. 279 n. 1) de considerar a deduo do imperativo categrico como uma
deduo transcendental.
(4) A presente fundamentao nada mais do que a busca e o estabelecimento (Aufsuchung und
Festsetzung) do princpio supremo da moralidade, FMC BA xv, Ak. IV, p. 392.
(5) A prova pelo facto (Beweis durch die Tat, argumentum de facto) consiste na refutao de uma tese pela
apresentao de um contra-exemplo, no importa como este seja estabelecido. nesse sentido que
volume4
nmero1
1999
59
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
60
princpio sinttico apriori; [ii] defender esse princpio da razo contra argumentos dialcticos que pretendem reduzir a razo prtica a princpios
empiricamente condicionados.
O abandono da deduo pelo apelo ao facto da razo no satisfez a maioria dos leitores de Kant,6 mesmo simpticos nova doutrina. Com efeito, os
dois pontos fundamentais da nova doutrina parecem bastante frgeis, talvez
Kant usa a expresso na CRP ao se referir (no contexto da discusso da prova ontolgica da existncia de Deus) tentativa de refutar a tese de que a noo de um ente absolutamente necessrio um
conceito vazio (como quer Kant) com base na alegao de que h pelo menos um ente absolutamente
necessrio, qual seja, o conceito de um ente realssimo, pois a existncia deste se seguiria necessariamente da mera possibilidade de pens-lo sem contradio (CRP,A 596/B 624). Argumentum de facto
a expresso usada na traduo latina da CRP (Immanuelis Kantii Critica Rationis Purae, latine vertit
Fredericus Gottlob Born, Lipsiae, 1796, reimpr. Frankfurt: Minerva, 1969, p. 413). no mesmo sentido
que Kant usa a expresso na CRPr, ao se referir lei moral como o nico facto da razo que escapa
censura (CRPr,A 79, Ak. V, 46) referindo-se assim implicitamente tese na primeira Crtica segundo a
qual todos os factos da razo (transgresses cometidas pela razo pura terica quando estende o
uso das categorias alm dos limites da experincia) so passveis de uma justa censura pelo filosfo
cptico (CRP, A 760ss./B 788ss.). (As passagens da CRPr so citadas segundo a paginao da primeira edio, designada pela letra A, e segundo a paginao da edio da Academia, vol. V).
(6) Schopenhauer e Hegel so sempre lembrados como os iniciadores dessa recepo negativa da
doutrina kantiana. Assim, Schopenhauer acusa Kant de ter aberto as portas a todos os filosofastros
e fantasistas do irracionalismo romntico ao apresentar o Imperativo Categrico como um facto
hiperfsico, um templo dlfico dentro da mente, de cujo tenebroso santurio orculos infalveis proclamam no, infelizmente, o que aconter, mas o que deve acontecer (A. Schopenhauer, Die beiden
Grundprobleme der Ethik, WW, hg. Frauenstdt, vol. IV, p. 146 s.). Hegel, por sua vez, referindo-se ao
facto da razo, caracteriza-o como a revelao dada razo que permanece no estmago
como uma massa indigesta (Geschichte der Philosophie, vol. III, p. 593; ambas as passagens apud D.
Henrich,Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre der Vernunft, in G. Prau, Kant: Zur
Theorie von Erkennen und Handeln, Kln: Kiepenheuer & Witsch, 1973, p. 235). O prprio Prau julga
que pela simples razo de ter de equacionar a lei moral no somente como um facto, mas tambm
como um facto apririco, Kant se v forado a infringir um ponto essencial da filosofia
transcendental, que o de s recorrer a um a priori, na medida em que este se deixa deduzir ou
derivar (G. Prau, Kant ber Freiheit als Autonomie,Frankfurt: V. Klostermann, 1983, p 68).
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
pela extrema conciso com que so expostos. Assim, por um lado, a excluso da
deduo parece no s uma renncia ao projeto crtico e uma recada no
dogmatismo, mas tambm insuficientemente argumentada. Se lermos com cuidado as passagens relevantes, veremos que a explicao dada deficiente quer
como explicao da possibilidade de uma deduo dos princpios do conhecimento, quer como explicao da impossibilidade de uma deduo do princpio
da moralidade. Por outro lado, o recurso a um facto da razo parece, no mnimo, um apelo a uma entidade misteriosa. Antes de mais nada, o prprio significado da expresso ambguo, facto podendo ser tomado tanto no sentido
cognitivo de uma verdade imediatamente certa, quanto no sentido volitivo de
um acto ou feito da razo. Alm disso, Kant d pelo menos cinco caracterizaes diferentes do facto da razo, e no est claro de incio como essas caracterizaes se relacionam entre si.7
Todavia, no tratarei aqui desses pontos. Entendo que, mesmo que a palavra facto da razo tenha para Kant o sentido etimolgico de um acto ou feito
da razo, o que importa considerar para a validade do princpio que dito ser
um facto da razo o modo pelo qual temos conscincia dele. Vou supor
tambm, sem demonstrao, que a expresso facto da razo caracteriza basicamente a conscincia da lei moral e que as demais formulaes possam ser obtidas por anlise dessa frmula inicial. Para o aclaramento desses pontos, remeto a outros trabalhos meus.8 Aqui vou concentrar-me nas duas questes que me
parecem as mais importantes para a avaliao do projeto crtico de Kant, quais
sejam: [i] Por que no possvel uma deduo ou, por outras, qual a razo de
(7) Na CRPr, facto da razo caracterizado sucessivamente como a conscincia da lei moral (A
55s., Ak. V, 31), como a autonomia no princpio da moralidade (A 72. Ak. V, 42), a conscincia da
liberdade (A 72, Ak. V, 42), a lei moral (A 74, Ak. V, 43) e a inevitvel determinao da vontade
pela mera concepo da lei moral (A 76, Ak. V, 44).
(8) Kant e o facto da razo, que apresentei em diferentes colquios em duas verses ainda no
publicadas, e Kant e o facto da razo: cognitivismo ou decisionismo moral?, in Studia
Kantiana, v. 1, n. 1 (1998).
volume4
nmero1
1999
61
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
princpio que torna invivel a deduo? [ii] Em que exatamente se baseia a
conscincia da lei moral, ou ainda, por que o princpio de nossos juzos morais
se impe nossa vontade, e o que d o direito de afirmar que temos conscincia dele como um facto?
Creio que so estes os pontos decisivos para a avaliao da teoria kantiana.
Com efeito, a impossibilidade da deduo parece ameaar todo o projeto kantiano na
medida em que este tem um objetivo crtico. Como se certificar do direito que temos que distinguir entre um ponto de vista moral para a avaliao de nossas aes
e um ponto de vista puramente pragmtico, se devemos renunciar ao objetivo de
fundamentar o princpio dessa avaliao? Mais ainda, o apelo a um facto da razo
como sucedneo de uma impossvel deduo parece to somente consagrar o
abandono do projeto crtico como uma recada no dogmatismo. Contra essas aparncias, no entanto, quero defender a suposio de que, bem compreendidas, nem
uma coisa nem outra pem realmente em risco o projeto crtico de Kant. Naturalmente, para bem compreender, preciso aprofundar e expandir as explicaes de
Kant, que, no mnimo, so algo sumrias.
II
Sob que condies possvel ou, conforme o caso, impossvel uma deduo? A explicao que encontramos na CRPr9 resume-se na formulao de trs
pontos. O primeiro explica o que uma deduo, definindo-a como a prova da
validade objetiva de um princpio sinttico a priori pela demonstrao de que
esse princpio a condio de possibilidade do conhecimento da natureza
objetiva daquilo que pode ser dado independentemente dele. O segundo explica
por que possvel uma deduo dos princpios sintticos do entendimento, alegando que possvel provar que esses princpios so condies de possibilidade do conhecimento da natureza objetiva daquilo que pode ser dado alhures
62
(9) CRPr, A 80 s., Ak. V, 46.
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
na intuio sensvel. O terceiro, finalmente, explica por que impossvel uma
deduo da lei moral com a afirmao de que no possvel provar que a lei
moral seja a condio de possibilidade do conhecimento de algo que exista independentemente dela.
Lida com ateno essa explicao revela-se insuficiente tanto como explicao da possibilidade da deduo dos princpios do entendimento, quanto como
explicao da impossibilidade da deduo da lei moral. No que diz respeito deduo dos princpios do entendimento, fcil de ver que ela retoma simplesmente a frmula cannica da deduo, tal como a encontramos no 14 da Deduo
Transcendental na primeira Crtica10, a saber, a explicao de que a deduo,
isto , a prova da validade dos conceitos puros do entendimento, se faz pela prova de que estes so condies de possibilidade, no da intuio, mas da experincia.
Ora, a explicao oficial tem uma dificuldade bvia que os intrpretes no
deixam de assinalar. Com efeito, nessa explicao, a deduo assume como premissa a hiptese de que temos algo como a experincia, ou seja, o conhecimento
da natureza objetiva daquilo que dado na intuio sensvel.11 Por isso mesmo
(10) Na verdade, a idia de que a deduo consiste na prova de que as categorias (e os princpios
sintticos a priori do entendimento) so condies de possibilidade da experincia apresentada
como o princpio (Prinzipium) da deduo, ao qual toda a investigao deve ser dirigida (CRP, A
94/B 126). Se admitimos que a prova desse princpio j est feita na alnea anterior do 14 (como
sugere a referncia ao lado objetivo da deduo no Prefcio em A xvi-xvii), devemos entender esse
princpio como o ponto de partida de uma deduo a ser completada (o lado subjetivo da Deduo), ou seja, como a premissa maior de um argumento que ter como menor o discernimento de que a
conscincia emprica das intuies em ns tem por condio uma conscincia de si que s se
actualiza como a conscincia do poder de julgar sobre os objetos da experincia (da qual as categorias
so precisamente, segundo o princpio j demonstrado, condies de possibilidade). No poderemos, portanto, consider-la como uma frmula resumindo todo o argumento da deduo. Se no
admitimos isso e pensamos que tambm a prova do princpio ainda est por se fazer, com muito
mais razo teremos de recus-la como uma frmula resumindo a deduo, pois esta, precisamente,
ainda est inteiramente por se fazer.
(11) Em sentido prprio, experincia designa o conhecimento emprico (de objetos dados na intuio), que , na anlise de Kant, um produto do entendimento resultando da subsuno dos dados da
volume4
nmero1
1999
63
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
64
ela no pode ser aceita como uma prova da validade objetiva dos princpios do entendimento por quem ponha em questo a possibilidade do conhecimento de
objetos e, na melhor das hipteses, s pode ser aceita como prova da aprioridade
dos princpios do entendimento.
Na verdade, o argumento que encontramos de facto desenvolvido na deduo da primeira crtica tem como premissa, no a experincia no sentido do conhecimento objetivo, que se exprime em juzos de experincia, mas a conscincia
emprica do que dado na intuio e que se exprime em juzos de percepo
(para usar a terminologia dos Prolegomena). Dada essa premissa, a deduo baseia-se na prova,12 primeiro, da relao necessria que a conscincia emprica do
que dado na intuio tem com a conscincia de si e, em seguida, da relao
intuio a conceitos de objetos, cf. CRP A 1). Na medida, porm, em que o conhecimento emprico
ele prprio explicado como um conhecimento a partir da experincia (aus Erfahrung, cf. CRP, B 1), experincia pode ser tomada como a prpria sensao, que a fonte do conhecimento emprico, ou
pelo menos como a sntese subjetiva das percepes, vale dizer, das intuies, na medida em que
temos conscincia delas como estados subjetivos. [Cf. a esse respeito Prol., 5, A 41, Ak. IV, 275: A
experincia no ela prpria outra coisa seno uma ligao (sntese) contnua das percepes e o
comentrio de H. Holzhey, Kants Erfahrungsbegriff, Basel/Stuttgart: Schwabe, 1970, p. 168s. e 210s.].
Se tomamos experincia no primeiro sentido, est claro que a deduo s poder ser entendida
como uma refutao do filsofo empirista que pe em questo, no a possibilidade do conhecimento
de objetos empricos como algo de distinto dos estados subjetivos de quem os conhece, mas unicamente a existncia de conhecimentos a priori. Se, ao contrrio, experincia entendida no segundo
sentido, a deduo poder ser entendida como a refutao do filsofo cptico que admite a possibilidade de se ter conscincia dos estados subjetivos em que nos encontramos quando dizemos conhecer
algo, mas no admite que se possa conhecer um objeto distinto desses estados subjetivos. (Cf. a observao de P. Guyer a esse respeito em Kant and the Claims of Knowledge, Cambridge: Cambridge
University Press, 1987, p. 79 s.).
(12) Tal o esquema da prova que encontramos explicitado no tem 4 da segunda seco da Deduo (A 110-114). Que a prova efetivamente dada na Deduo se conforme a esse esquema depende, bem entendido, de uma interpretao mais minuciosa do texto. Tentei faz-lo em: Conscincia de Si e Conhecimento Objetivo na Deduo Transcendental da Crtica da Razo Pura, in
Analytica, v. I, n. 1 (1993).
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
necessria entre a conscincia de si e o poder de julgar objetivamente, em conformidade
com as categorias (e os respectivos princpios do entendimento).
Esse argumento uma prova da validade objetiva dos conceitos puros e
princpios a priori do entendimento porque no possvel recusar sua validade sem recusar aquilo que ele torna possvel, a saber, a experincia e, com
esta, a conscincia de si e a conscincia emprica. Assim, se todos os passos
do argumento so corretos, e se possvel provar, como pretende Kant, que h
uma relao necessria entre a conscincia emprica das intuies com a conscincia de de si e uma relao necessria entre esta e o conhecimento emprico
de objetos, no possvel admitir a possibilidade de se ter uma conscincia
emprica das intuies sem admitir a possibilidade de se ter tambm um conhecimento dos objetos da intuio.
A frmula cannica da Deduo (como a prova da validade objetiva das
categorias e princpios do entendimento, que se faz mediante a prova de que estes so condies de possibilidade da experincia) deve ser entendida, pois,
como uma abreviatura de uma demonstrao mais complexa do que d a entender. Em correspondncia com isso, a formulao derivada que encontramos na 2
Crtica (como a prova de que os princpios do entendimento so condies do conhecimento da natureza objetiva de algo dado alhures na intuio sensvel) deve
ser entendida como a prova de que a validade desses princpios e, com eles, o conhecimento de objetos possibilitado por esses princpios, so pressupostos pela conscincia
emprica das intuies em que os objetos so dados.
volume4
nmero1
1999
III
Vejamos agora a explicao, feita dada na mesma passagem, da impossibilidade de uma deduo da lei moral. Segundo essa explicao, impossvel dar uma
deduo da lei moral porque esta, a lei moral, no diz respeito ao conhecimento
de objetos que possam ser dados alhures (ou de outra parte, anderswrts) razo, mas ao conhecimento de algo cuja existncia depende da prpria lei moral,
isto , da vontade que opera em conformidade com a lei moral.
65
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
66
A explicao parece se basear unicamente na constatao de que os princpios do entendimento so condies do conhecimento (embora no da existncia) dos
objetos conhecidos em conformidade com eles (pois estes podem ser dados na intuio sensvel), ao passo que a lei moral uma condio no s do conhecimento, mas tambm da existncia dos objetos conhecidos em conformidade com ela
(pois estes no podem ser dados na intuio sensvel). Com efeito, a lei moral
um princpio da razo prtica, e desta podemos dizer que ela torna possvel no
s o conhecimento, mas a prpria existncia de certos objetos (a saber, o moralmente bom e o moralmente mau), que no podem ser encontrados enquanto tais
na intuio sensvel.
Ora, essa comparao no inteiramente correta. Por um lado, no verdade
que os objetos da razo prtica (ou seja, aquilo que passvel de ser avaliado
como bom ou mau) e, em particular, que os objetos da razo prtica pura (o que
pode ser avaliado como moralmente bom e o moralmente mau) no possam ser
dados independentemente de seus princpios na intuio sensvel. Bom e mau
so predicados que aplicamos a aes possveis pela causalidade de nossa vontade, isto , segundo a representao de fins, ou mximas. Ora, enquanto determinadas segundo mximas, as aes que avaliamos moralmente podem existir independentemente da avaliao moral e, podemos at mesmo admitir que, em certo
sentido, tambm podem ser dadas na intuio sensvel, na medida em que so ou
envolvem aes fsicas (conhecidas pelo sentido externo) e a conscincia de fins
(atravs do sentido interno).
Por outro lado, no verdade que os objetos conhecidos em conformidade
com os princpios do entendimento possam existir enquanto tais independentemente do entendimento. Eles podem existir certamente enquanto manifestaes
sensveis (Erscheinungen), isto , enquanto objetos indeterminados da intuio
emprica,13 mas no enquanto objetos determinados, isto , coisas ou eventos fsicos. E isto porque estes so, de maneira semelhante aos objetos da razo
(13) CRP, A 20/B 34.
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
prtica, produtos de uma atividade constitutiva do entendimento. verdade que
os princpios do entendimento no so uma condio das manifestaes sensveis,
mas eles so certamente uma condio dos objetos do conhecimento enquanto tais.14
Se isso fosse tudo, poderamos dizer que nossas aes, na medida em que
so passveis de serem conhecidas como moralmente boas ou ms, esto na mesma situao que os dados da intuio sensvel, na medida em que estes so passveis de serem conhecidos como manifestaes sensveis de objetos distintos das
intuies em que so dados. Por um lado, com efeito, nem os conceitos e o princpio da razo pura prtica so condies das aes s quais se aplicam (para agir,
mesmo racionalmente, no preciso ser capaz de avaliar moralmente sua ao),
nem os conceitos e os princpios do entendimento so condies das manifestaes sensveis a que se aplicam. Por outro lado, do mesmo modo que os conceitos
e o princpio da razo prtica pura so condies do conhecimento das aes
como moralmente boas ou ms, assim tambm os conceitos e os princpios do entendimento so condies do conhecimento dos dados da intuio sensvel como
manifestaes de objetos deles distintos.
Assim, se tivssemos de deixar as coisas no ponto em que esto, no teramos ainda uma explicao cabal da impossibilidade da deduo da lei moral. De
facto, se esta se encontra na mesma situao (relativamente s aes cujo reconhecimento como moralmente boas ou ms ela torna possvel) que os princpios do
entendimento (relativamente aos dados sensveis, cujo reconhecimento como manifestaes de objetos distintos desses dados os princpios do entendimento tornam possvel), e se isso tudo o que temos de considerar, no h razo para supor que a deduo, possvel num caso, teria de ser impossvel no outro.
Que falta, ento, para completar a explicao da impossibilidade da deduo da lei moral? O que falta, ns o encontraremos se atentarmos de novo para
(14) As condies da possibilidade da experincia so ao mesmo tempo condies da possibilidade
dos objetos da experincia e por isso tm validade objetiva em um juzo sinttico a priori (CRP , A
158/B 197), eis a o princpio dos juzos sintticos a priori, de cuja possibilidade precisamente se
trata na Deduo.
volume4
nmero1
1999
67
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
68
aquilo que vamos tambm faltar explicao da possibilidade da deduo dos
princpios do entendimento. Com efeito, vimos que a explicao oficial incompleta e que a deduo dos conceitos puros e princpios sintticos a priori do
entendimento no se baseia apenas na prova de que sua validade objetiva uma
condio do conhecimento da natureza objetiva do que dado na intuio sensvel, mas depende tambm da prova de que esta, a experincia, ou o conhecimento da natureza objetiva, tem uma relao necessria com a conscincia de si, a
qual est ela prpria, por sua vez, numa relao necessria com a conscincia
emprica do dado da intuio e dos juzos subjetivos (de percepo) em que exprimimos essa conscincia. O ponto crucial da deduo , pois, aqui o
discernimento de que s podemos ter uma conscincia emprica de nossas intuies, vale dizer, saber que temos intuies, se temos como condio disso uma
conscincia de ns mesmos, a qual, por sua vez, s se actualiza como uma condio do poder de julgar, mais precisamente, do poder de fazer juzos sobre objetos
da experincia.
Ora, se assim , e se, por hiptese, o princpio e os conceitos da razo
prtica pura se encontram na mesma situao que os conceitos puros e os
princpios sintticos a priori do entendimento (relativamente quilo a que uns
e outros se aplicam), seria possvel dar (tanto a propsito do entendimento,
quanto da razo prtica) a mesma prova da validade objetiva de seus conceitos e princpios puros. Por conseguinte, deveria ser possvel provar que a validade da lei moral uma condio da conscincia que temos daquilo a que a
lei se aplica, a saber, nossas aes.
Consideremos ento como, segundo Kant, temos conscincia de nossas
aes. Segundo a explicao de Kant, o homem tem conscincia de suas aes
como determinadas por um poder de escolha (o arbtrio, ou a vontade em
um dos seus sentidos) que afetado, mas no determinado por impulsos sensveis, na medida em que a razo oferece vontade imperativos. Eis a um ponto que Kant deixou claro, desde a primeira Crtica, no contexto de sua anlise da
liberdade prtica, isto , da liberdade de um arbtrio (poder de escolha) que
sensitivum (no sentido de que afetado por impulsos sensveis), mas no brutum
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
(isto , no determinado por esses impulsos). 15 O homem, diz Kant a, sabe
pelaapercepo, isto , pela conscincia que tem de si mesmo, que capaz de
determinar suas aes por uma causalidade da razo, causalidade que fica clara pelos imperativos que ela fornece ao nosso poder de escolha.16
Podemos dizer, portanto, que, na concepo kantiana, os imperativos so a
condio sob a qual um agente racional tem conscincia de suas aes. Mas isso,
claro, no basta para a deduo da lei moral. Com efeito, preciso distinguir entre dois tipos de imperativos, os imperativos pragmticos (que so princpios
subjetivos, ou mximas, da vontade) e os imperativos morais (que so princpios
objetivos, ou leis, para a vontade). Assim, se quisssemos apresentar especificamente os imperativos morais como uma condio da conscincia de nossas aes
em geral (como seria necessrio para uma deduo), seria preciso desqualificar os
imperativos pragmticos como uma condio suficiente da conscincia e coloc-los
na dependncia dos imperativos morais. O que redundaria em dizer que no podemos ter conscincia de agir em conformidade com imperativos pragmticos (ou
qualquer outra coisa) se tambm no temos conscincia de agir com base em um
imperativo moral.
Ora, isso no s contra-intuitivo, como tambm, anlise feita, incorreto.
contra-intuitivo, porque possvel dar exemplos de indivduos capazes de agir
com base em imperativos pragmticos, mas incapazes de avaliar suas aes de
um ponto de vista moral. Tal o caso de crianas muito pequenas capazes de
agir com base, no simplesmente na expectativa de sanes, como animais adestrados, mas com base na aplicao de regras de sancionamento que conhecem e
que so capazes de enunciar, embora ainda sejam incapazes de fazer juzos morais. Mas, sobretudo, conceitualmente incorreto, porque entre imperativos
pragmticos e imperativos morais h uma relao hierrquica tal que os primeiros servem de base para os segundos e no vice-versa. Com efeito, dos
(15) Para o conceito de liberdade prtica, cf. CRP, A 534 / B 562.
(16) Para a conscincia de nossas aes como a conscincia de um agir racional (ou, nas palavras de
Kant, determinado por uma causalidade da razo), cf. CRP, A 546s / B 574s.
volume4
nmero1
1999
69
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
70
imperativos pragmticos podemos dizer que so mximas, ou princpios
subjetivos com que avaliamos diretamente nossas aes (ou o fim particular que
visado em cada ao) relativamente sua compatibilidade com outros fins. O imperativo moral, ao contrrio, um princpio objetivo com que avaliamos os prprios imperativos pragmticos relativamente sua compatibilidade com os imperativos dos demais. Os imperativos morais constituem, pois, uma condio
restritiva da adoo de imperativos pragmticos. Assim, a relao que subsiste
entre eles exatamente a inversa do que seria necessrio para uma deduo, pois
so os imperativos morais que pressupem a existncia de imperativos pragmticos, e no vice-versa.
Esse um ponto bastante claro e no de estranhar que no encontremos em
Kant nenhuma tentativa de levar a cabo uma deduo que siga, pelo menos de
uma maneira bvia, esse esquema. Kant no deixou, porm, de tentar uma deduo semelhante por vias travessas. Estas tentativas se baseiam: [i] na considerao
da implicao mtua entre liberdade e moralidade; [ii] na espontaneidade que se
pode atribuir aos nossos juzos (tanto tericos quanto prticos) na medida to somente em que so determinados segundo razes e no segundo causas (argumento provisrio na FMC III e diversas Reflexes)17 ou pelo menos na medida em que
o poder de julgar encontra-se ligado em ns razo prtica, isto , uma vontade
(argumento definitivo na FMC III).18
(17) FMC, BA 101, Ak. IV, 448 e Refl. 4220, 4338, 5441, 5442. Cf. tambm a Vorlesung ber Metaphysik
(Plitz), p. 205-207.
(18) FMC, BA 105-110, Ak. IV, 450-453; cf. tambm a Rezension zu Johann Heinrich Schulz (p. 778, na
edio de Weischedel; Ak., vol. VIII, 14). Henrich, que melhor estudou as tentativas de deduo nos
manuscritos de Kant, distingue as tentativas de deduo indireta, baseadas no conceito de liberdade, e as tentativas de uma deduo direta, baseadas seja em consideraes sobre a exigncia de
consistncia no agir seja na maximao das chances de se tornar feliz (cf. as passagens citadas por
Henrich, notadamente: Refl. 6853, 7196, 6221; cf. tambm Vorlesung ber Ethik, editada originalmente
por P. Menzer e reeditada recentemente por G. Gerhardt, Frankfurt: Fischer, 1991, p. 54) . No creio,
porm, que os argumentos em que Henrich encontra tentativas de uma deduo direta possam ser
considerados como tentativas de uma deduo em sentido prprio, pois so argumentos empricos
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
As primeiras tentativas, Kant abandonou-as depois de uma autocrtica consignada em certas reflexes (para as quais Henrich foi o primeiro a chamar a ateno): impossvel derivar a liberdade prtica da liberdade lgica, isto , a liberdade da vontade da mera espontaneidade do juzo. 19 Com efeito, no
autocontraditrio pensar um sujeito que livre em seus juzos, no sentido de no
ser determinado causalmente a julgar da maneira que julga, mas no livre em
sua vontade, no sentido de no ser determinado causalmente a agir (caso da
compulso) ou, pelo menos, que se pode pensar como adotando as mximas que
adota por fora de uma causalidade superior que ignora.20
A segunda tentativa, Kant abandonou-a na CRPr sem autocrtica expressa.
Qualquer que tenha sido o motivo real desse abandono, a deduo tentada em
FMC III fracassa porque Kant tem que pensar a vontade, segundo o seu prprio
conceito, como regulada por imperativos. Ora, da noo de um agente capaz de julgar teoricamente e de querer com base em imperativos prticos, mas no imperativos
morais, impossvel derivar a liberdade no sentido transcendental que necessrio
supor para dela derivar em seguida o imperativo moral. Com efeito, lcito supor
que os imperativos pragmticos, com base nos quais deliberamos o que queremos
fazer, resultam eles prprios, no de um processo de deliberao, mas da causalidade de uma causa superior nossa vontade (natural ou no, como por exemplo, o
natural ou o temperamento de cada um, a educao, o destino etc.). S possvel
(baseados em consideraes sobre a busca da felicidade como um motivo do agir humano) e destinados a fundamentar o princpio moral como um princpio subjetivo de execuo (isto , como mxima do nosso querer) e no como um princpio objetivo de avaliao de nossas mximas. A admiti-los
como dedues teramos que admitir a existncia de uma deduo j no Cnon da Razo Pura, o que
certamente no podemos. Podemos sempre, verdade, qualific-los como tentativas de uma deduo emprica e no transcendental, mas isso significa que no estaremos mais usando a palavra
deduo em sentido prprio, mas eqivocamente.
(19) Refl. 5442.
(20) Tal a possibilidade aventada por Kant no Cnon da CRP (A 803/B831), ao admitir a possibilidade de um conceito emprico e no transcendental da liberdade prtica.
volume4
nmero1
1999
71
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
faz-lo se partimos da noo de um agente capaz de julgar e de querer com base
em imperativos morais. Mas esse ponto de partida prejulga a possibilidade daquilo
que se quer provar (a saber, a validade de imperativos morais) e torna o argumento
circular, logo imprestvel como uma deduo.
IV
Explicada a impossibilidade de uma deduo do princpio de nossos juzos
morais, passemos segunda dificuldade da nova teoria kantiana sobre o facto
da razo. No caso dos juzos cognitivos e dos juzos estticos, pode-se dizer que
a impossibilidade de uma deduo do seu princpio tem por conseqncia o cepticismo com relao possibilidade desses juzos, isto , quanto possibilidade
de distingui-los de juzos de validade meramente subjetiva sobre os estados mentais correspondentes. Isso no ocorre, porm, segundo Kant, com os juzos morais. A impossibilidade da deduo de seu princpio no acarreta o cepticismo
quanto ao direito de fazer juzos morais e isso precisamente porque o seu princpio se impe nossa vontade como um facto, um facto da razo. Assim, a questo a investigar agora o que Kant entende por isso e por que considera a lei moral, ou a conscincia da lei moral, um facto da razo.
Uma resposta inicial pode ser dada a partir da considerao de que a lei moral se exprime para ns numa proposio sinttica a priori. Com efeito, no sendo
uma proposio analtica, no uma questo meramente conceitual, donde podemos concluir que , em certo sentido, uma questo factual. Em favor dessa resposta fala a passagem na CFJ 21 onde Kant estende o uso da palavra alem Tatsache
72
(21) Cf. CFJ, 91, A 456 s., Ak. V, 468. Tatsache um neologismo inventado em 1756 por J. J. Spalding
para traduzir o ingls matter of fact, que , por sua vez, uma traduo de res facti (cf. Lexikon der
deutschen Sprache, hg. R. Kster, Frankfurt: Ullstein, 1969). A afirmao de que as proposies matemticas so questes de facto (isto , que no so proposies analticas, mas proposies sintticas fundadas numa evidncia intuitiva) ope-se claramente doutrina de Hume, segundo a qual se
baseariam em relaes de idias, exprimindo-se assim, para diz-lo na terminologia kantiana, em
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
(bem como da expresso latina res facti, uma e outra empregadas no sculo l8 para
traduzir a expresso inglesa matter of fact) a fim de caracterizar lado a lado proposies empricas sobre as coisas e suas propriedades, as proposies matemticas sobre as grandezas das coisas e a idia da liberdade.
Mas isso, est claro, s pode ser aceito como um incio de resposta, visto que
ela no suficientemente especfica para caracterizar o sentido preciso em que a
conscincia da lei moral chamada um facto da razo. Com efeito, as outras proposies sintticas a priori no so consideradas por Kant como factos da razo,
podendo ser estabelecidas por uma deduo (os princpios do entendimento) ou
exibidas numa intuio pura (os axiomas da matemtica).
Uma segunda tentativa de resposta baseia-se na considerao de que conhecemos a lei moral (como determinante para a nossa vontade, vale dizer, como
obrigando e motivando a nossa vontade) com base no efeito que ela produz sobre
a nossa sensibilidade (Gefhl), a saber, o sentimento de respeito, que se singulariza entre todos porque o nico que pode, de alguma maneira, ser conhecido a
priori. Tal , em seu ponto essencial, a resposta proposta por Henrich em seu artigo clssico sobre o facto da razo.22
Em favor dela falam duas coisas: [i] a passagem da CRPr em que a noo do
facto da razo introduzida no exclui, pelo menos de maneira bvia, que a
conscincia da lei moral possa se basear em algo como o sentimento. Ela exclui,
sim, a possibilidade de pensar o facto da razo como uma verdade baseada em
proposies analticas. Tambm a caracterizao da liberdade e da lei moral como um facto da razo pode ser entendida como exprimindo, por um lado, um pequeno, mas importante passo em direo a Hume (a concepo da lei moral e da liberdade da vontade no se baseia em meras relaes de
idias, mas no conhecimento de um facto). Por outro lado, exprime uma tomada de posio contra a
alegao de Hume que a concepo da lei moral e da liberdade da vontade como verdades da razo no passaria de uma quimera da imaginao, pois precisamente se trata de um facto da razo
(cf. Treatise I, II, seco I, p. 455 s., ed. I. A., Selby-Bigge, Oxford: Clarendon Press, 1978).
(22) D. Henrich, Der Begriff der sittlichen Einsicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in G.
Prau, Kant - Zur Theorie von Erkennen und Handeln, Kln: Kiepenheuer & Witsch, 1973.
volume4
nmero1
1999
73
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
74
alguma forma de intuio, intelectual ou sensvel. [ii] O sentimento de respeito
, na anlise de Kant, o nico que pode ser conhecido a priori23 e, por isso, pode
parecer uma base suficiente para um facto da razo.
Henrich, bem verdade, no reduz o sentimento moral a um sensus moralis,
muito embora veja na doutrina kantiana do facto da razo um retorno posio
de Hutcheson, ou seja, concepo do imperativo moral como algo que no pode
fundamentado por argumentos da razo terica.24 Nem por isso, na concepo de
Henrich (tal como ele a expe antes iniciar a interpretao da doutrina kantiana),
o imperativo moral deixa de ser objeto de uma inteleco, perspiscincia ou
discernimento moral (sittliche Einsicht), na qual o elemento intelectual e o elemento emocional esto intimamente ligados (de uma maneira, porm, que nenhum filsofo teria logrado explicar). No obstante, no quadro de sua interpretao de Kant, o componente intelectual apresentado por Henrich como independente, num sentido importante, do componente emocional. Com efeito, o primeiro concerne ao conhecimento do contudo da lei (a saber, a exigncia da possibilidade
de universalizar as mximas) e pode ser estabelecido no s independentemente
do segundo, como tambm, segundo Henrich, pela razo terica.25 O segundo
(23) Cf. CRPr, A 130, Ak. V, 73 e A 140, Ak. V, 78-79.
.
(24) So hat sich die kantische Ethik nach langen Jahren, in denen sie im Prinzip einer deduktiven
Ethik den Stein der Weisen zu finden hoffte, wieder der Position angenhert, von der sie
ausgegangen war. Es ist der Standpunkt von Hutcheson, die Skepsis in Beziehung auf eine
theoretische Grundlegung der Ethik, den sie nun auf einer hheren Stufe wiederholt (em portugus:
Assim, a tica kantiana, aps muitos anos, nos quais tinha a esperana de encontrar no princpio
de uma tica dedutiva a pedra filosofal, de novo se aproximou da posio de que partira. Tal o
ponto de vista de Hutcheson, o cepticismo com relao a uma fundamentao terica da tica, que
ela agora repete num patamar mais elevado, op.cit., p. 248.
(25) Die theoretische Vernunft kann sich zwar a priori eine Idee von Verbindlichkeit machen. Sie
kann ihren Inhalt hypothetisch bestimmen. Denn unter der Voraussetzung, da Freiheit ist, gilt das
Gesetz des kategorischen Imperatives. Sie kann jedoch das Bewutsein der Verbindlichkeit zum
sittlichen Handeln nicht hervorbringen, em portugus: A razo terica pode, verdade, formar a
priori uma idia da obrigao. Ela pode determinar hipoteticamente seu contedo. Pois, dado o
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
concerne ao fundamento da obrigao e ao motivo moral, a saber, o sentimento de respeito: reconhecemos a lei como um imperativo para nossa vontade, porque nos
sentimos obrigados por ela, e sentimo-nos obrigados por ela, porque sentimos
respeito pela lei.26 Assim, o facto da razo, vale dizer, a conscincia da lei moral, s , na interpretao de Henrich, o objeto de uma inteleco moral, porque
preciso pr na conta da razo terica o conhecimento do contedo da lei, ao passo
que preciso pr na conta do sentimento o reconhecimento da lei como obrigatria e
fornecendo um motivo capaz de determinar nossa vontade.
Essa explicao enfrenta, porm, duas objees que me parecem devastadoras, visto que implica: [i] tomar um contedo sensvel como meio adequado de
exposio de uma idia da razo e [ii] assimilar o imperativo moral aos imperativos pragmticos, alm de se eqivocar sobre o motivo moral.
A base para essas objees a considerao de que, na concepo kantiana, todos os sentimentos morais, inclusive o sentimento de respeito, so efeitos exercidos
sobre a nossa sensibilidade pela conscincia da lei moral. Por isso, enquanto
pressuposto de que h liberdade, vale a lei do imperativo categrico. Ela no pode, contudo, produzir a conscincia da obrigao de agir moralmente, op. cit., p. 247).
(26) Assim, referindo-se crtica da razo terica, diz Henrich primeiro: Sie kann aber die Billigung
und die Entscheidung des Selbst nicht mit vernnftigen Grnden erzwingen. Sie kann nicht zeigen,
da das Selbstbewutsein wesentlich Freiheit ist, und ihm ad oculos demonstrieren, da es sich einer
Forderung unterstellen, die in deduktiver Methode wissenschaftlich begrndet worden ist, em portugus: Ela no pode, porm, forar a aprovao e a deciso do eu com argumentos racionais. Ela
no pode mostrar que a conscincia de si essencialmente liberdade e demonstrar-lhe ad oculos que
ela tem de se submeter a uma exigncia que foi fundamentada cientificamente segundo um mtodo
dedutivo, p. 248. E, umas poucas linhas mais frente: Kants neue Lehre des Faktums der Vernunft
hat eine wichtige nderung in seiner Lehre ber das emotionale Element in der sittlichen Einsicht
zur Folge gehabt: Er hat zur Lehre von der Achtung frs Gesetz als der einzig legitimen Triebfeder
des sittlichen Willens gefhrt, em portugus: A nova doutrina kantiana do facto da razo teve
como conseqncia uma importante mudana em sua doutrina sobre o elemento emocional na
inteleco moral, tendo conduzido doutrina do respeito pela lei como o nico mbil legtimo da
vontade moral, op. cit., p. 249).
volume4
nmero1
1999
75
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
76
efeitos, eles no diferem em nada dos demais sentimentos, pois so como os demais meras afeces de que temos conscincia como estados de prazer ou
desprazer.27 Eles podem, sem dvida, serem ditos intelectuais por sua origem, mas
no em si mesmos, a noo de um "sentimento intelectual" sendo uma contradio
in adjecto. Assim, a caracterizao do sentimento moral como um sentimento "no
patolgico" de modo algum significa que ele no seja, enquanto sentimento
(Gefhl), sensvel, mas to somente que ele um sentimento produzido em nossa
afectividade por nossa prpria vontade (selbstgewirkt), ao contrrio dos sentimentos
que esto ligados a uma necessidade dada (Bedrfnis) e sua satisfao28.
Se o sentimento de respeito, por no-patolgico e autoproduzido
(selbstgewirkt) que seja, uma afeco sensvel, as duas objees mencionadas
so incontornveis. Com efeito, pode-se objetar interpretao de Henrich, antes de mais nada, que no apenas o contedo da lei moral (segundo Henrich
tericamente cognoscvel) uma idia da razo, mas a prpria representao
da lei moral como um dever ou obrigao, isto , um imperativo categrico, uma
idia da razo, a qual, por uma questo de princpio, ou seja, precisamente por
ser uma representao da razo, no pode ser exibida em qualquer contedo sensvel, no importa se esse contedo tenha um valor representativo (isto , nos d
(27) Cf. o seguinte apontamento de Kant para a Antropologia: Sinnlichkeit heit das blo subjektive
unseres Vorstellungsvermgens. Kann jenes doch auch objektiv gebraucht werden, d.i. ein
Erkenntnisstck werden, so gehrt es zum Erkenntnis Vermgen (Zusatz: und heit Empfindung).
Ist es aber auf solche Art subjektiv, da es gar nicht objektiv zum Erkenntnis beitrgt, so gehrts fr
das Gefhl der Lust, welche also immer zur Sinnlichkeit gehrt, obgleich die Vorstellung, die sie
erregt, intellectual ist (Kants gesammelte Schriften, hg. von der Preuischen Akademie der
Wissenschaften, Band XXV, Reflexion Nr. 227, Berlin: W. de Gruyter, 19...). Em portugus: Chama-se
sensibilidade ao meramente subjetivo da nossa faculdade de representao. Porm, se isso tambm
pode ser empregado objetivamente, i.e. tornar-se um fator cognitivo, ento ele pertence faculdade do
conhecimento (acrscimo: e chama-se sensao). Mas, se subjetivo de tal sorte que no contribui de
modo algum para o conhecimento, ento ele pertence ao sentimento do prazer, o qual [prazer] pertence portanto sempre sensibilidade, embora a representao que o desperta seja intelectual.)
(28) Cf. CRPr, A 133-4 e 210, Ak. V, 75.
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
alguma informao sobre os objetos que so sua causa, como no caso das sensaes) ou no (como os sentimentos e emoes que nos informam to somente sobre
sobre o estado que nos encontramos).
Alm disso, pode-se tambm objetar que, ao fazer do sentimento do respeito
a condio do reconhecimento da lei moral (ou de seu contudo) como imperativa para a nossa vontade, pode-se dizer que Henrich inadvertidamente assimila o
imperativo moral aos imperativos pragmticos. Com efeito o que caracteriza os
imperativos pragmticos precisamente o facto de serem hipotticos, isto , de
pressuporem como condio um sentimento de prazer e desprazer com a representao do objeto da ao prescrita. Assim, se a condio para o reconhecimento
do princpio da universalizao das mximas um sentimento qualquer, pouco
importa a qualidade especfica desse sentimento: sua relao pensada da mesma maneira que a relao do sentimento de prazer e desprazer com os princpios
pragmticos, a saber, como uma relao tal que o sentimento a condio do reconhecimento do princpio como vlido para nossa vontade. Nesse caso, no h
mais a possibilidade de uma distino formal entre o imperativo moral e os imperativos pragmticos. Ora, para Kant, como sabemos, a distino formal, visto
que o primeiro deve ser pensado como um imperativo categrico, isto , independente de todo objeto da vontade e de todo sentimento de prazer como condio
prvia. Certamente, o sentimento de respeito tem que ser pensado como uma
conseqncia necessria da conscincia da lei moral (como um imperativo para
nossa vontade), mas isso torna-o precisamente imprestvel como critrio independente da conscincia da lei moral e, por conseguinte, para explicar como que podemos ter conscincia da lei moral.
bem verdade que, na FMC, Kant apresenta o sentimento de respeito
como motivo da moralidade, o que pode levar a uma interpretao da motivao nos moldes da intepretao de Henrich. Mas convm lembrar que, mesmo
a, o respeito analisado como a conscincia da subordinao da vontade ao imperativo moral. 29 A CRPr dissipa, em todo o caso, as dvidas possveis, ao
(29) Releia-se a esse propsito a clebre nota a FMC, BA 16.
volume4
nmero1
1999
77
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
78
apresentar a prpria lei (ou a prpria conscincia da lei) moral como o nico
motivo moral possvel e ao analisar o sentimento do respeito, no como um motivo para a moralidade, mas como a prpria moralidade (motivada diretamente
pela conscincia da lei).30
J. Loparic apresentou uma variante dessa interpretao no quadro de sua
proposta de uma reconstruo semntico-transcendental da teoria crtica como
teoria da soluo de problemas da razo.31 A essa semntica transcendental J.
Loparic atribui o papel de operacionalizar os conceitos da razo de modo a poder
exibir seus objetos num contedo sensvel, os conceitos da razo prtica devendo
ser exibidos, no na intuio sensvel, mas no domnio dos sentimentos. Essa variante no escapa s objees anteriores (a impossibilidade de exibir as representaes da razo por meio de contedos sensveis e a necessidade de pressupor o
conhecimento da lei moral para especificar os sentimento morais). Alm disso,
expe-se, a meu ver, a uma objeo adicional, qual seja a de que acaba por interpretar o facto da razo prtica como envolvendo aquilo que Kant declara impossvel e desnecessrio, a saber, uma deduo. Com efeito, para que os sentimentos morais constituissem um domnio de objetos conferindo significado ao
princpio da razo pura prtica, seria preciso que fossem dados independentemente desses conceitos. Mas, nesse caso, seria preciso dar por preenchida aquela
condio recusada por Kant, a saber, a existncia de um elemento dado alhures
que tornaria possvel a deduo do princpio moral.
Uma terceira tentativa de resposta foi proposta por H. Allison. Como a
lei moral , por hiptese, a condio de nossos juizos morais e como inegvel que fazemos juzos morais, razovel supor que a mera exposio do
conceito da moralidade seja suficente para exibir o princpio da moralidade
como um princpio imediatamente certo. Essa resposta consiste em ltima
anlise em aceitar que a prova na Exposio (a saber, de que a possibilidade
(30) Cf. CRPr., A 126 e 134.
(31) Cf. neste mesmo nmero: Z. Loparic, O fato da Razo - uma Interpretao Semntica.
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
de universalizar as mximas da ao o princpio da avaliao moral da ao)
constitui por si s uma fundamentao suficiente desse princpio.32
Essa interpretao tem a seu favor antes de mais nada a assertiva de Kant segundo a qual nossos juzos morais bastam para comprovar que a lei moral um facto
inegvel da razo.33 Alm disso, ela parece ser autorizada por um apontamento escrito (Refl. 7201), ao qual Allison d grande importncia e onde Kant afirma que a possibilidade da razo pura prtica no pode ser compreendida a priori, mas tem que ser
inferida (geschlossen) de algo dado que s pode provir dela. As leis morais so dessa natureza, prossegue Kant, e estas tm que ser provadas da maneira que provamos que as representaes do espao e do tempo so a priori, com a diferena de que
as ltimas so intuies e as primeiras meros conceitos da razo.34
(32) A posio de Allison, na verdade, um pouco mais complexa, pois contm um segundo passo,
que omiti. Como ele prprio resume seu argumento (p. 230 s.), a explicao (account) que Kant d da
moralidade (ou seja, a Exposio) suficiente para estabelecer as credenciais racionais da lei moral (isto , a existncia da lei moral como um facto da razo), mas no sua fora obrigatria. A
prova de que a lei moral tem uma fora obrigatria depende de uma deduo da liberdade, deduo essa que deriva a realidade da liberdade transcendental da mera presena de um interesse na
moralidade. A meu ver, porm, esse argumento adicional ou intil ou torna duvidosa a interpretao de Allison (pelo menos como uma defesa da teoria kantiana, isto , como uma resposta objeo
de recair no dogmatismo com a doutrina do facto da razo). Com efeito, se o interesse na lei moral
resulta (como deve resultar) da mera conscincia da lei moral como um facto da razo, o argumento adicional intil, pois todo o peso da prova volta a ser descarregado sobre a exposio (que se
aceitaria ento como suficiente no s para estabelecer a lei moral como um facto da razo, mas
tambm para derivar o interesse na moralidade). Se no resulta, ele tem que ser postulado ou provado. No pode ser simplesmente postulado, pois isso abriria o flanco para a censura de dogmatismo,
da parte do cptico moral. Mas, se no postulado, como prov-lo? A sugesto de Allison, como
vimos, explicar a fora obrigatria a partir de uma deduo da liberdade. Porm esta depende, segundo Kant precisamente da suposio da moralidade como um facto da razo, e, por conseguinte, mais uma vez todo o peso da prova se v mais uma vez descarregado sobre a exposio.
(33) O facto acima mencionado inegvel; basta analisar o juzo que as pessoas fazem sobre a legalidade de suas aes(CRPr, 7, Esclio, A 56, Ak. V, 32).
(34) Ak. Vol. 19, p. 275 s, Refl. 7201.
volume4
nmero1
1999
79
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
No entanto, a essa interpretao tambm se podem fazer importantes
objees. A primeira e maior dificuldade com essa assimilao da prova a uma
exposio o seu pressuposto, a saber, no apenas o facto de que fazemos
juzos morais, mas a presuno do direito de fazer tal tipo de juzos. O cptico
que pe em questo a possibilidade de fazer juzos morais como algo de distinto
de juzos pragmticos tambm poder objetar a essa tentativa de fundamentao
uma petio de princpio (como acima). Assim, do mesmo modo que do simples
facto de fazermos previses astrolgicas no se segue a validade do princpio em
que se baseiam (a saber, que o curso dos astros influencie os acontecimentos da
vida humana), assim tambm da simples constatao de que fazemos juzos morais no se pode inferir a validade de seu princpio (como quer que esse seja formulado). Uma dificuldade adicional que, muito embora no assimile a prova da
possibilidade da razo pura prtica e das leis morais a uma deduo, mas a uma
exposio, admite em todo o caso que devem ser provadas de alguma maneira,
logo que devem ser estabelecidas por uma inferncia, e difcil entender como
isso poderia ser tomado como uma explicao do apelo a um facto da razo.
V
80
Os juzos morais s podem comprovar que a lei moral um facto inegvel, como quer Kant, se a anlise desses juzos mostrar que eles tm por princpio um princpio imediatamente certo, isto , certo por si mesmo, e no um princpio
que derive sua validade do facto de que eles tornam possvel uma classe de
juzos que costumamos fazer. Mas o problema justamente o de mostrar em que
se baseia essa certeza imediata. Com efeito, s h duas classes de juzos que podemos considerar como imediatamente certos ou certos por si mesmos: [i] os
juzos analticos, que so verdadeiros em virtude do significado de seus termos e
no dependem, pois, do conhecimento de nenhuma instncia externa aos seus
conceitos para serem discernidos como verdadeiros, mas apenas da clareza dos
conceitos; [ii] os juzos sintticos a que podemos atribuir uma evidncia intuitiva
qualquer e que so validados na medida em que seus objetos podem ser dados
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
na experincia, como os objetos fsicos, ou exibidos (construidos segundo conceitos) na intuio sensvel, como os objetos matemticos. Ora, essas duas classes
de juzos esto excludas na medida em que o princpio moral caracterizado
como uma proposio que no analtica, mas sinttica, e que sinttica sem se
basear, no entanto, em qualquer espcie de evidncia intuitiva.35
Isso parece configurar um impasse para a concepo de um facto da razo:
como que podemos atribuir a ele uma certeza imediata se ele no pode ter nem a
certeza imediata possvel para os juzos analticos (a clareza dos conceitos), nem
aquela que possvel para os juzos sintticos (a evidncia intuitiva)?
Para sair desse impasse preciso levar em conta dois aspectos da doutrina
kantiana a que no se tem dado, a meu ver, a devida importncia (pelo menos na
discusso da doutrina do facto da razo), quais sejam; [i] a distino entre o
princpio moral considerado como uma lei vlida para uma vontade perfeita e
considerado como um imperativo vlido para uma vontade imperfeita;36 [ii] o facto
de que unicamente o imperativo moral que caracterizado como se exprimindo
numa proposio sinttica, a lei moral sendo caracterizada (pelo menos de maneira implcita) como uma proposio analtica37.
(35) A referncia a qualquer tipo de intuio, quer se trate da intuio sensvel, pura ou emprica,
quer de uma problemtica intuio intelectual, expressamente recusada por Kant na passagem
em que o conceito de facto da razo introduzido de maneira sistemtica: Pode-se chamar
conscincia dessa lei fundamental um facto da razo ... porque ele se impe a ns como uma proposio sinttica a priori, que no est fundada em nenhuma intuio, nem pura nem emprica,
embora houvesse de ser analtica, se se presupusesse a liberdade da vontade, para o qu, porm,
seria exigido, como conceito positivo, uma intuio intelectual, que de modo algum lcito admitir
aqui (KpV, A 56, Ak. V, 31).
(36) Sobre a distino lei / imperativo, cf. GMS BA 37, Ak. 413 e KpV, 1, Esclio, A 36-37, Ak. 19 e 20.
(37) Conecto (verknpfe) o acto com a vontade sem pressupor qualquer inclinao como condio, e
fao isso a priori, por conseguinte de maneira necessria (embora objetivamente apenas, isto , sob a
idia de uma razo que tivesse pleno poder sobre todas as motivaes subjetivas). Tal , portanto,
uma proposio prtica que no deriva analiticamente o querer de uma ao a partir de um outro j
pressuposto (pois no temos uma vontade to perfeita [grifo meu - GAA]), mas, sim, a conecta com o
volume4
nmero1
1999
81
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
82
fcil compreender por que o imperativo moral s caracterizado como uma
proposio sinttica. Com efeito, na concepo kantiana, ele liga ao conceito de
uma vontade imperfeita o conceito de um modo de agir exigido pelo princpio moral (o qual , digamos para resumir, agir com base em mximas universalizveis).
Ora, uma vontade imperfeita uma vontade que no se conforma infalivelmente
aos preceitos da razo, seja por fraqueza, seja por ignorncia. Assim, uma condio necessria e suficiente para ter uma vontade imperfeita agir com base em
uma mxima qualquer, no necessariamente uma mxima moral. Eis por que
impossvel extrair analiticamente do conceito de uma vontade imperfeita a necessidade de agir com base nas mximas exigidas pelo princpio moral. Como vimos
acima, a impossibilidade de uma deduo tem a ver precisamente com esse ponto. Com efeito, agir com base em mximas, quaisquer que elas sejam, uma condio necessria e suficiente para um agente racional ter conscincia do que faz,
por isso mesmo impossvel provar que, para explicar a possibilidade da conscincia que um agente racional tem do que faz, seria preciso admitir como pressuposto um princpio moral.
Tambm no difcil compreender por que a lei moral tem de ser caracterizada
como uma proposio analtica. Com efeito, a lei moral liga ao conceito de uma
vontade perfeita o conceito do modo de agir exigido pelo princpio moral (agir segundo mximas universalizveis). Ora, a vontade no para Kant seno a razo prtica, i.e. o poder de determinar o nosso arbtrio segundo preceitos da razo.38 Assim,
conceito da vontade como vontade de um ser racional [grifo meu GAA], e o faz imediatamente, como algo
que no est contido nele (FMC, 2 seco, 28, BA 50 n, Ak. IV, 420). A implicao da frase grifada
clara: se tivssemos uma vontade perfeita seria possvel derivar analiticamente o querer expresso
pela proposio prtica (que, no caso, um princpio) do conceito da vontade de um ser racional.
Tratei mais detalhadamente da interpretao dessa passagem em Kant e o facto da razo:
cognitivismo ou decisionismo moral, p. 66-70.
(38) Toda coisa da natureza age segundo leis. S um ser racional tem a faculdade de agir segundo
a representao das leis, isto , segundo princpios, ou uma vontade. Visto que a razo exigida
para a derivao das aes a partir de leis, a vontade no outra coisa seno a razo prtica
(FMC, BA 37, Ak. IV, 412).
GUIDO ANTNIO DE ALMEIDA
uma vontade perfeita uma vontade perfeitamente racional e uma vontade perfeitamente racional uma vontade que se conforma infalivelmente aos preceitos da razo que necessariamente conhece (de outro modo no seria uma vontade perfeita). Mas agir com
base em mximas exigidas pelo princpio moral um preceito da razo, pois s a
adoo dessas mximas pode ser justificada de uma maneira vlida para todos. Por
isso mesmo podemos ver agora - uma condio necessria e suficiente de ter
uma vontade perfeita agir com base nas mximas exigidas pelo princpio moral. Assim, se verdade que agir com base em mximas universalizveis uma condio
de ter uma vontade racional, ento, para uma vontade perfeita uma verdade analtica, e no sinttica, que ela necessariamente age com base em mximas exigidas pelo
princpio moral.
Mas, se verdade que o imperativo categrico se exprime numa proposio
sinttica, a lei moral, porm, numa proposio analtica, temos tudo o que necessrio para sair do impasse acima. O impasse era gerado, como vimos, por que
era preciso atribuir ao princpio de nossos juzos morais uma certeza imediata que,
no entanto, ele aparentemente no podia ter, porque no era possvel lhe atribuir
nem a certeza imediata caracterstica dos juzos sintticos (a saber, a evidncia intuitiva), nem a certeza imediata caracterstica dos juzos analticos (a saber, a clareza
conceitual). Ora, a distino entre lei e imperativo permite que se pense o imperativo como uma conseqncia do conhecimento da lei. O facto da razo, lembremos, , em sua frmula cannica, a conscincia da lei moral por um agente dotado de uma vontade imperfeita. Ter conscincia da lei ter conscincia da verdade de uma proposio analtica. Essa conscincia no , porm, uma condio necessria de se ter uma vontade imperfeita. Assim, se acontece a um agente dotado de uma vontade imperfeita ter conscincia da lei moral, ele tem conscincia de
algo que em si mesmo objeto da certeza caracterstica das proposies analticas, mas de tal modo que a relao da lei com sua vontade se exprime sempre
numa proposio sinttica.
Creio que essa soluo tem a vantagem de dar uma soluo ortodoxa, que
permanece dentro do marco do pensamento kantiano, pois respeita todos os dados do problema colocados por Kant e, sobretudo, permanece dentro do quadro
volume4
nmero1
1999
83
CRTICA, DEDUO E FACTO DA RAZO
volume4
nmero1
1999
84
do pensamento crtico. Essa soluo depende, claro, de certas hipteses cuja
validade pode ser posta em questo de um ponto de vista externo. Tais so: [i] a
hiptese de que o princpio moral exprime uma exigncia de racionalidade (de
outro modo no seria possvel apresentar a lei moral como uma proposio analiticamente verdadeira para um agente dotado de vontade perfeitamente racional); 39 [ii] a hiptese de a mera conscincia do que uma lei para uma vontade
perfeitamente racional suficiente para fundar um imperativo, isto , tem o poder
de determinar a vontade de um agente imperfeitamente racional.40 Creio que
possvel dar argumentos substantivos em favor dessas hipteses. De qualquer
modo, como essas hipteses so efetivamente elementos da teoria kantiana, creio
que a soluo que eu propus correta pelo menos como uma interpretao
imanente da teoria kantiana.
(39) Tratei desse ponto em "Moralidade e Racionalidade na Teoria Moral Kantiana", in: V. Rohden
(coord.), Racionalidade e Ao (Porto Alegre: Editora da Universidade / UFRGS, 1992), p. 96-99.
(40) Para usar um termo em voga, Kant prope uma explicao "internalista" da motivao moral,
segundo a qual a simples compreenso de uma razo para agir constitui por si s um motivo para
agir. O conceito kantiano do "facto da razo" est claramente vinculado a uma concepo
"internalista" da motivao moral na passagem em que este caracterizado como "a inevitvel determinao da vontade pela mera concepo da lei moral" (CRPr, A 76, Ak. V, 44). Para uma interpretao internalista da concepo kantiana da motivao moral na Fundamentao, cf. Christine
Korsgaard, "Kant's Analysis of Obligation: The Argument of Groundwork I", in: Paul Guyer (ed.),
Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals: Critical Essays (Lanham, USA: Rowman and
Littlefield, 1998), p. 51-80.
Você também pode gostar
- Autonomia ExistencialDocumento253 páginasAutonomia ExistencialBelinniAinda não há avaliações
- David Hume e o EmpirismoDocumento3 páginasDavid Hume e o EmpirismoBelinniAinda não há avaliações
- Teoria Do Conhecimento JuridicoDocumento5 páginasTeoria Do Conhecimento JuridicoBelinniAinda não há avaliações
- 2014 Unioeste Port PDP Emilia Lujan PDFDocumento32 páginas2014 Unioeste Port PDP Emilia Lujan PDFBelinniAinda não há avaliações
- Resenha 'O Existencialismo É Um Humanismo - Jean-Paul SartreDocumento4 páginasResenha 'O Existencialismo É Um Humanismo - Jean-Paul SartreBelinni100% (1)
- 2001 3 DireitoRetoricaMonografiaDocumento117 páginas2001 3 DireitoRetoricaMonografiaBelinniAinda não há avaliações
- PINTO, Marilina C. Oliveira B. S. A Amazônia e o Imaginário Das Águas. 2008.Documento13 páginasPINTO, Marilina C. Oliveira B. S. A Amazônia e o Imaginário Das Águas. 2008.Rodrigo DuarteAinda não há avaliações
- TAXONOMIA DE BLOOM Verbos e AçãoDocumento10 páginasTAXONOMIA DE BLOOM Verbos e AçãoBelinni100% (1)
- 8812 31022 2 PBDocumento70 páginas8812 31022 2 PBMarakeshiOnassisAinda não há avaliações
- Apostila Microbiologia IDocumento87 páginasApostila Microbiologia Ibiguelini1174100% (2)
- A Inversao Do Onus Da Prova No CDCDocumento34 páginasA Inversao Do Onus Da Prova No CDCAlonso Alpino100% (1)
- Testamento PúblicoDocumento4 páginasTestamento PúblicoMirele Queiroga100% (1)
- Artigo Dualidade SartreDocumento38 páginasArtigo Dualidade SartreBelinniAinda não há avaliações
- Edital Dourado UFPADocumento27 páginasEdital Dourado UFPABelinniAinda não há avaliações
- Gnose 76 PDFDocumento4 páginasGnose 76 PDFBelinniAinda não há avaliações
- 563989Documento21 páginas563989Thiago ArlottaAinda não há avaliações
- LEITÃO, Helder Martins. O Processo de Execução Fiscal PDFDocumento59 páginasLEITÃO, Helder Martins. O Processo de Execução Fiscal PDFRodolfo SantosAinda não há avaliações
- Modelo Projeto Direito2014Documento8 páginasModelo Projeto Direito2014AlbervandoAinda não há avaliações
- Mestradoem Filosofia PucrioDocumento5 páginasMestradoem Filosofia PucrioBelinniAinda não há avaliações
- Representaçoes Varios AutoresDocumento29 páginasRepresentaçoes Varios AutoresBelinniAinda não há avaliações
- Edital 2013 - Seleção de Pós-Graduação - FDUSPDocumento35 páginasEdital 2013 - Seleção de Pós-Graduação - FDUSPArtur Péricles Lima MonteiroAinda não há avaliações
- Percepções Da Diferença Negros e Brancos Na EscolaDocumento60 páginasPercepções Da Diferença Negros e Brancos Na EscolaBelinniAinda não há avaliações
- Autonomia Norma JurídicaDocumento2 páginasAutonomia Norma JurídicaBelinniAinda não há avaliações
- Direito NaturalDocumento22 páginasDireito NaturalHumbertto SilvaAinda não há avaliações
- VANESSA DINIZ, Epistemologia JuridicaDocumento18 páginasVANESSA DINIZ, Epistemologia JuridicalucasiniAinda não há avaliações
- Modelo de TCCDocumento98 páginasModelo de TCCHigino SoaresAinda não há avaliações
- A Categoria Da Alteridade - Uma Análise Da Obra Totalidade e Infinito, de Emmanuel LevinasDocumento106 páginasA Categoria Da Alteridade - Uma Análise Da Obra Totalidade e Infinito, de Emmanuel LevinasBelinniAinda não há avaliações
- 2001 3 DireitoRetoricaMonografiaDocumento117 páginas2001 3 DireitoRetoricaMonografiaBelinniAinda não há avaliações
- Paradigma Aristotélico-Tomista - StreckDocumento34 páginasParadigma Aristotélico-Tomista - StreckBelinniAinda não há avaliações
- As Possibilidades de Estimulacao de Portadores Da Sindrome de Down em MusicoterapiaDocumento25 páginasAs Possibilidades de Estimulacao de Portadores Da Sindrome de Down em MusicoterapiaTônia Gonzaga100% (1)
- Ingedore Koch CoerenciaDocumento4 páginasIngedore Koch Coerenciadanterg10% (1)
- O Aprendizado Musical Na Primeira InfanciaDocumento9 páginasO Aprendizado Musical Na Primeira InfanciaJuliana MunizAinda não há avaliações
- Relatório 2003 A 2006 - Balanço Geral Do ComandoDocumento97 páginasRelatório 2003 A 2006 - Balanço Geral Do ComandoDuarte FrotaAinda não há avaliações
- Projeto de Extensao 02 - Escolinha de Basquetebol Do Colegio de Aplicacao Da UFS Ano 2020Documento4 páginasProjeto de Extensao 02 - Escolinha de Basquetebol Do Colegio de Aplicacao Da UFS Ano 2020Adad2000 VieiraAinda não há avaliações
- Anais Do VII Fórum de Pesquisa Científica em ArteDocumento8 páginasAnais Do VII Fórum de Pesquisa Científica em Artecristiana_nogueira7Ainda não há avaliações
- Livro de Coaching PDFDocumento154 páginasLivro de Coaching PDFPaulo César VenturaAinda não há avaliações
- A Interdisciplinaridade Como Estrategia de Ensino PDFDocumento8 páginasA Interdisciplinaridade Como Estrategia de Ensino PDFTiago LouroAinda não há avaliações
- Teste 7 - Texto Poético - 7CDocumento5 páginasTeste 7 - Texto Poético - 7CCristina FerreiraAinda não há avaliações
- Exemplo de TCCDocumento70 páginasExemplo de TCCroseneAinda não há avaliações
- 92454cad-aead-4f43-b913-38a753243300Documento12 páginas92454cad-aead-4f43-b913-38a753243300Gabriela RossiAinda não há avaliações
- Desumanização Da Arte FichamentoDocumento3 páginasDesumanização Da Arte FichamentoJoão PauloAinda não há avaliações
- Ementa UFPR - Pensamento Social BrasileiroDocumento2 páginasEmenta UFPR - Pensamento Social BrasileiroAnonymous SXfoNxlVCAinda não há avaliações
- Currículo Lattes (Robson Rodrigues Barbosa)Documento3 páginasCurrículo Lattes (Robson Rodrigues Barbosa)Robson R. BarbosaAinda não há avaliações
- EDITAL 04 15 Clas Final Prof PDFDocumento119 páginasEDITAL 04 15 Clas Final Prof PDFiraci PanossolAinda não há avaliações
- Ano Roteiro de Estudos SUPERACAO 1.TRIDocumento2 páginasAno Roteiro de Estudos SUPERACAO 1.TRIrdelclaroAinda não há avaliações
- Trabalho Acadêmico Sobre o Livro "Bowling Alone" de Robert Putnam.Documento12 páginasTrabalho Acadêmico Sobre o Livro "Bowling Alone" de Robert Putnam.Paulo vieiraAinda não há avaliações
- 1000 Questões de Conhecimentos Pedagógicos - Questões de Provas de Concursos em 2020Documento110 páginas1000 Questões de Conhecimentos Pedagógicos - Questões de Provas de Concursos em 2020Daniel Almeida100% (2)
- Apostila A Basica - Vol UNICODocumento326 páginasApostila A Basica - Vol UNICOtrigono_metriaAinda não há avaliações
- Quando o GOB Era SocialistaDocumento7 páginasQuando o GOB Era SocialistaLeonardo HirakawaAinda não há avaliações
- Seminario Interno PECIM UNICAMPDocumento193 páginasSeminario Interno PECIM UNICAMPPaulo César GomesAinda não há avaliações
- Simulado PNEDocumento3 páginasSimulado PNEJéssica MarinhoAinda não há avaliações
- JANELA DE JOHARI Ferramenta de Coaching Projete Você PDFDocumento2 páginasJANELA DE JOHARI Ferramenta de Coaching Projete Você PDFAlexandre Bezerra Dos SantosAinda não há avaliações
- Analise I - Djairo Guedes Figueiredo Capitulo 1 (Números Reais) PDFDocumento58 páginasAnalise I - Djairo Guedes Figueiredo Capitulo 1 (Números Reais) PDFMirela100% (4)
- Globalização e Novas Perspectivas para o Ensino de GeografiaDocumento4 páginasGlobalização e Novas Perspectivas para o Ensino de GeografiaAdolfo Taliano da Marta100% (1)
- Mudanças Na Correção Da Redação EnemDocumento14 páginasMudanças Na Correção Da Redação EnemPedro LeonardoAinda não há avaliações
- Valeria ToledoDocumento215 páginasValeria ToledoRamonyAinda não há avaliações
- Bootcamp IGTI - Plano Pedagógico Do CursoDocumento11 páginasBootcamp IGTI - Plano Pedagógico Do CursoDavid M SampaioAinda não há avaliações
- 1 Aula Atendente de FarmáciaDocumento19 páginas1 Aula Atendente de FarmáciaJackson Da Silveira DóriaAinda não há avaliações
- SistematizaçãoDocumento6 páginasSistematizaçãoezequieldede28Ainda não há avaliações