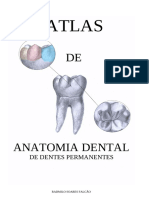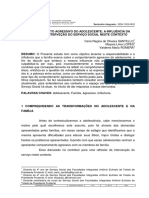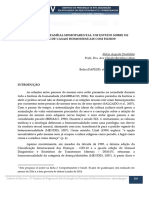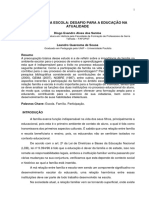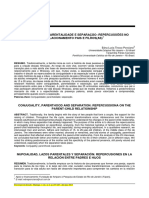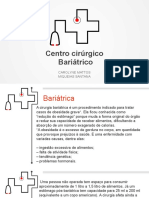Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Familia e Adolescencia, Influencia Do Contexto Familiar No Desenvolvimento Psicologico PDF
Familia e Adolescencia, Influencia Do Contexto Familiar No Desenvolvimento Psicologico PDF
Enviado por
WiesengrundLudwigTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Familia e Adolescencia, Influencia Do Contexto Familiar No Desenvolvimento Psicologico PDF
Familia e Adolescencia, Influencia Do Contexto Familiar No Desenvolvimento Psicologico PDF
Enviado por
WiesengrundLudwigDireitos autorais:
Formatos disponíveis
FAMLIA E ADOLESCNCIA: A INFLUNCIA DO CONTEXTO FAMILIAR NO
DESENVOLVIMENTO PSICOLGICO DE SEUS MEMBROS1
Elisngela Maria Machado Pratta*
Manoel Antonio dos Santos#
RESUMO. A famlia tem passado por inmeras transformaes nas ltimas dcadas, sendo, portanto, passvel de vrios tipos de
arranjos na atualidade. Entretanto, as funes bsicas desempenhadas pela instituio familiar no decorrer do processo de
desenvolvimento psicolgico de seus membros permanecem as mesmas. Frente a esta realidade, a adolescncia e as relaes
familiares nesta etapa do ciclo vital tm sido foco de numerosos estudos. Esta investigao objetivou apresentar uma sistematizao
dos resultados obtidos atravs de um estudo bibliogrfico envolvendo os descritores: famlia e adolescncia. A literatura consultada
salienta que as transformaes ocorridas na sociedade, na estrutura familiar e na forma como os pais foram educados provocaram
dificuldades referentes educao dos filhos, principalmente na adolescncia. Alm disso, a iniciao sexual precoce e o problema da
drogadio tm preocupado os pais. Conclui-se pela necessidade de mais investigaes referentes questo familiar na adolescncia,
que focalizem temas como sexualidade e abuso de substncias psicoativas.
Palavras-chave: famlia, adolescncia, desenvolvimento humano.
FAMILY AND ADOLESCENCE: THE INFLUENCE OF THE FAMILY CONTEXT ON ITS
MEMBERS PSYCHOLOGICAL DEVELOPMENT
ABSTRACT. The family has been undergoing uncountless changes along the last decades, specially regarding its structure. Thus,
nowadays, it has become subject to various kinds of adjustments. However, the basic functions of the family institution, the process of
the psychological development of its members, remain the same. In view of this reality, adolescence and family relations have been the
focus of a number of studies. The purpose of this research was to present a systematization of the results obtained through a
bibliographic study involving two themes: family and adolescence. The referenced literature points out that the changes which occurred
in the society, in the family structure and, in the way parents were raised have caused difficulties as regards the childrens education,
specially in the adolescence. Moreover, the early sexual initiation and drug addiction problem have been a concern to parents. It was
concluded that more research should be conducted on family issues and adolescence, taking into consideration issues such as sexuality
and substance abuse.
Key words: Family, adolescence, human development.
FAMILIA Y ADOLESCENCIA: LA INFLUENCIA DEL CONTEXTO EN EL DESARROLLO
PSICOLGICO DE SUS MIEMBROS
RESUMEN. La familia ha pasado por innumerables transformaciones, principalmente estructurales, a lo largo de las ltimas dcadas,
siendo, por lo tanto, en la actualidad, pasible de mltiples tipos de soluciones. Sin embargo, las funciones bsicas de la institucin
familiar a lo largo del proceso de desarrollo de sus miembros siguen iguales. Frente a esta realidad, la adolescencia y las relaciones
familiares en esta fase han sido foco de numerosos estudios. Esta investigacin tuvo como objetivo presentar una sistematizacin de los
resultados obtenidos a travs de un estudio bibliogrfico desarrollando dos temas: familia y adolescencia. La literatura consultada
seala que las transformaciones ocurridas en la sociedad, en la estructura familiar y la forma cmo los padres fueron educados,
provocaron dificultades en lo que se refiere a la educacin de los hijos, principalmente en la adolescencia. Adems de eso, la iniciacin
sexual precoz y la drogadiccin preocupan a los padres. Se concluye que hacen falta ms investigaciones referentes a la problemtica
familiar en la adolescencia, considerando principalmente temas como drogadiccin y sexualidad.
Palabras-clave: familia, adolescencia, desarrollo humano.
*
#
Apoio: CAPES.
Mestre em Cincias. Docente da Universidade Camilo Castelo Branco, Campus VIII, DescalvadoSP.
Doutor em Psicologia Clnica. Docente da Universidade de So Paulo, Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Ribeiro
Preto, Departamento de Psicologia e Educao.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
248
Pratta & Santos
FAMLIA: CONCEPES TERICAS,
TRANSFORMAES E PERMANNCIAS
A famlia, desde os tempos mais antigos,
corresponde a um grupo social que exerce marcada
influncia sobre a vida das pessoas, sendo encarada
como um grupo com uma organizao complexa,
inserido em um contexto social mais amplo com o qual
mantm constante interao (Biasoli-Alves, 2004). O
grupo familiar tem um papel fundamental na
constituio dos indivduos, sendo importante na
determinao e na organizao da personalidade, alm
de influenciar significativamente no comportamento
individual atravs das aes e medidas educativas
tomadas no mbito familiar (Drummond & Drummond
Filho, 1998). Pode-se dizer, assim, que esta instituio
responsvel pelo processo de socializao primria
das crianas e dos adolescentes (Schenker & Minayo,
2003). Nesta perspectiva, a famlia tem como
finalidade estabelecer formas e limites para as relaes
estabelecidas entre as geraes mais novas e mais
velhas (Simionato-Tozo, 1998), propiciando a
adaptao dos indivduos s exigncias do conviver em
sociedade.
Dessa maneira, a instituio familiar muitas
vezes designada como o primeiro grupo social do qual
o indivduo faz parte (Talln, Ferro, Gomes & Parra,
1999), sendo vista, portanto, como a clula inicial e
principal da sociedade na maior parte do mundo
ocidental (Biasoli-Alves, 2004), ou ainda como a
unidade bsica da interao social (Osrio, 1996) e
como o ncleo central da organizao humana.
Alm disso, a famlia exerce um papel importante
na vida dos indivduos (Osrio, 1996), sendo um
modelo ou um padro cultural que se apresenta de
formas diferenciadas nas vrias sociedades existentes e
que sofre transformaes no decorrer do processo
histrico-social. Assim, a estruturao da famlia est
intimamente vinculada com o momento histrico que
atravessa a sociedade da qual ela faz parte, uma vez
que os diferentes tipos de composies familiares so
determinados por um conjunto significativo de
variveis ambientais, sociais, econmicas, culturais,
polticas, religiosas e histricas. Nesse sentido, para se
abordar a famlia hoje preciso considerar que a
estrutura familiar, bem como o desempenho dos papis
parentais, modificaram-se consideravelmente nas
ltimas dcadas (Singly, 2000).
A famlia no sculo XX: algumas consideraes
Do incio do sculo XX at meados dos anos 60,
houve o predomnio do modelo de famlia denominado
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
famlia tradicional, no qual homens e mulheres
possuam papis especficos, social e culturalmente
estabelecidos. Ou seja, havia um aparato social e
cultural que estabelecia como naturais alguns papis
atribudos aos homens e s mulheres (Torres, 2000).
Segundo esse modelo, que seguia de perto a diviso
social do trabalho, o homem o chefe da casa, o
provedor da famlia, sendo responsvel pelo trabalho
remunerado, tendo autoridade e poder sobre as
mulheres e os filhos, apresentando seu espao de
atuao ligado ao mundo externo, ou seja, fora do
ambiente familiar. A mulher, por sua vez,
responsvel pelo trabalho domstico, estando envolvida
diretamente com a vida familiar, dedicando-se ao
cuidado dos filhos e do marido, ou seja, a atividades
realizadas no mbito da vida privada, do lar
(Amazonas, Damasceno, Terto & Silva, 2003).
Alm disso, no modelo de famlia hierrquica ou tradicional a
afetividade familiar era marcada por um romantismo que englobava
a idia do amor materno como natural e apontava para a presena
do amor e da preocupao para com o desenvolvimento das crianas
(Caldana, 1998).
Por outro lado, as relaes estabelecidas entre pais e
filhos dentro deste modelo de famlia so marcadas pelas
diferenas entre as geraes (Figueira, 1987), sendo
definidas por meio de noes de respeito e autoridade,
aspectos que caracterizam a assimetria da relao adultocriana. Os pais, neste perodo, tinham controle absoluto
sobre os filhos, sendo extremamente exigentes,
principalmente no que dizia respeito observncia das
normas e regras sociais. As crianas usufruam de imensos
espaos para suas brincadeiras o territrio infantil se
estendia por ruas, praas e quintais convivendo com
primos e amigos, porm eram sempre mantidas sob o olhar
atento e zeloso das mes (Cano, 1997). Alm disso,
importante ressaltar, segundo esta autora, que as atitudes
educativas dos pais estavam baseadas em princpios
vinculados moralidade religiosa, iderio patritico e
higienismo mdico.
A partir da segunda metade do sculo XX a
famlia passou (e continua passando) por um processo
de intensas transformaes econmicas, sociais e
trabalhistas (Singly, 2000), sobretudo nos pases
ocidentais. Diversos fatores concorreram para essas
mudanas, como o processo de urbanizao e
industrializao, o avano tecnolgico, o incremento
das demandas de cada fase do ciclo vital, a maior
participao da mulher no mercado de trabalho, o
aumento no nmero de separaes e divrcios, a
diminuio das
famlias
numerosas, o
empobrecimento acelerado, a diminuio das taxas de
mortalidade infantil e de natalidade, a elevao do
Famlia e desenvolvimento psicolgico na adolescncia
nvel de vida da populao, as transformaes nos
modos de vida e nos comportamentos das pessoas, as
novas concepes em relao ao casamento, as
alteraes na dinmica dos papis parentais e de
gnero. Estes fatores, entre outros, tiveram um impacto
direto no mbito familiar, contribuindo para o
surgimento de novos arranjos que mudaram a cara
dessa instituio (Biasoli-Alves, 2004; Romanelli,
2002; Scott, 2004).
Estas transformaes levaram ao surgimento de
configuraes da organizao familiar diferentes do
modelo anterior (Singly, 2000). Comea, ento, a
emergir uma nova concepo de famlia, denominada
de famlia igualitria (Figueira, 1987). Nessa nova
estruturao, homens e mulheres esto atuando em
condies mais ou menos semelhantes no mercado de
trabalho formalmente remunerado, comeando a dividir
entre si o trabalho domstico e a educao dos filhos,
ainda que a maior parte destas tarefas se mantenha a
cargo da mulher, que vem confrontando os desafios do
mundo do trabalho procurando conciliar a vida
profissional e familiar (Scavone, 2001).
Alm disso, a maior participao da mulher no
mercado de trabalho formalmente remunerado
(Greenberger, Goldberg, Hamill, ONeil & Payne,
1989), provocou mudanas nos padres conjugais e
familiares social e culturalmente estabelecidos, levando
a uma reorganizao dos papis familiares tradicionais
referentes a homens e mulheres (Scavone, 2001)
evidenciando a importncia dos papis do homem na
famlia (Greenberger & cols., 1989; Lisboa, 1987;
Scavone, 2001). O homem passa a ser incentivado a
manter um maior envolvimento afetivo com os(as)
filhos(as), terminando com a dicotomia: pai distante,
figura de autoridade e me prxima, figura de afeto
(Lisboa, 1987, p. 14). Ele deve, portanto, ter uma
participao ativa na criao dos filhos, percebendo
que pode contribuir para o desenvolvimento destes de
uma forma mais agradvel e satisfatria do que a
concebida pelo papel tradicional disciplinar.
Tais mudanas ocorridas nas ltimas dcadas
tambm contriburam para que a idia de uma mulherindivduo comeasse a impor-se frente idia da
mulher-natureza destinada a ser me e dona-de-casa
(Torres, 2000), pois, na contemporaneidade, a mulher
almeja o sucesso pessoal sem mediadores, incluindo em
seus ideais de vida a realizao profissional
(Amazonas & cols., 2003; Fleck & Wagner, 2003).
Alm disso, o trabalho feminino passa a garantir,
muitas vezes, a subsistncia das famlias (Fleck &
Wagner, 2003), principalmente nos pases de terceiro
mundo.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
249
Assim, frente a tais alteraes, a tendncia atual
da famlia moderna ser cada vez mais simtrica na
distribuio dos papis e obrigaes, ou seja, uma
famlia marcada pela diviso entre os membros do
casal referente s tarefas domsticas, aos cuidados com
os filhos e s atribuies externas, sujeita a
transformaes constantes, devendo ser, portanto,
flexvel para poder enfrentar e se adaptar s rpidas
mudanas sociais (Amazonas & cols., 2003) inerentes
ao momento histrico em que vivemos.
No que diz respeito s relaes entre pais e filhos,
esse padro tambm se modificou, no sendo mais
baseado na imposio da autoridade e sim na
valorizao de um relacionamento aberto, pautado na
possibilidade de dilogo (Lisboa, 1987), o qual
considerado um elemento importante dentro do
contexto familiar, principalmente, no que se refere
convivncia entre os membros da famlia (Wagner,
Ribeiro, Arteche & Bornholdi, 1999). A educao das
crianas perdeu, portanto, seus aspectos autoritrios. A
criana continua sendo mantida sob a vigilncia atenta
da me, porm o processo educativo passa a ter novas
exigncias, como a considerao da questo da
afetividade (Cano, 1997). Considerando-se esta
realidade, Caldana (1998) aponta que, atualmente,
verifica-se elementos contraditrios nas prticas
paternas e que existem poucas regras que so
determinadas, antecipadamente, para disciplinar o
cotidiano das crianas.
Tais aspectos esto relacionados a duas vertentes: a) a
falta de um padro de educao que integre prticas
coerentes e uniformes tanto entre famlias quanto dentro de
uma mesma famlia; b) as rpidas alteraes no mbito das
relaes familiares frente passagem de um modelo
tradicional para um modelo considerado moderno, oriundo
de um processo de transformao scio-econmica que
contribuiu e ainda contribui para a mudana do sistema
de valores dos indivduos (Caldana, 1998).
Nesse sentido, Figueira (1987) aponta que este
rpido processo de mudanas ocorridas nas relaes e
nos valores familiares levaram inexistncia de
referenciais pessoais claros para a orientao da
conduta dos indivduos. Assim, determinados
comportamentos que at h alguns anos atrs eram
considerados como culturalmente aceitveis, e at
mesmo, esperados, como o caso da utilizao da
fora fsica na educao da criana, seja pelos pais,
seja pelos cuidadores, atualmente so criticados e
coibidos pelos direitos constitucionais (Cecconello, De
Antoni & Koller, 2003).
Desse modo, se observa um conflito constante
entre os valores assimilados pelos indivduos nas
250
etapas iniciais da vida (no caso, valores incutidos pelos
pais) com aqueles que eles adquiriram no decorrer do
seu processo de transio adolescente e na sua
juventude (Nicolaci-da-Costa, 1985). Portanto, no
momento que o adulto, agora pai ou me, v-se
envolvido com o processo educativo dos filhos, esses
valores entram em choque, o que leva tais indivduos a
se perceberem destitudos de um referencial para
seguir. Muitas vezes se mostram contraditrios na
educao dos filhos, resultando em prticas
educacionais inconsistentes que influenciam no
desenvolvimento destes.
Do ponto de vista das transformaes ocorridas no
contexto familiar, necessrio pontuar as mudanas
observadas no ambiente domstico, particularmente na
realidade brasileira, nos ltimos anos do sculo XX. As
anlises das modificaes sofridas pela famlia
brasileira, considerando-se estes ltimos anos,
principalmente a dcada de 90, apontam para a
emergncia de novos arranjos familiares (Scavone,
2001) e de novas concepes e valores referentes ao
casamento e vida em comum.
Em decorrncia deste cenrio de transformaes,
hoje possvel observar na realidade brasileira o
aumento do nmero de unies consensuais, de famlias
chefiadas por mulheres (ou monoparentais) e de
famlias reconstitudas, ou seja, famlias originadas a
partir de novas unies de um ou dos dois cnjuges que
se separaram (Torres, 2000). Essas inovaes e
reformulaes do modelo anterior demonstram que a
famlia passou, e continua passando, por vigorosas
mudanas em sua organizao, seja em termos de
composio ou em relao s formas de sociabilidade
que vigoram em seu interior (Romanelli, 2002).
Contudo, apesar de tais transformaes, a famlia
ainda mantm o papel especfico que exercia no
contexto social e continua a ser uma instituio
reconhecida e altamente valorizada, uma vez que
prossegue exercendo funes capitais durante todo o
processo de desenvolvimento de seus membros.
Famlia e desenvolvimento humano
A famlia possui um papel primordial no
amadurecimento e desenvolvimento biopsicossocial dos
indivduos, apresentando algumas funes primordiais,
as quais podem ser agrupadas em trs categorias que
esto intimamente relacionadas: funes biolgicas
(sobrevivncia do indivduo), psicolgicas e sociais
(Osrio, 1996).
A funo biolgica principal da famlia garantir
a sobrevivncia da espcie humana, fornecendo os
cuidados necessrios para que o beb humano possa se
desenvolver adequadamente.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
Pratta & Santos
Em relao s funes psicolgicas, podem-se
citar trs grupos centrais: a) proporcionar afeto ao
recm-nascido, aspecto fundamental para garantir a
sobrevivncia emocional do indivduo; b) servir de
suporte e continncia para as ansiedades existenciais
dos seres humanos durante o seu desenvolvimento,
auxiliando-os na superao das crises vitais pelas
quais todos os seres humanos passam no decorrer do
seu ciclo vital (um exemplo de crise que pode ser
mencionado aqui a adolescncia); c) criar um
ambiente adequado que permita a aprendizagem
emprica que sustenta o processo de desenvolvimento
cognitivo dos seres humanos (Osrio, 1996).
Segundo Romanelli (1997) a famlia corresponde a
um lugar privilegiado de afeto, no qual esto inseridos
relacionamentos ntimos, expresso de emoes e de
sentimentos. Portanto, pode-se dizer que no interior
da famlia que o indivduo mantm seus primeiros
relacionamentos
interpessoais
com
pessoas
significativas, estabelecendo trocas emocionais que
funcionam como um suporte afetivo importante quando
os indivduos atingem a idade adulta. Estas trocas
emocionais estabelecidas ao longo da vida so
essenciais para o desenvolvimento dos indivduos e
para a aquisio de condies fsicas e mentais centrais
para cada etapa do desenvolvimento psicolgico.
No que tange funo social da famlia, o cerne
est na transmisso da cultura de uma dada sociedade
aos indivduos (Osrio, 1996), bem como na
preparao dos mesmos para o exerccio da cidadania
(Amazonas & cols., 2003). Sendo assim, a partir do
processo socializador que o indivduo elabora sua
identidade e sua subjetividade (Romanelli, 1997),
adquirindo, no interior da famlia, os valores, as
normas, as crenas, as idias, os modelos e os padres
de comportamento necessrios para a sua atuao na
sociedade (Drummond & Drummond Filho, 1998;
Talln & cols., 1999). Ressalte-se que as normas e os
valores que introjetamos no interior da famlia
permanecem conosco durante toda a vida, atuando
como base para a tomada de decises e atitudes que
apresentamos no decorrer da fase adulta. Alm disso, a
famlia continua, mesmo na etapa adulta, a dar sentido
s relaes entre os indivduos, funcionando como um
espao no qual as experincias vividas so elaboradas
(Sarti, 2004).
Buscando compreender um pouco mais sobre o
funcionamento da instituio familiar, interessante
ressaltar que muitos autores caracterizam a famlia
dentro de uma perspectiva sistmica, considerando-a
como um sistema ativo que est em constante processo
de transformao e de evoluo, e que se move por
Famlia e desenvolvimento psicolgico na adolescncia
meio de ciclos (Sudbrack, 2001). Este processo
possibilita a diferenciao e a individuao dos
membros que compem a estrutura familiar. Isso
porque, do ponto de vista sistmico, a famlia
constituda por um conjunto de pessoas em contnua
interao, apresentando uma histria comum, a qual
tem sido ancorada, ao longo dos tempos, em regras,
comportamentos, mitos e crenas compartilhados e
validados por todos os membros que constituem este
sistema (Carranza & Pedro, 2005).
Dentro da perspectiva sistmica a famlia pode ser
caracterizada a partir da natureza das relaes
estabelecidas entre os seus componentes, isto , a
forma como interagem entre si e como se encontram
vinculados nos diferentes papis e subsistemas
(Sudbrack, 2001), pois o sistema familiar composto
por vrios subsistemas, por exemplo, me-criana, paicriana, me-pai-criana, os quais estabelecem
relaes nicas, sendo que cada um destes influencia e
influenciado pelos outros subsistemas existentes.
Pode-se dizer, ento, que a famlia corresponde a um
todo complexo e integrado, dentro do qual os membros
so interdependentes e exercem influncias recprocas
uns nos outros. Alm disso, a famlia pode ser
considerada, ao mesmo tempo, como um sistema dentro
de um outro sistema o sistema social, sofrendo
influncias constantes deste ltimo, alm de influencilo tambm (Sudbrack, 2001).
Nesse sentido, Scabini (1992) ressalta que a
famlia, constituindo-se como uma organizao
complexa de relaes entre os membros que a
compem, tem por objetivo organizar, produzir e dar
forma a essas relaes. Sendo assim, h a necessidade
de adaptaes constantes da rede complexa de relaes
familiares frente s constantes transformaes que
ocorrem no mbito familiar, para que essas relaes
promovam o desenvolvimento de seus membros
(Romanelli, 1997; Sudbrack, 2001). Entretanto, estas
adaptaes esto relacionadas ao prprio processo de
desenvolvimento das famlias que, como um grupo,
tambm passam por fases evolutivas ao longo do seu
ciclo vital. Ou seja, existe um cruzamento entre o ciclo
vital da famlia e o ciclo de vida de seus membros,
sendo que cada etapa envolve processos emocionais de
transio, bem como mudanas primordiais para dar
seguimento ao desenvolvimento tanto individual quanto
familiar (Simionato-Tozo, 2000).
O ciclo vital evolutivo da famlia dinmico
(Osrio, 1996; Talln & cols., 1999), sendo marcado
tanto por eventos crticos previsveis (nascimento,
adolescncia, casamento dos filhos, entre outros)
quanto por eventos crticos no previsveis (separaes,
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
251
doenas, perdas, entre outros), os quais causam grande
impacto no contexto familiar, provocando um aumento
da presso e uma desorganizao dentro deste contexto,
o que acaba influenciando diretamente no processo de
desenvolvimento da famlia (Scabini, 1992). Isso quer
dizer que os eventos que marcam o ciclo evolutivo
familiar, tanto previsveis quanto imprevisveis,
provocam uma crise no funcionamento da famlia, a
qual necessita ser solucionada para que haja a
manuteno da sade familiar (Scabini, 1992). Esta
crise afeta, direta ou indiretamente, todos os membros
da famlia, como a que acontece, por exemplo, no
perodo da adolescncia, considerado como uma fase
do ciclo vital familiar que provoca intensas
transformaes relacionais, especialmente entre pais e
filhos (Sudbrack, 2001). Isso porque, segundo Cerveny
e Berthoud (2001), pais e filhos encontram-se em
momentos diferentes de transformao, ou seja, os
adolescentes costumam questionar valores e regras
familiares, preocupando-se intensamente com o futuro,
enquanto seus pais se encontram em uma etapa de
questionamento profissional, de reflexo e de
transformao, tambm repensando o futuro.
Considerando-se este contexto, necessrio que a
famlia supere as crises pelas quais passa e consiga
modificar-se, englobando as diferenas e mudanas
pessoais dos membros que a constituem, como as que
ocorrem nos perodos considerados como tpicos de
transio, por exemplo, a adolescncia. Alm disso,
conflitos e tenses correspondem a aspectos marcantes
da vida familiar em todos os momentos de sua
existncia, uma vez que, na famlia segundo Romanelli
(1997), a expresso de sentimentos, aspiraes e
emoes mais livre.
Entretanto, destaca-se que a manuteno da sade
familiar no depende apenas da capacidade de
superao das crises, mas tambm da boa qualidade
das relaes entre os membros da famlia e da boa
qualidade das trocas familiares com o meio social no
qual est inserida (Scabini, 1992). Neste sentido, a
harmonia, a qualidade do relacionamento familiar e a
qualidade do relacionamento conjugal so aspectos
importantes que exercem influncia direta no
desenvolvimento dos filhos, podendo influenciar at
mesmo no possvel aparecimento de dficits e
transtornos psicoafetivos nos indivduos (Talln &
cols., 1999).
No que tange ainda s relaes estabelecidas
dentro do mbito familiar, pode-se argumentar que,
segundo Romanelli (1997), a famlia
est estruturada por relaes de naturezas
distintas. De um lado, relaes de poder e
252
Pratta & Santos
autoridade estruturam a famlia, cabendo a
marido e esposa, a pais e filhos, posies
hierrquicas definidas e direitos e deveres
especficos, porm desiguais. Por outro lado,
a famlia estruturada por relaes afetivas
criadas entre seus componentes, com
contedo diversificado conforme o vnculo
entre eles e de acordo com o gnero e a idade
de cada um dos seus integrantes. Porm, a
organizao das relaes estruturais
varivel em famlias de diferentes segmentos
sociais (p. 27).
Assim a relao entre pais e filhos a que
apresenta o vnculo mais forte dentro do contexto
familiar, ligando-se reproduo da famlia em
sentido mais amplo, englobando a reproduo biolgica
e, sobretudo, a reproduo social (Romanelli, 1995, p.
1). Alm disso, Talln e cols. (1999) ressaltam que o
tipo de interao estabelecido entre pais e filhos, bem
como as expectativas e sentimentos dos pais em relao
aos filhos, exercem um papel muito importante no tipo
de personalidade futura dos filhos e no xito escolar
dos mesmos.
Desse modo, pode-se asseverar que as
experincias vivenciadas pelo jovem, tanto no contexto
familiar quanto nos outros ambientes nos quais ele est
inserido, contribuem diretamente para a sua formao
enquanto adulto, sendo que, no mbito familiar, o
indivduo vai passar por uma srie de experincias
genunas em termos de afeto, dor, medo, raiva e
inmeras outras emoes, que possibilitaro um
aprendizado essencial para a sua atuao futura.
Famlia e adolescncia: os pais frente adolescncia
dos filhos
Considerando-se os aspectos acima mencionados a
respeito da importncia da famlia para o
desenvolvimento, bem como a questo do ciclo de vida
familiar, pode-se dizer que um evento previsvel que
apresenta grande impacto na vida familiar a
adolescncia, considerada como uma crise importante
no contexto familiar (Kalina, 1999; Talln & cols.,
1999). Encarada como uma fase do ciclo de vida
familiar, a adolescncia apresenta tarefas particulares,
que envolvem todos os membros da famlia. Pode-se
dizer, ento que este perodo se constitui como uma
fase de transio do indivduo, da infncia para a idade
adulta, evoluindo de um estado de intensa dependncia
para uma condio de autonomia pessoal (Silva &
Mattos, 2004) e de uma condio de necessidade de
controle externo para o autocontrole (Biasoli-Alves,
2001), sendo marcado por mudanas evolutivas rpidas
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
e intensas nos sistemas biolgicos, psicolgicos e
sociais (Marturano, Elias & Campos, 2004).
Portanto, nesse perodo evolutivo, crucial para o
desenvolvimento do indivduo, culmina todo o seu
processo maturativo biopsicossocial, ocorrendo a
aquisio da imagem corporal definitiva, bem como a
estruturao final da personalidade (Drummond &
Drummond Filho, 1998; Osrio, 1996).
Estudos evidenciam que a adolescncia
corresponde a um fenmeno biopsicossocial (Kalina,
1999) cujo elemento psicolgico do processo
constantemente determinado, modificado e influenciado
pela sociedade (Kalina, 1999). Ela corresponde a um
perodo de descobertas dos prprios limites, de
questionamentos dos valores e das normas familiares e
de intensa adeso aos valores e normas do grupo de
amigos. Nessa medida, um tempo de rupturas e
aprendizados, uma etapa caracterizada pela
necessidade de integrao social, pela busca da autoafirmao e da independncia individual e pela
definio da identidade sexual (Silva & Mattos, 2004).
Os adultos tm um papel central neste processo, pois
oferecem a base inicial aos mais jovens, a bagagem de
regras e normas essenciais para o social, bem como atuam
como modelos introjetados, geralmente como ideais, cujas
atitudes e comportamentos sero transmitidos s geraes
que os sucedem (Biasoli-Alves, 2001).
Apesar da adolescncia ser considerada por muitos
como um fenmeno universal, ou seja, que acontece em
todos os povos e em todos os lugares, o incio e a
durao deste perodo evolutivo varia de acordo com a
sociedade, a cultura e as pocas, ou seja, esta fase
evolutiva
apresenta
caractersticas
especficas
dependendo do ambiente scio-cultural e econmico no
qual o indivduo est inserido (Osrio, 1996).
Entretanto, o conceito de adolescncia, tal como
conhecemos hoje, uma construo recente do ponto de
vista scio-histrico.
Admite-se, em geral, que essa fase do
desenvolvimento humano tem incio a partir das
mudanas fsicas que ocorrem com os indivduos a
partir da
puberdade. Neste
sentido, torna-se
importante pontuar que puberdade e adolescncia,
apesar de estarem diretamente relacionadas,
correspondem a dois fenmenos especficos, ou seja,
enquanto a puberdade envolve transformaes
biolgicas inevitveis, a adolescncia refere-se aos
componentes psicolgicos e sociais que esto
diretamente relacionados aos processos de mudana
fsica gerados neste perodo (Osrio, 1996). Ou seja, a
adolescncia comea na biologia e termina na cultura
no momento em que menino e menina atingiram
Famlia e desenvolvimento psicolgico na adolescncia
razovel grau de independncia psicolgica em relao
aos pais. Assim, em algumas sociedades consideradas
mais simples, essa etapa do ciclo evolutivo pode ser
breve, enquanto que em sociedades evidenciadas como
tecnologicamente mais desenvolvidas, a adolescncia
tende a se prolongar (Traverso-Ypez & Pinheiro,
2002).
Nessa etapa do desenvolvimento, o indivduo passa
por momentos de desequilbrios e instabilidades
extremas, sentindo-se muitas vezes inseguro, confuso,
angustiado, injustiado, incompreendido por pais e
professores, o que pode acarretar problemas para os
relacionamentos do adolescente com as pessoas mais
prximas do seu convvio social. Entretanto, essa crise
desencadeada pela vivncia da adolescncia de
fundamental importncia para o desenvolvimento
psicolgico dos indivduos (Drummond & Drummond
Filho, 1998), o que faz dela uma crise normativa.
Contudo, a vivncia da adolescncia no um
processo uniforme para todos os indivduos, mesmo
compartilhando de uma mesma cultura. Ela costuma
ser, geralmente, um perodo de conflitos e turbulncias
para muitos, no entanto h pessoas que passam por esta
fase sem manifestarem maiores problemas e
dificuldades de ajustamento. Dados epidemiolgicos
evidenciam que cerca de 20% dos adolescentes
apresentam problemas de sade mental e necessitam de
ajuda, enquanto que os demais atravessam essa etapa
do desenvolvimento sem maiores problemas
(Marturano & cols., 2004), ou seja, passam pela
adolescncia absolutamente imunes a qualquer tipo de
crise. Simplesmente vivem, adquirem ou no
determinados valores, idias e comportamentos e
chegam inclumes idade adulta (Becker, 1994, p.
12).
Alm disso, necessrio ressaltar ainda que o
processo de adolescncia no afeta apenas os indivduos
que esto passando por este perodo, mas tambm as
pessoas que convivem diretamente com os mesmos,
principalmente a famlia. Isso porque a adolescncia dos
filhos tem influncia direta no funcionamento familiar,
constituindo-se, portanto, como um processo difcil e
doloroso tanto para os adolescentes quanto para seus pais,
uma vez que, como j foi discutido anteriormente, a famlia
no constituda pela simples soma de seus membros, mas
um sistema formado pelo conjunto de relaes
interdependentes no qual a modificao de um elemento
induz a do restante, transformando todo o sistema, que
passa de um estado para outro.
Assim, a adolescncia favorece as condies
necessrias para a emergncia de uma srie de
problemas e conflitos dentro do contexto familiar,
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
253
sendo que muitos estudos enfatizam que h um
aumento das brigas e disputas entre pais e filhos
durante os anos da adolescncia (Wagner, Falcke,
Silveira & Mosmann, 2002), uma vez que a
necessidade de negociao constante, inerente a esta
etapa, aumenta o potencial de conflitos entre as
geraes (Marturano & cols., 2004). A literatura
ressalta ainda que o aumento desses conflitos
geralmente est acompanhado de uma diminuio na
proximidade do convvio, principalmente em relao ao
tempo que adolescentes e pais passam juntos (Steinberg
& Morris, 2001). Contudo, um conflito bem negociado
pode levar a um crescimento para os filhos e para os
pais (Marturano & cols., 2004).
Por esse motivo o dilogo nessa etapa do
desenvolvimento assume um papel ainda mais
importante, apesar de muitas vezes os adolescentes
buscarem se fechar em seu mundo prprio. Devido
essa tendncia recluso e a busca de refgio na
fantasia e no devaneio, o dilogo com os membros da
famlia, nessa etapa da vida, essencial, pois
justamente nesse perodo que eles mais necessitam da
orientao e da compreenso dos pais, sendo que todo o
legado que a famlia transmitiu aos mesmos desde a
infncia continua sendo relevante (Drummond &
Drummond Filho, 1998). A falta de dilogo no
ambiente familiar pode, portanto, acarretar ou, em
certos casos, acentuar algumas dificuldades,
principalmente em termos de relacionamento, podendo
afetar at mesmo o bem-estar e a sade psquica dos
adolescentes.
Nesse contexto, Drummond & Drummond Filho
(1998) salientam que, alm do recurso do dilogo, quando a
famlia busca desde cedo estabelecer relaes de respeito,
confiana, afeto e civilidade entre seus membros, tende a
lidar com essa fase do desenvolvimento de uma maneira
mais adequada e com menos dificuldades do que uma outra
famlia na qual tais valores no foram praticados.
Quando um grupo familiar possui um filho
adolescente, o grupo como um todo parece adolescer.
Os pais vivenciam sentimentos variados em
decorrncia da adolescncia de seus filhos e as
respostas que so capazes de dar aos adolescentes esto
condicionadas forma pela qual os mesmos resolveram
o seu processo adolescente, ao nvel de integrao que
tm como casal e sua capacidade de adaptao s
redefinies que esta situao implica (Kalina, 1999,
p. 21).
Assim, pode-se dizer que, frente adolescncia
dos filhos, os pais apresentam uma angstia intensa,
tanto em funo de suas prprias inseguranas quanto
por evocaes conscientes ou inconscientes de suas
254
Pratta & Santos
fantasias e/ou atitudes vivenciadas durante o seu
prprio processo adolescente (Levisky, 1998).
Alm das questes apontadas acima, importante
pontuar ainda que, nos ltimos vinte anos a sociedade
em geral, bem como a instituio familiar em
particular, tm passado por inmeras transformaes,
que acabam produzindo modificaes relevantes no que
diz respeito s vivncias, percepo e construo
que os adolescentes, por exemplo, produzem de seus
aspectos scio-afetivos, bem como de seus projetos de
vida.
Dessa forma, atualmente, alm das preocupaes
gerais dos pais com a questo de como lidar com a
adolescncia dos filhos, existem dois grandes problemas
que vm afligindo os adultos que possuem filhos
adolescentes. So eles: a iniciao sexual precoce e a
ameaa da drogadio, os quais trazem consigo tambm a
preocupao crescente com a possibilidade de
contaminao pelo vrus HIV, uma vez que tem crescido
assustadoramente o nmero de adolescentes contaminados
por este agente infeccioso. Estes dois aspectos se destacam
na pauta de preocupaes parentais, uma vez que as
influncias do contexto no qual os adolescentes se
desenvolvem, tanto no que diz respeito famlia quanto no
que concerne ao ambiente macrossocial, associadas s
caractersticas de imaturidade emocional, impulsividade e
comportamento desafiador que freqentemente esto
presentes na fase da adolescncia, resultam no
engajamento em comportamentos considerados de risco,
como por exemplo a iniciao sexual precoce, a ausncia
de proteo durante o ato sexual, uso de substncias
psicoativas e baixos nveis de atividade fsica (Rebolledo,
Medina & Pillon, 2004).
Segundo Drummond & Drummond Filho (1998),
as inadequaes de comportamento e at mesmo a
exposio a riscos desnecessrios podem surgir em
funo da prpria curiosidade, extremamente presente
nessa etapa evolutiva, e de outros fatores cognitivos,
biolgicos, psicolgicos, sociais e culturais que podem
exercer um papel importante na determinao de
comportamentos de risco nesse perodo do
desenvolvimento. No caso especfico do consumo de
substncias psicoativas, regulamentadas ou ilcitas,
apesar de sempre ter existido, s se tornou um fator
preocupante para os pais na atualidade, pois o consumo
de drogas aumentou significativamente entre os
adolescentes nos ltimos anos (Pratta, 2003).
CONSIDERAES FINAIS
A adolescncia tem sido alvo de numerosos
estudos. A reviso da literatura que empreendemos
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
demonstrou que h evidncias consistentes de que a
famlia nos dias de hoje ainda exerce um papel
importante no desenvolvimento de seus membros,
principalmente no perodo da adolescncia.
Considerando-se as mudanas ocorridas na
organizao social e na estrutura e funcionamento das
famlias nos ltimos tempos, bem como o papel crucial
que a instituio familiar continua exercendo no
processo de desenvolvimento dos indivduos, os estudos
revisados convergem no sentido de acumular
evidncias de que essas transformaes esto na base
de diversos problemas psicolgicos contemporneos.
A emergncia de novas composies familiares,
associadas forma especfica como os pais foram
educados e influncia de novos padres de
relacionamento interpessoal que vigoram na atualidade,
tendem a desencadear dificuldades na educao dos
filhos, sendo que a preocupao com o
desenvolvimento de crianas e adolescentes, com o
modo de educ-los e orient-los, e as maneiras de
conduzi-los com segurana rumo a uma adultez
saudvel, nunca estiveram to presentes nas discusses,
cientficas ou no, como nos dias atuais (Cano, 1997).
Estas preocupaes emergem tanto nas
publicaes a respeito da infncia, quanto nas
dedicadas adolescncia. Considerando que o
adolescente se desenvolve no contexto familiar e nele
permanece por um perodo que tem se expandido cada
vez mais lembrando que em pases da Amrica
Latina esse tempo de convvio com a famlia de origem
maior do que o observado em outras culturas, como
o caso da sociedade norte-americana torna-se
essencial considerar a situao familiar e o meio social
nos estudos sobre adolescncia (Kalina, 1999).
Os resultados acumulados at o presente sugerem a
necessidade de novas investigaes, que busquem
compreender melhor o papel das relaes familiares no
processo adolescente, principalmente no que se refere
explorao de temas complexos, como sexualidade e
consumo de drogas.
Assim, pode-se dizer que, apesar das
transformaes significativas vivenciadas pela famlia
nas ltimas dcadas do sculo XX e incio do XXI, o
homem continua depositando nessa instituio a base
de sua segurana e bem-estar, o que por si s um
indicador da valorizao da famlia como contexto de
desenvolvimento humano.
Concluindo, os estudos sugerem que a famlia
ainda mantm seu papel especfico no contexto social
em que se insere. No nvel microssocial, continua a ter
um papel central durante todo o processo de
desenvolvimento de seus membros, desempenhando
Famlia e desenvolvimento psicolgico na adolescncia
funes particulares em cada etapa, embora tenham
sido observadas alteraes em termos da intensidade
com que essas funes so exercidas na
contemporaneidade (Nogueira, 1998).
Por essas razes, torna-se imperativo investir em
programas de orientao para pais com a finalidade de
instrumentaliz-los para poderem lidar de forma mais
adequada com seus filhos adolescentes, auxiliando-os a
fornecer orientaes mais precisas que sirvam de
referncia para os adolescentes frente a situaes que
necessitem de reflexo e tomada de decises. Assim, os
pais podem reduzir suas angstias frente adolescncia
dos filhos e estes, por sua vez, podem ver os pais como
um suporte emocional singular ao qual podem recorrer
diante das dificuldades de ajustamento que enfrentam.
REFERNCIAS
Amazonas, M. C. L., Damasceno, P. R., Terto, L. M. & Silva, R.
R. (2003). Arranjos familiares de crianas de camadas
populares. Psicologia em Estudo, 8(n.esp.), 201-208.
Becker, D. (1994, 13 Ed.). O que adolescncia? So Paulo:
Brasiliense.
Biasoli-Alves, Z. M. (2001). Crianas e adolescentes: a questo da
tolerncia na socializao das geraes mais novas. Em Z. M.
Biasoli-Alves & R. Fischman (Orgs.), Crianas e
adolescentes: construindo uma cultura da tolerncia (pp.7993). So Paulo: EDUSP.
Biasoli-Alves, Z. M. M. (2004). Pesquisando e intervindo com
famlias de camadas diversificadas. Em C. R. Althoff, I. Elsen
& R. G. Nitschke (Orgs.), Pesquisando a famlia: olhares
contemporneos (pp. 91-106). Florianpolis: Papa-livro.
Caldana, R. H. L. (1998). A criana e sua educao no incio do
sculo: autoridade, limites e cotidiano. Temas em Psicologia,
6(2), 87-103.
Cano, M. A. (1997). A percepo dos pais sobre sua relao com
os filhos adolescentes: reflexos da ausncia de perspectivas e
as solicitaes de ajuda. Tese de Livre Docncia NoPublicada, Programa de Ps-Graduao da Escola de
Enfermagem de Ribeiro Preto, Ribeiro Preto.
Carranza, D. V. V. & Pedro, L. J. (2005). Satisfaccin personal
del adolescente adicto a drogas en el ambiente familiar durante
la fase de tratamiento en un instituto de salud mental. Revista
Latino-americana de Enfermagem, 13(n esp.), 836-844.
Cecconello, A. M., De Antoni, C. & Koller, S. H. (2003). Prticas
educativas, estilos parentais e abuso fsico no contexto
familiar. Psicologia em Estudo, 8(n esp.), 45-54.
255
Figueira (Org.), Uma nova famlia (pp. 11-30). Rio de Janeiro:
Jorge Zahar.
Fleck, A. C. & Wagner, A. (2003). A mulher como principal
provedora do sustento econmico familiar. Psicologia em
Estudo, 8(no esp.), 31-38, 755-783.
Greenberger, E., Goldberg, W., Hamill, S., ONeil, R. & Payne, C.
K. (1989). Contributions of a supportive work environment to
parents well-being and orientation to work. American Journal
of Community Psychology, 17 (6), 755-783.
Kalina, E. (1999, 3 Ed.). Psicoterapia de adolescentes: teoria,
tcnica e casos clnicos. (C. R. A. Silva, Trad.). Porto Alegre:
Artes Mdicas.
Levisky, D. (1998). Adolescncia: reflexes psicanalticas. So
Paulo: Casa do Psiclogo.
Lisboa, M. R. A. (1987). A sagrada famlia: a questo do gnero
em famlias catlicas. Dissertao de Mestrado NoPublicada,. Programa de ps-graduao em Antropologia
Social, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianpolis.
Marturano, E., Elias, L. & Campos, M. (2004). O percurso entre a
meninice e a adolescncia: mecanismos de vulnerabilidade e
proteo. Em E. M. Marturano, M. B. M. Linhares & S. R.
Loureiro (Orgs.), Vulnerabilidade e proteo: indicadores na
trajetria de desenvolvimento escolar (pp. 251-288). So
Paulo: Casa do Psiclogo/FAPESP.
Nicolaci-da-Costa, A. M. (1985). Mal-estar na famlia:
descontinuidade e conflito entre sistemas simblicos. Em S.
Figueira (Org.), Cultura da psicanlise (pp. 147-168). So
Paulo: Brasiliense.
Nogueira, M. A. (1998). Relao famlia-escola: novo objeto na
sociologia da educao. Paidia: Cadernos de Psicologia e
Educao, 8 (14/15), 91-104.
Osrio, L. C. (1996). Famlia hoje. Porto Alegre: Artes Mdicas.
Pratta, E. M. M. (2003). Adolescncia, drogadio e famlia:
caracterizao do padro de consumo de substncias
psicoativas e avaliao da percepo dos pais em
adolescentes do ensino mdio. Dissertao de Mestrado NoPublicada, Programa de Ps-graduao em Psicologia,
Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de Ribeiro Preto,
Universidade de So Paulo, Ribeiro Preto.
Rebolledo, E. A. O., Medina, N. M. O. & Pillon, S. C. (2004).
Factores de riesgo asociados al uso de drogas em estudiantes
adolescentes. Revista Latino-americana de Enfermagem, 12(n
esp.), 369-375.
Romanelli, G. (1995). Papis familiares e paternidade em famlias
de camadas mdias. Trabalho apresentado na XIX Reunio
Anual da ANPOCS. [mimeo].
Romanelli, G. (1997). Famlias de classes populares: socializao e
identidade masculina. Cadernos de Pesquisa NEP, 1-2, 25-34.
Cerveny, C. M. O. & Berthoud, C. M. E. (2001). Visitando a
famlia ao longo do ciclo vital. So Paulo: Casa do Psiclogo.
Romanelli, G. (2002). Autoridade e poder na famlia. Em M. C. B
Carvalho (Org.), A famlia contempornea em debate. (pp. 7388). So Paulo: EDUC/Cortez.
Drummond, M. & Drummond Filho, H. (1998). Drogas: a busca
de respostas. So Paulo: Loyola.
Sarti, C. A. (2004). A famlia como ordem simblica. Psicologia
USP, 15(3), 11-28.
Figueira, S. (1987). O moderno e o arcaico na nova famlia
brasileira: notas sobre a dimenso invisvel do social. Em S.
Scabini, E. (1992). Ciclo de vida familiar e de sade familiar.
Manuscrito no publicado. Universidade Catlica do Sagrado
Corao. Milo, Itlia.
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
256
Pratta & Santos
Scavone, L. (2001). Maternidade: transformaes na famlia e nas
relaes de gnero. Interface: Comunicao, Sade,
Educao, 5(8), 47-59.
Sudbrack, M. F. O. (2001). Terapia familiar sistmica. Em S. D.
Seibel & A. Toscano Jr. (Orgs.), Dependncia de drogas (pp.
403-415). So Paulo: Atheneu.
Schenker, M. & Minayo, M. C. S. (2003). A implicao da famlia
no uso abusivo de drogas: uma reviso crtica. Cincia &
Sade Coletiva, 8(1), 707-717.
Talln, M. A., Ferro, M. J., Gmez, R. & Parra, P. (1999).
Evaluacion del clima familiar en una muestra de adolescentes.
Revista de Psicologia Geral y Aplicada, 451-462.
Scott, A. S. V. (2004). A famlia como objeto de estudo para o
historiador. Em C. R. Althoff, I. Elsen & R. G. Nitschke
(Orgs.), Pesquisando a famlia: olhares contemporneos (pp.
45-54). Florianpolis: Papa-Livro.
Torres, A. (2000). A individualizao no feminino, o casamento e o
amor. Em C. Peixoto, F. Singly & V. Cicchelli. (Orgs.),
Famlia e individualizao (pp.135-156). Rio de Janeiro:
FGV.
Silva, V. & Mattos, H. (2004). Os jovens so mais vulnerveis s
drogas?. Em I. Pinsky & M. A. Bessa (Orgs.), Adolescncia e
drogas (pp. 31-44). So Paulo: Contexto.
Traverso-Ypez, M. A. & Pinheiro, V. S. (2002). Adolescncia,
sade e contexto social: esclarecendo prticas. Psicologia &
Sociedade, 14(2), 133-147.
Siminonato-Tozo, S. M. P. & Biasoli-Alves, Z. M. M. (1998). O
cotidiano e as relaes familiares em duas geraes. Paidia:
Cadernos de Psicologia e Educao, 8(14/15), 137-150.
Wagner, A., Falcke, D., Silveira, L. M. B. O. & Mosmann, C. P.
(2002). A comunicao em famlias com filhos adolescentes.
Psicologia em Estudo, 7(1), 75-80.
Simionato-Tozo, S. M. P. (2000). Ciclo de vida familiar: um
estudo transgeracional. Tese de Doutorado No-Publicada,
Programa de Ps-Graduao em Psicologia da Universidade de
So Paulo, Faculdade de Filosofia, Cincias e Letras de
Ribeiro Preto, Ribeiro Preto.
Wagner, A., Ribeiro, L., Arteche, A. & Bornholdi, E. (1999).
Configurao familiar e o bem-estar psicolgico dos
adolescentes. Psicologia: Reflexo e Crtica, 12(1), 147-156.
Singly, F. de (2000). O nascimento do indivduo individualizado
e seus efeitos na vida conjugal e familiar. Em C. Peixoto, F. de
Singly & V. Cicchelli (Orgs.), Famlia e individualizao
(pp.13-19). Rio de Janeiro: FGV.
Recebido em 01/02/2006
Aceito em 12/02/2007
Steinberg, L. & Morris, A. S. (2001). Adolescent development.
Annual Review of Psychology, 52, 83-110.
Endereo para correspondncia: Elisngela Maria Machado Pratta. Rua Episcopal, 2474, ap. 154A - Edifcio Villagio di
Napoli, Vila Lutfalla II, CEP 13560-049, So CarlosSP. E-mail: emmppsic@scl.terra.com.br
Psicologia em Estudo, Maring, v. 12, n. 2, p. 247-256, maio/ago. 2007
Você também pode gostar
- Atlas de Anatomia DentalDocumento44 páginasAtlas de Anatomia DentalRadmilo Soares100% (7)
- Modelo de Contrato de Manutençao ArDocumento12 páginasModelo de Contrato de Manutençao ArJosé Luiz Bellato JuniorAinda não há avaliações
- 2 - SOCIEDADE, CULTURA E CIDADANIA - Diego Coletti OlivaDocumento18 páginas2 - SOCIEDADE, CULTURA E CIDADANIA - Diego Coletti OlivaRibeiro Filho100% (1)
- Parentalidade: Diferentes Perspectivas, Evidências e ExperiênciasNo EverandParentalidade: Diferentes Perspectivas, Evidências e ExperiênciasNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- As Lutas No Campo Cinematográfico Brasileiro No Século XXIDocumento294 páginasAs Lutas No Campo Cinematográfico Brasileiro No Século XXIVítor OliveiraAinda não há avaliações
- 71 266 1 PB PDFDocumento5 páginas71 266 1 PB PDFPriscila Veiga100% (1)
- Familia e AdolescenciaDocumento10 páginasFamilia e Adolescenciaoliveira araujoAinda não há avaliações
- Familia e Adolescencia A Influencia Do Contexto FaDocumento11 páginasFamilia e Adolescencia A Influencia Do Contexto FaNore CelAinda não há avaliações
- FamiliaDocumento12 páginasFamiliaAndré Quissanga Bande FerreiraAinda não há avaliações
- Antropologia FamiliaDocumento12 páginasAntropologia FamiliaPrAnderson SilvaAinda não há avaliações
- Mulheres CriminosasDocumento10 páginasMulheres CriminosasLeidiane OliveiraAinda não há avaliações
- Estudando A Família emDocumento51 páginasEstudando A Família emMonica Ali SelemaneAinda não há avaliações
- 5 Castro Interação Escola FamíliaDocumento10 páginas5 Castro Interação Escola FamíliaWagner CopiadoraAinda não há avaliações
- Borsa & Nunes (2011) Parentalidade Família NuclearDocumento9 páginasBorsa & Nunes (2011) Parentalidade Família NuclearJaqueline Franzmann Zachow100% (1)
- Estrutura e Relações FamiliaresDocumento40 páginasEstrutura e Relações FamiliaresAlex SantosAinda não há avaliações
- Deficiência e Os Impactos Sociais Na FamíliaDocumento19 páginasDeficiência e Os Impactos Sociais Na FamíliaMaíra OliveiraAinda não há avaliações
- 1 - Família Contemporânea - Uma Instituição Social deDocumento14 páginas1 - Família Contemporânea - Uma Instituição Social deElaine Damacena100% (1)
- A Importância Da Família No Acompanhamento em Saúde MentalDocumento14 páginasA Importância Da Família No Acompanhamento em Saúde MentalAlessandra dias de OliveiraAinda não há avaliações
- MTRibeiro FinalDocumento12 páginasMTRibeiro FinalPetraAlexandraAinda não há avaliações
- As Crianças e As Transformações Nas Configurações Familiares P Famílias 15Documento20 páginasAs Crianças e As Transformações Nas Configurações Familiares P Famílias 15Andrea Borba GrieblerAinda não há avaliações
- O Desenvolvimento Da Socialização e o Papel Da FamíliaDocumento16 páginasO Desenvolvimento Da Socialização e o Papel Da FamíliaManuAzeniAinda não há avaliações
- Trabalho Ev056 MD1 Sa14 Id1698 15082016111354Documento8 páginasTrabalho Ev056 MD1 Sa14 Id1698 15082016111354Dany Cardoso EJoao VasconcelosAinda não há avaliações
- Comportamento Agressivo Do Adolescente - A Influência Da Família e A Interveção Do Serviço Social Neste ContextoDocumento9 páginasComportamento Agressivo Do Adolescente - A Influência Da Família e A Interveção Do Serviço Social Neste ContextoAna Luzia NassifAinda não há avaliações
- Rel. Fam. RESUMO 1 Conceito de FamíliaDocumento15 páginasRel. Fam. RESUMO 1 Conceito de Famíliacleis.primeAinda não há avaliações
- A Importância Da Familia e Da Escola Na Prevenção Da Gravidez Na AdolescenciaDocumento5 páginasA Importância Da Familia e Da Escola Na Prevenção Da Gravidez Na AdolescenciaWesley DouglasAinda não há avaliações
- Resumo Cap. 15 As Psicologias BockDocumento12 páginasResumo Cap. 15 As Psicologias BockReinaldo SantosAinda não há avaliações
- Família e A Terapia Familiar Sistêmica - Panorama HistóricoDocumento15 páginasFamília e A Terapia Familiar Sistêmica - Panorama HistóricoHannah BodasAinda não há avaliações
- Os Direitos Do Pai Solteiro Na GravidezDocumento11 páginasOs Direitos Do Pai Solteiro Na GravidezAlan DiamAinda não há avaliações
- Familias de Maes SolteirasDocumento10 páginasFamilias de Maes SolteiraspsilaisbaduAinda não há avaliações
- Retratos de Família - A Importância Das Fotografias No Registro SocioculturalDocumento5 páginasRetratos de Família - A Importância Das Fotografias No Registro SocioculturalTalita MotaAinda não há avaliações
- O Idoso e o Papel Da FamíliaDocumento54 páginasO Idoso e o Papel Da FamíliaMarco Tulio Pettinato Pereira80% (5)
- 1 - Influencia Da Familia No Processo de Aprendizagem Escolar Infantil - AldiraDocumento14 páginas1 - Influencia Da Familia No Processo de Aprendizagem Escolar Infantil - AldiradrlandiAinda não há avaliações
- Novas Formas de Parentalidade - Do Modelo Tradicional A HomoparentalidadeDocumento8 páginasNovas Formas de Parentalidade - Do Modelo Tradicional A HomoparentalidadeRobsonAinda não há avaliações
- Modelos de Estrutura de FamíliaDocumento12 páginasModelos de Estrutura de Famíliaelaine_fp91Ainda não há avaliações
- SociologiaDocumento19 páginasSociologiacarolina chrystelloAinda não há avaliações
- Acolhimento Institucional e o Papel Do PsicólogoDocumento7 páginasAcolhimento Institucional e o Papel Do PsicólogoMaria Victoria FurlanAinda não há avaliações
- A Parceria Da Família Na EscolaDocumento11 páginasA Parceria Da Família Na EscolaDhonne SousaAinda não há avaliações
- Familia 2Documento10 páginasFamilia 2mandymbragaAinda não há avaliações
- Dinâmica Familiar SesoDocumento6 páginasDinâmica Familiar SesoVitto GrazianoAinda não há avaliações
- Filhos Do DivórcioDocumento47 páginasFilhos Do DivórcioFranciele LovattoAinda não há avaliações
- O Papel Dos Pais e Da Escola Na Perspectiva Da Criação Doa FilhosDocumento4 páginasO Papel Dos Pais e Da Escola Na Perspectiva Da Criação Doa FilhosAriel ChavesAinda não há avaliações
- 21 Mario-TombolatoDocumento6 páginas21 Mario-TombolatoMatheus RodriguesAinda não há avaliações
- CAPÍTULO 11 - Os Contextos Do Desenvolvimento Na Primeira Infância-1Documento52 páginasCAPÍTULO 11 - Os Contextos Do Desenvolvimento Na Primeira Infância-1TATIANA COSTAAinda não há avaliações
- 2009 Familias UniparenaisDocumento9 páginas2009 Familias UniparenaisCeleste FortesAinda não há avaliações
- As Transformações Da Família: November 2015Documento10 páginasAs Transformações Da Família: November 2015Andreia SilvaAinda não há avaliações
- 1 INTRODUÇÃO Dos KIMBUNDOSDocumento19 páginas1 INTRODUÇÃO Dos KIMBUNDOSSerafim Silvano AurélioAinda não há avaliações
- Anexo17 OSAVSPELOSOLHOSDOSNETOSDocumento25 páginasAnexo17 OSAVSPELOSOLHOSDOSNETOSAna CarolinaAinda não há avaliações
- Trabalho de Sociologia Versao Corrigida - Tiago Veiga e Mariana Fernandes.Documento16 páginasTrabalho de Sociologia Versao Corrigida - Tiago Veiga e Mariana Fernandes.maryme.mssfAinda não há avaliações
- Influências Paternas No Desenvolvimento InfantilDocumento9 páginasInfluências Paternas No Desenvolvimento InfantilRicardo de Argollo DevotoAinda não há avaliações
- Psicoeducação - Limites e Efetividade PDFDocumento16 páginasPsicoeducação - Limites e Efetividade PDFMarcia Regina EstevesAinda não há avaliações
- A Familia e A Escola - Artigo Leo 0Documento11 páginasA Familia e A Escola - Artigo Leo 0Adão António Cassua Canda CandaAinda não há avaliações
- As Contribuiçoes Dos ResponsaveisDocumento17 páginasAs Contribuiçoes Dos Responsaveiscraul515Ainda não há avaliações
- Coparentalidade Como Objeto de Pesquisa em PsicologiaDocumento15 páginasCoparentalidade Como Objeto de Pesquisa em PsicologiaMelo HeloAinda não há avaliações
- Tcc-José Ferreira (Final)Documento16 páginasTcc-José Ferreira (Final)Jose FerreiraAinda não há avaliações
- Conjugalidade Parentalidade e Separacao RepercussoDocumento11 páginasConjugalidade Parentalidade e Separacao RepercussoGloria MedeirosAinda não há avaliações
- Conjugalidade, Parentalidade e SeparaçãoDocumento11 páginasConjugalidade, Parentalidade e SeparaçãoJauson PirloAinda não há avaliações
- Psicologia Clinica e Psicologia InfantilDocumento47 páginasPsicologia Clinica e Psicologia InfantilapluizcarlospioAinda não há avaliações
- Adolescencia e Relações FamiliaresDocumento7 páginasAdolescencia e Relações FamiliaresvanessamoniseaAinda não há avaliações
- Artigo Maternidade e Paternidade CompletoDocumento18 páginasArtigo Maternidade e Paternidade CompletoJuliana TeixeiraAinda não há avaliações
- Cap 2 A Importancia Da FamiliaDocumento8 páginasCap 2 A Importancia Da FamiliaJoão Paulo OliveiraAinda não há avaliações
- Patricia Piedade FamiliasDocumento25 páginasPatricia Piedade FamiliasRita MourinhoAinda não há avaliações
- As Transformações Da Família: ResumoDocumento9 páginasAs Transformações Da Família: ResumoAndreia SilvaAinda não há avaliações
- FUJIMOTO, A. O. P MARTINS, R. A. Z. A Lição de Casa No Processo Ensino-Aprendizagem - Um Estudo de Caso em Itapevi SPDocumento72 páginasFUJIMOTO, A. O. P MARTINS, R. A. Z. A Lição de Casa No Processo Ensino-Aprendizagem - Um Estudo de Caso em Itapevi SPjuanfernandes25Ainda não há avaliações
- Ciclo Vital Familiar: famílias em situação de vulnerabilidade socialNo EverandCiclo Vital Familiar: famílias em situação de vulnerabilidade socialAinda não há avaliações
- Cdocumentsandsettingshelena o 04776d78a4084ambientedetrabalhoblogblogexercioslzhemer 090528155303 Phpapp01 PDFDocumento16 páginasCdocumentsandsettingshelena o 04776d78a4084ambientedetrabalhoblogblogexercioslzhemer 090528155303 Phpapp01 PDFPriscila VeigaAinda não há avaliações
- 2 - Ludoterapia - Virginia Axline PDFDocumento32 páginas2 - Ludoterapia - Virginia Axline PDFPriscila VeigaAinda não há avaliações
- Tamanho Da Amostra - 1Documento9 páginasTamanho Da Amostra - 1Priscila VeigaAinda não há avaliações
- TCC 1 - FrancineteDocumento12 páginasTCC 1 - FrancineteCELESTIAinda não há avaliações
- TCC - Retenção de Pagamento Por Irregularidade FiscalDocumento10 páginasTCC - Retenção de Pagamento Por Irregularidade Fiscalanne katarineAinda não há avaliações
- 1a Rodada de Simulacao Com GabaritoDocumento13 páginas1a Rodada de Simulacao Com GabaritoAdemarjr JuniorAinda não há avaliações
- Manual Motor Buffalo 7.0Documento12 páginasManual Motor Buffalo 7.0Alexx FariasAinda não há avaliações
- Bariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateDocumento23 páginasBariatrica Carol e Miqueias-PowerPoint-TemplateKarolyn NunesAinda não há avaliações
- Apostila EspectrofotometriaDocumento21 páginasApostila EspectrofotometriaVenancio Rabissone MissomaliAinda não há avaliações
- O Que Todo Élder Deveria Saber-E Toda Irmã Também - Mosias 21 - Élder PackerDocumento14 páginasO Que Todo Élder Deveria Saber-E Toda Irmã Também - Mosias 21 - Élder PackerHUMBERTOAinda não há avaliações
- Conceitos de Facilitação Neuromuscular ProprioceptivaDocumento9 páginasConceitos de Facilitação Neuromuscular Proprioceptivandondo nzomambu simaoAinda não há avaliações
- Ecologia PDFDocumento40 páginasEcologia PDFNayanaAinda não há avaliações
- MAPA (História Da Igreja I)Documento5 páginasMAPA (História Da Igreja I)Sidnei SousaAinda não há avaliações
- Botânica I - Aula 3 Gimnospermas e AngiospermasDocumento40 páginasBotânica I - Aula 3 Gimnospermas e AngiospermasBrunaAinda não há avaliações
- 00 Aviso de Convocação para A Seleção Ao Serviço Militar Temporário EIPOT NR 01 SSMR 11, de 10 MAI 22-1Documento40 páginas00 Aviso de Convocação para A Seleção Ao Serviço Militar Temporário EIPOT NR 01 SSMR 11, de 10 MAI 22-1Marcos vieira da silvaAinda não há avaliações
- (FEITO) ChupacabraDocumento3 páginas(FEITO) ChupacabrakraidfaceAinda não há avaliações
- A Química Da Cor Da Cerveja 3Documento8 páginasA Química Da Cor Da Cerveja 3Angélica OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha Critica Saude Do TrabalhadorDocumento3 páginasResenha Critica Saude Do TrabalhadorJúniorBarbosaAinda não há avaliações
- Tabelas Verdade ApontDocumento2 páginasTabelas Verdade ApontIris CostaAinda não há avaliações
- Relação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIDocumento3 páginasRelação Final de Classificados Pós Recurso No Processo de Credenciamento PEI 2023 - LIBRAS PEIThalita FernandesAinda não há avaliações
- Modelo de Anamnese Personal TrainerDocumento2 páginasModelo de Anamnese Personal TrainerSamuel JuniorAinda não há avaliações
- 01 - Slides Animais NocivosDocumento26 páginas01 - Slides Animais NocivosPriscila MoraisAinda não há avaliações
- Desenho 1 ExercíciosDocumento79 páginasDesenho 1 ExercíciosVagner Rodrigues Dos SantosAinda não há avaliações
- Melhorar Performance de Disco No PfSenseDocumento4 páginasMelhorar Performance de Disco No PfSensehenryqueAinda não há avaliações
- NOTA TÉCNICA GRECS-GGTES Nº 01-2018Documento16 páginasNOTA TÉCNICA GRECS-GGTES Nº 01-2018Mariana GonçalvesAinda não há avaliações
- Município de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasDocumento12 páginasMunicípio de Itapeva: Professor de Educação Básica II CiênciasAndréia KethellyAinda não há avaliações
- Bcmii - Investe Na Tua CarreiraDocumento53 páginasBcmii - Investe Na Tua CarreiraWelca YussimiraAinda não há avaliações
- E Book 7 Premissas de MatematicaDocumento26 páginasE Book 7 Premissas de MatematicaSandra Nápoles Guimarães100% (1)
- AlimentosDocumento9 páginasAlimentosKennedy Fonseca RodriguesAinda não há avaliações
- CONSELHO EDITORIAL 07 - I Seminário Programa de Qualidade AmbientalDocumento167 páginasCONSELHO EDITORIAL 07 - I Seminário Programa de Qualidade AmbientalJoão Paulo HergeselAinda não há avaliações