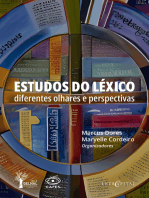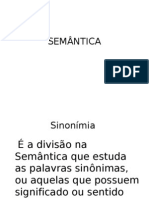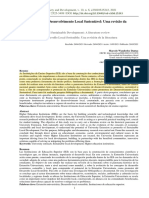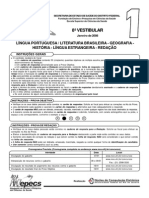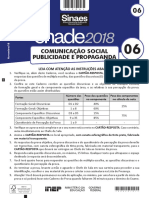Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
As Contibuições de PDF
As Contibuições de PDF
Enviado por
Wendel ChavesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Contibuições de PDF
As Contibuições de PDF
Enviado por
Wendel ChavesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
As Contribuies de Andr Lefevere e Lawrence Venuti para a Teoria
da Traduo
Marcia do Amaral Peixoto Martins
Embora a atividade tradutria seja muito antiga, a elaborao de teorizaes
sistematizadas e, em especial, a consolidao dos Estudos da Traduo como rea
acadmica constituem fenmenos bastante recentes. As primeiras evidncias de
traduo remontam a cerca de trs milnios antes da era crist, na sia Menor; os
arquelogos descobriram listas de palavras, com seus significados correspondentes,
gravadas em tijolos de argila. Nas civilizaes antigas, os escribas, que exerciam a
maioria das funes administrativas, eram os mestres da escrita, do ensino e da
traduo (DELISLE & WOODSWORTH, 1998, p.19). A prtica tradutria s veio a
se disseminar muitos sculos depois, com as tradues para o latim de textos gregos.
O primeiro tradutor europeu conhecido foi Lvio Andrnico, escravo grego alforriado
que produziu uma verso latina da Odisseia em 240 a.C. e considerado o fundador
da poesia pica romana. Um pouco mais tarde, em plena dominao romana, as
reflexes de Ccero e Horcio inauguraram no Ocidente a discusso sobre tradues e
o traduzir que foi se sofisticando paulatinamente a ponto de se mostrar, nos dias de
hoje, excepcionalmente intensa e elaborada. Esse estgio, no entanto, demorou a ser
alcanado. Durante muito tempo, o corpus de ideias sobre traduo disponvel
consistiu, quase que exclusivamente, em comentrios de tradutores sobre suas
prprias tradues, de modo geral em prefcios ou outros tipos de paratexto, que
apresentavam impresses gerais, relatos de experincias pessoais e orientaes sobre a
melhor maneira de traduzir, a partir de um enfoque predominantemente prescritivo.
Dentre as reflexes consideradas clssicas pelos estudiosos da traduo destacam-se
muitas daquelas produzidas por autores de lngua inglesa e alem, como as de
Martinho Lutero (sculo XVI), George Chapman e Ben Jonson (sculos XVI-XVII),
Abraham Cowley e John Dryden (sculo XVII), Alexander Pope e Alexander Fraser
Tytler (sculos XVII-XVIII), Friedrich Schleiermacher, August Wilhelm Schlegel,
Wilhelm von Humboldt, Goethe, Arthur Schopenhauer e Matthew Arnold (sculo
XIX) e, j no sculo XX, Ezra Pound, Walter Benjamin e tericos contemporneos da
traduo, como Andr Lefevere, Susan Bassnett e Lawrence Venuti.
A proposta deste artigo enfocar duas contribuies para a traduo
produzidas em lngua inglesa, selecionadas a partir da sua importncia nos estudos
contemporneos. Trata-se do conjunto de ideias de Andr Lefevere e Lawrence
Venuti, que sero esboadas em linhas gerais, com destaque para os conceitos de
reescrita e patronagem do primeiro e para a reflexo pioneira sobre a invisibilidade
do tradutor do segundo. Cada um tem seu pensamento prprio e bastante particular,
como se ver mais adiante; e embora no se pretenda fazer uma comparao
sistemtica entre ambos, pode-se dizer que suas abordagens tm em comum uma
viso no essencialista da linguagem e do significado, e um entendimento da traduo
como reescrita e transformao. Tambm importante ressaltar que o foco principal
deste trabalho recai sobre a reconstruo dessas ideias, mais do que sobre uma
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
60
discusso aprofundada de determinados aspectos das mesmas, na medida em que se
pretende levar autores e reflexes do campo da traduo a estudiosos de outras reas.
As reflexes de Lefevere e Venuti surgiram nas ltimas dcadas do sculo
XX, quando os Estudos da Traduo alcanaram o estatuto de disciplina independente
(SNELL-HORNBY, 2006, p. 47; BASSNETT(-McGUIRE), 1991, p. xi) e passaram a
desenvolver suas prprias teorias, metodologias e instrumentos de pesquisa, que at
provinham de campos do saber como a filosofia, os estudos literrios, a lingustica, a
antropologia. Nesse processo de amadurecimento, a relao dos estudos da traduo
com reas afins, inicialmente bastante assimtrica, foi assumindo outra feio,
viabilizando o aporte de conhecimentos exgenos sem, contudo, provocar uma
indesejada descaracterizao da disciplina. Ao mesmo tempo, o saber gerado nesse
recm-demarcado territrio de fronteiras porosas, como todos os demais
mostra-se cada vez mais requisitado para informar outras reas, que assim expandem
suas respectivas bases de conhecimento. Assim, se para Bassnett e Lefevere o
crescimento dos Estudos da Traduo como disciplina autnoma uma histria de
sucesso dos anos 19801 (BASSNETT e LEFEVERE, 1990, p. ix), por certo as ideias
de Venuti e do prprio Lefevere, extremamente influentes no pensamento
contemporneo sobre a traduo, contriburam para esse sucesso.
Andr Lefevere e os conceitos de reescrita e patronagem
Andr Lefevere, autor de Translating Literature: The German Tradition
from Luther to Rosenzweig (Van Gorcum, 1977) e Translation, Rewriting and the
Manipulation of Literary Fame (1992), entre outros ttulos, e organizador, junto com
Susan Bassnett, de Translation, History and Culture (1990) e Constructing Cultures:
Essays on Literary Translation (1998), integra o grupo de tericos europeus que
estabeleceram um novo paradigma para o estudo da traduo literria em meados dos
anos 1970, com base em uma teoria abrangente e pesquisa prtica contnua
(HERMANS, 1985). Nessa dcada, como j observado, os estudos da traduo
estavam se configurando como uma disciplina relativamente autnoma, o que
impulsionou, no mundo inteiro, as pesquisas na rea e a produo de uma ampla
literatura sobre o assunto, incluindo livros e peridicos. Alm disso, revistas
cientficas tradicionais na rea de estudos de linguagem e de literatura interessaram-se
em publicar edies temticas sobre traduo. Ao mesmo tempo, tanto as teorias
literrias, pragmticas e comunicativas quanto a semitica desenvolveram abordagens
que contriburam direta ou indiretamente para que os estudos da traduo passassem a
operar no mais no nvel da palavra ou do texto, mas sim da cultura e da histria, e
no mais com nfase exclusiva no texto-fonte, mas trazendo o foco para o texto-meta
e para o pblico-alvo da traduo.
Foi, portanto, pensando na questo da pragmtica e da contextualizao que os
referidos tericos com destaque para os flamengos Jos Lambert, Lieven Dhulst,
Raymond van den Broeck e Theo Hermans, juntamente com o prprio Andr
Lefevere; para o israelense Gideon Toury; e para a britnica Susan Bassnett (McGuire) (cf. HERMANS, 1999, p. 8 et seq.; SNELL-HORNBY, 2006, p. 47-50)
propuseram uma abordagem para estudar as tradues literrias que tomava como
base a viso da literatura como sistema, desenvolvida pelos formalistas russos e
retomada na dcada de 1970 por Itamar Even-Zohar, terico da traduo israelense
que formulou a teoria dos polissistemas.
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
61
As ideias do Crculo Lingustico de Moscou (1914-5) caracterizavam-se pela
recusa do historicismo vigente no sculo XIX e de interpretaes extraliterrias das
obras, rompendo, assim, com a anlise concebida em termos de causalidade mecnica,
que trazia para as investigaes do literrio o biografismo, o psicologismo, a histria
literria e a sociologia, em nome de uma preocupao exclusiva com o texto
(CARVALHAL, 1986, p. 43 e 46). Os formalistas russos estudavam a potica
fundamentados pela teoria lingustica de Saussure, estabelecendo a noo da
linguagem potica como um sistema, ou seja, um conjunto de relaes entre o todo e
suas partes. Consideravam o texto um sistema fechado, do qual se deveria fazer uma
anlise interna, tendo como pressuposto subjacente o princpio da imanncia da obra.
O modelo proposto por Even-Zohar na sua tentativa de equacionar certos problemas
muito especficos relacionados teoria de traduo e ao complexo desenvolvimento
da literatura hebraica (EVEN-ZOHAR, 1990, p. 1) tambm partiu de uma concepo
sistmica da literatura, mas inspirada na segunda fase do formalismo russo, quando
Yuri Tynianov procurou dotar o modelo de perspectiva histrica e levar em conta as
realidades sociais. Para Even-Zohar, um sistema sociossemitico pode ser concebido
como uma estrutura aberta e heterognea que se configura como um polissistema, ou
seja, um sistema mltiplo composto de vrias redes simultneas de relaes, um
conglomerado de sistemas interdependentes estratificados hierarquicamente em
funo das relaes intra- e inter-sistmicas dos seus elementos (EVEN-ZOHAR,
1990, p. 12 et seq.; GENTZLER, 1993, p. 115).
A abordagem para o estudo das tradues literrias proposta pelo grupo de
tericos do qual fazia parte Andr Lefevere, a partir da concepo de Even-Zohar da
literatura como um polissistema inserido em outro maior, o da cultura, indentificavase como descritivista e se desenvolveu na segunda metade dos anos 1970.
Inicialmente apresentada em trs encontros acadmicos realizados, respectivamente,
em Leuven (1976), em Tel-Aviv (1978) e em Anturpia (1980), cujos trabalhos
vieram a ser publicados mas com circulao restrita, essa abordagem alcanou maior
visibilidade com a publicao, em 1985, da coletnea de ensaios organizada por Theo
Hermans e intitulada The Manipulation of Literature (Croom Helm). O termo
manipulation (manipulao) no ttulo foi sugesto de Andr Lefevere, para ressaltar a
convico dos autores de que, do ponto de vista do sistema receptor, toda traduo
implica um certo grau de manipulao do texto-fonte, com um determinado objetivo
(HERMANS, 1985, p. 9). Na Introduo, a que deu o ttulo de Translation Studies
and a New Paradigm, Hermans frisa que os autores ali reunidos no formam
propriamente uma escola, mas constituem um grupo de pessoas que compartilham
alguns pressupostos bsicos, embora esses no constituam, de forma alguma, uma
questo de doutrina (ibid., p. 10). As afinidades que os unem so, em sntese:
uma viso da literatura como um sistema dinmico e complexo; a
convico de que deve haver uma interao permanente entre modelos
tericos e estudos de caso; uma abordagem da traduo literria de carter
descritivo e voltada para o texto-meta, alm de funcional e sistmica; e um
interesse nas normas e coeres que governam a produo e a recepo de
tradues, na relao entre a traduo e outros tipos de reescritura e no
lugar e funo da literatura traduzida tanto num determinado sistema
literrio quanto na interao entre literaturas. (HERMANS, 1985, p. 10-11)
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
62
Na sua contribuio para a coletnea 2, Andr Lefevere j discute o conceito de
traduo como reescrita, que ser retomado mais adiante neste trabalho.
O ento novo paradigma mais conhecido hoje como os Descriptive
Translation Studies, ou simplesmente DTS, por se referir ao ramo descritivo dos
estudos da traduo puros (os quais se opem aos aplicados), segundo o mapa
da disciplina proposto por James Holmes em seu texto seminal The Name and
Nature of Translation Studies (1988)3. No entanto, durante um perodo aps a
publicao da coletnea The Manipulation of Literature, tambm foi denominado
Manipulation group ou Manipulation school. No prefcio comum s publicaes
da srie Translation Studies da Routledge, que lanou vrios ttulos nos anos 1990 e
depois foi interrompida, Lefevere e Susan Bassnett, que assinam o texto, associam
traduo a manipulao quando afirmam que a traduo uma reescrita de um texto
original, e que, como toda reescrita, independentemente da inteno com que foi
produzida, reflete uma ideologia e uma potica, manipulando assim a literatura para
funcionar na sociedade de uma certa maneira. Segundo os autores,
(re)escrita manipulao, realizada a servio do poder, e em seu aspecto
positivo pode ajudar no desenvolvimento de uma literatura e de uma
sociedade. As reescritas podem introduzir novos conceitos, novos gneros,
novos recursos, e a histria da traduo tambm a histria da inovao
literria, do poder formador de uma cultura sobre outra. Mas a reescrita
tambm pode reprimir a inovao, distorcer e controlar, e em uma poca
de crescente manipulao de todos os tipos, o estudo dos processos de
manipulao da literatura, exemplificado pela traduo, pode nos ajudar a
adquirir maior conscincia a respeito do mundo em que vivemos.
(LEFEVERE, 1992, p. vii)
Os integrantes do ento chamado Manipulation group, em sua maioria
egressos da rea da literatura comparada, propunham-se a retomar o estudo da
traduo literria, sob uma perspectiva no normativa, em uma reao s abordagens
tipicamente prescritivas que predominavam desde os primrdios dos estudos de
traduo. Embora considerando que a lingustica poderia ser muito til para o estudo
de textos no-literrios, acreditavam que a orientao formalizadora da disciplina
exclua do seu campo de atuao a linguagem literria, considerada fora dos
padres, logo, inacessvel anlise cientfica (SNELL-HORNBY, 1988, p. 1). No
texto de apresentao da coletnea mencionada, intitulado Translation Studies and a
New Paradigm, Theo Hermans faz as seguintes consideraes:
A lingustica sem dvida aumentou nossa compreenso da traduo no que
diz respeito ao tratamento de textos no marcados e no literrios. Mas na
medida em que a disciplina mostrou-se restrita demais para ser til aos
estudos literrios em geral haja vista as tentativas frenticas observadas
nos ltimos anos de se construir uma lingustica textual e incapaz de
lidar com as inmeras complexidades das obras literrias, ficou evidente
que ela tambm no poderia fornecer uma base adequada para o estudo das
tradues literrias. (1985, p. 10)
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
63
O grupo de estudiosos em questo tambm buscou transcender as fronteiras do
sistema da langue saussuriana, ampliando o campo de trabalho da traduo de modo a
incorporar a cultura, num movimento descrito como a virada cultural. Houve,
assim, um deslocamento do foco das pesquisas, que deixaram de se voltar para
hipotticas tradues ideais fundadas em juzos de valor e passaram a se concentrar
em questes analticas daqueles textos que, mesmo imperfeitos ou sujeitos a
crticas, circulam como tradues numa determinada sociedade (cf. GENTZLER,
1993, p. 73). Como descreve Milton (1993), as perguntas formuladas pelos adeptos do
novo paradigma
so diferentes das de quem estuda a traduzibilidade de um texto. Ele[s] no
perguntar[o]: Apreendeu o tradutor A a essncia do texto melhor do que o
tradutor B?, mas sim Quais so as foras literrias que produziram as
tradues A e B?; Qual a posio das tradues A e B dentro de sua
literatura?; e Qual a relao entre as tradues A e B? (p. 150)
O modelo descritivista, portanto, substitui a nfase em aspectos formais pela
considerao dos fatores extratextuais e da mediao do leitor na produo do sentido
de um texto. O sentido, anteriormente visto como encoberto, espera de um leitordecifrador, adquire a caracterstica da instabilidade, em virtude da condio mvel da
ambincia circundante. A traduo, por sua vez, concebida como uma atividade
orientada por normas culturais e histricas: a prpria escolha dos textos a serem
traduzidos, as decises interpretativas tomadas durante o processo tradutrio, e a
divulgao, a recepo e a avaliao das tradues so fatores consideravelmente
influenciados pelos distintos contextos socioculturais.
Andr Lefevere parte da teoria dos sistemas, como os demais descritivistas,
mas tambm se abastece no ps-estruturalismo francs, em especial Michel Foucault,
na sociologia da literatura e em Siegfried Schmidt (terico da cincia emprica da
literatura). Compartilha das idias de Even-Zohar e Toury, que priorizam o referencial
do polo receptor, concebendo a traduo como um sistema interagindo com vrios
outros sistemas semiticos deste polo e como uma fora modeladora de sua literatura
(VIEIRA, 1996, p. 138), mas acrescenta-lhes novas dimenses, das quais a mais
destacada a de poder. Lefevere adota o conceito de (poli)sistema como um construto
heurstico para o estudo das reescritas e expande o construto terico de sistema, que
passa a designar um conjunto de elementos interrelacionados que por acaso
compartilham certas caractersticas que os distinguem de outros elementos no
pertencentes ao sistema (VIEIRA, 1996, p. 143).]
Lefevere enfatiza o papel dos agentes de continuidade cultural, do contexto
receptor na transformao de textos e criao de imagens de autores e culturas
estrangeiras, bem como o da traduo na criao de cnones literrios (VIEIRA,
1996, p. 138). Em outras palavras, explicita no s a dimenso das estruturas de poder
a chamada patronagem, que ser abordada mais adiante como tambm a relao
de interdependncia e influncia recproca entre as tradues e as culturas receptoras.
Entre os pressupostos de sua reflexo, destaca-se o conceito de traduo
como reescrita, que se refere ao resultado de uma complexa articulao do sistema
literrio com outras prticas institucionalizadas e outras formaes discursivas
(religiosas, tnicas, cientficas) (LEFEVERE e BASSNETT, 1990, p. 13). Na
Introduo coletnea de artigos Translation, History and Culture, por eles
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
64
organizada, Lefevere e Susan Bassnett afirmam que a traduo uma das muitas
formas sob as quais as obras de literatura so reescritas (1990, p. 10), incluindo-se
entre as outras formas as resenhas, a crtica, a historiografia literria, as antologias e
as transposies para outros sistemas semiticos, como, por exemplo, o cinema, a
televiso e o teatro. As reescritas, portanto, produzem novos textos a partir de outros
j existentes, garantindo, assim, a sobrevivncia das obras literrias, e contribuem
para construir a imagem de um autor e/ou de uma obra literria (ibid., p. 10).
Em seu texto Translation: Its Genealogy in the West (1990) o estudioso
fornece um abrangente relato do papel das tradues, assim resumido por Else Vieira
(1996):
Dentre os seus papis, a traduo preenche uma necessidade, pois o
pblico ter acesso ao texto; permite a expanso de uma lngua; confere
autoridade a uma lngua; introduz novos recursos na literatura receptora;
pode constituir uma ameaa identidade de uma cultura; pode ser usada
como meio de subverso de autoridade; pode exercer um papel
importante na luta entre ideologias rivais ou poticas rivais; pode conferir
uma certa imunidade na medida em que os ataques potica dominante
podem passar como tradues; pode conferir a autoridade inerente a uma
lngua de autoridade a um texto originalmente escrito em outra lngua que
no a tem; por um efeito cumulativo, a traduo estabelece um cnone
translingstico e transcultural. (p. 146)
Para o terico, o sistema literrio e o sistema social influenciam-se
reciprocamente e operam sob um mecanismo de controle constitudo por dois fatores,
sendo um interno e o outro externo ao sistema literrio. O fator interno trabalha de
acordo com os parmetros estabelecidos pelo segundo fator, e representado por
intrpretes, crticos, professores de literatura e tradutores enfim, por reescritores
em geral. A ao do mecanismo de controle interno (ou seja, dos agentes de reescrita)
pode ser no sentido tanto de reprimir certas obras que contrariam as concepes de
literatura (potica) e de mundo (ideologia) predominantes numa dada sociedade, num
dado momento, quanto de adaptar as obras literrias de modo a faz-las corresponder
potica e ideologia da sua poca (LEFEVERE, 1985, p. 226).
O segundo fator de controle percebido por Lefevere, que opera basicamente
fora do sistema literrio, a mencionada patronagem, termo que designa os poderes
(pessoas, instituies) que auxiliam ou impedem a escrita, a leitura e a reescrita da
literatura (LEFEVERE, 1985, p. 227). De modo geral, a patronagem se interessa
mais pela ideologia da literatura do que pela sua potica, deixando esta por conta dos
reescritores aos quais delega autoridade. A estrutura de poder consiste em trs
elementos, que interagem de vrias formas: o componente ideolgico (papel de
qualquer tipo de censura, por exemplo), o econmico (papel do mecenato, dos reis, de
agncias governamentais) e o de prestgio, ou status (a aceitao da patronagem
sinal de integrao a uma elite, por exemplo) (ibid., p. 227). A patronagem pode ser
exercida por pessoas isoladamente, coletividades, editores e a mdia, que normalmente
atuam atravs de instituies que regulam a escrita e a disseminao da literatura:
academias, rgos de censura, suplementos de crtica e o sistema educacional. Alm
disso, ela pode ser diferenciada ou no-diferenciada.
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
65
A patronagem diferenciada quando o sucesso econmico relativamente
independente de fatores ideolgicos e nem sempre vem acompanhado de status
literrio, como podem atestar muitos autores de best-sellers contemporneos
(LEFEVERE, 1992, p. 17). O segundo caso ocorre quando os trs componentes da
patronagem o ideolgico, o econmico e o de status so dispensados pelo
mesmo patrono, que pode ser um estado totalitrio ou um monarca (muito comum no
passado). Em sistemas com patronagem no-diferenciada, os esforos dos patronos
sero basicamente voltados para a manuteno da estabilidade do sistema social (i.e.,
cultural) como um todo, e a produo literria aceita e promovida por esse sistema
tambm dever contribuir para tal fim (outras correntes sero vistas como
dissidentes) (1992, p. 17). A aceitao da patronagem implica que autores e
reescritores devem trabalhar dentro dos parmetros estabelecidos por seus patronos e
devem procurar legitimar tanto o status como o poder destes, o que pode ser feito, por
exemplo, por meio de odes e panegricos (ibid., p. 18).
Lefevere refletiu bastante sobre a patronagem, desvelando minuciosamente
seus mecanismos de funcionamento e possveis impactos sobre os sistemas literrios
e, consequentemente, sobre os sistemas sociais que os abrigam. Para ele, o leitor
contemporneo exposto literatura como esta foi (ou ) reescrita por leitores
profissionais, em resumos, antologias, histrias literrias, dentre outros gneros, de
acordo com diferentes injunes de ordem potica e poltico-ideolgica.
O trabalho de Lefevere desde meados da dcada de 1980 at seu falecimento,
no incio de 1996, foi marcado pela preocupao de descrever a articulao do sistema
de reescritas com as estruturas de poder e os agentes de continuidade em uma cultura.
Com isso, introduziu mais um elemento de extrema importncia, que o poltico.
Suas ideias com respeito interao da traduo com a cultura e suas estruturas de
poder so fundamentais para se entender o papel das editoras e das instituies que,
atravs de incentivo e patrocnio, interferem nas decises editoriais e na
implementao de polticas culturais.
Lawrence Venuti e a teoria da invisibilidade do tradutor
No prefcio coletnea Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity,
Ideology (1992), por ele organizada, e em especial no livro The Translators
Invisibility: A History of Translation (1995, segunda edio em 2008), um divisor de
guas no pensamento contemporneo sobre a traduo, o tradutor e terico norteamericano Lawrence Venuti preocupa-se em denunciar a atual situao de
invisibilidade do tradutor nas culturas britnica e norte-americana. No captulo
intitulado Invisibility, o autor afirma que o objetivo do livro tornar o tradutor
mais visvel, de modo a combater e mudar as condies sob as quais a traduo
teorizada, estudada e praticada hoje, particularmente em pases de lngua inglesa
(2008, p. 13). A ideia da invisibilidade diz respeito a pelo menos dois fenmenos que
se determinam mutuamente: (i) um efeito de transparncia no prprio discurso, fruto
da manipulao da lngua de traduo feita pelo tradutor, levando os leitores a
encararem a traduo de um texto estrangeiro como se este houvesse sido
originalmente escrito na lngua-meta; e (ii) o critrio segundo o qual as tradues so
produzidas e avaliadas, o que faz com que uma traduo seja considerada boa quando
sua leitura fluente, quando a ausncia de peculiaridades lingusticas ou estilsticas a
faz parecer transparente, dando a impresso de refletir a personalidade ou a inteno
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
66
do autor estrangeiro ou a essncia do sentido do texto de partida em outras
palavras, dando a impresso de no ser de fato uma traduo mas, sim, o prprio
original (2008, p. 2). O efeito de transparncia camufla as numerosas condies sob
as quais a traduo produzida, a comear pela interveno crucial do tradutor.
Quanto mais fluente a traduo, mais invisvel se torna o tradutor e, como lcito
supor, mais visvel o autor do texto estrangeiro ou o significado deste (p. 1). Para
Venuti, um texto (traduzido) fluente aquele que apresenta caractersticas como
sintaxe linear, sentido unvoco (ou ambiguidade controlada) e linguagem atual, que
emprega no caso das culturas britnica e norte-americana o ingls padro e
evita polissemia, arcasmos, grias, jarges, mudanas abruptas de tom ou dico e
outras solues que chamem a ateno para a materialidade da lngua, para a
opacidade das palavras.
Venuti argumenta que a invisibilidade do tradutor,
portanto, em parte um efeito estranho de sua manipulao da lngua, um
auto-aniquilamento que resulta do prprio ato da traduo como ele
concebido e praticado hoje [...]. Entretanto, os tradutores no podem seno
se opor a esta invisibilidade, no apenas porque ela constitui uma
mistificao de todo o projeto da traduo, mas tambm porque ela parece
estar relacionada ao baixo status ainda atribudo ao seu trabalho. (1995, p.
111-112)
O terico atribui essa marginalidade da traduo e dos tradutores, invisveis
em duas frentes, uma textual, ou esttica, e a outra, socioeconmica, a uma concepo
de autoria essencialmente romntica: A hierarquia de prticas culturais que coloca a
traduo em ltimo lugar fundamentada na teoria romntica e projeta uma
metafsica platnica do texto, distinguindo entre a cpia autorizada e o simulacro que
se desvia do autor (VENUTI, 1992, p. 3). A estratgia de fluncia que ele tanto
critica e que, a seu ver, predomina no sistema cultural anglo-americano busca apagar a
interveno do tradutor no texto traduzido e anula a diferena lingustica e cultural do
texto estrangeiro. Este reescrito no discurso transparente que predomina na cultura
receptora e revestido de valores, crenas e representaes sociais dessa cultura. No
processo de reescrita, a busca da fluncia realiza um trabalho de aculturao que
domestica o texto estrangeiro, tornando-o inteligvel (no sentido de acessvel,
familiar) para o leitor do texto traduzido, propiciando-lhe a experincia narcisista de
reconhecer a sua prpria cultura em um Outro cultural, em uma atitude imperialista
(cf. VENUTI, 1992, p. 5). Para contrapor-se a ela, Venuti prope o recurso da
fidelidade abusiva, que implica uma rejeio da fluncia que domina a traduo
contempornea em prol de uma estratgia oposta, de resistncia, que impede o efeito
ilusionista de transparncia no texto traduzido e torna visvel o trabalho do tradutor,
que tem funo poltica e cultural, e ajuda a preservar a diferena lingustica e cultural
do texto estrangeiro ao produzir tradues estranhas, pouco familiares, que demarcam
os limites dos valores dominantes na cultura da lngua-meta e que evitam que esses
valores promovam uma domesticao imperialista do Outro (cf. VENUTI, 1992, p.
12-13).
Na sua discusso a respeito da invisibilidade, Venuti retoma os dois tipos de
estratgia tradutria delineados por Friedrich Schleiermacher na clebre conferncia
ber die verschiedenen Methoden des bersetzens [Sobre os diferentes mtodos de
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
67
traduo], de 1813. Segundo Schleiermacher, o verdadeiro tradutor, aquele que
realmente pretende levar ao encontro essas duas pessoas to separadas, seu autor e seu
leitor (2001, p. 43), pode tomar dois caminhos: ou deixa o autor em paz e leva o
leitor at ele; ou deixa o leitor em paz e leva o autor at ele (ibid., p. 43). Em seu
texto, o pensador alemo faz referncia ao primeiro e ao segundo mtodo, sem
atribuir-lhes uma designao, e defende o primeiro, que promove o distanciamento
entre leitor da traduo e autor do original, como o mais adequado para a traduo.
Para ele, o segundo mtodo, de aproximao, no exige nenhum empenho e esforo
de seu leitor [e] por magia lhe transfere o autor estrangeiro para seu presente imediato
e [...] quer lhe mostrar a obra assim como ela seria, se o autor mesmo a tivesse escrito
originalmente na lngua do leitor (ibid., p. 63). Quase dois sculos depois, em um
contexto de hegemonia cultural anglo-americana que traz, entre outras consequncias,
uma baixa demanda de tradues de literatura ficcional para a lngua inglesa, Venuti
acrescenta um componente ideolgico aos dois mtodos de Schleiermacher e os
denomina estrangeirizao (o mtodo de distanciamento, que leva o leitor da traduo
at o autor do original), e domesticao (o que aproxima o autor do original do leitor
da traduo por meio da estratgia de fluncia, descrita no incio desta seo). 4 Assim
como Schleiermacher, Venuti tambm preconiza o mtodo de distanciamento, mas
por motivos polticos, ao recomendar seu emprego como forma de resistir ao
predomnio das estratgias domesticadoras na cultura tradutria de lngua inglesa.
Para ele, a domesticao envolve uma reduo etnocntrica do texto estrangeiro aos
valores da cultura receptora (2008, p. 15), produzindo tradues estilisticamente
transparentes, fluentes e invisveis, com o objetivo de minimizar o carter
estrangeiro do texto traduzido (MUNDAY, 2001, p. 146). A estrangeirizao, por sua
vez, impe uma presso etnodesviante sobre tais valores [da cultura receptora] para
registrar as diferenas lingusticas e culturais do texto estrangeiro (VENUTI, 2008,
p. 15). A adoo desse mtodo leva seleo de textos estrangeiros e de estratgias
tradutrias normalmente excludas pelos valores culturais dominantes na lngua de
traduo (VENUTI, 1998, p. 242), combatendo, assim, a ideologia domesticadora do
mundo anglfono. Por isso mesmo Venuti tambm se refere ao mtodo
estrangeirizante como uma estratgia de resistncia, por ser um estilo de traduo
que foge fluncia e cria distanciamento, com vistas a tornar visvel a presena do
tradutor ao ressaltar a identidade estrangeira do texto-fonte e resguard-la da
dominao ideolgica da cultura receptora. Como relatado em Pessoa (2009, p. 27),
essa estratgia prope, na prtica, a produo de um texto que se desvie, em termos
formais, das normas literrias anglo-americanas. Assim, preciso recorrer a variaes
da forma lingustica mais familiar, do dialeto padro ou das formas coloquiais mais
comuns, tanto em termos de lxico como de sintaxe, para deixar o leitor ciente de que
est lendo uma obra traduzida.
Para Venuti,
[o] estrangeiro, na traduo estrangeirizadora, no uma representao
transparente de uma essncia que reside no texto estrangeiro e que tenha
valor em si, mas uma construo estratgica cujo valor depende da
situao em vigor na cultura receptora. A traduo estrangeirizadora
mostra as diferenas do texto estrangeiro, porm somente por meio da
ruptura dos cdigos culturais que prevalecem na cultura-alvo. No empenho
de fazer o que prprio cultura de partida, essa prtica tradutria deve
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
68
fazer o que imprprio cultura de chegada, desviando-se o suficiente das
normas para apresentar uma experincia de leitura estranha escolhendo
para traduzir um texto estrangeiro excludo pelos cnones literrios da
cultura receptora, por exemplo, ou usando um discurso marginal para
traduzi-lo. (2008, p. 15-16)5
Trs anos depois de The Translators Invisibility Venuti lana The Scandals of
Translation: Towards an Ethics of Difference (Routledge, 1998)6, em que retoma e
aprofunda as reflexes desenvolvidas em seu livro anterior, com base em estudos de
caso detalhados, reiterando a defesa de uma prtica estrangeirizadora, de resistncia,
de modo a cultivar um discurso variado e heterogneo, e explicitando seu projeto de
traduo minorizante. Utilizando-se de conceitos e reflexes de autores como JeanJacques Lecercle, Gilles Deleuze e Felix Guattari, como resduo e
desterritorializao, Venuti justifica sua atrao pelas literaturas menores em seus
projetos de traduo, dizendo que prefere traduzir textos estrangeiros que apresentam
status de minoridade em suas culturas, uma posio marginal em seus cnones
nativos ou que, em traduo, possam ser teis na minorizao do dialeto-padro e
das formas culturais dominantes no ingls americano (2002, p. 26). No entanto, faz
questo de frisar que essa preferncia provm parcialmente de uma agenda poltica de
oposio hegemonia global do ingls, uma vez que a ascendncia econmica e
poltica dos Estados Unidos reduziu as lnguas e as culturas estrangeiras a minorias
em relao sua prpria lngua e cultura (ibid., p. 26). Para ele, [a] boa traduo a
minorizao: libera o resduo ao cultivar o discurso heterogneo, abrindo o dialetopadro e os cnones literrios para aquilo que estrangeiro para eles mesmos, para o
subpadro e para o marginal (ibid., p. 28).7 Descreve o objetivo da traduo
minorizante como sendo nunca erguer um novo padro ou estabelecer um novo
cnone, mas, ao contrrio, promover inovao cultural (ibid., p. 27). Pode-se dizer,
ento, que nesse aspecto Venuti se distancia de Schleiermacher, na medida em que a
estratgia de estranhamento preconizada pelo terico alemo visava o enriquecimento
da lngua e da literatura alems, enquanto que a prtica estrangeirizadora e o projeto
minorizante do norte-americano tm como objetivo abalar o domnio global do ingls.
Um outro aspecto importante de The Scandals of Translation, anunciado no
prprio ttulo, a nfase dada a questes e situaes relacionadas traduo
classificadas pelo autor como escndalos, que podem ser de natureza cultural,
econmica e poltica. Diz o autor que [a] pressuposio inicial deste livro talvez o
maior escndalo da traduo: assimetrias, injustias, relaes de dominao e
dependncia existem em cada ato de traduo, em cada ato de colocar o traduzido a
servio da cultura tradutora (2002, p. 15). A traduo, ele aponta, estigmatizada
como uma forma de escrita, desencorajada pela lei dos direitos autorais, depreciada
pela academia, explorada pelas editoras e empresas, organizaes governamentais e
religiosas (ibid., p. 10). Mas, a seu ver, a maior fonte potencial de escndalo
relacionado traduo a formao de identidades culturais, visto que a traduo
exerce um poder enorme na construo de representaes de culturas estrangeiras
(ibid., p. 130), representaes essas que espelham valores estticos da cultura de
recepo. Como argumenta no captulo 4, intitulado A formao de identidades
culturais, a seleo de textos para traduo por parte da cultura receptora
desistoriciza a obra estrangeira, ao destac-la das tradies literrias que lhes
conferem importncia, e a reescreve de acordo com estilos e temas que, num dado
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
69
momento, prevalecem na cultura receptora (ibid., p. 130). Alm disso, ressalta que os
padres tradutrios podem fixar esteretipos e formar atitudes domsticas com
relao a culturas estrangeiras, excluindo valores, debates e conflitos que no
estejam a servio de agendas domsticas e estigmatizando ou valorizando etnias,
raas e nacionalidades especficas. Tais atitudes podem gerar respeito pela diferena
cultural ou averso baseada no etnocentrismo, racismo ou patriotismo (ibid., p. 130).
No entanto, para o terico, ao mesmo tempo que tem esse poder de transportar
atitudes ideolgicas, a traduo pode ser usada como uma ferramenta de resistncia ao
apagamento de diferenas culturais, sendo que o seu estudo pode ser uma forma de
revelar essas atitudes e de incentivar que se use o processo tradutrio para desafiar
posturas hegemnicas diante da sociedade e da cultura. Essa funo de resistncia,
que decorre de uma tica da diferena, pode ser colocada em prtica por meio de
projetos tradutrios que consigam alterar a reproduo das ideologias e instituies
domsticas dominantes que proporcionam uma representao parcial das culturas
estrangeiras e marginalizam outras comunidades domsticas (VENUTI, 2002, p.
158). Esse tipo de projeto, segundo Venuti, leva o tradutor a distanciar-se das normas
culturais domsticas que governam o processo tradutrio de formao de identidades
bem como das prticas institucionais que sustentam essas normas, chamando ateno
para o que elas permitem e limitam, admitem e excluem no encontro com os textos
estrangeiros (ibid., p. 158).
H que se observar que a estratgia de estrangeirizao tem sido objeto de
crticas, em relao tanto ao aspecto formal quanto ao ideolgico. Com respeito ao
primeiro, o mtodo defendido por Venuti muitas vezes interpretado como a defesa
de um texto truncado, pouco artstico, facilmente classificvel como uma m
traduo. No entanto, em The Scandals of Translation o terico tem o cuidado de
ressaltar que
[u]m projeto tradutrio pode se distanciar das normas domsticas a fim de
evidenciar a estrangeiridade do texto estrangeiro e criar um pblico-leitor
mais aberto a diferenas lingusticas e culturais, mas sem ter que recorrer a
experincias estilsticas que so to alienadoras a ponto de causarem o
prprio fracasso. O fator-chave a ambivalncia do tradutor em relao s
normas domsticas e s prticas institucionais nas quais elas so
implementadas, uma relutncia em identificar-se completamente com elas
aliada a uma determinao em dirigir-se a comunidades culturais diversas,
elitizadas e populares. (2002, p. 166)
Em relao ao aspecto ideolgico, as crticas formuladas tm como alvo a
convocao feita aos tradutores para opor resistncia hegemonia do ingls. Do ponto
de vista de naes e lnguas no-hegemnicas, tradicionalmente consumidoras de
tradues, uma excessiva abertura ao estrangeiro pode levar a uma descaracterizao
do que nacional, peculiar cultura receptora, e a uma decorrente perda de
identidade. 8
Consideraes finais
O objetivo deste artigo foi apresentar, em linhas gerais, o pensamento de dois
expoentes dos Estudos da Traduo contemporneos. Os conceitos de reescrita e
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
70
patronagem de Andr Lefevere e a preocupao com a invisibilidade do tradutor de
Lawrence Venuti, bem como o seu projeto de traduo minorizante, formulados
originalmente nas ltimas dcadas do sculo XX e, no caso do terico norteamericano, posteriormente aprofundados e atualizados, continuam sendo
extremamente influentes no campo dos estudos sobre a traduo. Embora os dois
estudiosos trilhem caminhos tericos bem distintos, compartilham alguns
pressupostos importantes, como, por exemplo, uma viso ps-estruturalista de mundo
de linguagem; a existncia de uma estreita interao entre a traduo e as prticas
econmicas, os sistemas de patronagem e as foras atuantes no desenvolvimento da
indstria editorial; e a crena de que o texto traduzido tambm tende a ser
sobredeterminado por vrias ideologias, estticas e polticas. Em um momento no qual
em parte devido influncia dos estudos culturais tende-se a valorizar as
teorizaes engajadas, as ideias de Lefevere e sobretudo de Venuti mostram-se
sintonizadas com essa expectativa.
Marcia Amaral Peixoto Martins
PUC-Rio
Traduo minha, assim como as demais citaes extradas de originais em ingls sem indicao de
tradutor.
2
Why Waste Our Time On Rewrites?: The Trouble With Interpretation and the Role of Rewriting in
an Alternative Paradigm (p. 215-242).
3
O texto reproduz um trabalho apresentado em 1972, subrea de traduo do III Congresso
Internacional de Lingustica Aplicada, realizado em Copenhague.
4
No captulo intitulado Nation de The Translators Invisibility (1995), Venuti faz uma anlise
detalhada das ideias de Schleiermacher.
5
Trad. de Mariluce F. C. Pessoa (PESSOA, 2009, p. 27).
6
A traduo brasileira foi publicada em 2002, pela Editora da Universidade do Sagrado Corao
(Bauru, SP).
7
Para um estudo detalhado desse projeto, apresentado em VENUTI, 2002, p. 30-45, ver CASTRO,
2007, cap. 6, p. 91-103.
8
Para uma anlise aprofundada da teoria da invisibilidade de Venuti, ver FROTA, M. P. A
singularidade na escrita tradutora. Campinas: So Paulo, 2000. Captulo II: Lawrence Venuti e a
teoria da (in)visibilidade do tradutor, p. 71-136.
Referncias Bibliogrficas
BASSNETT (Mc-GUIRE), S. Translation Studies. Second Edition. London/New York: Routledge,
1991.
BASSNETT, S.; LEFEVERE, A. (Orgs.). Translation, History and Culture. London: Pinter, 1990.
CARVALHAL, T. F. Literatura comparada. Srie Princpios. So Paulo: tica, 1986.
CASTRO, M. de S. Traduo, tica e subverso: desafios prticos e tericos. Rio de Janeiro, 2007.
Dissertao (Mestrado em Letras Estudos da Linguagem). Programa de Ps-Graduao em Letras,
Departamento de Letras, PUC-Rio. Disponvel em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/
DELISLE, J.; WOODSWORTH, J. (Orgs.). Tradutores na histria. Trad. Srgio Bath. So Paulo:
tica, 1998.
EVEN-ZOHAR, I. Polysystem Studies: Introduction; The Position of Translated Literature in the
Literary Polysystem. Poetics Today, v. 1, n. 1, 1997 [1990]. Disponvel em
http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/books/ez-pss1990.pdf, acesso em 25/05/2010.
GENTZLER, Edwin. Contemporary Translation Theories. London/New York: Routledge, 1993.
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
71
HERMANS, T. Translation Studies and a New Paradigm. In: ______ (Org.) The Manipulation of
Literature. London: Croom Helm, 1985. p. 7-15.
_______. Translation in Systems. Descriptive and System-oriented Approaches Explained (Series:
Translation Theories Explained 7). Manchester: St. Jerome, 1999.
HOLMES, J. S. The Name and Nature of Translation Studies. In: ______. Translated! Papers on
Literary Translation and Translation Studies (Approaches to Translation Studies 7). Amsterdam:
Rodopi, 1988, p. 66-80.
LEFEVERE, A. Why waste our time on rewrites? The trouble of interpretation and the role of rewriting
in an alternative paradigm. In: HERMANS, Theo (Ed.) The manipulation of literature: Studies in
literary translation. London: Croom Helm, 1985. p. 215-243.
______. Translation: Its Genealogy in the West. In: BASSNETT, Susan; LEFEVERE, Andr (Eds.)
Translation, History and Culture. London: Pinter, 1990. p. 14-28.
______; BASSNETT, S. Prousts Grandmother and the Thousand and One Nights. The Cultural Turn
in Translation Studies. In: BASSNETT, Susan; LEFEVERE, Andr (Eds.) Translation, History and
Culture. London: Pinter, 1990. p. 1-13.
______. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York:
Routledge, 1992.
MILTON, J. O poder da traduo. So Paulo: Ars Poetica, 1993.
PESSOA, M. F. C. O paratexto e a visibilidade do tradutor. Rio de Janeiro, 2009. Dissertao
(Mestrado em Letras Estudos da Linguagem). Programa de Ps-Graduao em Letras, Departamento
de Letras, PUC-Rio. Disponvel em http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/
SCHLEIERMACHER, F. Sobre os diferentes mtodos de traduo. Trad. Margarete von Mhlen Poll.
In: HEIDERMANN, W. (Org.). Clssicos da teoria da Traduo: antologia bilnge, v. I, alemoportugus. Florianpolis: UFSC, Ncleo de Traduo, 2001. p. 26-87.
SNELL-HORNBY, M. Translation Studies - An Integrated Approach. Amsterdam/Philadelphia: John
Benjamins, 1988.
______. The Turns in Translation Studies. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2006.
VENUTI, L. Introduction. In: ______ (Org.). Rethinking Translation: Discourse, Subjectivity,
Ideology. London/New York: Routledge, 1992. p. 1-17.
______. A invisibilidade do tradutor. Trad. Carolina Alfaro. PaLavra 3, p. 111-134, 1995. Traduo de
The Translators Invisibility. Criticism, Wayne State UP, v. XXVIII, n. 2, p. 179-212, Spring 1986.
______. Strategies of Translation. In: BAKER, Mona (Ed.) Routledge Encyclopaedia of Translation
Studies. London/New York: Routledge, 1998, p. 240-244.
______. Escndalos da traduo: por uma tica da diferena. Trad. Laureano Pelegrin, Lucinia
Marcelino Villela, Marileide Dias Esqueda e Valria Biondo. Bauru: EDUSC, 2002.
______. The Translator's Invisibility: A History of Translation. London/New York: Routledge, 2008
(1a. edio em 1995).
VIEIRA, E. R. P. Andr Lefevere: a teoria das refraes e da traduo como reescrita. In: ______
(Org.) Teorizando e contextualizando a traduo. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG,
Curso de Ps-Graduao em Estudos Lingusticos, 1996. p. 138-150.
Resumo
Este artigo apresenta, em linhas gerais, o pensamento de dois expoentes dos Estudos da
Traduo contemporneos: Andr Lefevere e Lawrence Venuti. Enfocam-se com especial
destaque os conceitos de reescrita e patronagem de Lefevere e a preocupao com a
invisibilidade do tradutor e o projeto de traduo minorizante de Venuti. Embora os dois
estudiosos trilhem caminhos tericos distintos, compartilham alguns pressupostos
importantes, como uma viso ps-estruturalista de mundo e de linguagem e a percepo de
que existe uma estreita interao entre a traduo e as prticas econmicas, os sistemas de
patronagem e as foras atuantes no desenvolvimento da indstria editorial.
Palavras-chave: Teorias de traduo, reescrita, patronagem, invisibilidade, Andr Lefevere,
Lawrence Venuti.
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
72
Abstract
This article outlines the ideas of two major theoreticians of contemporary Translation Studies:
Andr Lefevere and Lawrence Venuti. Special emphasis is given to the notions of rewriting
and patronage developed by Lefevere, and to Venutis concern with the translators
invisibility, together with his project of minoritizing translation. Although these two scholars
follow distinct theoretical paths, they share some key assumptions, such as a post-structuralist
view of the world and of language, as well as the perception that there is a close connection
between translation and economic practices, patronage systems and the forces active upon the
development of the book industry.
Keywords: Theories of translation, rewriting, patronage, invisibility, Andr Lefevere,
Lawrence Venuti.
Cadernos de Letras (UFRJ) n.27 dez. 2010
http://www.letras.ufrj.br/anglo_germanicas/cadernos/numeros/122010/textos/cl301220100marcia.pdf
Você também pode gostar
- Gestao Financeira MP 22 07 PDFDocumento194 páginasGestao Financeira MP 22 07 PDFPonteio Construção e Reforma100% (1)
- A invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoNo EverandA invisibilidade do tradutor: Uma história da traduçãoAinda não há avaliações
- Livro - Impactos Ambientais e Recuperacao de Areas Degradadas PDFDocumento166 páginasLivro - Impactos Ambientais e Recuperacao de Areas Degradadas PDFSirleide s RodriguesAinda não há avaliações
- Livro de Estudos Da Tradução II 2009Documento96 páginasLivro de Estudos Da Tradução II 2009Pauline Desirrê Braga100% (1)
- Virgínia Woolf o Leitor ComumDocumento86 páginasVirgínia Woolf o Leitor ComumkavaisintegroAinda não há avaliações
- Candido A - A Literatura e A Formação Do HomemDocumento10 páginasCandido A - A Literatura e A Formação Do HomemRhuana LimaAinda não há avaliações
- 2 - GURPS Horror PDFDocumento134 páginas2 - GURPS Horror PDFIvanDias100% (3)
- REIS, Carlos, PIRES, Maria Da Natividade - Almeida Garrett e A Fundação Do Romantismo Português PDFDocumento48 páginasREIS, Carlos, PIRES, Maria Da Natividade - Almeida Garrett e A Fundação Do Romantismo Português PDFJana PaimAinda não há avaliações
- Como animar uma oficina literária: orientações para professores de Escrita CriativaNo EverandComo animar uma oficina literária: orientações para professores de Escrita CriativaAinda não há avaliações
- Décio Pignatari - Semiótica e Literatura-Ateliê Editorial (2004)Documento196 páginasDécio Pignatari - Semiótica e Literatura-Ateliê Editorial (2004)Demétrio Rocha Pereira100% (1)
- António José Saraiva, A Cultura em PortugalDocumento10 páginasAntónio José Saraiva, A Cultura em PortugalRicardo CostaAinda não há avaliações
- Compensação Da TraduçãoDocumento137 páginasCompensação Da TraduçãoDominique FariaAinda não há avaliações
- Octavio PazDocumento18 páginasOctavio PazSimone Burgues100% (1)
- Projeto Clube Do LivroDocumento1 páginaProjeto Clube Do LivroMaria Rita OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha BakhtinDocumento6 páginasResenha BakhtinMaria Jose da SilvaAinda não há avaliações
- Tendencias Atuais Da Pesquisa em LaDocumento14 páginasTendencias Atuais Da Pesquisa em LaValdilene Santos Rodrigues VieiraAinda não há avaliações
- A pista & a razão: Uma história fragmentária da narrativa policialNo EverandA pista & a razão: Uma história fragmentária da narrativa policialAinda não há avaliações
- MANUAL PARA APLICAÇÃO DO EB2-NIW (Capítulo 5 - Grau Avançado Ou Habilidade Excepcional - USCIS)Documento18 páginasMANUAL PARA APLICAÇÃO DO EB2-NIW (Capítulo 5 - Grau Avançado Ou Habilidade Excepcional - USCIS)buenoalvesprojetosAinda não há avaliações
- Variacoes Sobre o Romance PDFDocumento350 páginasVariacoes Sobre o Romance PDFYasmin LimaAinda não há avaliações
- Resenha de "A Tradução e A Letra Ou o Albergue Do Longínquo", de Antoine BermanDocumento6 páginasResenha de "A Tradução e A Letra Ou o Albergue Do Longínquo", de Antoine BermanBernardo PereiraAinda não há avaliações
- Questões de Português FGV (Auditor Fiscal)Documento42 páginasQuestões de Português FGV (Auditor Fiscal)rennysants258100% (1)
- O esquecido de si, Dante Milano: Rastros de uma poética do esquecimentoNo EverandO esquecido de si, Dante Milano: Rastros de uma poética do esquecimentoAinda não há avaliações
- Edwin Gentzler, DesconstruçãoDocumento26 páginasEdwin Gentzler, DesconstruçãoBack Becket100% (3)
- Mercado Dos Fatores ProdutivosDocumento16 páginasMercado Dos Fatores ProdutivosJeremias S. Tomás100% (1)
- ECO - Dizer Quase A Mesma CoisaDocumento19 páginasECO - Dizer Quase A Mesma CoisaHadassa Praciano Matos100% (1)
- Tradução Etnocêntrica e Tradução Hipertextual - Antoine BermanDocumento14 páginasTradução Etnocêntrica e Tradução Hipertextual - Antoine Bermangiulisboa100% (1)
- Atividade Geografia 9 AnoDocumento2 páginasAtividade Geografia 9 Anocesaroid100% (1)
- Antoine BermanDocumento14 páginasAntoine BermanWilliam Campos da Cruz0% (1)
- Holmes O Nome E Anatureza Da TraduçãoDocumento20 páginasHolmes O Nome E Anatureza Da TraduçãoGabriel100% (1)
- O Que É Tradução - CAMPOS, GeirDocumento63 páginasO Que É Tradução - CAMPOS, GeirCláudia Machado Ribeiro100% (8)
- Dissertação de André Teles Sobre Miró Da MuribecaDocumento131 páginasDissertação de André Teles Sobre Miró Da MuribecaWilberthSalgueiroAinda não há avaliações
- Deleuze Proust e Os SignosDocumento144 páginasDeleuze Proust e Os SignosTatiane AlmeidaAinda não há avaliações
- Revista Terceira Margem - Dossie Kafka - Jul-Dez 2013Documento338 páginasRevista Terceira Margem - Dossie Kafka - Jul-Dez 2013dbvel100% (2)
- Guia para Revisores de TextoDocumento124 páginasGuia para Revisores de Textojestergirl100% (1)
- Tese - Benedito NunesDocumento370 páginasTese - Benedito NunesJh Skeika100% (1)
- Os Lusíadas em Quadrinhos - Fido Nesti e Os Recursos Da Adaptação PDFDocumento69 páginasOs Lusíadas em Quadrinhos - Fido Nesti e Os Recursos Da Adaptação PDFCida100% (1)
- A Competencia Tradutoria - Anthony PymDocumento32 páginasA Competencia Tradutoria - Anthony PymDiana SorgatoAinda não há avaliações
- Aquisição de Segunda Língua - de Uma Perspectiva Linguística A Uma Perspectiva SocialDocumento8 páginasAquisição de Segunda Língua - de Uma Perspectiva Linguística A Uma Perspectiva SocialJanne MarjanAinda não há avaliações
- Literatura Comparada - Eduardo CoutinhoDocumento8 páginasLiteratura Comparada - Eduardo CoutinhoLeonardo ChagasAinda não há avaliações
- Literatura ComparadaDocumento68 páginasLiteratura ComparadaJildonei LazzarettiAinda não há avaliações
- Preconceito LinguísticoDocumento8 páginasPreconceito LinguísticoEMILLY DE ALMEIDA QUEIROZ100% (1)
- Marcadores Discursivos e Efeitos de SentidoDocumento15 páginasMarcadores Discursivos e Efeitos de SentidoMaurício de CarvalhoAinda não há avaliações
- MATEUSetal GramaticaPortuguesa PDFDocumento556 páginasMATEUSetal GramaticaPortuguesa PDFRicardo Campos CastroAinda não há avaliações
- WEEDWOOD B Historia Concisa Da Linguistica Traduca PDFDocumento8 páginasWEEDWOOD B Historia Concisa Da Linguistica Traduca PDFAquiles Tescari NetoAinda não há avaliações
- Slide SemanticaDocumento9 páginasSlide SemanticaSÉRGIO VENTURAAinda não há avaliações
- Critica Literaria - Aula 01Documento16 páginasCritica Literaria - Aula 01Rosa Do Sertão100% (1)
- PAZ Octavio Traducao Literatura e LiterariedadeDocumento8 páginasPAZ Octavio Traducao Literatura e LiterariedadeybériasAinda não há avaliações
- Fonetica Beatriz RaposoDocumento9 páginasFonetica Beatriz RaposoPedro PiascentiniAinda não há avaliações
- Análise - Metáfora - Lavoura Arcaica PDFDocumento125 páginasAnálise - Metáfora - Lavoura Arcaica PDFemanoelpmgAinda não há avaliações
- Plano de Curso Literatura e Identidade Cultural Marcos Souza e Nerivaldo Araujo 2020 (Salvo Automaticamente)Documento3 páginasPlano de Curso Literatura e Identidade Cultural Marcos Souza e Nerivaldo Araujo 2020 (Salvo Automaticamente)Markson Barreto100% (1)
- Tesedoutcontopopular 000074266Documento467 páginasTesedoutcontopopular 000074266asarmentopantojaAinda não há avaliações
- FEHÉR, F. O Romance Está MorrendoDocumento12 páginasFEHÉR, F. O Romance Está MorrendoNicole DiasAinda não há avaliações
- Actu SanguineuDocumento56 páginasActu SanguineuliteraturafricanaAinda não há avaliações
- Antibiografia - Rsumo e ApendiceDocumento5 páginasAntibiografia - Rsumo e ApendiceMirela ConceiçãoAinda não há avaliações
- O Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarDocumento18 páginasO Epílogo de O Guarani e Os Caminhos Do Romance de AlencarPaulo de Toledo100% (1)
- Ebook Auto AvaliacaoDocumento55 páginasEbook Auto AvaliacaoSimone BurguesAinda não há avaliações
- 3) ExtensãoDocumento14 páginas3) ExtensãoSimone BurguesAinda não há avaliações
- 2.º Texto Munanga O Negro Brasil e História Dos Reinos AfricanosDocumento38 páginas2.º Texto Munanga O Negro Brasil e História Dos Reinos AfricanosSimone BurguesAinda não há avaliações
- Cópia de Resumos 2 Frequência - DMRDocumento89 páginasCópia de Resumos 2 Frequência - DMRHelen AlvesAinda não há avaliações
- FEPECS 2008 1diaDocumento26 páginasFEPECS 2008 1diaMatheus Alves100% (1)
- A Invisibilidade Social No Texto Aquela Mulher No Livro Eles Eram Muitos CavalosDocumento9 páginasA Invisibilidade Social No Texto Aquela Mulher No Livro Eles Eram Muitos CavalosIrlene FeketeAinda não há avaliações
- Atividade III Unidade 2021.1 - Cronograma - 19-10-2012Documento36 páginasAtividade III Unidade 2021.1 - Cronograma - 19-10-2012Odete Rocha da SilvaAinda não há avaliações
- Trade SecretsDocumento54 páginasTrade SecretsAlexa MAinda não há avaliações
- Transformações Politicas Ocorridas Após A Primeira Guerra MundialDocumento5 páginasTransformações Politicas Ocorridas Após A Primeira Guerra Mundialiuli stefAinda não há avaliações
- Conceitos de Geografia AgráriaDocumento7 páginasConceitos de Geografia AgráriaVitor Vieira Vasconcelos100% (1)
- Resumo - Educar para A SustentabilidadeDocumento6 páginasResumo - Educar para A SustentabilidadeAndressa IunesAinda não há avaliações
- Atividade ContextualizadaDocumento2 páginasAtividade ContextualizadaYnara Mayanne BiscoitinhoAinda não há avaliações
- Livro Atividades AmbientaisDocumento60 páginasLivro Atividades Ambientaisana claraAinda não há avaliações
- Unidade 8 - Exercícios (Net)Documento5 páginasUnidade 8 - Exercícios (Net)Dinis PinheiroAinda não há avaliações
- Fundamentos Ss Aula 1Documento31 páginasFundamentos Ss Aula 1Seth GibsonAinda não há avaliações
- Enade PDFDocumento40 páginasEnade PDFCristina Ramos E SilvaAinda não há avaliações
- Conhecimentos Bancarios Final 1539442542 WC Order 5bc2063268536Documento428 páginasConhecimentos Bancarios Final 1539442542 WC Order 5bc2063268536Camila SantanaAinda não há avaliações
- APOSTILA ORG. 3º GeografiaDocumento29 páginasAPOSTILA ORG. 3º Geografiahelomed.silmarAinda não há avaliações
- As Características Da Moral Ético São Aspectos Principais Que Moldam A Agir Humano Apesar de Alguns Destes Não Serem Conhecidos Pelo Próprio HomemDocumento15 páginasAs Características Da Moral Ético São Aspectos Principais Que Moldam A Agir Humano Apesar de Alguns Destes Não Serem Conhecidos Pelo Próprio HomemWilton marioAinda não há avaliações
- LAINS, Pedro - Tese Da Dependencia RevisitadaDocumento39 páginasLAINS, Pedro - Tese Da Dependencia RevisitadaCarlos CarretoAinda não há avaliações
- Resenha A Empresa VivaDocumento2 páginasResenha A Empresa VivaLuann Moraes0% (1)
- 03 Mercado Concorrencial e Poder de MercadoDocumento41 páginas03 Mercado Concorrencial e Poder de MercadoJaqueline DamascenoAinda não há avaliações
- Deficit Habitacional 1995Documento348 páginasDeficit Habitacional 1995Natalia Sá BrittoAinda não há avaliações
- Aula 02 - Economia-Micro e MacroeconomiaDocumento16 páginasAula 02 - Economia-Micro e Macroeconomiatc1107Ainda não há avaliações
- Atividade 1.1 MTR 0353 FM 2021.1peresDocumento4 páginasAtividade 1.1 MTR 0353 FM 2021.1peresBruna BorcemAinda não há avaliações
- Um Estudo Sobre Salas Multisseriadas - PPT CarregarDocumento22 páginasUm Estudo Sobre Salas Multisseriadas - PPT Carregarles_parolesAinda não há avaliações