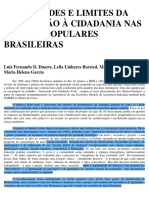Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Laclau em PT
Laclau em PT
Enviado por
paulamarialadel0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações10 páginasLaclau Em PT
Título original
Laclau Em PT
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoLaclau Em PT
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
4 visualizações10 páginasLaclau em PT
Laclau em PT
Enviado por
paulamarialadelLaclau Em PT
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 10
OS NOVOS MOVIMENTOS SOCIAIS
E A PLURALIDADE DO SOCIAL
Ernesto Laclau
O objetivo desta nossa reunio tentarmos trazer alguns esclarecimentos sobre
os novos movimentos sociais na Amrica Latina. Nossas preocupaes tm origem nos
vrios debates contemporneos, onde se busca uma determinao das dimenses e
formas radicalmente novas assumidas pelo conflito social, nas ltimas dcadas. Minha
contribuio para este debate no tem por objetivo nenhuma anlise descrita dos
movimentos como um todo, nem de nenhum deles em particular isto trabalho para
os especialistas mais competentes do que eu neste campo especfico. Ao invs disso,
procurarei expor algumas premissas tericas, que possibilitem pensar o novo e o
especfico dentro destas novas formas de luta e resistncia.
A primeira questo ao se lidar com os novos movimentos sociais a seguinte:
sob que aspectos so eles "novos"? Em nossa tentativa de resposta, relacionaremos este
carter de mudana, acima de tudo, com a forma pela qual as novas lutas ocasionam
uma crise de um paradigma tradicional das Cincias Sociais, referente ao tipo de
unidade que caracteriza os agentes sociais e s formas assumidas pelo conflito entre
eles. As conceituaes tradicionais de conflitos sociais tm sido tipificadas atravs de
trs caractersticas principais: a determinao da identidade dos agentes era feita atravs
de categorias pertencentes estrutura social; o tipo de conflito era determinado em
termos de um paradigma diacrnico-evolucionrio; e a pluralidade de espaos do
conflito social era reduzida, na medida em que os conflitos se politizavam, a um espao
poltico unificado, onde a presena dos agentes era concebida como uma "representao
de interesses". A primeira caracterstica relaciona a rea de emergncia de qualquer
conflito com a unidade emprico-referencial do grupo: as lutas so classificadas de lutas
"camponesas", "burguesas", "pequeno-burguesas" etc. Assim sendo, cada uma dessas
categorias designa, simultaneamente, o agente social como referente e um princpio,
assumido a priori, de unidade entre as vrias posies do agente. A segunda
caracterstica determina o significado de cada luta em termos de um esquema
evolucionrio, teleolgico, atravs do qual aquele significado torna-se "objetivo": no
depende da conscientizao dos agentes e sim, de um movimento subjacente da Histria
a transio da sociedade tradicional para a sociedade de massas, de acordo com
algumas conceituaes; ou a transio do feudalismo para o capitalismo, segundo outras
etc. O terceiro aspecto representa uma conseqncia inevitvel dos dois primeiros: na
sociedade fechada, postulada pelas dimenses sincrnica e diacrnica do paradigma sob
anlise, a esfera poltica um "nvel" preciso do social; se a identidade dos agentes
sociais, ento, for constituda a um nvel diverso por exemplo, o econmico a
presena dos mesmos ao nvel poltico somente pode assumir a forma de uma
representao de interesses. O que caracteriza os novos movimentos sociais, ento,
que, atravs deles, rompeu-se a unidade destes trs aspectos do paradigma. Por um lado,
torna-se cada vez mais impossvel identificar o grupo, concebido como referente, com
um sistema ordenado e coerente de "posies de sujeitos". Vejamos o exemplo do
trabalhador ou trabalhadora. Ser que h alguma relao estvel entre sua posio nas
relaes de produo e sua posio como consumidor(a), habitante de uma rea
especfica, participante de um sistema poltico etc.? Evidentemente, a relao entre estas
diferentes posies est longe de ser bvia e permanente; ao contrrio, ela constitui o
resultado de construes polticas complexas, baseadas na totalidade das relaes
sociais, e que no podem decorrer unilateralmente das relaes de produo. No sculo
XIX, a prioridade das relaes de produo era devida longa jornada de trabalho nas
fbricas e o acesso limitado dos trabalhadores aos bens de consumo e a uma
participao social geral, como resultado dos baixos salrios A transformao destas
condies no sculo XX, todavia, enfraqueceu os laos entre as vrias identidades do
trabalhador ou trabalhadora, enquanto produtor(a), consumidor(a), agente poltico etc.
Os resultados tm sido dois: por um lado, as posies do agente social tornaram-se
autnomas e essa autonomia que est na base da especificidade dos novos
movimentos sociais ; mas, por outro lado, o tipo de articulao existente entre estas
diferentes posies torna-se, continuamente, cada vez mais indeterminado. De qualquer
forma, elas no podem ser automaticamente derivadas da unidade do grupo como
referente. As categorias de "classe trabalhadora", "pequeno-burgus", etc., adquirem um
significado cada vez mais reduzido como forma de entendimento da identidade global
dos agentes sociais. O conceito de "lutas de classes", por exemplo, no correto nem
incorreto ele , simplesmente, totalmente insuficiente para descrever os conflitos
sociais contemporneos.
Em segundo lugar, este colapso da unidade sincrnica entre as diferentes
posies do agente ocasionou uma crise na teoria diacrnica de "estgios": assim, da
mesma forma que uma determinada posio de sujeito no exemplo acima, a posio
nas relaes de produo no fornece automaticamente nenhuma determinao
necessria das outras posies, torna-se impossvel relacionar cada posio individual
com uma sucesso racional e necessria de estgios. Logo de incio, o marxismo teve de
lidar com os fenmenos designados como "desenvolvimento desigual e combinado",
com a coexistncia crescente de "elementos" que a prtica poltica deveria articular no
presente e os quais, teoricamente, deveriam ter aparecido em fases sucessivas do
desenvolvimento. Deforma semelhante, as assim chamadas teorias de "modernizao"
foram rapidamente foradas a reconhecer a inutilidade, do ponto de vista da anlise
poltica, em se atribuir cada aspecto da realidade social e econmica aos estgios
sucessivos de sociedade "tradicional" e "moderna", tendo em vista a variedade de
combinaes heterodoxas destas duas classificaes, resultantes dos fenmenos de
dependncia econmica e social.
Por ltimo, se a identidade dos agentes sociais no mais concebida como
constituda num nico nvel da sociedade, a presena desses agentes em outros "nveis"
tambm no pode mais ser concebida como uma "representao de interesses". O
modelo de "representao de interesses" perde assim sua validade. Porm, pela mesma
razo, o poltico deixa de ser um nvel do social, tornando-se uma dimenso presente,
em maior ou menor escala, ao longo de toda a prtica social. O poltico uma das
formas possveis de existncia social veremos adiante qual delas. Os novos
movimentos sociais tm sido caracterizados por uma crescente politizao da vida
social (lembrem-se do slogan feminista: "o fator pessoal fator poltico"); mas tambm
precisamente esse ponto que fez ruir a viso do poltico como um espao fechado e
homogneo.
Neste ponto, poderia surgir a questo: no seria verdade que esta pluralidade do
social e esta proliferao de espaos polticos por trs dos novos movimentos sociais
so basicamente tpicos das sociedades industriais avanadas, ao passo que a realidade
social do Terceiro Mundo, com seu nvel menor de diferenciao, pode ainda ser
apreendida em termos das categorias mais clssicas de anlises sociolgicas e de
classes? A resposta que, alm deste "nvel menor de diferenciao" ser um mito, as
sociedades do Terceiro Mundo nunca puderam ser entendidas em termos de uma anlise
rgida de classes. Basta nos referirmos ao eurocentrismo, no qual a "universalizao" da
referida anlise se baseou. Este via as categorias emergindo de distines entre os
modos de produo, entre as classes sociais ou sendo, categorias que haviam sido
concebidas como formas de se apreender a experincia europia como constantes de
qualquer possvel sociedade. Partindo deste ponto, a anlise sociolgica seguiu um
curso muito simples: tudo dependia de uma estratgia de reconhecimento, onde a forma
em si pela qual as perguntas eram feitas j pressuponha metade da resposta. Uma
pergunta do tipo: "qual a estrutura de classes do setor agrrio do pas X ou Z?"
pressupe o que pretende demonstrar, ou seja, que as divises entre os agentes sociais
deveriam ser tratadas como divises de classes. Da mesma forma, as questes sobre a
localizao precisa do Estado capitalista no mbito de uma determinada formao social
so freqentemente tratadas como se aquela entidade o Estado capitalista extrasse
todas as suas determinaes essenciais de um nvel ontologicamente diferente do nvel
onde suas variaes historicamente contingentes so constitudas. Um processo similar
de reduo essencialista est na base de perguntas do tipo: "Qual o aspecto assumido
pela transio do feudalismo para o capitalismo naquele pas?"; ou "A revoluo
daquele ano foi `a' revoluo burguesa democrtica?".
Deveramos tentar evitar este tipo de universalismo eurocntrico. Para tanto,
devemos, inicialmente, retornar um pouco e considerar as entidades do tipo "classes",
"nveis" do social etc., enquanto complexos, resultantes da articulao contingente de
entidades menores. Precisamos determinar o status terico destas entidades e a
especificidade daquela conexo articulatria existente entre elas, lao ao qual j nos
referimos, sem, contudo, fornecer um conceito terico adequado para o mesmo.
Posies de sujeitos, articulao, hegemonia (1)
Um dos avanos fundamentais nas Cincias Sociais, nestes ltimos anos, foi
representado pela ruptura com a categoria de "sujeito", enquanto unidade racional e
transparente que transmitisse um significado homogneo para o campo total da conduta
do indivduo, sendo a fonte de suas aes. A psicanlise demonstra que, longe de se
organizar em torno da transparncia de um ego, a personalidade se estrutura em vrios
nveis, fora da conscientizao e da racionalidade dos agentes. Logo em seus
primrdios, o marxismo foi forado a reconhecer a assimetria fundamental entre a
conscientizao efetiva dos agentes e a que deveria ter correspondido a eles, de acordo
com seus interesses histricos embora a reao marxista a esta descoberta, ao invs
de conduzir a uma crtica do racionalismo implcito na noo de "interesses", tivesse
sido, pelo contrrio, uma reafirmao destes ltimos, atravs da distino "em si/para
si".
Esta remoo da centralidade do sujeito nas Cincias Sociais contemporneas
acarretou uma inverso da noo clssica de subjetividade. Ao invs de encarar o sujeito
como uma fonte que forneceria um significado ao mundo, vemos cada posio de.
sujeito ocupando locais diferentes no interior de uma.estrutura. A esta estrutura ou
conjunto de posies diferenciais, damos o nome de discurso. No h nenhuma relao
prvia necessria entre os discursos que formam o trabalhador, por exemplo, enquanto
militante ou agente tcnico no local de trabalho, e os discursos que determinam sua
atitude com relao poltica, violncia racial, ao sexismo e outras esferas nas quais o
agente seja ativo. Torna-se, portanto, impossvel falar-se do agente social como se
estivssemos lidando com uma entidade unificada e homognea. Ao invs, devemos
abordar o agente social como uma pluralidade, dependente das vrias posies de
sujeito, atravs das quais o indivduo constitudo, no mbito de vrias formaes
discursivas. Isto nos fornece uma chave terica para entendermos a peculiaridade dos
novos movimentos sociais: a caracterstica central deles, por razes que discutiremos
adiante, que um conjunto de posies de sujeito a nvel de local de residncia,
aparatos institucionais, vrias formas de subordinao cultural, racial e sexual,
tornaram-se pontos de conflito e mobilizao poltica. A proliferao destas novas
formas de luta resulta da crescente autonomizao das esferas sociais nas sociedades
contemporneas, autonomizao essa sobre a qual somente se pode obter uma noo
terica de todas as suas implicaes, se partirmos da noo do sujeito como um agente
descentralizado, destotalizado.
Neste ponto, deveramos indicar o status terico que pode ser atribudo a estas
unidades de anlise a que denominamos "posies de sujeito" Elas certamente nos
garantem o instrumental para pensarmos o carter especfico de vrias situaes que
fugiram aos limites da anlise sociolgica clssica. Assim, por exemplo, elas nos
permitem ver que uma categoria corno a "classe trabalhadora" da experincia europia
resultou de uma articulao entre algumas posies especficas de sujeitos, ao nvel das
relaes de produo, e outras posies a um nvel separado, as quais, no obstante, se
organizaram ao redor de um eixo central constitudo pelo anterior. A explicao para
este fato reside nos fatores histricos particulares ligados ao carter especfico de cada
situao. Em outros contextos histricos, as posies do nvel das relaes de produo
iro se articular com as outras de formas diferentes, sem que seja
possvel a priori garantir a centralidade de nenhuma delas. Um problema, porm,
permanece insolvel: o que que garante a separao entre as diferentes posies de
sujeito. A resposta : nada nenhuma delas imune ao das outras. A diferenciao
relaciona-se, certamente, com a impossibilidade de se estabelecer uma conexo
necessria eprvia entre elas; mas isto no significa a inexistncia de esforos
constantes para estabelecer entre elas conexes variveis e historicamente contingentes.
A este tipo de conexo, estabelecendo entre vrias posies uma relao contingente e
sem predeterminao, que chamamos de articulao. No h nenhuma ligao
necessria entre o racismo e a militncia por parte de trabalhadores brancos. Todavia,
em diferentes momentos, haver discursos que tentaro fornecer uma articulao entre
os dois, a partir de pontos de partida politicamente opostos os imigrantes podero ser
descritos como estrangeiros que chegam para roubar os empregos dos cidados brancos,
ou, ento, o racismo poder ser descrito como uma ideologia que tenta fomentar
sentimentos de xenofobia, no interesse dos capitalistas. Toda posio de sujeito assim
organizada no mbito de uma estrutura discursiva essencialmente instvel, j que est
sujeita a prticas articulatrias as quais, de pontos diferentes de partida, a subvertem e a
transformam. Se a conexo entre o anti-racismo e o movimento de militncia dos
trabalhadores atingisse o ponto onde cada um implicasse necessariamente no outro, eles
teriam ambos se tornado parte de mesma formao discursiva e no representariam
mais, portanto, posies diferentes de sujeito, mas, sim, momentos diferenciais de uma
posio unificada de sujeito. Neste caso, no haveria espao para nenhuma prtica
articulatria. Como no isto o que ocorre, j que a realidade social nunca atinge tal
ponto de fechamento, as posies de sujeito sempre denotam um certo grau de abertura
e ambigidade (em termos tcnicos, elas sempre mantm, em alguma medida, o carter
de "significantes flutuantes").
Este ltimo ponto decisivo:
no h nenhuma posio de sujeito cujas conexes com as outras
posies possam ser permanentemente asseguradas; e, por conseqncia, no
h nenhuma identidade social integralmente adquirida que no esteja sujeita,
em maior ou menor escala, ao de prticas articulatrias.
A ascenso Europa do fascismo na Ocidental, ao fim da Primeira Guerra, pode
ser vista como um vasto processo de rearticulao, que transformou profundamente as
identidades sociais e fascinou analistas polticos com persuases ideolgicas totalmente
diversas, pois fez ruir a confiana na permanncia, atribuda, pela concepo dominante
de progresso, s articulaes bsicas do Estado liberal. De forma semelhante, a anlise
dos novos movimentos sociais contemporneos no deve permitir que caiamos na iluso
de que eles sejam necessariamente progressistas. Se eles abrem o potencial para o
progresso no sentido de uma sociedade mais livre, mais democrtica e igualitria,
claro que h somente um potencial. A efetivao desse potencial depender em larga
escala das formas de articulao definidas entre as diversas exigncias democrticas. A
absoro de parte destas exigncias pelos projetos populistas neoconservadores (por
exemplo, Reagan, Thatcher) um exemplo bvio demais e deveria servir como
advertncia.
A anlise feita at agora mostra-nos um duplo movimento com sinais opostos.
Por um lado, h uma tendncia no sentido de autonomia, da parte de posies separadas
de sujeito; de outro lado, existe a tendncia oposta em fix-las, atravs de prticas
articulatrias, como momentos de uma estrutura discursiva unificada. Surge ento a
pergunta inevitvel: "estes dois momentos so contraditrios?". Nossa resposta s pode
ser afirmativa: levados a extremos, a lgica da autonomia e a lgica da articulao so
contraditrias. No obstante, no h contradio em nossa posio terica, j que no h
inconsistncia em se afirmar que o social construdo pela limitao parcial dos efeitos
de lgicas contraditrias. Deveramos enfatizar as implicaes desta afirmao. Seria
uma premissa essencialista supor-se que toda incompatibilidade ou contradio sociais
pudessem ser reduzidas a um momento na operao de uma lgica subjacente, que
restaurasse integralmente a positividade do social como no caso da "astcia da razo"
de Hegel precisamente a rejeio desta noo racionalista do social que nos leva a ver
sua pluralidade e instabilidade o que se demonstra, entre outros fatores, pela
possibilidade de contradio como construtivas e fundamentais. Em outras palavras, o
social, em ltima instncia, no tem fundamento. As formas de racionalidade que ele
apresenta so somente aquelas resultantes das conexes contingentes e precrias
estabelecidas pelas prticas articulatrias. A "Sociedade", portanto, enquanto entidade
racional e inteligvel, torna-se impossvel. O social no pode nunca ser inteiramente
constitudo como positividade.
Agora, entre os fatores que se unem para subverter a positividade do social, h
um de importncia primordial: a presena do antagonismo. Quando prticas
articulatrias operam num campo sucessivamente cruzado por projetos articulatrios
antagonistas, ns as denominamos prticas hegemnicas. O conceito de hegemonia
supe o conceito de antagonismo, sobre o qual iremos agora nos concentrar.
Antagonismo e a multiplicao dos espaos polticos
O antagonismo envolve a presena da negatividade no social. Vejamos um
exemplo de discurso poltico que busca criar a diviso do espao social em dois campos
antagnicos: "os conservadores, os liberais e os social-democratas representam a mesma
coisa frente aos interesses da classe trabalhadora". Este discurso subverte a positividade
do social em suas dimenses estreitamente ligadas Inicialmente, a positividade do social
negada, na medida em que o sistema de diferenas, no qual ele se baseia sofre uma
subverso conservadores, liberais e social-democratas como entidades
positivas, diferindo uma das outras, so subvertidas pelo discurso em questo, quando
cada uma destas positividades apresentada como equivalente s outras. Em outras
palavras, sob uma certa perspectiva, eles so todos a mesma coisa. Todavia, ocorre a
subverso da positividade num segundo sentido. Se olharmos mais atentamente,
veremos que a relao de oposio aos interesses da classe trabalhadora que
possibilita a equivalncia de todas estas instncias. Agora, esta relao de oposio no
a coexistncia diferencial e positiva entre duas entidades, mas o fato de uma delas ser
puramente o inverso negativo da outra. A diviso do espao poltico em dois campos
impede a ambos de serem constitudos atravs de determinao, diferena e
positividade, j que a identidade de cada um definida como negao da outra. E assim,
portanto, os momentos diferenciais internos de cada campo so apresentados como uma
cadeia de equivalncia que constri a oposio no outro campo. Por isso
que o antagonismo impede que o social se torne uma "sociedade",ou seja, um sistema
estvel e conceitualmente entendvel de diferena.
Estamos, assim, dizendo que o social somente pode ser constitudo e concebido
como uma totalidade, atravs da expulso de um certo "excesso de significado" o
outro campo que construdo e representado como uma negatividade. Colocando a
questo de uma outra forma, diramos que uma certa ordem social somente pode ser
constituda com base numa fronteira que a separe do que seja radicalmente "o outro",
oposto a esta ordem. Vejamos dois exemplos diametralmente opostos, para estas lgicas
sociais opostas de equivalncia e diferena, de forma que possamos alcanar um
entendimento da natureza radical da mudana forjada no imaginrio poltico pela
ascenso dos novos movimentos sociais.
O primeiro caso o do militarismo. Aqui, a lgica da equivalncia permanece
imutvel. Todos os aspectos da cultura urbana diferenas em vestimentas, hbitos, at
mesmo a cor da pele so apresentados como a negao da cultura da comunidade
camponesa. Um tipo de comunidade radicalmente externo ao outro. Mas esta
exterioridade, em si, implica na afirmao, em primeiro lugar, de que h somente
um espao no qual os antagonismos so constitudos e, em segundo lugar, que este
espao, longe de exigir uma construo poltica complexa, representa um dado primrio
e fixo de experincia. Em outras palavras, a dimenso que definimos como hegemonia e
articulao fica ausente.
O segundo exemplo, diametralmente oposto, o das prticas e ideologias que
tm acompanhado o estabelecimento do Welfare State. Aqui, o foco central de
constituio do imaginrio social e poltico um horizonte estabelecendo a
possibilidade de uma integrao ilimitada. Toda exigncia pode (potencialmente) ser
satisfeita e, assim, ser considerada como uma diferena legtima no interior do sistema.
Aqui, a lgica da diferena expandida para um horizonte tendencialmente ilimitado. O
projeto a construo de uma sociedade sem fronteiras ou divises internas ("o fim da
ideologia", de Daniel Bell; o slogan conservador "uma nao"). Nos movimentos de
deslocamento desta fronteira poltica interna que devemos buscar as caractersticas
marcantes das lutas sociais contemporneas.
O conjunto da experincia histrica e dos discursos polticos na Europa do
sculo XIX foi dominado pelos deslocamentos e transformaes desta fronteira interna,
desta linha que constitui a negatividade social. No perodo 1789-1848, a linha divisora
foi traada pela oposio "povo/Antigos Regimes". O "povo" representava uma entidade
poderosa no interior do imaginrio poltico um "mito", conforme Sorel porque
organizava a massa de foras que se opunham ordem dominante, num vasto sistema
de equivalncias. Mesmo quando surgiu uma dificuldade crescente para se encarar
ambos os campos como meros supostos(se quando as fronteiras internas passaram a
exigir, em contrapartida, um esforo crescente de construo poltica, pode-se ainda
afirmar que, no geral, a linha separando os dois campos continuou a agir como moldura
estvel de significados, que possibilitaram a identificao dos agentes sociais e seus
antagonismos. Foi a partir do incio de ruptura desta moldura de significados estveis, e
quando a produtividade simblica do povo como agente de lutas histricas comeou a
falhar, que o marxismo tentou conceber a fronteira interna do social em termos de um
princpio divisor diverso: a diviso de classes. Agora, da maior importncia
entendermos que, para o marxismo, esta diviso, que se constitua na esfera econmica,
somente poderia se reproduzir sem alterao na esfera poltica num futuro distante,
quando o desenvolvimento capitalista houvesse simplificado a estrutura social e a luta
de classe houvesse atingido seu ponto culminante, com os capitalistas e proletrios
simplesmente pondo as cartas na mesa. A no evoluo do capitalismo nesse sentido,
bem como a complexidade crescente da estrutura de classes nas sociedades industriais
avanadas, tornaram a diviso de classes, enquanto princpio constitutivo de uma front
eira social interna, cada vez menos eficaz em seus efeitos e cada vez mais dependente
de formas contingentes de construo poltica. Definindo-se de outra forma, a partir
deste ponto, poltica sem articulao e hegemonia tornou-se impossvel.
A transio para esta nova forma de poltica implica numa mudana decisiva: a
transformao do papel do imaginrio poltico. Assim denominamos o conjunto de
significados que, no mbito de um determinado complexo ideolgico-discursivo,
operem como um horizonte, ou seja, como o m..mento de totalizaoequivalente de
vrias confrontaes e lutas parciais. Este horizonte est sempre presente, mas seu papel
na constituio dos significados polticos pode variar consideravelmente. Podemos
indicar duas situaes extremas. Na primeira, h uma desproporo radical entre a
situao efetiva de denominao e a possibilidade de combater a fora dominante e, a
este respeito, travar uma batalha eficaz de posio contra a mesma. Neste caso, o
conflito exclusivamente concebido e vivenciado num nvel imaginrio; a funo do
horizonte no permitir a totalizao de uma massa de confrontaes parciais mas, ao
contrrio, constituir o significado primrio das mesmas. Mas pela prpria razo desse
horizonte possuir essa funo constitutiva primria, o social somente pode ser
vivenciado e concebido como uma totalidade. No segundo caso, em contraste, cada luta
parcial atinge o objetivo de se constituir como uma batalha de posies e, assim sendo,
retira de si mesma, de seu carter nico e diferencial, o mundo de significados que
permitem a constituio de uma identidade social ou poltica: O momento de totalizao
ento puramente um horizonte e seu relacionamento com os antagonismos concretos
torna-se instvel e assume uma certa exterioridade.
Diante de tal perspectiva, podemos formular a distino entre as lutas sociais dos
sculos XIX e XX da seguinte forma. No sculo XIX, as lutas sociais no conduziram
tanto a uma proliferao de espaos polticos e a uma politizao de cada antagonismo
social, mas, ao invs disso, a construo de formas de permitir o acesso destes
antagonismos a um espao poltico relativamente unificado Neste sentido, houve
sempre uma distncia entre as reas de emergncia de antagonismos e a rea de
construo do poltico. Como resultado, a presena dessas reas de emergncia nessa
rea de construo tinha de assumir a forma de uma relao de representao. Os
momentos de crise no sistema poltico foram momentos em que os novos antagonismos
sociais entraram em choque direto com os espaos polticos tradicionais (1830, 1848,
1871); mas, em qualquer caso, estas crises sempre foram crises de um modelo total de
sociedade o que denominamos de imaginrio poltico unificado. Nas ltimas dcadas,
em contraste, a multiplicao de pontos de .ruptura que tm acompanhado a crescente
burocratizao da vida social e a "comodificao" das sociedades industriais avanadas
tm acarretado uma proliferao de antagonismos; mas cada um deles tende a criar seu
prprio espao e a politizar uma rea especfica de relaes sociais . Lutas feministas,
ecolgicas, contra as instituies e as lutas dos grupos marginais no assumem
geralmente a forma de antagonismos cuja politizao devesse conduzir representao
de cada um desses "interesses" numa esfera poltica diferente e pr-constituda. Ao
invs disso, elas conduzem a uma politizao direta do espao no qual cada uma delas
foi constituda. Isto somente significa que o momento de totalizao, a dimenso do
horizonte do imaginrio poltico, no mais constitudo como um "modelo total" da
sociedade, mas se restringe a certas exigncias e certas relaes sociais especficas. O
potencial radicalmente democrtico dos novos movimentos sociais reside precisamente
nisto em suas exigncias implcitas de uma viso indeterminada e radicalmente aberta
da sociedade, na medida em que cada arranjo social "global" representa somente o
resultado contingente de operaes de barganha entre uma pluralidade de espaos, e no
uma categoria bsica, a qual determinaria o significado e os limites de cada um destes
espaos.
Espaos polticos e movimentos sociais na Amrica Latina
Como devemos expandir as reflexes at aqui apresentadas para o processo de
formao das sociedades latino-americanas, para as formas especficas sob as quais o
poltico foi nelas construdo? J relacionamos a formao do imaginrio poltico com
uma assimetria bsica: com a distncia que impede a estabilizao de qualquer sistema
de diferenas na forma de uma totalidade completa e positiva, fechada em si mesma, e a
relao deste momento de encerramento com a dimenso totalizante de um horizonte,
instituindo a diviso social e o antagonismo Sob esta perspectiva, podemos afirmar que
o campo poltico na Amrica Latina foi construdo, no ltimo sculo, ao redor de duas
matrizes sucessivas, bsicas e totalizantes: liberalismo e populismo. Ambos parecem
estar sendo questionados pelos movimentos sociais dos ltimos vinte anos, o que aponta
no sentido de uma nova experincia de democracia. Concentraremos nossa anlise sobre
estas duas matrizes histricas, j que a crise de ambas coloca em relevo a especificidade
da nova situao.
O imaginrio poltico liberal concebia as sociedades latino-americanas como
sistemas de diferenas no sentido anteriormente indicado cuja expanso iria
progressivamente diminuir a distncia entre elas e as sociedades europias. A idia de
diminuio dessa distncia era a dimenso de horizonte, na base da constituio de
todos os significados polticos. Todas as reformas polticas, inovaes tcnicas,
transformaes econmicas seriam interpretadas luz da ideologia positivista de
progresso como um passo adiante, no sentido de um tipo de sociedade que existia
completa e explicitamente somente na Europa capitalista liberal. Sem esta referncia a
uma realidade externa s sociedades latino-americanas, a experincia poltica e social
destas ltimas ficaria sem sentido: esta a razo pela qual esta dimenso imaginria
tornou-se a chave fundamental e o momento totalizaste do total da experincia poltica.
A diviso social foi concebida como uma fronteira que reproduzia exatamente os termos
desta dimenso imaginria. Sarmiento e o restante do liberalismo latino-americano
j o havia dito: a diviso fundamental estava entre "civilizao" e "barbrie". Dois
sistemas simetricamente opostos de equivalncia dividiam o espao poltico em dois.
Este horizonte poltico se organizou em torno das seguintes dimenses:
1. a existncia de uma fronteira interna entre a nacionalidade de um mundo
poltico modelado na Europa e aquele "setor marginal" constitudo do atraso nativo da
realidade social latino-americana:
2. o momento de antagonismo foi fornecido pela existncia daquela fronteira
divisora o que estava alm dela no podia ser integrado como diferena, mas tinha de
ser dominado e destrudo;
3. o avano progressivo da "civilizao" acabaria por tomar o lugar daquele
mundo mais primitivo desta forma, o ideal de sociedades homogneas, onde a lgica
da diferena exerceria um controle indivisvel, poderia ser atingido.
Este ltimo ponto decisivo: o horizonte constitutivo do imaginrio liberal
encontrou seu ponto de encerramento em si, sua dimenso totalizante, numa futura
reduo do social a uma pura lgica de diferena e na ejeo da lgica de equivalncia
("as duas naes") da esfera poltica. Os movimentos de oposio que emergiram na
poca podiam ser localizados em um dos dois lados da fronteira poltica resultante da
hegemonia do discurso liberal. Ou este ltimo era totalmente rejeitado, e os movimentos
se apresentavam como contratotalidades como no caso do movimento de Canudos, no
Brasil ou eles eram construdos como antagonismos internos ao imaginrio liberal,
sem questionar a dicotomia "Civilizao/Barbrie" como no caso dos grupos
anarquistas e socialistas emergindo, geralmente organizados em torno de imigrantes
europeus, nos centros urbanos. O imaginrio liberal era assim um horizonte que
objetivava o fechamento do social, a constituio deste ltimo como "sociedade".
importante lembrarmos que o imaginrio populista teve incio a partir de uma aspirao
tOtalizante idntica. A dimenso imaginria do liberalismo deixou de ser produtiva
quando perdeu-se a esperana na possibilidade de sua expanso ilimitada, em sua
capacidade de expandir suas fronteiras e absorver todos os antagonismos no interior de
um sistema homogneo de diferenas. Quando esta dimenso capaz de expanso entrou
em crise, a funo da fronteira sofreu uma transformao: o que
eram fronteiras tornaram-se limites. O sistema liberal no era mais encarado como uma
ferramenta de progresso e homogeneizao social, mas como um simples sistema de
dominao. Esta a base a partir da qual o populismo emergiu como uma nova matriz
do imaginrio poltico. Duas caractersticas principais merecem ser comentadas.
Primeiramente, enquanto o ponto de fechamento do imaginrio liberal era um horizonte
fornecido por uma pura lgica de diferena, este horizonte, no caso do populismo, era
constitudo pela afirmao da diviso social e pela lgica da equivalncia. A dimenso
totalizante do social instituda atravs de oposies bsicas do tipo: "povo/oligarquia",
"nao/imperialismo" etc. Em segundo lugar, esta dimenso imaginria define pontos
cruciais em torno dos quais o novo horizonte poltico se organiza: o lder, as Foras
Armadas, ou o apelo do conhecimento tcnico e do desenvolvimento econmico. O
populismo, em outras palavras, permanece um discurso da totalidade do social, que
define uma fronteira entre as foras sociais cuja relao de equivalncia constitui o
campo popular e as outras foras sociais, simetricamente opostas, que representam o
campo de dominao.
O fato particularmente novo e marcante nos movimentos sociais que emergiram
na Amrica Latina durante os ltimos vinte anos que talvez pela primeira vez este
momento totalizante se encontre ausente ou, pelo menos, seriamente questionado. As
mobilizaes populares no mais se baseiam num modelo de sociedade total ou na
cristalizao, em termos de equivalncia de um nico conflito que divida a totalidade do
social em dois campos, mas numa pluralidade de exigncias concretas, conduzindo a
uma proliferao de espaos polticos. Esta a dimenso que, assim me parece, a mais
importante a ser esclarecida por ns, durante os debates: em que medida as novas
mobilizaes rompem com um imaginrio totalizante ou, ao contrrio, em que medida
elas permanecem aprisionadas nele? Este problema envolve uma questo de
fundamental importncia para o futuro da democracia na Amrica Latina: ser que a
experincia de abertura dos sistemas polticos, aps a crise das ditaduras, leva a uma
reproduo dos espaos polticos tradicionais, com base numa dicotomia que reduza
toda a prtica poltica a uma relao de representao? Ou ser que a radicalizao de
vrias lutas baseadas numa pluralidade de posies de sujeitos leva a uma proliferao
de espaos, reduzindo a distncia entre representante e representado?
Notas Biogrficas
1 - As consideraes tericas aqui apresentadas encontram-se desenvolvidas em: Laclau
& Mouffe. Hegemony and Socialist Strategy (1985).
Texto apresentado no workshop promovido pelo CEDLA (Centro de Documentao
Latino-Americano) de Amsterd, Holanda, em outubro de 1983, sob o ttulo "Novos
Movimentos-Sociais e Estado na Amrica Latina".
Publicado originalmente na revista do CEDLA, Latin American Studies, n 29,
organizado por David Slater.
Traduzido do ingls pela Tradutec, So Paulo.
Você também pode gostar
- A Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroNo EverandA Criminalização Político-ideológica da Esquerda: uma explicação crítica para o recente caso brasileiroAinda não há avaliações
- Fichamento - Problemas de Gênero PDFDocumento3 páginasFichamento - Problemas de Gênero PDFticoltecAinda não há avaliações
- A Lenda de Mulan: A Jornada Da Mulher e Do FemininoDocumento26 páginasA Lenda de Mulan: A Jornada Da Mulher e Do FemininoHerica RibeiroAinda não há avaliações
- 12 0 813 132Documento234 páginas12 0 813 132Amitaf AnigerAinda não há avaliações
- Pensadores Africanos e Da Diáspora: Negritude, Pan-Africanismo e Pós-ColonialismoDocumento14 páginasPensadores Africanos e Da Diáspora: Negritude, Pan-Africanismo e Pós-ColonialismoSilvinha CastroAinda não há avaliações
- Gênero e Diversidade Sexual: Teoria, Política e Educação em Perspectiva - ALVES, Douglas (Org.)Documento192 páginasGênero e Diversidade Sexual: Teoria, Política e Educação em Perspectiva - ALVES, Douglas (Org.)Douglas AlvesAinda não há avaliações
- Resumo Livro Serviço Social Na América LatinaDocumento3 páginasResumo Livro Serviço Social Na América LatinaEnoan Maroto100% (13)
- A Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social Brasil.Documento12 páginasA Influência Do Pensamento de Gramsci No Serviço Social Brasil.Izabel Saboya100% (1)
- Estudos CulturaisDocumento100 páginasEstudos CulturaisMônica GallonAinda não há avaliações
- Serviço Social: Resistência e emancipação?No EverandServiço Social: Resistência e emancipação?Ainda não há avaliações
- Sex ToyDocumento24 páginasSex ToyDiego LealAinda não há avaliações
- Estado e Capital: fundamentos teóricos para uma derivação do EstadoNo EverandEstado e Capital: fundamentos teóricos para uma derivação do EstadoAinda não há avaliações
- Constitucionalismo político e a ameaça do "mercado total"No EverandConstitucionalismo político e a ameaça do "mercado total"Ainda não há avaliações
- A Desigualdade e A Invisibilidade SocialDocumento10 páginasA Desigualdade e A Invisibilidade Socialjosefreitassud4574Ainda não há avaliações
- O Movimento Feminista No BrasilDocumento6 páginasO Movimento Feminista No BrasilJUAN FREITASAinda não há avaliações
- LACLAU, Ernesto. Os Novos Movimentos Sociais e A Pluralidade Do SocialDocumento9 páginasLACLAU, Ernesto. Os Novos Movimentos Sociais e A Pluralidade Do SocialDominique Romio SilvaAinda não há avaliações
- Os Novos Movimentos Sociais e A Pluralidade Do SocialDocumento7 páginasOs Novos Movimentos Sociais e A Pluralidade Do SocialJosé JúniorAinda não há avaliações
- Os Novos Movimentos SociaisDocumento14 páginasOs Novos Movimentos SociaisKleyton FreitasAinda não há avaliações
- Resenha de F. Weffort-O Populismo Na Política BrasileiraDocumento4 páginasResenha de F. Weffort-O Populismo Na Política BrasileiraFábio Wanderley Reis83% (6)
- Questão Social ContemporâneaDocumento16 páginasQuestão Social ContemporâneaJonas FreitasAinda não há avaliações
- A Democracia Como Valor Universal - Nelson CoutinhoDocumento14 páginasA Democracia Como Valor Universal - Nelson CoutinhoBeatrizAinda não há avaliações
- Populismo AtividadeDocumento5 páginasPopulismo AtividadeMaria Cristina UFPIAinda não há avaliações
- Resenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaDocumento4 páginasResenha Populismo y Transformación Del Imaginario Político em América LatinaLuiz Gustavo de Oliveira AlvesAinda não há avaliações
- M&U13-Cidadania Democrática, Corporativismo e Política Social No BrasilDocumento26 páginasM&U13-Cidadania Democrática, Corporativismo e Política Social No BrasilFábio Wanderley ReisAinda não há avaliações
- O Ethos Do Assistente Social Na PerspectivaDocumento24 páginasO Ethos Do Assistente Social Na PerspectivaViviany SantosAinda não há avaliações
- A Democracia Como Valor UniversalDocumento8 páginasA Democracia Como Valor UniversallucianalcpAinda não há avaliações
- Movimentos Sociais Na América LatinaDocumento16 páginasMovimentos Sociais Na América LatinaGleyvisonsantosAinda não há avaliações
- Arato - 1994 - Ascensão, Declínio e Reconstrução Do Conceito de Sociedade CivilDocumento8 páginasArato - 1994 - Ascensão, Declínio e Reconstrução Do Conceito de Sociedade CivilFrancesca MartinelliAinda não há avaliações
- PSocial Brasileira - IntroduçãoDocumento28 páginasPSocial Brasileira - IntroduçãoCristiano Costa de CarvalhoAinda não há avaliações
- O Conceito de Movimento Social RevisitadoDocumento4 páginasO Conceito de Movimento Social RevisitadoCarol Dos AnjosAinda não há avaliações
- Serviço Social e o NeoliberalismoDocumento20 páginasServiço Social e o NeoliberalismoVania AvelinoAinda não há avaliações
- Conferência Ceif CepDocumento17 páginasConferência Ceif CepJúlio BernardesAinda não há avaliações
- Uma Revolução No CotidianoDocumento3 páginasUma Revolução No CotidianoCaetano PiresAinda não há avaliações
- Pablo Polese de QueirozDocumento20 páginasPablo Polese de QueirozPablo PoleseAinda não há avaliações
- Resumo Capitulo II - Politica SocialDocumento6 páginasResumo Capitulo II - Politica SocialRosana Fernandes da SilvaAinda não há avaliações
- 2 GALVAO FichamentoDocumento5 páginas2 GALVAO FichamentoYasmineAinda não há avaliações
- Democracai Como Valor Universal - Carlos NelsonDocumento9 páginasDemocracai Como Valor Universal - Carlos NelsonJersey OliveiraAinda não há avaliações
- A Gramática Social Da Desigualdade Brasileira - Jesse SouzaDocumento19 páginasA Gramática Social Da Desigualdade Brasileira - Jesse SouzamateustgAinda não há avaliações
- Vicissitudes E Limites Da Conversão À Cidadania Nas Classes Populares BrasileirasDocumento14 páginasVicissitudes E Limites Da Conversão À Cidadania Nas Classes Populares BrasileirasHUGO ALEJANDRO CANO PRAISAinda não há avaliações
- Jalcione Almeida - A Contrução Social de Uma Nova AgriculturaDocumento16 páginasJalcione Almeida - A Contrução Social de Uma Nova AgriculturaSamuel PiresAinda não há avaliações
- 1993 - KURZ, Robert. O Colapso Da ModernizaçãoDocumento4 páginas1993 - KURZ, Robert. O Colapso Da ModernizaçãoLucas Bertolucci Barbosa de LimaAinda não há avaliações
- GABRIEL COHN - Sociologia Da Comunicação (Cap 2 e 3)Documento33 páginasGABRIEL COHN - Sociologia Da Comunicação (Cap 2 e 3)Jenara MirandaAinda não há avaliações
- Boltanski, L. Sociologia Da Crítica, Instituições e o Novo Modo de Dominação Gestionária PDFDocumento23 páginasBoltanski, L. Sociologia Da Crítica, Instituições e o Novo Modo de Dominação Gestionária PDFJef ScabioAinda não há avaliações
- Paper Socia DemocraciaDocumento103 páginasPaper Socia DemocraciaPedro da Rocha RoqueteAinda não há avaliações
- PALUDO, Conceicao - Movimentos Sociais e Educacao Popular - Atualidade Do Legado de Paulo FreireDocumento13 páginasPALUDO, Conceicao - Movimentos Sociais e Educacao Popular - Atualidade Do Legado de Paulo FreireCORAJE100% (1)
- Critica - Movimentos Sociais e Redes de MobilizaçãoDocumento6 páginasCritica - Movimentos Sociais e Redes de MobilizaçãoGlaucoMoreno100% (1)
- Fundamentos Do Serviço Social: Aspectos Históricos Da Profissão Capítulo 2 - Questão Social: o Que É Afinal?Documento39 páginasFundamentos Do Serviço Social: Aspectos Históricos Da Profissão Capítulo 2 - Questão Social: o Que É Afinal?juliana ferreira baptistaAinda não há avaliações
- Casi MS & ApDocumento5 páginasCasi MS & ApCasimiroAinda não há avaliações
- CARDOSO, Ciro. Epistemologia Pósmoderna, A Visão de Um Historiador PDFDocumento16 páginasCARDOSO, Ciro. Epistemologia Pósmoderna, A Visão de Um Historiador PDFMilena ClementeAinda não há avaliações
- A Crítica Do Populismo - Elementos para Uma Problematização - Lívia CotrimDocumento13 páginasA Crítica Do Populismo - Elementos para Uma Problematização - Lívia CotrimGabriel DayoubAinda não há avaliações
- Notas Sobre o Conceito Marxista de Crise PolíticaDocumento31 páginasNotas Sobre o Conceito Marxista de Crise PolíticaanecipalhetaAinda não há avaliações
- Epistemologia Pós-Moderna. Ciro FlamarionDocumento23 páginasEpistemologia Pós-Moderna. Ciro FlamarionAnderson TavaresAinda não há avaliações
- Boaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderDocumento28 páginasBoaventura de Sousa Santos Sobre A Relação Entre Estado Sociedade e PoderGil BatistaAinda não há avaliações
- GramsciDocumento3 páginasGramsciRafael SoaresAinda não há avaliações
- Marco Aurelio Nogueira - Sociedade CivilDocumento18 páginasMarco Aurelio Nogueira - Sociedade CivilEdson CostaAinda não há avaliações
- Para Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosDocumento59 páginasPara Uma Concepcao Intercultural Dos Direitos HumanosJackson WinstonAinda não há avaliações
- Capítulo 5 Núncio - 122306Documento117 páginasCapítulo 5 Núncio - 122306PauloArmandoPedroJonasAinda não há avaliações
- A Natureza Do Serviço Social Na Sua GêneseDocumento6 páginasA Natureza Do Serviço Social Na Sua Gênesedanielle17freitasAinda não há avaliações
- Fichamento Do Livro Politica SocialDocumento15 páginasFichamento Do Livro Politica SocialRudá Fonseca MutoAinda não há avaliações
- O Impacto Do Sistema de Produção Capitalista Na Formação e Individualidade Do Sujeito Como Ator PolíticoDocumento6 páginasO Impacto Do Sistema de Produção Capitalista Na Formação e Individualidade Do Sujeito Como Ator PolíticoVinícius GandolfiAinda não há avaliações
- Resenha Critica - PoliticismoDocumento5 páginasResenha Critica - PoliticismoMarcela de OliveiraAinda não há avaliações
- 897-Article Text-1717-1-10-20191220Documento18 páginas897-Article Text-1717-1-10-20191220di anneAinda não há avaliações
- Ana Doimo A Vez e A Voz Do PopularDocumento4 páginasAna Doimo A Vez e A Voz Do PopularSandro SilvaAinda não há avaliações
- Elide Rugai BastosDocumento4 páginasElide Rugai BastosPaola LimaAinda não há avaliações
- Educação PopularDocumento13 páginasEducação PopularJomar BorgesAinda não há avaliações
- Resenha Social UltimaDocumento2 páginasResenha Social UltimaGabriela NaboznyAinda não há avaliações
- Vote MDB. Você sabe por quê: estudo do discurso democrático emedebista na primeira fase da transição política (1974-1979)No EverandVote MDB. Você sabe por quê: estudo do discurso democrático emedebista na primeira fase da transição política (1974-1979)Ainda não há avaliações
- Os 50 Templates Altamente Lucrativos para Seu Feed e Storys e Roteiros de Live p03Documento11 páginasOs 50 Templates Altamente Lucrativos para Seu Feed e Storys e Roteiros de Live p03Silvinha CastroAinda não há avaliações
- Os 50 Templates Altamente Lucrativos para Seu Feed e Storys e Roteiros de Live p04Documento11 páginasOs 50 Templates Altamente Lucrativos para Seu Feed e Storys e Roteiros de Live p04Silvinha CastroAinda não há avaliações
- A Categoria PolÍtico-cultural de Amefricanidade - LéliaDocumento7 páginasA Categoria PolÍtico-cultural de Amefricanidade - LéliaSilvinha CastroAinda não há avaliações
- 8c4946a77444b5d54de6bfb1d6843c2aDocumento48 páginas8c4946a77444b5d54de6bfb1d6843c2aSilvinha CastroAinda não há avaliações
- Parana Negro AtualDocumento108 páginasParana Negro AtualSilvinha CastroAinda não há avaliações
- D - Esse Boom É Nosso PDFDocumento142 páginasD - Esse Boom É Nosso PDFMarina TavaresAinda não há avaliações
- Evolução Da Mulher No IrãDocumento11 páginasEvolução Da Mulher No IrãMaite Da SilvaAinda não há avaliações
- 2968-Texto Do Artigo-9328-1-10-20170129Documento22 páginas2968-Texto Do Artigo-9328-1-10-20170129Guilherme Benetti Guzzo CoutinhoAinda não há avaliações
- Como o Feminismo Se Tornou A Empregada Do CapitalismoDocumento5 páginasComo o Feminismo Se Tornou A Empregada Do Capitalismopedro5paulo5scremin5Ainda não há avaliações
- bell, hooks. Educação democrática. In_ CASSIO, Fernando (org.). Educação contra a barbárie_ por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar_ organização. São Paulo_ Boitempo, 2019, p. 243-254.Documento19 páginasbell, hooks. Educação democrática. In_ CASSIO, Fernando (org.). Educação contra a barbárie_ por escolas democráticas e pela liberdade de ensinar_ organização. São Paulo_ Boitempo, 2019, p. 243-254.Aira AlmeidaAinda não há avaliações
- A Mulher Nas Mensagens Trazidas Por Nossa SenhoraDocumento18 páginasA Mulher Nas Mensagens Trazidas Por Nossa SenhoraIolane QueirozAinda não há avaliações
- Análise Ecocrítica Da Ecopoesia No BrasilDocumento76 páginasAnálise Ecocrítica Da Ecopoesia No BrasilRafaela KelsenAinda não há avaliações
- Liberdade de GêneroDocumento9 páginasLiberdade de GêneroJeferson BAinda não há avaliações
- Arquiteetura CenicaDocumento26 páginasArquiteetura CenicaTina MeloAinda não há avaliações
- Reflexoes Sobre o Processo Historico-Discursivo Do Uso Da Legitima Defesa Da Honra No BR - OKDocumento21 páginasReflexoes Sobre o Processo Historico-Discursivo Do Uso Da Legitima Defesa Da Honra No BR - OKmayara cajanoAinda não há avaliações
- A Construção Da MasculinidadeDocumento7 páginasA Construção Da MasculinidadeCristiana MazziniAinda não há avaliações
- Trabalho de Compensação de Ausências 2a Série SOCIOLOGIA Profa Carolina FoganholoDocumento3 páginasTrabalho de Compensação de Ausências 2a Série SOCIOLOGIA Profa Carolina Foganholoxnha2808Ainda não há avaliações
- Heterosexualism and The Colonial Modern Gender System (2007) - Lugones PTDocumento41 páginasHeterosexualism and The Colonial Modern Gender System (2007) - Lugones PTnatalianeivapsiAinda não há avaliações
- Pesquisa Genero and Diversidade MEMORIASDocumento388 páginasPesquisa Genero and Diversidade MEMORIASGrégory DionorAinda não há avaliações
- Disciplina Feminismo Decolonial - 2 Sem 2017Documento5 páginasDisciplina Feminismo Decolonial - 2 Sem 2017ketllepAinda não há avaliações
- Mentiras Do Feminismo e Verdades Da BíbliaDocumento10 páginasMentiras Do Feminismo e Verdades Da BíbliaLucas RezendeAinda não há avaliações
- ReleaseDocumento4 páginasReleaseElias VerasAinda não há avaliações
- Artigo - Belas Infieis (2021)Documento17 páginasArtigo - Belas Infieis (2021)Liliam MarinsAinda não há avaliações
- Segunda Avaliação Trimestral: História E GeografiaDocumento16 páginasSegunda Avaliação Trimestral: História E Geografiamarcelo mendes100% (2)
- Estrutura de Candidatura ColetivaDocumento52 páginasEstrutura de Candidatura ColetivaNascimento JúniorAinda não há avaliações
- 000591725Documento315 páginas000591725de_allebrandtAinda não há avaliações
- Mulheres de ConfortoDocumento18 páginasMulheres de ConfortoAlinne BastosAinda não há avaliações
- A Prostituição No BrasilDocumento191 páginasA Prostituição No Brasilwilly cardosoAinda não há avaliações
- La Fulminante Deboche, Excesso e Gênero PDFDocumento16 páginasLa Fulminante Deboche, Excesso e Gênero PDFCláudio Zarco IIAinda não há avaliações