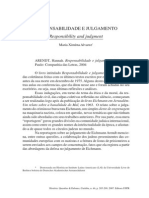Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Minicurso - Da Disciplina Ao Controle
Minicurso - Da Disciplina Ao Controle
Enviado por
Marcus SantosTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Minicurso - Da Disciplina Ao Controle
Minicurso - Da Disciplina Ao Controle
Enviado por
Marcus SantosDireitos autorais:
Formatos disponíveis
1
Da disciplina ao controle: a psicologia como cincia social
Leomir C. Hilrio
Marcus Vinicius O. Santos
Qual(is) o(s) objeto(s) de estudo da psicologia? A que rea do saber ela pertence: s
cincias exatas, naturais, biolgicas ou humanas? Seria possvel pensar no advento de
um paradigma unificador para a psicologia, considerando que, por tratar-se de uma
cincia jovem, ela estaria num estgio pr-paradigmtico? Ou a psicologia estaria
necessariamente condenada disperso e ao consenso, dificultando assim a atribuio
de um estatuto cientfico?
Em A estrutura das revolues cientficas, Tomas Khun (1962) assinalou que as
controvrsias e desacordos parecem insolveis entre os psiclogos ou socilogos, tendo
em vista que no se constituiu efetivamente um paradigma nesses campos do saber. O
autor sugere que a estrada para um consenso estvel extraordinariamente rdua. Em
linhas gerais, as cincias sociais e a psicologia se encontrariam ainda num estgio pr-
paradigmtico indicado pela prpria multiplicidade de escolas em competio, cujo
progresso se d apenas no interior de cada uma delas.
At o momento, o que se pode dizer que essas tradies divergentes coexistem
paralelamente, sem a hegemonia de uma sobre a outra de modo que no h
paradigma vencedor que tenha resultado de uma revoluo cientfica a desbancar
alguma teoria paradigmtica que lhe seja anterior. Mesmo que os adeptos de uma teoria
possam julgar que a teoria que elegeram seja paradigmtica, essa convico no tem
fundamento histrico algum (Carone, 2003).
Somos obrigados a renunciar pretenso de determinar para as mltiplas investigaes
psicolgicas um objeto unitrio e coerente. Conseqentemente, e por slidas razes, no
somente histricas mas doutrinrias, torna-se impossvel Psicologia assegurar-se uma
unidade metodolgica. Por isso, talvez fosse prefervel falarmos, ao invs de
psicologia, em cincias psicolgicas. No devemos estranhar que a unidade da
Psicologia, hoje, nada mais seja que uma expresso cmoda, a expresso de um
pacifismo ao mesmo tempo prtico e enganador (Japiass, 1983).
2
Da macrofsica do poder de soberania microfsica do poder disciplinar
Idade Clssica (sc. XVII e XVIII): poder soberano
(Ex: pai da horda primordial de Totem e Tabu; as monarquias absolutistas)
No poder de soberania a relao entre o soberano e os sditos marcada pela
assimetria: de um lado, a coleta, do outro a despesa.
A nica figura que tinha visibilidade era o rei; os sditos eram figuras annimas. A
individualizao se d na direo do soberano. A individualidade do soberano
implicada pela no individualizao dos sditos.
O poder soberano se manifesta pelos smbolos da fora fulgurante do indivduo que o
detm, e que so continuamente exibidos.
H, ademais, a necessidade de certo suplemento de violncia ou de certa ameaa de
violncia, que est presente por trs da relao de soberania.
Modernidade (sc. XIX): poder disciplinar:
(Ex: A destituio do pai da horda primordial como acontecimento anlogo Revoluo
francesa. A destituio do poder soberano na cena da cura do rei Jorge III).
O poder disciplinar annimo, discreto, repartido, capilarizado. Neste, a visibilidade
encontra-se to somente na docilidade e submisso daqueles sobre quem ele se exerce.
O poder disciplinar no descontnuo com o poder de soberania, ao contrrio,
implica um procedimento de controle contnuo.
Destaca-se o carter panptico do poder disciplinar, que diz concerne visibilidade
absoluta e constante que rodeia os corpos dos indivduos. O Panptico o modelo das
instituies disciplinares e implica que tudo visto o tempo todo, mas que o poder que
se exerce nunca mais que um efeito de tica. Vive-se num panoptismo generalizado
nas sociedades disciplinares.
O poder disciplinar uma fbrica de corpos sujeitados. Aquele que pretende se
colocar em posio de exceo tido como louco. , portanto, preciso ensinar o
indivduo a fazer o bom uso da liberdade, o que implica em faz-lo reconhecer que no
ocupa o lugar de exceo. O objetivo da disciplina tornar o indivduo politicamente
dcil e produtivamente til.
3
Obedincia Autoridade e banalidade do mal
No incio dos anos 60, o psiclogo social americano Stanley Milgram se dedicou ao
estudo da obedincia e a sua relao com a autoridade, realizando uma pesquisa
experimental sobre o tema, publicada em 1973 e retratada recentemente no cinema.
Para Milgram, a pessoa que, por convico, odeia roubar, matar e assaltar pode ver-se
executando esses atos com relativa facilidade ao cumprir as ordens de uma autoridade.
O comportamento que inimaginvel numa pessoa que esteja agindo por conta prpria
pode ser executado sem hesitao quando feito sob ordens.
A essncia da obedincia consiste no fato de que uma pessoa se veja como o
instrumento da realizao dos desejos de outra pessoa, e a partir da a primeira pessoa
no se acha mais responsvel por suas aes.
Entre os anos de 1933 e 1945, milhes de pessoas inocentes foram sistematicamente
mortas por pessoas que cumpriam ordens. Essa poltica desumana pode ter se originado
na mente de uma s pessoa, mas s poderia ter sido executada em larga escala se um
grande nmero de pessoas obedecesse s ordens.
O interesse da experincia ver at que ponto uma pessoa prossegue numa situao
concreta e mensurvel na qual recebe uma ordem para infligir dor progressivamente
maior a uma vtima que protesta cada vez que recebe o castigo. O objetivo da pesquisa
descobrir onde e como as pessoas contestariam a autoridade em face de um ntido
imperativo moral.
Para o participante h um intenso conflito. Por um lado, o sofrimento manifesto do
aluno o pressiona a parar. Por outro lado, a pessoa responsvel pela experincia, uma
legtima autoridade, insta-o a prosseguir.
O que surpreendente at que ponto indivduos comuns atendem s ordens do
pesquisador. A despeito do fato de muitas pessoas sentirem stress, a despeito do fato de
muitas delas protestarem com o pesquisador, uma substancial parcela continua o teste
at o ltimo choque do gerador.
4
Uma explicao comumente dada que aquelas pessoas que aplicaram os choques mais
fortes s vtimas so monstros, os sdicos da sociedade. Pelo contrrio, os participantes
so pessoas comuns, ordinrias. Nesse ponto, o argumento de Milgram retoma a tese da
banalidade do mal de Hannah Arendt.
Ao cobrir o julgamento de Eichmann, responsvel pelas deportaes dos judeus para os
campos de concentrao, em 1961, Hannah Arendt assinalou que ele no era o
monstro sdico que todos esperavam, mas simplesmente um burocrata que sentava
sua mesa e fazia seu trabalho. Eichmann, dizia a autora, era um homem comum. E o
mais assustador: to comum quanto muitos outros. Para o ru, tudo no passava de um
golpe de azar, pois tinha sido um bom cidado, porm num Estado assassino.
Esta a mais importante lio do estudo: as pessoas comuns, simplesmente cumprindo
deveres, e sem qualquer hostilidade especial, podem-se tornar agentes de um terrvel
processo destrutivo. Alis, poucas teriam condies de efetivamente resistir
autoridade.
Numa situao dessas, os valores morais de uma pessoa podem ser postos de lado
facilmente. A pessoa se livra da responsabilidade atribuindo toda a iniciativa ao
pesquisador, uma legtima autoridade. O desaparecimento do senso de responsabilidade
a conseqncia de maior alcance da submisso autoridade.
Na entrevista aps a experincia, quando as pessoas eram interrogadas por que haviam
prosseguido, uma resposta tpica era: Eu no faria isso sozinho. Fiz apenas o que me
mandaram. Incapazes de desafiar a autoridade do pesquisador, elas atribuam toda a
responsabilidade a ele. Esta a velha histria do apenas cumprindo minha obrigao
que foi ouvida muitas vezes na defesa dos acusados de Nuremberg.
Você também pode gostar
- FERENCZI, S. (1929) A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de MorteDocumento1 páginaFERENCZI, S. (1929) A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de MorteMarcus Santos83% (6)
- Laudo PsicopatológicoDocumento10 páginasLaudo PsicopatológicoMarcus Santos100% (2)
- Fichamento - Inibição, Sintoma e AngústiaDocumento7 páginasFichamento - Inibição, Sintoma e AngústiaMarcus Santos100% (3)
- Deus Da Carnificina TextoDocumento67 páginasDeus Da Carnificina TextoGilvan Lucio50% (2)
- Responsabilidade e JulgamentoDocumento11 páginasResponsabilidade e Julgamentojéssica_simoes_69100% (1)
- ESTUDO DIRIGIDO - Psicologia ExperimentalDocumento2 páginasESTUDO DIRIGIDO - Psicologia ExperimentalMarcus Santos100% (3)
- Fichamento - SACKS. Tio TungstênioDocumento3 páginasFichamento - SACKS. Tio TungstênioMarcus SantosAinda não há avaliações
- Fichamento: FERENCZI, S. Elasticidade Da Técnica PsicanalíticaDocumento1 páginaFichamento: FERENCZI, S. Elasticidade Da Técnica PsicanalíticaMarcus SantosAinda não há avaliações
- Psicanálise Teoria e Técnica - Aula 1Documento10 páginasPsicanálise Teoria e Técnica - Aula 1Marcus SantosAinda não há avaliações
- Psicanálise Teoria e Técnica - Aula 3Documento14 páginasPsicanálise Teoria e Técnica - Aula 3Marcus SantosAinda não há avaliações
- Saúde Coletiva - Aula 2Documento16 páginasSaúde Coletiva - Aula 2Marcus SantosAinda não há avaliações
- Ficha de Avaliacao de SeminarioDocumento2 páginasFicha de Avaliacao de SeminarioMarcus SantosAinda não há avaliações
- Fichamento Do Texto Psicanálise e Pedagogia de FerencziDocumento1 páginaFichamento Do Texto Psicanálise e Pedagogia de FerencziMarcus SantosAinda não há avaliações
- ESTUDO DIRIGIDO - Desenvolvimento e EmpregabilidadeDocumento1 páginaESTUDO DIRIGIDO - Desenvolvimento e EmpregabilidadeMarcus Santos100% (1)
- Dimensões Psicológicas Da Edf - Aula 1Documento17 páginasDimensões Psicológicas Da Edf - Aula 1Marcus SantosAinda não há avaliações
- BIRMAN, J. Criatividade e Sublimação em PsicanáliseDocumento2 páginasBIRMAN, J. Criatividade e Sublimação em PsicanáliseMarcus SantosAinda não há avaliações
- Guia Unimed SEDocumento57 páginasGuia Unimed SEMarcus SantosAinda não há avaliações
- A Psicopatologia Fenomenológica de JaspersDocumento2 páginasA Psicopatologia Fenomenológica de JaspersMarcus SantosAinda não há avaliações
- Livro Behavior Mod Capa-prefacio-IndiceDocumento14 páginasLivro Behavior Mod Capa-prefacio-IndiceMarcus SantosAinda não há avaliações
- Relatorio de Nivel Operante e Treino Ao BebedouroDocumento16 páginasRelatorio de Nivel Operante e Treino Ao BebedouroMarcus SantosAinda não há avaliações
- Fichamento - A Pulsão e Seus DestinosDocumento3 páginasFichamento - A Pulsão e Seus DestinosMarcus Santos100% (2)
- Fichamento - WINNICOTT. CordãoDocumento2 páginasFichamento - WINNICOTT. CordãoMarcus SantosAinda não há avaliações
- Fichamento - FERENCZI, S. Confusão de LínguaDocumento2 páginasFichamento - FERENCZI, S. Confusão de LínguaMarcus SantosAinda não há avaliações
- Fichamento - Além Do Princípio de PrazerDocumento6 páginasFichamento - Além Do Princípio de PrazerMarcus SantosAinda não há avaliações
- Clínica e Responsabilidade Frente À Banalidade Do Mal e Biopolítica ContemporâneasDocumento25 páginasClínica e Responsabilidade Frente À Banalidade Do Mal e Biopolítica ContemporâneasRaíssa LopesAinda não há avaliações
- Introdução À Carta de FilemomDocumento8 páginasIntrodução À Carta de FilemomMário Veríssimo100% (1)
- Heiner MullerDocumento128 páginasHeiner Mullereufrates85Ainda não há avaliações
- Trabalho em Grupo - Id - Hannah ArendtDocumento4 páginasTrabalho em Grupo - Id - Hannah ArendtWillianAinda não há avaliações
- ARENDT, Hannah. Responsibilidade e JulgamentoDocumento5 páginasARENDT, Hannah. Responsibilidade e JulgamentoRodrigo S. OliveiraAinda não há avaliações
- A Mulher Montada Na Besta Volume 2 Com Deve HuntDocumento269 páginasA Mulher Montada Na Besta Volume 2 Com Deve HuntInoque Sebastião PassialAinda não há avaliações
- "A Justiça e Eichmann", de Carlos Lacerda (Em 13/04/1961)Documento3 páginas"A Justiça e Eichmann", de Carlos Lacerda (Em 13/04/1961)Charlene MiottiAinda não há avaliações
- Apresentação Eichman em Jerusalém - Anton, Emerson, Lane - PPT 2003Documento24 páginasApresentação Eichman em Jerusalém - Anton, Emerson, Lane - PPT 2003EmersonAinda não há avaliações
- Operação OdessaDocumento20 páginasOperação OdessaGuto DominguesAinda não há avaliações
- A Questão Ética em Hannah Arendt PDFDocumento10 páginasA Questão Ética em Hannah Arendt PDFCélio Alves de MouraAinda não há avaliações
- A Moral Nazista - Marcos GutermanDocumento296 páginasA Moral Nazista - Marcos GutermanSuelynMoraesGiordaniAinda não há avaliações
- MOSSADDocumento7 páginasMOSSADFabio Luiz PimentelAinda não há avaliações
- WERMUTH, MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI SEADI, Humberto Acacio T. O Paradigma Do Campo Na Filosofia de Hannah Arendt e GiorgioDocumento25 páginasWERMUTH, MAIQUEL ÂNGELO DEZORDI SEADI, Humberto Acacio T. O Paradigma Do Campo Na Filosofia de Hannah Arendt e GiorgioMaiquel WermuthAinda não há avaliações
- 1961 - Julgamento de Adolf EichmannDocumento6 páginas1961 - Julgamento de Adolf EichmannHerlander Tinox SardinhaAinda não há avaliações
- Resumo Cap 1 A 4 Livro Eichmamm em Jeruzalém - Hannah ArendtDocumento3 páginasResumo Cap 1 A 4 Livro Eichmamm em Jeruzalém - Hannah ArendtAMIGOS DA FAMÍLIAAinda não há avaliações
- EspecismoDocumento56 páginasEspecismoCristiane Kozlowsky NevesAinda não há avaliações
- Hannah Arendt e Acrise Na Educação ModernaDocumento30 páginasHannah Arendt e Acrise Na Educação ModernaGabriela Santana AlvesAinda não há avaliações
- Texto - Banalidade Do Mal - ReescritoDocumento1 páginaTexto - Banalidade Do Mal - ReescritoDiego DomingosAinda não há avaliações
- Hannah Arendt - Banalidade Do MalDocumento5 páginasHannah Arendt - Banalidade Do MalRicardo Gomes Ribeiro0% (1)
- Da Banalidade Do Mal - Hannah Arendt e o Julgamento de Eichmann em JerusalemDocumento4 páginasDa Banalidade Do Mal - Hannah Arendt e o Julgamento de Eichmann em JerusalemPaula SoaresAinda não há avaliações
- Banalidade Do MalDocumento5 páginasBanalidade Do MalFelipe SilvaAinda não há avaliações
- Hannah Arendt PDFDocumento11 páginasHannah Arendt PDFDaniele CarvalhoAinda não há avaliações
- Eichmann KantDocumento14 páginasEichmann KantSaindo Pro MeWeAinda não há avaliações
- Democracia Contemporânea e Hannah HarendtDocumento15 páginasDemocracia Contemporânea e Hannah HarendtIsadora GalvaoAinda não há avaliações
- Texto 9 - A Razão Militar e A Banalidade Do MalDocumento10 páginasTexto 9 - A Razão Militar e A Banalidade Do MalEfraim Felipe AssisAinda não há avaliações
- CEARP - Centro de Estudos Da Arquidiocese de Ribeirão Preto: Instituto de Filosofia "Dom Frei Felício"Documento3 páginasCEARP - Centro de Estudos Da Arquidiocese de Ribeirão Preto: Instituto de Filosofia "Dom Frei Felício"Paulo LeperoAinda não há avaliações
- A Boçalidade Do Mal, Eliane BrumDocumento9 páginasA Boçalidade Do Mal, Eliane BrumCarlosLemosAinda não há avaliações
- Olhares Sobre A (In) Diferenca (Impressao)Documento150 páginasOlhares Sobre A (In) Diferenca (Impressao)Patricia Gomes Vidal CorreaAinda não há avaliações
- 107-Texto Do Artigo-564-2-10-20170503Documento16 páginas107-Texto Do Artigo-564-2-10-20170503Fernando MariaAinda não há avaliações