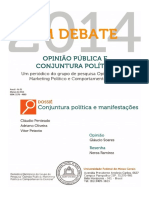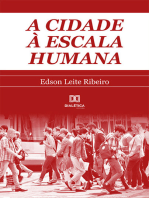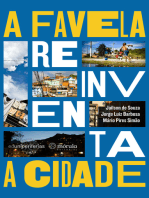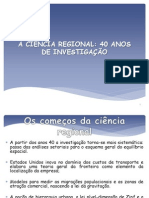Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Brasil Cidades - Erminia Maricato PDF
Brasil Cidades - Erminia Maricato PDF
Enviado por
Clara MarquesTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Brasil Cidades - Erminia Maricato PDF
Brasil Cidades - Erminia Maricato PDF
Enviado por
Clara MarquesDireitos autorais:
Formatos disponíveis
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
Metrpole, legislao
e desigualdade 1
ERMNIA MARICATO
Introduo
PROCESSO DE URBANIZAO brasileiro deu-se, praticamente, no sculo XX.
O No entanto, ao contrrio da expectativa de muitos, o universo urbano no
superou algumas caractersticas dos perodos colonial e imperial, marca-
dos pela concentrao de terra, renda e poder, pelo exerccio do coronelismo ou
poltica do favor e pela aplicao arbitrria da lei.
Pretende-se fazer, aqui, uma leitura da metrpole brasileira do final do
sculo XX, destacando a relao entre desigualdade social, segregao territorial
e meio ambiente, tendo como pano de fundo alguns autores que refletiram so-
bre a formao da sociedade brasileira, em especial sobre a marca da moderni-
zao com desenvolvimento do atraso.
Destaca-se o papel da aplicao da lei para manuteno de poder concen-
trado e privilgios, nas cidades, refletindo e ao mesmo tempo promovendo, a de-
sigualdade social no territrio urbano.
Nas dcadas iniciais do sculo XX, as cidades brasileiras eram vistas como
a possibilidade de avano e modernidade em relao ao campo que representava
o Brasil arcaico. A proclamao da Repblica e a abolio da mo-de-obra escrava
no superaram a hegemonia agrrio-exportadora, o que viria acontecer apenas
aps a revoluo de 1930. Desde ento, o processo de urbanizao/industriali-
zao ganha, com as polticas oficiais, um novo ritmo2 .
No correto afirmar que as cidades brasileiras no tinham importncia no
perodo imperial ou colonial, como corrige Francisco de Oliveira (Oliveira, 1984).
As metrpoles tinham uma importncia especial por seu papel como lugar de fi-
nanciamento e comercializao dos bens primrios exigidos pelo mercado euro-
peu. Salvador tinha, em 1780, mais de cinqenta mil habitantes, somando os
moradores do centro e de 21 freguesias, que incluam os subrbios (Cedu, 1978).
Era a maior metrpole das Amricas segundo Milton Santos (Santos, 1993).
Apesar dos grandes e importantes plos, que representavam o Brasil urbano, at
o final do sculo XIX, a grande maioria da populao permaneceu no campo. A
julgar pelas fontes disponveis, a populao urbana totalizava entre 6,8 a 10% em
1890. A emergncia da mo-de-obra livre, em 1888, contribui para definir o
incio de um processo, no qual urbanizao e industrializao caminhariam jun-
tas sob o lema positivista da ordem e do progresso. O rumo tomado parecia re-
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 151
E RMNIA M ARICATO
presentar um caminho certo para a independncia de sculos de dominao das
elites oligrquicas ligadas exportao de produtos primrios.
No foi s o governo. A sociedade brasileira em peso embriagou-se, desde
os tempos da abolio e da repblica velha, com as idealizaes sobre pro-
gresso e modernizao. A salvao parecia estar nas cidades, onde o futuro
j havia chegado. Ento era s vir para elas e desfrutar de fantasias como
emprego pleno, assistncia social providenciada pelo Estado, lazer, novas
oportunidades para os filhos... No aconteceu nada disso, claro, e, aos
poucos, os sonhos viraram pesadelos (Santos, 1986, p. 2).
As mudanas polticas havidas na dcada de 1930, com a regulamentao
do trabalho urbano (no extensiva ao campo), incentivo industrializao, cons-
truo da infra-estrutura industrial, entre outras medidas, reforaram o movi-
mento migratrio campo-cidade.
No final do sculo XX, algumas dcadas depois, a imagem das cidades bra-
sileiras parece estar associada violncia, poluio das guas e do ar, criana de-
samparada, trfego catico, enchentes, entre outros inmeros males.
As oportunidades que de fato havia nas primeiras dcadas do sculo XX
para a populao imigrante e depois para a populao migrante (insero econ-
mica e melhora de vida) parecem quase extintas. A extenso das periferias urba-
nas (a partir dos anos de 1980 as periferias crescem mais do que os ncleos ou
municpios centrais nas metrpoles) tem sua expresso mais concreta na segrega-
o espacial ou ambiental configurando imensas regies nas quais a pobreza
homogeneamente disseminada. Pela primeira vez na histria do pas registram-se
extensas reas de concentrao de pobreza, a qual se apresentava relativamente
esparsa nas zonas rurais antes do processo de urbanizao. A alta densidade de
ocupao do solo e a excluso social representam uma situao indita.
A segregao urbana ou ambiental uma das faces mais importantes da desi-
gualdade social e parte promotora da mesma. dificuldade de acesso aos servios
e infra-estrutura urbanos (transporte precrio, saneamento deficiente, drenagem
inexistente, dificuldade de abastecimento, difcil acesso aos servios de sade, edu-
cao e creches, maior exposio ocorrncia de enchentes e desmoronamentos
etc.) somam-se menos oportunidades de emprego (particularmente do emprego
formal), menos oportunidades de profissionalizao, maior exposio violncia
(marginal ou policial), discriminao racial, discriminao contra mulheres e crian-
as, difcil acesso justia oficial, difcil acesso ao lazer. A lista interminvel.
O desenvolvimento da desigualdade desafia a construo de conceitos: ex-
cluso social, incluso precria, segregao territorial, informalidade, ilegalidade,
e alimenta um debate sobre a funcionalidade ou no do excesso de populao
para o capitalismo brasileiro ou a no aplicao do conceito marxista de exrcito
industrial de reserva. tradio secular de desigualdade social, a reestruturao
produtiva internacional (tomando a expresso de Harvey), do final do sculo
XX, acrescentou caractersticas mais radicais.
152 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
Antes mesmo das chamadas dcadas perdidas (anos de 1980 e 1990) a
insero social nas relaes capitalistas apresentavam relao complexa entre re-
gra e exceo. Trabalhadores do setor secundrio e at mesmo da indstria fordista
brasileira foram excludos do mercado imobilirio privado e, freqentemente,
buscaram a favela como forma de moradia. Trata-se do produtivo excludo,
resultado da industrializao com baixos salrios. A moradia tem sido predominan-
temente, nas metrpoles, obtida por meio de expedientes de subsistncia. Trata-
se de uma mercadoria que no produzida via processo de trabalho marcado por
relaes capitalistas (Ferro, 1969 e Maricato, 1979). A produo do ambiente
construdo e, em especial o ambiente urbano, escancara a simbiose entre moder-
nizao e desenvolvimento do atraso. Padres modernistas detalhados de cons-
truo e ocupao do solo, presentes nas leis de zoneamento, cdigo de obras,
leis de parcelamento do solo, entre outras, convivem com a gigantesca cidade
ilegal onde a contraveno regra. Como lembram Schwarz e Arantes, inspira-
dos em Brecht, a exceo a regra e a regra exceo numa sociedade onde a
maioria no alcana a condio de cidadania (Schwarz, 1990 e Arantes, 1992).
Em sua reflexo terica sobre as classes sociais na Amrica Latina, Florestan
Fernandes reconhece que os dinamismos nucleares e determinantes nestas so-
ciedades provm das relaes mais adiantadas e ativas do regime de classes. H
especificidades, entretanto, em relao s sociedades capitalistas europias e nor-
te-americanas, j que as sociedades latino-americanas no se organizam para
um desenvolvimento autnomo da economia, da sociedade e da cultura. A di-
viso repartida (externa e interna) do excedente econmico, continuidade de
privilgios senhoriais na formao da mentalidade burguesa e, portanto, adapta-
o de heranas coloniais no processo de modernizao, a excluso das classes
baixas dos processos histricos e sociais (negando inclusive sua existncia como
classe com direitos a serem respeitados como ocorreu no capitalismo maduro)
so caractersticas s quais se soma um decorrente complexo padro de
mercantilizao do trabalho3 .
A excluso social no passvel de mensurao, mas pode ser caracterizada
por indicadores como a informalidade, a irregularidade, a ilegalidade, a pobreza,
a baixa escolaridade, o oficioso, a raa, o sexo, a origem e, principalmente, a
ausncia da cidadania. A carncia material a face externa da excluso poltica
(Demo, 1993, p. 3).
Segundo Pedro Demo, a caracterizao da pobreza a partir de nmeros
mensurveis relativos carncia material, obscurece o cerne poltico da pobre-
za ou o que o autor chama de pobreza poltica. Ser pobre no apenas no
ter, mas sobretudo ser impedido de ter, o que aponta muito mais para uma ques-
to de ser do que de ter (Demo, 1993, p. 2).
A ilegalidade sem dvida um critrio que permite a aplicao de concei-
tos como excluso, segregao ou at mesmo de apartheid ambiental. No que a
elite brasileira no recorra historicamente utilizao de expedientes ilegais quando
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 153
E RMNIA M ARICATO
lhe convm, como lembram Schwarz e Bosi sobre o histrico e paradigmtico
exemplo do trfico de escravos no Brasil do sculo XIX: proibido por lei mas
apoiado, na prtica, pelas autoridades. Poderamos utilizar muitos outros exem-
plos atuais. A ilegalidade em relao propriedade da terra, entretanto, tem sido
um dos principais agentes da segregao ambiental, no campo ou na cidade.
Miguel Baldez lembra que at 1850, a ocupao de terra no Brasil era forma leg-
tima de conseguir sua posse. A emergncia do trabalhador livre acompanhada
da emergncia de legislao sobre a terra que ir garantir a continuidade do
domnio dos latifundirios, sobre a produo (Baldez, 1986 e Osrio Silva, 1996).
A legislao urbana no surgir seno quando se torna necessria para a estru-
turao do mercado imobilirio urbano, de corte capitalista. Os Cdigos Muni-
cipais de Posturas, elaborados no final do sculo XIX tiveram um claro papel de
subordinar certas reas da cidade ao capital imobilirio acarretando a expulso da
massa trabalhadora pobre do centro da cidade. A nova normatividade contribui
para a ordenao do solo de uma parte da cidade mas tambm contribui, ao mes-
mo tempo, para a segregao espacial. A escassez alimenta a extrao da renda
imobiliria. A submisso da terra aos capitais de promoo, construo e financia-
mento imobilirio no se tornou homognea como nos pases avanados, convi-
vendo com formas arcaicas de produo do espao como a autoconstruo em
loteamentos ilegais ou em reas invadidas, simplesmente.
Uma das caractersticas do mercado residencial privado legal no Brasil (como
em todos os pases perifricos ou semiperifricos) , portanto, sua pouca
abrangncia. Mercado para poucos uma das caractersticas de um capitalismo
que combina relaes modernas de produo com expedientes de subsistncia.
A maior parte da produo habitacional no Brasil se faz margem da lei, sem
financiamento pblico e sem o concurso de profissionais arquitetos e engenhei-
ros (Maricato, 2001 e Instituto Cidadania, 2000).
A relao legislao/mercado restrito/excluso talvez se mostre mais evi-
dente nas regies metropolitanas. nas reas rejeitadas pelo mercado imobilirio
privado e nas reas pblicas, situadas em regies desvalorizadas, que a populao
trabalhadora pobre vai se instalar: beira de crregos, encostas dos morros, terre-
nos sujeitos a enchentes ou outros tipos de riscos, regies poludas, ou... reas de
proteo ambiental (onde a vigncia de legislao de proteo e ausncia de fis-
calizao definem a desvalorizao).
Durante o regime militar, o Planasa Plano Nacional de Saneamento Bsico,
abandonou os critrios legais de uso e ocupao do solo para estender o forneci-
mento de gua populao at ento no atendida em diversas reas metropoli-
tanas. A Sabesp, empresa pblica responsvel pelo saneamento bsico no Estado
de So Paulo, ampliou a rede de guas at os loteamentos ilegais, inclusive aque-
les situados em rea de proteo dos mananciais, desenvolvendo para isso insta-
lao de rede formada por elementos leves e de baixo custo. Essa atitude teve re-
percusso direta na queda do ndice de mortalidade e infantil, objetivo do plano.
154 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
J entre 1989 e 1992, a mesma companhia se recusou a estender a rede de
guas a loteamentos ilegais situados na mesma regio de proteo dos mananciais, e
que apresentavam inmeros casos de hepatite (Jardim Marilda, na Capela do Socor-
ro, municpio de So Paulo, por exemplo) sob a argumentao de que o lotea-
mento era ilegal. A mesma dificuldade, a Sabesp manifestou ao resistir em ligar a
rede de gua em diversas obras de urbanizao de favelas executadas pela Sehab no
perodo. A legislao pode servir para justificar tanto uma ao como uma inao.
A ilegalidade em relao posse da terra parece fornecer, freqentemente,
uma base para que a excluso se realize em sua globalidade. Em um estudo que
trata da dimenso jurdico-social de uma favela que o autor chama de Pasrgada,
Boaventura de Souza Santos mostra que o medo do despejo ou de chamar aten-
o para suas condies de ilegalidade na ocupao da terra, motivo (ou um
dos motivos) para que os moradores nunca procurem a justia. A mesma explica-
o foi dada pelos moradores para o hbito de a polcia invadir suas casas quan-
do bem entende (Souza Santos, 1993, p. 45). A legislao oficial no seguida
na favela e a polcia e os tribunais so vistos como ameaa (Souza Santos, 1993).
A expresso ns ramos e somos ilegais (de um antigo morador da fave-
la), que, no seu contexto semntico, liga o status de ilegalidade com a pr-
pria condio humana dos habitantes de Pasrgada, pode ser interpretada
como indicao de que nas atitudes destes para com o sistema jurdico
nacional, tudo se passa como se a legalidade da posse da terra repercutisse
sobre todas as outras relaes sociais, mesmo sobre aquelas que nada tm
com a terra ou com a habitao (Souza Santos, 1993, p. 45).
No de se estranhar que em tais situaes pode ocorrer o desenvolvimento
de normas, comportamentos, mecanismos, procedimentos extralegais que so impos-
tos comunidade pela violncia ou que so aceitos espontaneamente e at desejados.
A indisponibilidade estrutural dos mecanismos oficiais de ordenao e con-
trole social e a ausncia de mecanismos no oficiais comunitrios criaram
uma situao que designarei por privatizao possessiva do direito. [...] A
privatizao possessiva do direito constitui-se por uma dialtica entre a to-
lerncia extrema e a violncia prxima (Souza Santos, 1993, p. 47).
Entre o legal e o ilegal, arbtrio e ambigidade
No se trata de um Estado paralelo ou universo partido. A realidade bem
mais complexa. Uma ambigidade entre o legal e o ilegal perpassa todo o conjun-
to da sociedade do qual no escapa, mas ao contrrio, ganham posio de desta-
que, as instituies pblicas.
Wanderley Guilherme dos Santos lembra que o Brasil constitui uma po-
liarquia (acumulao material diversificada, intenso crescimento econmico de
1949 a 1980, diversidade e multiplicidade de grupos de interesses etc.), mas que
acaba no funcionando como tal (desperdcios continuados, no reviso de erros
etc.). Por qu?
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 155
E RMNIA M ARICATO
L.C. Leite/Agncia Estado
Casas em rea de proteo ambiental prximas ao lixo na encosta da Serra da Cantareira (SP).
156 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
Ao lado de abundante e contnua legislao regulatria, que o autor chama
de face polirquica, o Brasil mostra um outro lado de desprestgio e desconfiana
nas instituies (por exemplo, na justia e na polcia), falta de interesse pelo voto
e pelos polticos. Some-se a isto a imprevisibilidade sobre a vida futura, a insegu-
rana, a impunidade associada punio aleatria, a desmoralizao das normas
e os cdigos de conduta coletiva etc. A fratura no seria, segundo Guilherme dos
Santos, nem geogrfica nem entre classes sociais, trata-se de uma dicotomia ins-
titucional (Santos, 1993, p. 101). Transitamos todos, segundo o autor, entre as
instituices polirquicas para as no polirquicas, como se estas constitussem
um nico universo institucional.
notvel a tolerncia que o Estado brasileiro tm manifestado em relao
s ocupaes ilegais de terra urbana. Esse processo significativo em suas dimen-
ses, se levarmos em conta, especialmente, a grande massa de migrantes que ru-
mou para as cidades neste sculo e que se instalou ilegalmente, j que no teve
acesso ao mercado imobilirio privado e nem foi atendida pelas polticas pblicas
de habitao. Aparentemente constata-se que admitido o direito ocupao
mas no o direito cidade.
A maior tolerncia e condescendncia em relao produo ilegal do es-
pao urbano vem dos governos municipais aos quais cabe a maior parte da com-
petncia constitucional de controlar a ocupao do solo. A lgica concentradora
da gesto pblica urbana no admite a incorporao ao oramento pblico da
imensa massa, moradora da cidade ilegal, demandatria de servios pblicos. Seu
desconhecimento se impe, com exceo de aes pontuais definidas em barga-
nhas polticas ou perodos pr-eleitorais. Essa situao constitui, portanto, uma
inesgotvel fonte para o clientelismo poltico.
Em 1987, o desmoronamento de diversas encostas ocupadas por loteamentos
ilegais na cidade de Petrpolis, aps uma intensa chuva, resultou em tragdia sem
precedentes devido ao nmero de desabrigados e mortos, os quais passaram de
cem em nmero. Nos anos seguintes, as mortes por soterramento repetiram-se
com freqncia. L, como em muitas cidades, a ocupao ilegal de encostas que
apresentam riscos geotcnicos se d a olhos vistos. O caso mais impressionante
talvez esteja na Serra do Mar junto s rodovias Anchieta e Imigrantes, que ligam
So Paulo Baixada Santista. A segurana da ocupao fica comprometida no
apenas pela precariedade das construes mas tambm pelo despejo de lixo nas
encostas, pela ausncia de obras de drenagem e pelo encharcamento do terreno
promovido pela infiltrao de esgotos provenientes das fossas individuais. Em
vez de planejar a remoo da populao (cujo custo bastante alto) os governos
incentivam a ocupao executando um programa de obras pontuais de ilumina-
o pblica e asfaltamento do acesso para a entrada do transporte coletivo4 .
O poder de polcia sobre o uso das terras pblicas urbanas exercido de
forma discriminatria nos diversos bairros da cidade. reas de proteo ambiental,
no raramente, so priorizadas para ocupao pela populao pobre, seja nas fa-
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 157
E RMNIA M ARICATO
velas ou nos loteamentos irregulares, abertos diante da condescendente (ou inexis-
tente) fiscalizao. No por ausncia de legislao que tal acontece.
A tolerncia pelo Estado em relao ocupao ilegal, pobre e predatria
de reas de proteo ambiental ou demais reas pblicas, por parte das camadas
populares, est longe de significar uma poltica de respeito aos carentes de mora-
dia ou aos direitos humanos. A populao que a se instala no compromete ape-
nas os recursos que so fundamentais a todos os moradores da cidade, como o
caso dos mananciais de gua. Mas ela se instala sem contar com qualquer servio
pblico ou obras de infra-estrutura urbana. Em muitos casos, os problemas de
drenagem, risco de vida por desmoronamentos, obstculos instalao de rede
de gua e esgotos torna invivel ou extremamente cara a urbanizao futura.
Um cenrio freqente resultante dessa dinmica de ocupao ilegal de reas
de proteo ambiental o conflito que ope a populao, que luta para perma-
necer no local, apoiada por um parlamentar clientelista, insensvel questo social
ou ambiental, ou por um parlamentar democrtico, perplexo, sensvel a ambos
os problemas, e que tem, como adversrios, o ministrio pblico e ONGs dedicadas
causa ambientalista.
O que sucede mais freqentemente, entretanto, a consolidao das ocu-
paes ilegais em reas de proteo ambiental devido ao custo invivel de sua
remoo. Os nmeros da ilegalidade no uso e ocupao do solo na Represa do
Guarapiranga, em So Paulo (que serve a necessidade de gua de um tero da
populao do municpio) so uma prova definitiva dessa afirmao. Desde a pro-
mulgao da lei de Proteo aos Mananciais (1975) a terra perdeu valor para o
mercado imobilirio legal e passou a ser cada vez mais ocupada por loteamentos
ilegais e favelas. Os mapas que apresentam o uso e a ocupao do solo na Bacia,
evidenciam a macia ilegalidade (UGP/Sema, 1999).
O outro manancial localizado na periferia da metrpole paulistana, a Re-
presa Billings, tem um diagnstico de uso e ocupao do solo mais grave do que
o da Guarapiranga5 .
A falta de alternativas habitacionais, seja via mercado privado, seja via pol-
ticas pblicas sociais , evidentemente, o motor que faz o pano de fundo dessa
dinmica de ocupao ilegal e predatria de terra urbana. A orientao de inves-
timentos dos governos municipais revela um histrico comprometimento com a
captao da renda imobiliria gerada pelas obras (em geral, virias), beneficiando
grupos vinculados ao prefeito de planto. H uma forte disputa pelos investi-
mentos pblicos no contexto de uma sociedade profundamente desigual e histo-
ricamente marcada pelo privilgio e pela privatizao da esfera pblica.
Para completar esse quadro, preciso lembrar a intensidade do processo
migratrio campo cidade que configura uma reverso demogrfica: se aproxima-
damente 10% da populao era urbana no final do sculo XIX, no final do sculo
XX aproximadamente 20% dela rural. Essa grande massa que se instalou nas
cidades, o fez por sua prpria conta e risco. Nessas condies podemos dizer que
158 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
a ocupao ilegal de terras parte intrnseca desse processo. Ela , de fato,
institucional. Se considerarmos que todos os moradores de favelas existentes no
municpio de So Paulo invadiram terra para morar (a definio da favela est
exatamente na relao jurdica de no propriedade) estamos nos referindo a apro-
ximadamente dois milhes de pessoas. O nmero aproximado, pois o rigor nos
obrigaria a descontar os moradores de aluguel, nas favelas. De qualquer modo, a
dimenso confirma a assertiva de que a exceo a regra. Curitiba, tomada como
cidade modelo de planejamento urbano, est cercada por uma coroa formada de
numerosos ncleos de terras invadidas, muitos dos quais esto em reas de proteo
ambiental. Nenhuma grande cidade brasileira foge ao destino aqui descrito. E
cada vez mais as cidades de porte mdio seguem o mesmo caminho. Basta ver o
aumento do nmero de cidades com favelas a cada ano (SNIU/Mincid).
A explicao na qual se apia a ordem dominante faz peripcias para ocultar
a realidade. Esta no pode ser assumida formalmente pelo Estado (em especial pe-
lo judicirio) sem colocar em risco toda a ordem jurdica vigente, em especial a
que diz respeito propriedade privada de terras e imveis.
Muitos so os fatores que determinam quando a lei aplicada ou no. Um
nos parece principal. Quando a localizao de uma terra ocupada por favelas
valorizada pelo mercado imobilirio, a lei se impe. Lei de mercado, e no nor-
ma jurdica, determina o cumprimento da lei. No por outra razo que as reas
ambientalmente frgeis, objeto de legislao preservacionista, sobram para o
assentamento residencial da populao pobre. Nessas localizaes, a lei impede a
ocupao imobiliria: margens dos crregos, reas de mangues, reas de proteo
ambiental, reservas. Mesmo quando se trata de reas pblicas, priorizadas nos
assentamentos de favelas, sua proteo contra a ocupao depende de sua locali-
zao em relao aos bairros onde atua o mercado imobilirio, legal, privado. As
reas pblicas ocupadas esto localizadas, geralmente, nas periferias esquecidas.
Durante uma reunio do Movimento Nacional de Luta pela Moradia (feve-
reiro de 1995, na cidade de Goinia), uma liderana de movimentos de moradia
do Estado do Esprito Santo revelou toda a sua angstia e perplexidade porque
um prefeito de uma cidade litornea daquele estado incentivava a populao po-
bre a ocupar as reas de mangues, enquanto que as lideranas do movimento bus-
cavam evitar a ocupao daquela rea ambientalmente frgil, exigindo outra solu-
o. Autoridades que detm o poder de polcia e deveriam garantir a preservao
do patrimnio ambiental incentivam sua deteriorao. As lideranas populares
que supostamente deveriam perfilar-se ao lado daqueles que desesperadamente
lutam por um pedao de terra para morar, encontram-se atnitas, em conflito
com seus iguais que vem no prefeito mais compreenso para seu desespero.
A ocupao pela populao pobre e o progressivo aterramento de man-
gues nas cidades litorneas brasileiras praticamente uma regra. Esse caminho
combina a ausncia de investimentos em programas habitacionais (a precria e
lenta urbanizao do mangue alimentar a relao clientelista durante muitos
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 159
E RMNIA M ARICATO
anos) e a preservao dos terrenos privados para o mercado formal. A ao do
Estado, no Brasil, fornece exemplos freqentes nos quais o patrimnio fundirio
privado merece mais cuidados que o patrimnio pblico como convm a uma
sociedade patrimonialista como bem definiu Raymundo Faoro em sua obra Os
donos do poder. A ocupao ilegal como as favelas so largamente toleradas quando
no interferem nos circuitos centrais da realizao do lucro imobilirio privado.
Se, de um lado, o crescimento urbano foi intenso durante dcadas, e o Estado
teve dificuldades de responder s dimenses da demanda, de outro, a tolerncia
para com essa ocupao anrquica do solo est coerente com a lgica do merca-
do fundirio capitalista, restrito, especulativo, discriminatrio e com o investi-
mento pblico concentrado (Maricato, 1999).
Qualquer anlise superficial das cidades brasileiras revela essa relao direta
entre moradia pobre e degradao ambiental. Isto no quer dizer que a produ-
o imobiliria privada ou que o Estado, atravs da produo do ambiente cons-
trudo, no causem danos ao meio ambiente. So abundantes os exemplos de
aterramento de mangues em todo o litoral do pas para a construo de condo-
mnios de lazer. Ou poderamos citar as indefectveis avenidas de fundo de vale
com canalizaes de crregos to ao gosto dos prefeitos municipais e de uma
certa engenharia das empreiteiras (para ficarmos em apenas dois exemplos re-
lativos ocupao urbana do solo). O que interessa chamar ateno aqui que
grande parte das reas urbanas de proteo ambiental esto ameaadas pela ocu-
pao com uso habitacional pobre, por absoluta falta de alternativas. As conse-
qncias de tal processo atinge toda a cidade, mas especialmente as camadas
populares.
A nova legislao urbana: o Estatuto da Cidade
Como vimos, a lei utilizada como expediente de manuteno e fortaleci-
mento de poder e privilgios, contribuindo para resultados como a segregao e
a excluso. A questo central no est na lei em si, ou seja, na sua inadequao,
mas na sua aplicao arbitrria. Estamos questionando a justia e no a lei embora
seja preciso reconhecer que a clareza e a preciso do texto legal nunca est comple-
tamente desvinculado de sua aplicao. Tanto a Constituio Federal de 1988,
em seus captulos dedicados poltica urbana (nos.182 e 183), como o Estatuto
da Cidade no resultaram textos de fcil aplicao. A primeira porque o advers-
rios da chamada Reforma Urbana preconizada pelos movimentos sociais conse-
guiram incluir na redao alguns detalhes que remeteram aplicao de alguns
instrumentos, como o IPTU progressivo para imveis no utilizados ou subuti-
lizados, para lei complementar. O segundo porque remeteu utilizao dos ins-
trumentos de reforma urbana elaborao do Plano Diretor. Isto , com exceo
dos instrumentos de regularizao fundiria, os demais, que dizem respeito ao
direito habitao e cidade, ficam dependentes de formulao contida no Pla-
no Diretor. O que parece ser uma providncia lgica e bvia resultou em um tra-
vamento na aplicao das principais conquistas contidas na lei.
160 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
Agliberto Lima/Agncia Estado
Favela Tiquativa, na marginal Tiet, sob o viaduto General Milton Tavares de Souza, em So Paulo.
A sociedade brasileira protelou longamente as providncias para o enfren-
tamento dos problemas urbanos, dos quais a questo fundiria/imobiliria cita-
da aqui central, mas no a nica. O novo sculo se inicia sem que o Brasil, Es-
tado e sociedade apresentem polticas sociais para as cidades minimamente efica-
zes para conflitos que passaram a adquirir dimenses gigantescas. As mortes por
desmoronamento, causadas pela ocupao irregular de encostas, tm crescido a
cada ano. Entre 1988 e 2003 morreram 1.303 pessoas por esse motivo, destas, 53
foram mortas nos primeiros cinco meses de 2003. Dos habitantes de reas urba-
nas, 60 milhes aproximadamente no tm coleta de esgotos e do esgoto coletado
75% jogado in natura nos crregos, rios, lagos, praias etc. (SNIS/Mincid) A
populao moradora de favelas cresce mais do que a populao urbana. Nas me-
trpoles, as periferias crescem mais do que os bairros ricos (IBGE). O transporte
de massa talvez seja o setor que mais involuiu, especialmente nas grandes metr-
poles. Um crescente nmero de transportes clandestinos (muitos dos quais se
descobre, no incio de 2003, que esto associados ao crime organizado e lava-
gem de dinheiro) mudou, nos ltimos vinte anos, o quadro da mobilidade urba-
na. Mais pessoas andam a p e exatamente os de mais baixa renda, que freqen-
temente no saem de seus bairros perifricos (Maricato, 2001). O trnsito mata
mais do que qualquer outra modalidade de violncia. So perto de trezentos mil
acidentes por ano, com vtimas, das quais, aproximadamente trinta mil encon-
tram a morte. O Ipea estima que os custos de congestionamento e acidentes re-
sultam em prejuzos sociais de R$ 4,3 ao ano. Mas a chamada violncia urbana
decorrente de assaltos, roubos, seqestros e especialmente homicdios que ater-
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 161
E RMNIA M ARICATO
roriza os moradores urbanos. E quem mais sofre com ela so os que habitam a
periferia de forma ilegal e as favelas, pois os levantamentos mostram que a, as
taxas de homicdios so muito mais elevadas (Ver a respeito estudos do NEV-
USP e Cesec/Ucam).
A reestruturao produtiva do capitalismo internacional do final do sculo
XX, transformao que tem sido chamada de globalizao, tem muito a ver com
a evoluo (ou involuo) aqui apontada. Em primeiro lugar pelo impacto do
chamado desemprego tecnolgico. Um olhar superficial na histria recente do
ABCD regio dos municpios de Santo Andr, So Bernardo, So Caetano e
Diadema, que concentrou a poderosa e moderna indstria fordista produtora de
automveis e o sindicalismo que mudou a histria do pas, revela o quanto as
estratgias adotadas pelas empresas causaram impacto na vida local em todos os
nveis, dos governos aos moradores (Klink, 2000). A velocidade imposta s co-
municaes, a crescente informatizao e a tambm crescente semantizao das
relaes humanas deu ao capitalismo condies de mudar a relao espao e
tempo como bem desenvolveu Harvey (Harvey, 1992). rigidez do welfare state
seguiu-se a flexibilizao e a desregulamentao das polticas sociais e da relao
capital/trabalho mudando a poltica, o Estado, os sindicatos e as empresas.
A ideologia presente nestas mudanas pelo Consenso de Washington com-
pletou o trabalho de desarticular e desorganizar boa parte daquilo que no havia
ainda adquirido escala universalizante na sociedade brasileira: emprego, previ-
dncia social, assistncia sade, educao, moradia, transporte, saneamento...
No campo do urbanismo, no foram poucos os que se deixaram levar pelo
canto das sereias dos planos estratgicos inspirados no marketing urbano e nas in-
tervenes culturais caractersticas da cidade do espetculo (Arantes e Vainer, 2000).
As cidades brasileiras foram profundamente o impacto das mudanas ocor-
ridas nas duas ltimas dcadas do sculo XX.
Nesse mesmo perodo, a eleio de governos municipais democrticos que
testaram polticas sociais participativas, as lutas sociais pela mudana dos marcos
legais que regulam o uso e a ocupao do solo lograram apresentar avanos. J
desenvolvemos, anteriormente, em diversas ocasies, a tese de que no por falta
de planos e leis que a situao descrita nas pginas anteriores acontece (Maricato,
1996 e 2000 e Villaa, 1999). A conhecida lei de zoneamento, utilizada larga-
mente como instrumento de ampliao da carncia habitacional poderia, depen-
dendo de sua formulao, ter o efeito contrrio (Maricato, 2001). No entanto,
no se pode negar que a Constituio Federal de 1988 e o Estatuto da Cidade de
2000 constituem paradigmas inovadores e modernizantes no que diz respeito s
relaes de poder sobre a base fundiria e imobiliria urbana. O n da questo
reside, como j foi destacado, na aplicao dos novos instrumentos urbansticos
trazidos por essa legislao quando se deseja reestruturar (porque o problema
de estrutura) todo o quadro da produo habitacional de modo a conter essa
determinao da ocupao ilegal e predatria pela falta de alternativas.
162 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
A resistncia mudana nas regras do jogo so evidentes quando aps
muitas lutas sociais as conquistas se restringem principalmente admisso da
regularizao fundiria. No que no haja resistncias para sua aprovao nos
executivos, legislativos, judicirio, assim como na prpria sociedade, mas cada
vez mais bvio que a regularizao urbanstica e jurdica das ocupaes ilegais
vem sendo crescentemente admitida (Labhab, 2000). O mesmo no acontece
com a mudana na chamada estrutura de proviso de moradia, ou seja, a dificul-
dade est em apresentar alternativas para que grande parte da populao no seja
forada a invadir terras para poder morar. Em outras palavras, o desenvolvimento
urbano includente exige que se atue em dois eixos: urbanizar e legalizar a cidade
informal conferindo-lhe melhor qualidade e o status de cidadania e produzir
novas moradias para aqueles que, sem outras sadas e recursos tcnicos ou finan-
ceiros, invadem terras para morar. Aparentemente, as aes governamentais co-
meam a reconhecer o primeiro dos eixos descritos. A prpria legislao recente-
mente aprovada abre mais caminho nesse sentido e menos no outro. A consoli-
dao e melhoria da cidade ilegal e sem urbanizao exige o contraponto da
produo de novas moradias, do contrrio estaremos consolidando a dinmica
da mquina de produzir favelas com as polticas pblicas correndo sempre
atrs do prejuzo. A urbanizao de favelas tem sido uma poltica crescentemente
adotada nos municpios brasileiros a partir das experincias pioneiras de Recife,
Belo Horizonte e Diadema (Denaldi, 2003). A regularizao jurdica completa a
melhoria das condies sociais j que confere mais estabilidade e segurana ao
morador que pode at passar a livrar-se de uma condio penosa de morador de
favela, condio essa que interfere nas chances de obteno de emprego, credirio
e at salrios.
A democratizao da produo de novas moradias e do acesso moradia
legal e cidade com todos seus servios e infra-estrutura exige a superao de
dois grandes obstculos terra urbanizada e financiamento que, durante toda a
histria da urbanizao brasileira, foram insumos proibidos para a maior parte da
populao. Estamos fazendo referncia mais exatamente ao contexto da relao
entre terra (urbanizada), financiamento, subsdios, Estado e mercado. O mercado
privado no tem atingido nem mesmo a classe mdia (cinco a dez salrios-m-
nimos) quando a maior parte da populao situada abaixo dos cinco salrios-
mnimos necessita de subsdios. Esse ser o grande desafio da poltica urbana nas
primeiras dcadas do sculo XXI, ao lado do saneamento e do transporte de
massa. para eles que a sociedade brasileira e suas instituies devem se preparar.
Notas
1 Esse texto foi elaborado utilizando a parte II do livro de minha autoria, Metrpole na
periferia do capitalismo, So Paulo, Hucitec, 1996.
2 O conceito de revoluo utilizado aqui foi tomado de Florestan Fernandes, 1976.
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 163
E RMNIA M ARICATO
3 Ela (a ordem social competitiva) reconhece a pluralizao das estruturas econmicas,
sociais e polticas como fenmeno legal. Todavia, no a aceita como fenmeno social e,
muito menos como fenmeno poltico. Os que so excludos do privilegiamento
econmico, sociocultural e poltico tambm so excludos do valimento social e do
valimento poltico. Os excludos so necessrios para a existncia do estilo de domina-
o burguesa, que se monta dessa maneira (Fernandes, 1977, p. 222).
4 A autora pode viver pessoalmente uma experincia que comprova o que foi dito aqui
sobre Petrpolis em 1987: aps participar de uma reunio com uma comunidade de
um loteamento ilegal, nosso retorno foi impedido devido a uma barreira de terra que
havia fechado a nica passagem de veculo que dava acesso ao loteamento. O acesso
tinha sido asfaltado h pouco tempo (pelo qual a comunidade muito satisfeita agra-
deceu ao ento prefeito) e no correspondia boa tcnica de engenharia. Isso era
evidente pela ausncia de embasamento adequado e pela espessura da pavimentao,
alm do temerrio corte realizado na encosta do morro, para a execuo do acesso
que permitia a passagem de um veculo apenas, em alguns trechos.
5 A Represa Billings foi objeto de um diagnstico ambiental terminado em meados de
1999. Ambos reservatrios esto em processo de mudana da legislao, sob a coor-
denao de Sema Secretaria Estadual de Meio Ambiente.
Bibliografia
ARANTES, O.; VAINER, C. e MARICATO, E. A cidade do pensamento nico. Petrpolis,
Vozes, 2000.
ARANTES, P. E. Sentimentos da dialtica. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.
BALDEZ, M. Solo urbano, reforma urbana, propostas para a Constituinte. Rio de Janei-
ro, Fase, 1986.
BOSI, A. Dialtica da colonizao. So Paulo, Companhia das Letras, 1992.
CARVALHO, E. G. O negcio da terra. Rio de Janeiro, UFRJ, 1991.
CEDU Companhia Estadual de Desenvolvimento Urbano/Governo do Estado da
Bahia. A grande Salvador: posse e uso da terra. Salvador, 1978.
DEMO, P. Pobreza poltica. Papers. So Paulo, Fundao Konrad Adenauer-Stiftung,
1993.
DENALDI, R. Polticas de urbanizao de favelas: evoluo e impasses. So Paulo, Tese
de Doutorado, FAU-USP, 2003.
FERNANDES, F. A revoluo burguesa no Brasil. Rio de Janeiro, Zahar, 1976.
_________. Problemas de conceituao das classes sociais na Amrica Latina. Em
ZENTENO, R. B. As classes sociais na Amrica Latina. Rio de Janeiro, Paz e Terra,
1977.
FERRO, S. O canteiro e o desenho. So Paulo, Projeto, 1969.
FRANCO, M. S. As idias esto no lugar. Cadernos de Debates, 1. So Paulo, Brasiliense,
1976.
HARVEY, D. A condio ps-moderna. So Paulo, Loyola, 1993.
164 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
HOLANDA, S. B. de. Razes do Brasil. Rio de Janeiro, Jos Olympio, 1971.
INSTITUTO CIDADANIA. Projeto moradia. So Paulo, Instituto Cidadania, 2000.
KLINK, J. J. Cidade e regio. Reestruturao produtiva da Regio do Grande ABC. Rio
de Janeiro, D e P, 2000.
LABHAB. Parmetros para urbanizao de favelas. So Paulo, LABHAB/FAU-USP/
Finep/CEF, 2000.
MARICATO, E. A produo capitalista da casa (e da cidade) no Brasil industrial. So
Paulo, Alfa-mega, 1979.
_____. Metrpole de So Paulo, entre o arcaico e a ps-modernidade. Em SOUZA,
M. A. de et alii. Metrpole e globalizao. So Paulo, Cedesp, 1999.
_____. Brasil, cidades: alternativas para a crise urbana. Petrpolis, Vozes, 2001
MARTINS, J. de S. O poder do atraso. So Paulo, Hucitec, 1994.
OLIVEIRA, F. A economia da dependncia imperfeita. Rio de Janeiro, Graal, 1984.
OSORIO SILVA, L. Terras devolutas e latifndio. Campinas, Unicamp, 1996.
SANTOS, B. S. Notas sobre a histria jurdico-social de Pasrgada. Em SOUZA Jr., J.
G. (org.). Introduo crtica ao direito. Braslia, UnB, 1993.
SANTOS, C. N. Est na hora de ver as cidades como elas so de verdade. Rio de Janeiro,
Ibam, 1986.
SANTOS, M. A urbanizao brasileira. So Paulo, Hucitec, 1993.
SANTOS, W. G. dos. As razes da desordem. Rio de Janeiro, Rocco, 1993
SCHWARZ, R. As idias fora do lugar. Estudos Cebrap, 3. So Paulo, 1973.
_____. Um mestre na periferia do capitalismo: Machado de Assis. So Paulo, Duas Cida-
des, 1990.
UGP/Sema Unidade de Gesto do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia do
Guarapiranga. Cadastro de dados e mapas. Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 1999.
RESUMO O PROCESSO de urbanizao brasileiro deu-se praticamente no sculo XX. No
entanto, ao contrrio da expectativa de muitos, o universo urbano no superou algumas
caractersticas dos perodos colonial e imperial, marcados pela concentrao de terra,
renda e poder, pelo exerccio do coronelismo ou poltica do favor e pela aplicao arbi-
trria da lei. Este texto tem como objetivo fazer uma leitura da metrpole brasileira do
final do sculo XX destacando a relao entre desigualdade social, segregao territorial
e meio ambiente, tendo como pano de fundo alguns autores que refletiram sobre a
formao da sociedade brasileira, em especial sobre a marca da modernizao com
desenvolvimento do atraso. Para tanto, destaca-se o papel da aplicao da lei para manu-
teno de poder concentrado e de privilgios nas cidades, o qual reflete e ao mesmo
tempo promove a desigualdade social no territrio urbano.
ABSTRACT THE BRAZILIAN urbanization process happened in practical terms in the XX
century. Nevertless, contrary to the expectation of many, the urban universe didnt
overcome some characteristics of the colonial and imperial periods marked by land, income
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 165
E RMNIA M ARICATO
and power concentration, by the action of colonels or the policy of favoritism and by
an arbitrary law deployment. This paper has the objective to address the Brazilian
metropolis by the end of the XX century making evident the relationship about social
inequality, territorial segregation and environment, having as a reference some authors
whose work reflected the Brazilian society building, specially the mark of modernization
with the development of the tardiness. In doing so, a great relevance is given to the role
of the law in keeping concentrated power and privileges in the cities, which reflects and
at the same time enhances the urban territory social inequality.
Ermnia Maricato secretria executiva do Ministrio das Cidades e professora titular
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de So Paulo (FAU-USP).
Texto recebido e aceito para publicao em 16 de junho de 2003.
166 ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003
METRPOLE, LEGISLAO E DESIGUALDADE
ESTUDOS AVANADOS 17 (48), 2003 167
Você também pode gostar
- Habitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraNo EverandHabitação de interesse social sustentável: um modelo em GuaíraAinda não há avaliações
- Barbara Cartland - A Bela CortesãDocumento73 páginasBarbara Cartland - A Bela CortesãFlávio Kblo Bigossi100% (4)
- DomóticaDocumento78 páginasDomóticatahdificilAinda não há avaliações
- Yosip Ibrahim - Eu Visitei GanimedesDocumento101 páginasYosip Ibrahim - Eu Visitei GanimedesDavid Rios Calcagno100% (1)
- TAFURI - Arquitetura e Historiografia PDFDocumento10 páginasTAFURI - Arquitetura e Historiografia PDFAdriana Sabadi100% (1)
- Cartilha Deficit Habitacional PDFDocumento51 páginasCartilha Deficit Habitacional PDFLarissa BaldassoAinda não há avaliações
- Ilê Axé Iyá Nassô OkáDocumento395 páginasIlê Axé Iyá Nassô OkáFrancisco Queiroz100% (1)
- CUNHA, Cristina Vital - Religião e CriminalidadeDocumento33 páginasCUNHA, Cristina Vital - Religião e CriminalidadeDiogo IendrickAinda não há avaliações
- Os meandros dos rios nos meandros do poder: Tietê e Pinheiros: valorização dos rios e das várzeas na Cidade de São PauloNo EverandOs meandros dos rios nos meandros do poder: Tietê e Pinheiros: valorização dos rios e das várzeas na Cidade de São PauloAinda não há avaliações
- Urbanismo e Planejamento UrbanoDocumento23 páginasUrbanismo e Planejamento UrbanoMarina Trigo GomesAinda não há avaliações
- A Cidade e A Lei - Raquel RolnikDocumento78 páginasA Cidade e A Lei - Raquel RolnikKellen Dorileo LouzichAinda não há avaliações
- Memorial DescritivoDocumento44 páginasMemorial DescritivoJuarly MarceloAinda não há avaliações
- Aula Habitacao AUP 276 2016Documento75 páginasAula Habitacao AUP 276 2016André Nery FigueiredoAinda não há avaliações
- Oliveira, Adriano (2014) PDFDocumento69 páginasOliveira, Adriano (2014) PDFmonalisa torresAinda não há avaliações
- Tese Ermínia MaricatoDocumento23 páginasTese Ermínia MaricatoAlexsandro Ribeiro100% (2)
- Direito Fiscal - Apontamentos de IRSDocumento22 páginasDireito Fiscal - Apontamentos de IRSMaria Luísa Lobo100% (3)
- Codigo de Obras e Edificacoes ArapiracaDocumento26 páginasCodigo de Obras e Edificacoes Arapiracajohnzin100% (1)
- Tese Luciana VeigaDocumento246 páginasTese Luciana VeigaCarlos FreitasAinda não há avaliações
- Artigo - Pnum 2016 - Fundamentos de Morfologia UrbanaDocumento11 páginasArtigo - Pnum 2016 - Fundamentos de Morfologia UrbanaCamila CravoAinda não há avaliações
- Brasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXINo EverandBrasília: O Desafio da Sustentabilidade Ambiental para o Século XXIAinda não há avaliações
- Urbanismo - A Hegemonia Das Empresas ImobiliáriasDocumento295 páginasUrbanismo - A Hegemonia Das Empresas ImobiliáriasIgor GigsAinda não há avaliações
- Urbanização e Teoria V 1999Documento158 páginasUrbanização e Teoria V 1999Sandoval SandovalAinda não há avaliações
- TRINDADE JR, S-C. Grandes Projetos, Urbanização Do Território e Metropolização Na AmazôniaDocumento18 páginasTRINDADE JR, S-C. Grandes Projetos, Urbanização Do Território e Metropolização Na AmazôniaGeorge BrunoAinda não há avaliações
- Primeira Epistola de Paulo Aos Corintios - Bruce Anstey PDFDocumento63 páginasPrimeira Epistola de Paulo Aos Corintios - Bruce Anstey PDFMartins silvaAinda não há avaliações
- Planejamento Da Intervenção ProfissionalDocumento22 páginasPlanejamento Da Intervenção ProfissionalJosé Geraldo Mion50% (2)
- Urbis Brasiliae, Ou Sobre Cidades Do Brasil - Valério Araujo Soares MedeirosDocumento520 páginasUrbis Brasiliae, Ou Sobre Cidades Do Brasil - Valério Araujo Soares Medeirosbissau_cpAinda não há avaliações
- Relações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNo EverandRelações de urbanidades em habitação de interesse social na cidade de Campina Grande - ParaíbaNota: 5 de 5 estrelas5/5 (1)
- São Paulo Segregação Urbana Flavio VillaçaDocumento22 páginasSão Paulo Segregação Urbana Flavio VillaçaRogério MarquesAinda não há avaliações
- Espaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaNo EverandEspaços habitados e práticas de morar: As múltiplas dimensões de moradia dignaAinda não há avaliações
- U1C.03 - Ascher. Metapolis - Cap 1Documento22 páginasU1C.03 - Ascher. Metapolis - Cap 1marianayulAinda não há avaliações
- 07 Carta Dos AndesDocumento42 páginas07 Carta Dos Andescivilend100% (2)
- Maurício de Abreu - Estudo Geográfico Da Cidade No BrasilDocumento103 páginasMaurício de Abreu - Estudo Geográfico Da Cidade No BrasilBruno MaiaAinda não há avaliações
- Adorno Sergio Os Aprendizes Do PoderDocumento16 páginasAdorno Sergio Os Aprendizes Do Podermonalisa torresAinda não há avaliações
- A Praça Colonial BrasileiraDocumento22 páginasA Praça Colonial BrasileiraIale CamboimAinda não há avaliações
- A Cidade Das TorresDocumento52 páginasA Cidade Das Torresapi-3699098100% (2)
- A Nova Condição Urbana:: espaços Comerciais e de Consumo na Produção e Reestruturação da Cidade Juazeiro do Norte (CE) e Ribeirão Preto (SP)No EverandA Nova Condição Urbana:: espaços Comerciais e de Consumo na Produção e Reestruturação da Cidade Juazeiro do Norte (CE) e Ribeirão Preto (SP)Ainda não há avaliações
- NBR 9283 - Mobiliário UrbanoDocumento4 páginasNBR 9283 - Mobiliário UrbanoFamilia HeberAinda não há avaliações
- Artigo - Abreu, Mauricio de Almeida - Sobre A Memória Das Cidades PDFDocumento19 páginasArtigo - Abreu, Mauricio de Almeida - Sobre A Memória Das Cidades PDFGustavo RosadasAinda não há avaliações
- Artigo - Raquel Rounik - Solo Urbano e Habitação de Interesse SocialDocumento39 páginasArtigo - Raquel Rounik - Solo Urbano e Habitação de Interesse SocialAndré SoaresAinda não há avaliações
- Estudo Dirigido 2Documento3 páginasEstudo Dirigido 2Rafael SoaresAinda não há avaliações
- EDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosDocumento188 páginasEDUARDO PIZARRO Intersticios UrbanosOlivia MaiaAinda não há avaliações
- RELATÓRIO FAPERJ FINAL CartografagensDocumento114 páginasRELATÓRIO FAPERJ FINAL CartografagensRonaldo HernandesAinda não há avaliações
- SERFHAUDocumento13 páginasSERFHAUAltamir FonsecaAinda não há avaliações
- Projeto Rurbano PDFDocumento31 páginasProjeto Rurbano PDFIago ZiulAinda não há avaliações
- HARRIS, Chaucy D. ULLMAN, Edward L. A Natureza Das CidadesDocumento10 páginasHARRIS, Chaucy D. ULLMAN, Edward L. A Natureza Das CidadesCae MartinsAinda não há avaliações
- Os Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto Da Cidade Balanço Crítico e PerspectivasDocumento296 páginasOs Planos Diretores Municipais Pós-Estatuto Da Cidade Balanço Crítico e PerspectivasThiago Hennemann100% (1)
- A Cidade o Seu Estatuto Gestao - Marcelo LopesDocumento8 páginasA Cidade o Seu Estatuto Gestao - Marcelo LopesThaianna ValverdeAinda não há avaliações
- A Producao Social Do Espaço UrbanoDocumento7 páginasA Producao Social Do Espaço UrbanoIgorJose0% (1)
- Analise Urbana - Panerai - Cap4Documento17 páginasAnalise Urbana - Panerai - Cap4Jefferson TomazAinda não há avaliações
- 03-George Benko - A Ciência Regional-40 Anos de InvestigaçãoDocumento25 páginas03-George Benko - A Ciência Regional-40 Anos de InvestigaçãoTiago RaizelAinda não há avaliações
- Alejandro Echeverri - MedellinDocumento12 páginasAlejandro Echeverri - MedellinpaulawtookayAinda não há avaliações
- O Movimento Nacional Pela Reforma Urbana e o Processo de Democratizao Do Planejamento Urbano No BrasilDocumento181 páginasO Movimento Nacional Pela Reforma Urbana e o Processo de Democratizao Do Planejamento Urbano No BrasilCelidonio NavinaAinda não há avaliações
- Aula 1 - Urbanismo TáticoDocumento30 páginasAula 1 - Urbanismo TáticoMonica BarcelosAinda não há avaliações
- A Rua e A Sociedade CapsularDocumento12 páginasA Rua e A Sociedade CapsularMa BelleAinda não há avaliações
- Programação Das Sessões - III CONGEO - Final PDFDocumento46 páginasProgramação Das Sessões - III CONGEO - Final PDFMÖTIM HellvoltisAinda não há avaliações
- Projeto Saturnino de Brito PDFDocumento8 páginasProjeto Saturnino de Brito PDFjenyffervidalAinda não há avaliações
- MARCOS ÜTAVIO BEZERRA - em Nome Das Bases PDFDocumento277 páginasMARCOS ÜTAVIO BEZERRA - em Nome Das Bases PDFThiago PaivaAinda não há avaliações
- Modo de Produção Técnico-Científico e Diferenciação EspacialDocumento16 páginasModo de Produção Técnico-Científico e Diferenciação EspacialJuca LimaAinda não há avaliações
- Salvador E Suas Cores 2017 Arquiteturas Afro-Brasileiras - Um Campo em ConstruçãoDocumento20 páginasSalvador E Suas Cores 2017 Arquiteturas Afro-Brasileiras - Um Campo em ConstruçãoStéfany SilvaAinda não há avaliações
- Tese Fernanda Araujo CuriDocumento345 páginasTese Fernanda Araujo CuriLaura KrebsAinda não há avaliações
- Habitação Social Na Vanguarda Do Movimento Moderno No Brasil - Nabil BondukiDocumento9 páginasHabitação Social Na Vanguarda Do Movimento Moderno No Brasil - Nabil BondukiAzul AraújoAinda não há avaliações
- Geografia - Fascículo 05 - A Urbanização BrasileiraDocumento8 páginasGeografia - Fascículo 05 - A Urbanização BrasileiraConcurso Vestibular100% (12)
- CASTRIOTA - Urbanizacao Brasileira Redescobertas (Cap1)Documento23 páginasCASTRIOTA - Urbanizacao Brasileira Redescobertas (Cap1)patriciattakAinda não há avaliações
- Currículos Diferenciados Das Escolas Indígenas, Quilombolas e CaiçarasDocumento288 páginasCurrículos Diferenciados Das Escolas Indígenas, Quilombolas e CaiçarasPedro NevesAinda não há avaliações
- 2006 Nas Tramas Da Cidade Telles CabanesDocumento381 páginas2006 Nas Tramas Da Cidade Telles CabanesCarmen SilvaAinda não há avaliações
- QUEIROGADocumento285 páginasQUEIROGAMarcelo ArnellasAinda não há avaliações
- Andar A Pé Como Meio de Transporte Um Incentivo A Exploração Da CaminhabilidadeDocumento33 páginasAndar A Pé Como Meio de Transporte Um Incentivo A Exploração Da CaminhabilidadeJason SmithAinda não há avaliações
- Desenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalNo EverandDesenvolvimento Tecnológico E Do Meio Ambiente DigitalAinda não há avaliações
- Diver CIDADEDocumento102 páginasDiver CIDADEJosé NetoAinda não há avaliações
- Preços e Factores Condicionantes Nos Mercados ImobiliáriosDocumento22 páginasPreços e Factores Condicionantes Nos Mercados ImobiliáriosBruno MacedoAinda não há avaliações
- Portaria N.º 59-2015Documento5 páginasPortaria N.º 59-2015Diogo CastroAinda não há avaliações
- Sociedade Organizada (Palestra Transcrita, SESC, Santos, 2003) - Mario Sergio CortellaDocumento22 páginasSociedade Organizada (Palestra Transcrita, SESC, Santos, 2003) - Mario Sergio CortellaWagner CorreiaAinda não há avaliações
- Arquitetura Na Era Da GlobalizaçãoDocumento8 páginasArquitetura Na Era Da GlobalizaçãoJorgeFigueirdoAinda não há avaliações
- Caderno Pedagógico 1 - Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa Educação Estatística - MEC - SEB PDFDocumento80 páginasCaderno Pedagógico 1 - Pacto Nacional Pela Alfabetização Na Idade Certa Educação Estatística - MEC - SEB PDFGley BorgesAinda não há avaliações
- ETN AlfaiaAgricola PDFDocumento121 páginasETN AlfaiaAgricola PDFCarla MarcelinoAinda não há avaliações
- Como Edificar o Lar Firme Na RochaDocumento4 páginasComo Edificar o Lar Firme Na RochaAldemiro FerreiraAinda não há avaliações
- Meu Coracao de Pedra Pomes Juliana FrankDocumento69 páginasMeu Coracao de Pedra Pomes Juliana FrankEllena RizziAinda não há avaliações
- Controversias e Fragilidades Do Plano DiDocumento16 páginasControversias e Fragilidades Do Plano DiFabianoBelemAinda não há avaliações
- Artigo Maria de Oliveira Dama Pé de CabraDocumento14 páginasArtigo Maria de Oliveira Dama Pé de CabraGina PereiraAinda não há avaliações
- Zan PerrionDocumento17 páginasZan PerrionVagner VagnerAinda não há avaliações
- Os Montes Da Serra de Tavira PDFDocumento38 páginasOs Montes Da Serra de Tavira PDFmasterumAinda não há avaliações
- Benevolencia - Bia Machado PDFDocumento17 páginasBenevolencia - Bia Machado PDFRogerio PradoAinda não há avaliações
- De Reinados e de ReisadosDocumento132 páginasDe Reinados e de ReisadosJulianaGarciaAinda não há avaliações
- Edital Bolsa Artigo 171 Fumdes Estudo PDFDocumento10 páginasEdital Bolsa Artigo 171 Fumdes Estudo PDFBruno DimonAinda não há avaliações
- Historia de CampinasDocumento17 páginasHistoria de CampinasNathalie Cristina WutzkiAinda não há avaliações
- P1 - TD 01 - Lar, Doce LarDocumento5 páginasP1 - TD 01 - Lar, Doce LarPedrianne DantasAinda não há avaliações
- Dissertação Fundo Nacional de Moradia PopularDocumento182 páginasDissertação Fundo Nacional de Moradia PopularRafael OliveiraAinda não há avaliações
- COMUNIDADE CRISTO DE BETÂNEA - Documento IntegralDocumento72 páginasCOMUNIDADE CRISTO DE BETÂNEA - Documento Integralwebmasterccdb100% (2)