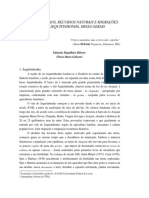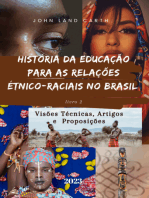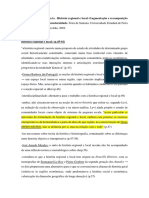Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Analise Do Texto Modo Capitalista de Producao e Agricultura de Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Analise Do Texto Modo Capitalista de Producao e Agricultura de Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Enviado por
Lucas Fonseca0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações5 páginasAnálise e Leitura do texto
Direitos autorais
© © All Rights Reserved
Formatos disponíveis
PDF, TXT ou leia online no Scribd
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoAnálise e Leitura do texto
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
0 notas0% acharam este documento útil (0 voto)
2 visualizações5 páginasAnalise Do Texto Modo Capitalista de Producao e Agricultura de Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Analise Do Texto Modo Capitalista de Producao e Agricultura de Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Enviado por
Lucas FonsecaAnálise e Leitura do texto
Direitos autorais:
© All Rights Reserved
Formatos disponíveis
Baixe no formato PDF, TXT ou leia online no Scribd
Você está na página 1de 5
GEO 231 – Geografia Agrária
Professor a Marilda Teles Maracci
Análise do Texto “Modo Capitalista de Produção e Agricultura” de
Ariovaldo Umbelino de Oliveira
Junimar José Américo de Oliveira - 66408
Discente do Curso de Geografia da UFV
junimar.oliveira@ufv.br
O estudo da agricultura sob o modo capitalista de produção tem-se
caracterizado pelo debate político entre as muitas correntes de pensamento
que dedicam atenção especial ao campo.
Dentre essas correntes o objetivo comum a elas é entender as inúmeras
transformações que o campo vem sofrendo, transformações essas que
redefinem toda a estrutura socioeconômica e política no campo.
Entre essas correntes estão os que entendem essa realidade de
transformações através da destruição dos camponeses e a modernização dos
latifúndios, outros defendem a permanência das relações feudais, e por último
e não menos importante, estão os que defendem a criação e recriação do
campesinato e do latifúndio. É exatamente nesta última corrente que nos
aprofundaremos ao longo desta análise.
Para os autores, os que defendem a 3ª corrente, é o próprio capitalismo
dominante que gera relações de produção capitalistas e não-capitalistas. O
campesinato e o latifúndio devem ser entendidos como de dentro do
capitalismo e não de fora deste, como querem as outras correntes anteriores.
O campesinato deve ser entendido como classe social. Para eles, o camponês
quer sempre entrar na terra, mesmo que saía dela, ele um dia retornará.
Caracterizando assim uma boa parte do campesinato sob o capitalismo como
uma história de (e) migrações. É estranho o texto não se aprofundar, ou ao
menos citar com frequência o processo de expulsão do camponês do campo,
muitos que deixam a terra, não retornam à ela.
Hoje, as discussões maiores em torno do campo, estão focadas no
avanço das fronteiras dos latifúndios que sufoca o pequeno agricultor, o
agricultor familiar, fazendo com que este saía do campo em direção à cidade,
tornando este em mão de obra barata e não especializada, junto desse avanço
da fronteira, está a discussão sobre a posse da terra, a reforma agrária,
assunto fortemente presente em países ditos como subdesenvolvidos, que é o
caso do Brasil, (gostaria de esclarecer que determinadas colocações do texto
serão analisadas de forma a estabelecer um paralelo com a realidade do
campo no Brasil).
A contradição do desenvolvimento do capitalismo para essa corrente é
que para ela a produção do capital nunca decorre de relações especificamente
capitalistas de produção, fundadas, pois, no trabalho assalariado e no capital.
Para que a relação capitalista ocorra é necessário que seus dois elementos
centrais estejam constituídos, o capital produzido e os trabalhadores
despojados dos meios de produção. Entre as relações não-capitalistas de
produção estão o campesinato e a propriedade capitalista da terra, baseadas
na sujeição da renda da terra ao capital, pois assim ele (o capital) pode
subordinar a produção de tipo camponês, pode especular com a terra,
comparando-a e vendendo-a, e pode, por isso, sujeitar o trabalho que se dá na
terra, sem que o trabalhador seja expulso da terra, sem que se dê a
expropriação de seus instrumentos de produção.
Ao longo do texto uma sequência histórica sobre a agricultura será
exposta, passando pelo modo de produção feudalista e sua transição do
feudalismo para o capitalismo.
É no período de transição do feudalismo para o capitalismo que as
relações não-capitalistas surgiram no campo, resultando na aparição de uma
volumosa massa de camponeses proprietários individuais que, na lógica geral
do desenvolvimento capitalista, deveriam posteriormente desaparecer, em
função da chamada superioridade técnica da grande produção capitalista.
Entretanto, houve uma persistência e crescimento dos séculos desses
camponeses, porém atualmente o que podemos destacar é o decréscimo
desse número (situação brasileira).
O texto insistirá muito na temática do desenvolvimento do capitalismo
como um processo contraditório e intrínseco, ele (o texto), fará um retrospecto
sob o modo de produção capitalista.
A produção de mercadorias foi, sobretudo, a característica da primeira
fase do capitalismo. Assim, a etapa de produção imediata e a da distribuição
não eram especificamente capitalistas, porém a circulação e o consumo sim.
Com o desenvolvimento industrial e o consequente crescimento das
cidades, a agricultura foi-se transformando, adaptando-se. Esse processo
adquiriu características distintas em cada país em particular, mas no geral
havia um traço comum.
De modo geral, a agricultura desenvolveu-se em duas direções: de um
lado, a agricultura especificamente capitalista, baseada no trabalho assalariado
e nos arrendamentos; de outro, a agricultura baseada na articulação com as
formas de produção não-capitalistas.
Fazendo esse levantamento histórico do capitalismo e da agricultura,
cabe citar nesta análise o papel das colônias inglesas e dos EUA nas
transformações da agricultura europeia e norte-americana, onde a produção foi
crescendo em escala. A produção de mercadorias para o comércio
internacional foi criando o agricultor especializado, que passou a produzir um
único produto agrícola. A própria falta de mão de obra nas colônias abriu
caminho para a mecanização das lavouras, e com isso aumentou-se a
produtividade do camponês-colono. Somava-se a esses fatores a intensificação
da imigração, que de certa forma acabava por provocar um rebaixamento dos
salários agrícolas nos lugares onde ela se dava, abrindo caminho para a
agricultura capitalista. Como consequência desse processo, a agricultura
europeia entrou em crise, o que criou condições para as alterações estruturais
que vão comandar a agricultura na etapa monopolista do capitalismo.
Nesse processo geral, foram-se criando as condições concretas que
tornaram necessária ao camponês a realização de trabalhos acessórios. E
entre estes se destacou o trabalho assalariado por tempo determinado.
Presença de relação capitalista (assalariamento) e não capitalistas (o
camponês).
Como alternativa para sair da crise, o camponês criou as cooperativas,
porém nem essas conseguiram resolver o seu empobrecimento que ocorria de
forma gradativa, ele sofria a pressão da indústria e dos comerciantes que
esmagavam seus preços adquirindo sua produção sempre abaixo dos preços
que se esperavam. Os lugares onde a manobra e criação das cooperativas
deram um certo sucesso tornaram o camponês num capitalista.
De qualquer forma, esse processo apontava o novo rumo da agricultura:
a sua industrialização.
“Foi através da crise que começou a passagem da sujeição da
renda da terra produzida pelo camponês, do capital comercial
para o capital industrial e, mais que isso, com a cartelização e
nascimento do capital financeiro, a sua sujeição aos
monopólios.”(p.49)
Com o período da história conhecido como imperialismo, houve um
desequilíbrio entre os produtos primários e os produtos manufaturados, entre a
agricultura e a indústria.
A industrialização da agricultura, que é uma evidência desse processo,
gera a agroindústria. É, portanto, o capital que solda novamente o que ele
mesmo separou: agricultura e indústria, cidade e campo. Aqui, o capital sujeita
o trabalho que se dá no campo.
O camponês em menos de cinquenta anos conheceu um aumento
violento da produtividade do seu trabalho.
As relações capitalistas de produção são relações baseadas no
processo de separação dos trabalhadores dos meios de produção, ou seja, os
trabalhadores devem aparecer no mercado como trabalhadores livres de toda a
propriedade, exceto de sua própria força de trabalho.
Assim, os trabalhadores devem estar no mercado livres dos meios de
produção, mas proprietários de sua força de trabalho, para vende-la ao
capitalista; este sim, proprietário dos meios de produção. Um contrato de
compra e venda da força de trabalho. O capitalismo transformou a
desigualdade econômica das classes sociais em igualdade jurídica de todas as
pessoas da sociedade.
Assim, a relação que, de início, no plano jurídico era de igualdade,
revela sua verdadeira face, tornando-se no plano econômico uma relação de
desigualdade: o capitalista ganha e o trabalhador perde. O que o capitalista
ganha nessa relação é a fração de valor criado que não é revertida para o
trabalhador (mais valia) e sim apropriada pelo capitalista sob a forma de lucro
do capital, ou seja, como sendo propriedade do capital.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de Produção Capitalista, Agricultura
e Reforma Agrária. São Paulo: Labur Edições, 2007, 184p.
Você também pode gostar
- Estado e Politicas Sociais Fundamentos e ExperienciasDocumento306 páginasEstado e Politicas Sociais Fundamentos e Experienciasmychelrios100% (1)
- Fichamento: Formação Espacial Brasileira: Espaço Agrário e As Classes Rurais Na Sociedade Brasileira Plantation e Formação Espacial, As Raízes Do Estado Nação No Brasil, Ruy MoreiraDocumento4 páginasFichamento: Formação Espacial Brasileira: Espaço Agrário e As Classes Rurais Na Sociedade Brasileira Plantation e Formação Espacial, As Raízes Do Estado Nação No Brasil, Ruy MoreiraBiiah RamagnoliAinda não há avaliações
- Políticas públicas e transformações sociais contemporâneasNo EverandPolíticas públicas e transformações sociais contemporâneasAinda não há avaliações
- De Marx À Agroecologia A Transição Sociotécnica Na Reforma Agrária BrasileiraDocumento404 páginasDe Marx À Agroecologia A Transição Sociotécnica Na Reforma Agrária BrasileiraAdriano SantosAinda não há avaliações
- A Formação Do Campesinato No Brasil - Mário Maestri - 2004Documento44 páginasA Formação Do Campesinato No Brasil - Mário Maestri - 2004Thiago Souza da SilvaAinda não há avaliações
- Resenha - O Território e o Saber LocalDocumento2 páginasResenha - O Território e o Saber LocalArthur Pereira100% (1)
- Fichamento de A GEOGRAFIA AGRÁRIA E AS TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS RECENTES NO CAMPO BRASILEIRODocumento5 páginasFichamento de A GEOGRAFIA AGRÁRIA E AS TRANSFORMAÇÕES TERRITORIAIS RECENTES NO CAMPO BRASILEIROLarissa Santos100% (2)
- Discurso Mestre e CerimoniaDocumento7 páginasDiscurso Mestre e CerimoniaJunimar OliveiraAinda não há avaliações
- Manual de Gestao de Recursos HumanosDocumento205 páginasManual de Gestao de Recursos HumanosSergio Alfredo Macore95% (42)
- Juros, Moeda e OrtodoxiaDocumento17 páginasJuros, Moeda e OrtodoxiaGustavo Melo VieiraAinda não há avaliações
- Resenha - CativeiroDocumento4 páginasResenha - CativeiroAndresa Santana100% (2)
- Carvalho, Horácio - O Campones e A Superacao de Um Destino MediocreDocumento16 páginasCarvalho, Horácio - O Campones e A Superacao de Um Destino MediocreJaba de SojaAinda não há avaliações
- De Centro a Periferia: Transformações no Mercado Interno Paulista (Séc. XIX)No EverandDe Centro a Periferia: Transformações no Mercado Interno Paulista (Séc. XIX)Ainda não há avaliações
- Júlio César Suzuki - Avanços Téoricos e Metodológicos Na Leitura Da América LatinaDocumento22 páginasJúlio César Suzuki - Avanços Téoricos e Metodológicos Na Leitura Da América LatinaIbu Renata ArgôloAinda não há avaliações
- TCC Disertaçao o Cativeiro Da TerraDocumento0 páginaTCC Disertaçao o Cativeiro Da TerraMaYra BorgesAinda não há avaliações
- Livro Aviovaldo OliveiraDocumento185 páginasLivro Aviovaldo Oliveiraedumendesgeo1867100% (5)
- Ribeiro & Galizoni - Sistemas Agrários, Recursos Naturais e Migrações No Alto JequitinhonhaDocumento18 páginasRibeiro & Galizoni - Sistemas Agrários, Recursos Naturais e Migrações No Alto JequitinhonhaRodrigo LemosAinda não há avaliações
- Processos de Constituição e Reprodução Do Campesinato No BrasilDocumento273 páginasProcessos de Constituição e Reprodução Do Campesinato No BrasildiegochayanovAinda não há avaliações
- Bolívia - Crise de Coesão Territorial No Coração Da América Do SulDocumento116 páginasBolívia - Crise de Coesão Territorial No Coração Da América Do SulMaria DominguesAinda não há avaliações
- A Formação Econômica Do Brasil e A Questão RegionalDocumento30 páginasA Formação Econômica Do Brasil e A Questão RegionalSociologiadeCombateAinda não há avaliações
- O Espaço Geográfico BrasileiroDocumento2 páginasO Espaço Geográfico BrasileiroDecio Melo100% (1)
- RESENHA - CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA MARX, Karl.Documento2 páginasRESENHA - CONTRIBUIÇÃO À CRÍTICA DA ECONOMIA POLÍTICA MARX, Karl.solguimaAinda não há avaliações
- "Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Documento21 páginas"Escravos Da Nação" o Público e o Privado Na Escravidão Brasileira (1760 - 1876)Gabriel DominguesAinda não há avaliações
- A Aventura Cartografica Perspectivas PesDocumento6 páginasA Aventura Cartografica Perspectivas PesAlexAlmeidaCoelhoAinda não há avaliações
- História Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2No EverandHistória Da Educação Para As Relações Étnico Raciais No Brasil Livro 2Ainda não há avaliações
- Pirenne e Dobb Quanto Ao Fim Do FeudalisDocumento5 páginasPirenne e Dobb Quanto Ao Fim Do FeudalisLuma Pinheiro100% (1)
- O Povo BrasileiroDocumento36 páginasO Povo Brasileiroal feAinda não há avaliações
- Os Trabalhadores Do Campo e Desencontros Nas Lutas Por Direitos - Leonilde ServoloDocumento30 páginasOs Trabalhadores Do Campo e Desencontros Nas Lutas Por Direitos - Leonilde ServoloLeo AmaralAinda não há avaliações
- Amazônia - Geopolítica Do III Milênio - Bertha BeckerDocumento1 páginaAmazônia - Geopolítica Do III Milênio - Bertha BeckerDioleno SilvaAinda não há avaliações
- Fichamento Bertha Becka (Salvo Automaticamente)Documento7 páginasFichamento Bertha Becka (Salvo Automaticamente)Cesar Augusto SilvaAinda não há avaliações
- Resenha Obra Menino de EngenhoDocumento1 páginaResenha Obra Menino de Engenhomeirilan0% (1)
- A Crise Dos Anos Vinte e A Revolução de TrintaDocumento25 páginasA Crise Dos Anos Vinte e A Revolução de TrintaJoelson RamosAinda não há avaliações
- José Sérgio Leite Lopes - Lygia Sigaud (1945-2009)Documento4 páginasJosé Sérgio Leite Lopes - Lygia Sigaud (1945-2009)João DiasAinda não há avaliações
- HEILBRONER, Robert. A Natureza e A Lógica Do CapitalismoDocumento2 páginasHEILBRONER, Robert. A Natureza e A Lógica Do CapitalismoProfessores Egina Carli e Eduardo CarneiroAinda não há avaliações
- Questao Agraria - KautskyDocumento184 páginasQuestao Agraria - KautskyAdalberto MotaAinda não há avaliações
- RESENHA: A Era Dos Extremos - Cap. 13Documento5 páginasRESENHA: A Era Dos Extremos - Cap. 13Maik Ribeiro100% (1)
- Resenha Amazônia Geopolítica Na Virada Do III MilênioDocumento3 páginasResenha Amazônia Geopolítica Na Virada Do III MilêniotanzomatAinda não há avaliações
- Homem No NordesteDocumento5 páginasHomem No NordesteJoão BatistaAinda não há avaliações
- Eric J. Hobsbawm - Pessoas Extraordinárias: Resistência, Rebelião e Jazz-Paz e Terra (1998)Documento436 páginasEric J. Hobsbawm - Pessoas Extraordinárias: Resistência, Rebelião e Jazz-Paz e Terra (1998)Mark SaradoAinda não há avaliações
- CE-792 - 1sem 2018 ProgramaDocumento2 páginasCE-792 - 1sem 2018 ProgramaLucas CamargoAinda não há avaliações
- NEVES, ErivaldoDocumento3 páginasNEVES, ErivaldoNiki SukowAinda não há avaliações
- Delimitação Conceitual de Campesinato Bernardo MançanoDocumento3 páginasDelimitação Conceitual de Campesinato Bernardo MançanoLucas PauliAinda não há avaliações
- Escravidão Contemporânea - Parte1Documento36 páginasEscravidão Contemporânea - Parte1savium100% (1)
- Por Amor A CidadesDocumento4 páginasPor Amor A CidadesgiseleAinda não há avaliações
- Revolução CubanaDocumento24 páginasRevolução CubanaJoão Henrique Magalhães da SilvaAinda não há avaliações
- Falcon ResumoDocumento1 páginaFalcon ResumoJúlia SalesAinda não há avaliações
- A Assim Chamada Acumulação Primitiva - ResumoDocumento4 páginasA Assim Chamada Acumulação Primitiva - ResumojgbelliniAinda não há avaliações
- REBOUÇAS Agricultura NacionalDocumento5 páginasREBOUÇAS Agricultura NacionalMedeiros ClaudioAinda não há avaliações
- O Campesinato Brasileiro: Uma História de Resistência Maria de Nazareth WanderleyDocumento20 páginasO Campesinato Brasileiro: Uma História de Resistência Maria de Nazareth WanderleyTamara Cecilia100% (1)
- Elegia para Uma Re (Li) Gião - Francisco de OliveiraDocumento68 páginasElegia para Uma Re (Li) Gião - Francisco de OliveirawellmedeirosAinda não há avaliações
- Apresentação de Português (Fogo Morto)Documento11 páginasApresentação de Português (Fogo Morto)Maria Carolina Sá NunesAinda não há avaliações
- A Economia Brasileira de Werner BaerDocumento8 páginasA Economia Brasileira de Werner BaerEros AbreuAinda não há avaliações
- A Teoria Marxista Das Classes e Da Luta de Classes - F. FedosoeyevDocumento15 páginasA Teoria Marxista Das Classes e Da Luta de Classes - F. FedosoeyevLucasBPelissariAinda não há avaliações
- Tradição, Memória e Direitos em Uma Comunidade de Quebradeiras de Coco BabaçuDocumento127 páginasTradição, Memória e Direitos em Uma Comunidade de Quebradeiras de Coco BabaçuAssessoriaAinda não há avaliações
- Adeus Ao Proletariado de André GorzDocumento12 páginasAdeus Ao Proletariado de André GorzBreno AugustoAinda não há avaliações
- Jorge Ferreira e Lucilia de Almeida N. Delgado (Org.) O Brasil RepublicanoDocumento5 páginasJorge Ferreira e Lucilia de Almeida N. Delgado (Org.) O Brasil RepublicanoEverton OtazúAinda não há avaliações
- Eros e Civilização - Uma Interpretação Filosófica Do Pensamento de Freud - Passa PalavraDocumento10 páginasEros e Civilização - Uma Interpretação Filosófica Do Pensamento de Freud - Passa PalavraJoxAinda não há avaliações
- HARVEY, David. O Novo ImperialismoDocumento32 páginasHARVEY, David. O Novo ImperialismoDiegoMaggiAinda não há avaliações
- Saúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)No EverandSaúde pública e pobreza em São Luís na Primeira República (1889/1920)Ainda não há avaliações
- A proteção jurídica da terra no Brasil: uma análise ecossocialista do DireitoNo EverandA proteção jurídica da terra no Brasil: uma análise ecossocialista do DireitoAinda não há avaliações
- "A gente leva o dinheiro, mas fica o couro": A vida e a lida de camponeses piauienses após o trabalho no corte de cana em agroindústrias brasileirasNo Everand"A gente leva o dinheiro, mas fica o couro": A vida e a lida de camponeses piauienses após o trabalho no corte de cana em agroindústrias brasileirasAinda não há avaliações
- Ensino Fundamental Provas Bimestrais 2018 9o Ano Prova Bimestral 1 GeografiaDocumento4 páginasEnsino Fundamental Provas Bimestrais 2018 9o Ano Prova Bimestral 1 GeografiaJunimar OliveiraAinda não há avaliações
- Cartilha Do Condômino PDFDocumento64 páginasCartilha Do Condômino PDFJunimar OliveiraAinda não há avaliações
- Bruno Cerqueira Outeiro Da Gloria e Gloria Do Outeiro Versao CompletaDocumento11 páginasBruno Cerqueira Outeiro Da Gloria e Gloria Do Outeiro Versao CompletaJunimar OliveiraAinda não há avaliações
- Lista Exercícios - Cartografia - Cap. 01Documento8 páginasLista Exercícios - Cartografia - Cap. 01Junimar OliveiraAinda não há avaliações
- Projeto - Assentamento Padre Jésus - Espera Feliz, MG Desenvolvimento Rural A Par T Ir Da Participaçâo Dos AssentadosDocumento11 páginasProjeto - Assentamento Padre Jésus - Espera Feliz, MG Desenvolvimento Rural A Par T Ir Da Participaçâo Dos AssentadosJunimar OliveiraAinda não há avaliações
- Data Sheet XLPE (ANH-CVE 1200mm )Documento3 páginasData Sheet XLPE (ANH-CVE 1200mm )Alex RibeiroAinda não há avaliações
- Historia Da Gastronomia FrancesaDocumento9 páginasHistoria Da Gastronomia FrancesaTony TavaresAinda não há avaliações
- A Indústria Do Alumínio - Estrutura e TendênciasDocumento46 páginasA Indústria Do Alumínio - Estrutura e TendênciasArlon MartinsAinda não há avaliações
- Anodização - Processo Completo PDFDocumento52 páginasAnodização - Processo Completo PDFPedro Gabriel Izabel100% (1)
- Alvenaria de ElevaçãoDocumento63 páginasAlvenaria de ElevaçãoMRocha89Ainda não há avaliações
- Bauhaus - Acertos, Fracassos e Ensino.Documento11 páginasBauhaus - Acertos, Fracassos e Ensino.DUDDOBRAinda não há avaliações
- Tecnologia Da Modelagem II - Icléia SilveiraDocumento101 páginasTecnologia Da Modelagem II - Icléia SilveiraCristiana MouraAinda não há avaliações
- Tti Marketing ImobDocumento101 páginasTti Marketing ImobAdriano Ferreira100% (1)
- Manual Bomba D'Agua (XXXXXXXXXXX)Documento24 páginasManual Bomba D'Agua (XXXXXXXXXXX)João Victor Biancardi100% (1)
- Principais Normas Técnicas ABNTDocumento2 páginasPrincipais Normas Técnicas ABNTMarcus Vinicius Fernandes GrossiAinda não há avaliações
- Técnicas de EstocagemDocumento4 páginasTécnicas de EstocagemSérgioLucioAinda não há avaliações
- Slides FilosofiaDocumento37 páginasSlides Filosofiaresmaia3007Ainda não há avaliações
- Zenite Ecologico e Nadir Econômico-Social - Samuel BenchimolDocumento244 páginasZenite Ecologico e Nadir Econômico-Social - Samuel BenchimolNeto Correa100% (1)
- Standardização e Modularização Dos Cilindros Hidráulicos Das Quinadoras PDFDocumento104 páginasStandardização e Modularização Dos Cilindros Hidráulicos Das Quinadoras PDFLicinio FigueiraAinda não há avaliações
- NBR 7289 PDFDocumento16 páginasNBR 7289 PDFLeonardo Borsari Sixel100% (1)
- Catalogo Isorecort 2016 Web PDFDocumento7 páginasCatalogo Isorecort 2016 Web PDFluizhenriquepereiraAinda não há avaliações
- Currículo Fred Souza - Rev.01Documento4 páginasCurrículo Fred Souza - Rev.01Roberto BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila SENAI MecanicaDocumento148 páginasApostila SENAI MecanicaElcilaine Pitzer100% (1)
- Programa Coleta Descarte PilhasDocumento3 páginasPrograma Coleta Descarte Pilhasmaluc0nAinda não há avaliações
- Artigo Profissional de LogísticaDocumento12 páginasArtigo Profissional de LogísticaCarolini BarbosaAinda não há avaliações
- Apostila 2015 - 1Documento185 páginasApostila 2015 - 1Cristiano HenriqsonAinda não há avaliações
- Objetos de Desejo - Adrian FortyDocumento17 páginasObjetos de Desejo - Adrian FortyNato OlveraAinda não há avaliações
- Catalogo 3ts 3us PDFDocumento36 páginasCatalogo 3ts 3us PDFaleluiagospelAinda não há avaliações
- 3ESTUDODECASOBOMFRIODocumento4 páginas3ESTUDODECASOBOMFRIOLeonardo VianaAinda não há avaliações
- 1 Caracterizacao de UansDocumento20 páginas1 Caracterizacao de UansARTENUTRI100% (1)
- O Manifesto de Medição de DesempenhoDocumento9 páginasO Manifesto de Medição de DesempenhoPaulo VictorAinda não há avaliações
- Analise Socio Economica - Porto FelizDocumento22 páginasAnalise Socio Economica - Porto FelizMarcos Alberto Stanischesk MolnarAinda não há avaliações