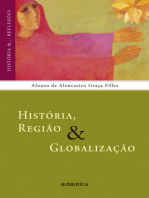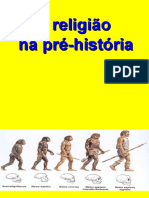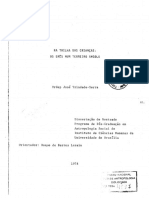Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Bourdieu - Espaço Fisico, Espaço Social PDF
Bourdieu - Espaço Fisico, Espaço Social PDF
Enviado por
Tiago BonatoTítulo original
Direitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Bourdieu - Espaço Fisico, Espaço Social PDF
Bourdieu - Espaço Fisico, Espaço Social PDF
Enviado por
Tiago BonatoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Espaço físico, espaço social
e espaço físico apropriado1
Pierre Bourdieu
A
sociologia deve atentar para o fato de que os seres humanos são, simul-
taneamente, indivíduos biológicos e agentes sociais que são constituídos
como tais na e pela relação com o espaço social, ou melhor, com campos.
Enquanto corpos e indivíduos biológicos, eles estão, assim como as coisas, situa-
dos em um lugar (eles não são dotados da ubiquidade física que lhes permitiria
estar em vários lugares ao mesmo tempo), e ocupam um local.2 O lugar, topos,
pode ser definido absolutamente como o sítio em que um agente ou uma coisa
se situam, “têm lugar”, existem, enfim, como localização; ou, relativamente,
relacionalmente, como posição, escalão no interior de uma ordem. O local ocu-
pado pode ser definido como a extensão, a superfície e o volume que um agente
ou uma coisa ocupa; suas dimensões, ou melhor, suas medidas externas3 (como
se diz, às vezes, de um veículo ou de um móvel).
Como o espaço físico é definido pela exterioridade recíproca das partes, o
espaço social é definido pela exclusão mútua (ou distinção) das posições que o
constituem; isto é, como estrutura de justaposição de posições sociais. Os agentes
sociais, e também as coisas – do modo como elas são apropriadas pelos agentes, e,
portanto, constituídas como propriedades –, situam-se em um lugar do espaço
social que pode ser caracterizado por sua posição relativa quanto aos outros lu-
gares (acima, abaixo, entre etc.); e pela distância que o separa deles.
Com efeito, o espaço social tende a se retraduzir, de maneira mais ou
menos rigorosa, no espaço físico sob a forma de um determinado arranjo distri-
butivo dos agentes e das propriedades. Consequentemente, todas as distinções
propostas em relação ao espaço físico residem no espaço social reificado (ou, o
que dá no mesmo, no espaço físico apropriado), que é definido – para falar como
Leibniz – pela correspondência entre uma determinada ordem de coexistência dos
agentes e uma determinada ordem de coexistência das propriedades.4 Cada agente
se caracteriza pelo lugar em que está situado de maneira mais ou menos perma-
nente: o domicílio (aquele do qual se diz que é “sem eira nem beira”5 ou “sem
domicílio fixo” não tem – quase – existência social); e ele se caracteriza pela po-
sição relativa que suas localizações temporárias (por exemplo os locais de honra,
posicionamentos regrados pelo protocolo) e, sobretudo, permanentes (ende-
reço privado e endereço profissional) ocupam em relação às localizações dos
outros agentes. Ele caracteriza-se também pela posição que ocupa (juridicamen-
te) no espaço, através de suas propriedades (casas, apartamentos ou escritórios,
estudos avançados 27 (79), 2013 133
terras para cultivar, explorar ou construir etc.), que são mais ou menos espaçosas
ou, como se diz às vezes, “space consuming” (a ostentação do espaço apropriado
sendo uma das formas por excelência da ostentação do poder). Consequente-
mente, o lugar e o local ocupados por um agente no espaço físico apropriado
constituem excelentes indicadores de sua posição no espaço social. É preciso
notar, de passagem, que uma parte da inércia das estruturas constitutivas do es-
paço social resulta do fato de que elas estão inscritas no espaço físico, e só podem
ser modificadas à custa de um trabalho de transplantação, de uma mudança das
coisas, e de um desenraizamento ou de uma deportação das pessoas – operações
necessariamente custosas.
A estrutura do espaço social se manifesta assim, nos mais diversos contex-
tos, sob a forma de oposições espaciais, o espaço habitado (ou apropriado) fun-
cionando como uma espécie de metáfora espontânea do espaço social. Em uma
sociedade hierarquizada, não existe espaço que não seja hierarquizado e que não
exprima as hierarquias e as diferenças sociais de um modo deformado (mais ou
menos) e, sobretudo, mascarado pelo efeito de naturalização acarretado pela
inscrição durável das realidades sociais no mundo físico: diferenças produzidas
pela lógica social podem, assim, parecer emergidas da natureza das coisas (basta
pensar na ideia de “fronteira natural”).
Assim, a divisão em duas partes do espaço interno da casa kabyle – por mim
já analisada detalhadamente6 – constitui, sem dúvida, o paradigma de todas as di-
visões em lugares separados (na igreja, na escola, nos lugares públicos e na pró-
pria casa) nas quais se retraduzia e ainda se retraduz, embora de modo cada vez
mais discreto, a estrutura da divisão do trabalho entre os sexos. Mas, da mesma
forma, poderíamos analisar a estrutura do espaço escolar, que, em suas diversas
variantes, tende sempre a marcar o local eminente do professor (a cátedra); ou a
estrutura do espaço urbano: assim, por exemplo, o espaço parisiense apresenta,
além da retradução principal das diferenças econômicas e culturais na distribui-
ção espacial das habitações entre os bairros centrais e os bairros periféricos e os
subúrbios, uma oposição secundária, mas bem marcada, entre a “margem direi-
ta” e a “margem esquerda”, a qual corresponde à divisão fundamental do campo
do poder entre, grosso modo, a arte e os negócios.
Vê-se aí o exemplo de uma divisão social objetivada no espaço físico, que,
como já apontei alhures, funciona simultaneamente como princípio de visão e de
divisão, como categoria de percepção e de apreciação; em suma, como estrutura
mental (a casa kabyle foi outro exemplo disso). E pode-se pensar que estruturas
do espaço físico apropriado constituem uma das mediações através das quais as
estruturas sociais se convertem em sistemas de preferências e em estruturas men-
tais. Mais precisamente, a inscrição imperceptível, nos corpos, das estruturas da
ordem social ocorre certamente, em grande parte, através dos deslocamentos e
dos movimentos do corpo, das poses e das posturas corporais que essas estruturas
sociais convertidas em estruturas espaciais organizam e qualificam socialmente
134 estudos avançados 27 (79), 2013
como ascensão ou declínio, entrada (inclusão) ou saída (exclusão), aproximação
ou distanciamento em relação a um lugar central e valorizado (basta pensar na
metáfora do “fogão”,7 ponto dominante da casa kabyle, que Halbwachs reto-
mou com naturalidade para falar do “foco dos valores culturais”8): penso, por
exemplo, no porte respeitoso que evocam o tamanho e a altura (aqueles do mo-
numento, do pódio ou da tribuna) ou, ainda, a frontalidade das obras esculturais
ou pictóricas; ou, mais sutilmente, penso em todas as atitudes de deferência e de
reverência que a simples qualificação social do espaço (locais de honra, a primei-
ra fila etc.) e todas as hierarquizações práticas das regiões do espaço (parte alta/
parte baixa, parte nobre/parte vergonhosa, proscênio/bastidores, fachada/de-
pósito, lado direito/lado esquerdo etc.) tacitamente impõem.
O espaço apropriado é um dos lugares onde o poder se afirma e se exerce,
e provavelmente sob a forma mais sutil, a da violência simbólica como violên-
cia despercebida: os espaços arquitetônicos – cujas injunções mudas se dirigem
diretamente ao corpo, obtendo deste, tão certamente quanto a etiqueta das
sociedades de corte, a reverência, o respeito que, como diz o latim, nasce do
distanciamento (e longinquo reverentia); ou melhor, do estar longe, a distância
respeitosa – são sem dúvida os componentes mais importantes da simbologia
do poder, em razão mesmo de sua invisibilidade (até para os próprios analistas,
geralmente ligados, como os historiadores após Schramm, aos símbolos mais
visíveis, cetros e coroas9).
O espaço social se encontra assim inscrito simultaneamente na objetivi-
dade das estruturas espaciais e nas estruturas subjetivas que são, em parte, o
produto da incorporação dessas estruturas objetivadas. É desse modo que, como
já apontei, a oposição entre a “margem esquerda” do Sena (hoje praticamente
estendida aos subúrbios) e a margem direita – que os mapas e as análises esta-
tísticas (dos públicos para os teatros; ou das características dos artistas expostos
para as galerias) tornam evidente – está presente “na cabeça” dos espectadores
potenciais, mas também dos autores teatrais ou dos pintores e dos críticos sob a
forma da oposição, que funciona como uma categoria de percepção e de apre-
ciação, entre o teatro de vanguarda, de pesquisa, e o teatro de bulevar, confor-
mista, repetitivo; entre o público jovem e o público idoso e burguês, ou ainda
entre o cinema de arte e experimental e as salas exclusivas etc.
Nada é mais difícil, vê-se, do que sair do espaço social reificado a fim de
pensá-lo, sobretudo em sua diferença em relação ao espaço social. E isso tanto
mais pelo fato de que o espaço social é, enquanto tal, predisposto a se deixar visua-
lizar sob a forma de esquemas espaciais, e porque a linguagem mais comumente
utilizada para falar disso é carregada de metáforas emprestadas do espaço físico.
1) Espaço físico e espaço social
É preciso, portanto, começar estabelecendo uma distinção clara entre o
espaço físico e o espaço social para, em seguida, indagar-se como e em quê a
localização em um ponto (inseparável de um ponto de vista) do espaço físico (e
estudos avançados 27 (79), 2013 135
a presença no referido ponto) pode afetar a representação que os agentes têm de
sua posição no espaço social e, portanto, de sua própria prática.
O espaço social não é o espaço físico, mas ele tende a se realizar de forma
mais ou menos completa e exata nesse espaço. O que explica que tenhamos tan-
ta dificuldade de pensá-lo enquanto tal, em estado separado. O espaço, tal como
nós o habitamos e como o conhecemos, é socialmente marcado e construído.
O espaço físico só pode ser pensado como tal por meio de uma abstração (geo-
grafia física); ou seja, ignorando-se decididamente tudo o que ele deve ao fato
de ser um espaço habitado e apropriado, isto é, uma construção social e uma
projeção do espaço social, uma estrutura social em estado objetivado (por exem-
plo, a casa kabyle ou a planta de uma cidade), a objetivação e a naturalização de
relações sociais passadas e presentes.
O espaço social, espaço abstrato constituído pelo conjunto dos subespaços
ou dos campos (campo econômico, campo intelectual etc.), dos quais cada um
deve sua estrutura à distribuição desigual de uma espécie particular de capital,
pode ser apreendido sob a forma da estrutura da distribuição das diferentes espé-
cies de capital que funcionam, simultaneamente, como instrumentos e objetos de
lutas no conjunto dos campos (o que, em A Distinção, é designado como volume
global e estrutura do capital10). O espaço social fisicamente realizado (ou objeti-
vado) se apresenta como distribuição, no espaço físico, de diferentes espécies de
bens e serviços e também de agentes individuais e grupos fisicamente localizados
(enquanto corpos ligados a um lugar permanente: domicílio fixo ou residência
principal) e dotados de oportunidades de apropriação desses bens e serviços mais
ou menos importantes (em função de seu capital, e também da distância física em
relação a esses bens, a qual também depende de seu capital). É essa dupla distri-
buição no espaço dos agentes enquanto indivíduos biológicos, e dos bens, que
define o valor diferencial das diversas regiões do espaço social realizado.
As distribuições no espaço físico dos bens e serviços correspondendo aos
diferentes campos, ou, se preferirmos, os diferentes espaços sociais fisicamente
objetivados, tendem a se sobrepor, pelo menos grosseiramente: resultam daí
concentrações dos bens mais raros e de seus proprietários em determinados lu-
gares do espaço físico (Fifth Avenue, Rue du Faubourg Saint-Honoré), que se
opõem assim, sob todos os aspectos, aos lugares que agrupam principalmente, e
às vezes exclusivamente, os mais desprovidos (guetos). Tais lugares constituem
armadilhas para o analista em relação ao fato de que, aceitando-os como tais, o
observador imprudente (como aquele que tenta analisar a simbólica que é carac-
terística dos comércios de luxo da Madison Avenue e da Fifth Avenue, o uso de
nomes próprios ou comuns emprestados do francês, o emprego de duplos no-
bres dos nomes usuais de profissões, a evocação da antiguidade etc.) condena-se
a uma abordagem substancialista e realista, que deixa escapar o essencial: assim
como a Madison Avenue, a Rue du Faubourg Saint-Honoré reúne negociantes
de quadros, antiquários, casas de alta costura, calçadistas, pintores, decoradores
136 estudos avançados 27 (79), 2013
etc.; ou seja, todo um conjunto de comércios que têm em comum o fato de
ocuparem posições elevadas (portanto, homólogas entre si) em seus campos (ou
espaços sociais) respectivos, e que só podem ser compreendidos naquilo que
têm de mais específico, a começar por seus nomes, em relação com os comér-
cios pertencentes ao mesmo campo, mas situados em outras regiões do espaço
parisiense. Por exemplo, os decoradores da Rue du Faubourg Saint-Honoré se
opõem (e primeiramente por seu nome nobre, mas também por todas as suas
características, natureza, qualidade e preço dos produtos oferecidos, qualidade
social da clientela etc.) àqueles que, no Faubourg Saint-Antoine, chamamos de
marceneiros; os hairdressers estabelecem uma relação homóloga com os simples
cabeleireiros, os calçadistas com os sapateiros etc. Assim, na medida que apenas
concentra os pólos positivos de todos os campos (como o gueto concentra todos
os pólos negativos), esse espaço não tem em si mesmo sua verdade. O mesmo
ocorre com a capital, que, ao menos no caso da França, é, sem jogo de palavras,
o lugar do capital; isto é, o lugar do espaço físico onde estão concentrados os
ápices de todos os campos e a maioria dos agentes que ocupam essas posições
dominantes. Ela só pode ser, portanto, pensada adequadamente em relação à
província, que não é nada além da privação (relativa) da capital e do capital.
2) A gênese da estrutura do espaço físico apropriado
O espaço ou, mais precisamente, os lugares e as posições do espaço social
reificado ou do espaço físico apropriado, devem a sua raridade e o seu valor ao
fato de serem um dos objetos de lutas de que os diferentes campos são o lugar,
na medida que marcam ou asseguram uma vantagem mais ou menos decisiva
nessas lutas.
A capacidade de dominar o espaço apropriado, notadamente apropriando-
-se (material ou simbolicamente) dos bens raros (públicos ou privados) que aí se
encontram distribuídos, depende do capital possuído. O capital permite manter
a distância pessoas e coisas indesejáveis e, ao mesmo tempo, aproximar-se das
pessoas e coisas desejáveis, minimizando assim o dispêndio (notadamente de
tempo) necessário para delas se apropriar. Inversamente, aqueles que são des-
providos de capital são mantidos à distância, seja física ou simbolicamente, dos
bens socialmente mais raros, e condenados a conviver com as pessoas ou bens
mais indesejáveis e menos raros. A ausência de capital leva ao seu paroxismo a
experiência da finitude: ela acorrenta a um lugar. Inversamente, a posse do ca-
pital garante, além da proximidade física (residência) em relação aos bens raros,
a quase ubiquidade que torna possível o domínio econômico e simbólico dos
meios de transporte e de comunicação (e que é frequentemente redobrado pelo
efeito da delegação, poder de existir e de agir à distância por interposta pessoa).
Resulta daí que a estrutura da distribuição espacial dos poderes, isto é, das
propriedades durável e legitimamente apropriadas e dos agentes com oportuni-
dades desiguais de acesso ou de apropriação material ou simbólica (oportunida-
des que, conforme se viu, definem-se na relação entre a distribuição espacial dos
estudos avançados 27 (79), 2013 137
agentes – definidos inseparavelmente como corpos localizados e como detento-
res de capital – e a distribuição dos bens ou serviços socialmente disponíveis),
representa a forma objetivada de um estado das lutas sociais pelo que se pode
denominar os lucros do espaço.
Essas lutas podem assumir uma forma individual: a mobilidade espacial,
intra ou intergeracional – os deslocamentos nos dois sentidos entre a capital
e a província, por exemplo, ou os endereços sucessivos no interior do espaço
hierarquizado da capital –, constitui um bom indicador dos êxitos ou fracassos
obtidos nessas lutas e, mais amplamente, de toda a trajetória social (desde que
se considere que, do mesmo modo como agentes de idades e trajetórias sociais
diferentes, altos quadros jovens e quadros médios mais velhos, por exemplo,
podem coexistir temporariamente nos mesmos postos de trabalho, eles podem
reencontrar-se, também temporariamente, em lugares de residência vizinhos).
As lutas pelo espaço também podem se realizar em escala coletiva, através
notadamente das lutas políticas que se desenrolam desde o nível nacional, com
as políticas habitacionais, até o nível municipal, notadamente através da constru-
ção e atribuição de moradias sociais ou das escolhas em termos de equipamentos
públicos: elas têm efetivamente como objeto a construção de grupos homogêneos
de base espacial; ou seja, uma segregação social que é simultaneamente causa e
efeito da posse exclusiva de um espaço e dos equipamentos necessários ao grupo
que o ocupa, e à sua reprodução. (A dominação do espaço é uma das formas
privilegiadas do exercício da dominação, e a manipulação da distribuição dos
grupos no espaço foi sempre colocada a serviço da manipulação dos grupos –
pensa-se aqui particularmente nos usos do espaço pelas diferentes formas de
colonização.)
Os lucros espaciais podem assumir a forma de lucros de localização, eles
mesmos passíveis de serem analisados em duas classes: as rendas de situação, que
são associadas ao fato de se estar situado perto de coisas (bens ou serviços tais
como os equipamentos educativos, culturais ou sanitários) e de agentes (uma
determinada vizinhança implicando lucros de tranquilidade, de segurança etc.)
raros e desejáveis, ou longe de bens ou de agentes indesejáveis; os lucros de
posição ou de gradação (como os que são assegurados por um endereço presti-
gioso), caso particular dos lucros simbólicos de distinção que são associados à
posse monopolista de uma propriedade distintiva. (As distâncias físicas podendo
ser medidas segundo uma métrica espacial ou, melhor, segundo uma métrica
temporal – na medida que os deslocamentos tomam um tempo mais ou menos
longo, conforme as possibilidades de acesso a meios de transporte, públicos ou
privados –, e o poder que o capital, sob suas diferentes formas, confere ao espa-
ço é também, simultaneamente, um poder sobre o tempo). Os lucros espaciais
podem assumir também a forma de lucros de ocupação (ou de medidas externas),
a posse de um espaço físico (parques vastos, apartamentos amplos etc.) podendo
ser uma maneira de manter a distância toda espécie de intrusão indesejável (es-
138 estudos avançados 27 (79), 2013
sas são as “risonhas perspectivas” do solar inglês que, como observa Raymond
Williams, em O campo e a cidade, transformam o campo e seus camponeses em
paisagem, para o prazer do proprietário;11 ou as “vistas irretocáveis” das publici-
dades imobiliárias). Uma das vantagens que proporciona o poder sobre o espaço
é a possibilidade de colocar a distância (física) coisas ou pessoas que incomodam
e colocam em descrédito os agentes, notadamente ao impor a colisão, vivida
como promiscuidade, de maneiras de ser e de fazer socialmente incompatíveis;
ou mesmo ao invadir o espaço percebido, visual ou auditivo, com espetáculos ou
ruídos que, por serem socialmente marcados e negativamente conotados, estão
fadados a ser percebidos como intrusões ou mesmo agressões.
Um habitat, como lugar físico socialmente qualificado, oferece oportuni-
dades médias de apropriação dos diversos bens e serviços materiais ou culturais
disponíveis em um dado momento. Tais oportunidades se especificam para os
diferentes ocupantes desse habitat segundo as capacidades de apropriação (ma-
teriais – dinheiro, meios de transporte privados etc. – e culturais) de cada agente
(uma doméstica espanhola do XVIe arrondissement de Paris12 não tem as mesmas
oportunidades de se apropriar dos bens e serviços ali ofertados que tem a sua
patroa). Pode-se ocupar fisicamente um habitat sem habitá-lo, propriamente
falando, se não se dispõe dos meios tacitamente exigidos, a começar por um
determinado habitus. Este é o caso dessas famílias argelinas que, ao passar de
um bairro miserável13 para uma cité HLM,14 sentiam-se inesperadamente “su-
peradas” por sua nova habitação, tão longamente aguardada, por não poderem
cumprir as exigências que essa implicitamente comportava: os meios financeiros
indispensáveis para cobrir os novos custos infligidos (em termos de consumo, de
gás e de eletricidade, mas também de transporte, de instalação etc.); e também
todo o estilo de vida, feminino, notadamente, que se encontrava indiretamente
inscrito em um espaço aparentemente universal, desde a necessidade e a arte de
fabricar cortinas até a aptidão de viver livremente em um meio social de desco-
nhecidos.
Em suma, se o habitat contribui para fazer o habitus, o habitus contribui
também para fazer o habitat, através dos usos sociais, mais ou menos adequados,
que ele inclina os agentes a fazer desse mesmo habitat. É-se assim levado a duvi-
dar da crença de que a aproximação espacial ou, mais exatamente, a coabitação
de agentes muito distanciados no espaço social pode, em si, ter um efeito de re-
aproximação social ou, preferindo-se, de dessegregação: com efeito, nada é mais
distante e intolerável do que pessoas socialmente distantes que se encontram
próximas no espaço físico. E também é preciso questionar a ignorância (passiva
ou ativa) das estruturas sociais do espaço habitado e das estruturas mentais de
seus habitantes presumidos, que leva tantos arquitetos a fazer como se estives-
sem em condições de impor o uso social de construções e equipamentos nos
quais projetam suas estruturas mentais; isto é, as estruturas sociais das quais essas
estruturas são o produto.
estudos avançados 27 (79), 2013 139
Pode-se considerar a experiência limite das famílias que são e se sentem
deslocadas no espaço que lhes é concedido, como paradigma da experiência à
qual se é exposto todas as vezes em que se entra em um espaço sem preencher
todas as condições que ele exige tacitamente de seus ocupantes. Isso pode ser
a posse de um certo capital cultural, direito de entrada verdadeiro que pode
interditar a apropriação real dos bens ditos públicos ou a intenção mesma de
apropriar-se deles. Pensa-se aqui evidentemente nos museus, mas isso vale tam-
bém para serviços mantidos espontaneamente, por mais universalmente neces-
sários que sejam, como os das instituições médicas ou jurídicas, ou mesmo os
serviços oferecidos pelas instituições destinadas a favorecer o acesso àquelas,
como a seguridade social ou as diferentes formas de assistência gratuita. Tem-
-se a Paris de seu capital econômico, mas também de seu capital cultural e de
seu capital social: não basta entrar no Beaubourg15 para se apropriar do museu
de arte moderna; e nem é mesmo certeza de que seja preciso e baste entrar nas
salas consagradas à arte moderna (o que nem todos evidentemente fazem) para
descobrir que não é suficiente entrar aí para delas se apropriar...
Além do capital econômico e do capital cultural, alguns espaços, e particu-
larmente os mais fechados, os mais “seletos”, também requerem capital social.
Tais espaços só podem proporcionar capital social, e ainda capital simbólico – e
isso pelo efeito de clube, que resulta do ajuntamento durável, no interior do
mesmo espaço (aquele dos bairros chiques ou das residências de luxo), de pessoas
e coisas que se assemelham naquilo em que são diferentes da grande maioria, no
fato de que têm em comum o fato de não serem comuns –, na medida em que
excluem juridicamente (por uma forma mais ou menos afixada de numerus clau-
sus) ou de fato (estando o intruso condenado a uma espécie de exclusão interior
própria a privá-lo de alguns dos lucros de pertencimento) todos aqueles que
não apresentam todas as propriedades desejadas, ou que apresentam (ao menos)
uma das propriedades indesejáveis.
O efeito de gueto é o inverso exato do efeito de clube: enquanto o bairro
chique, funcionando como um clube fundado na exclusão ativa das pessoas in-
desejáveis, consagra simbolicamente cada um de seus habitantes permitindo-lhe
participar do capital acumulado pelo conjunto dos residentes, o gueto degrada
simbolicamente seus habitantes, ajuntando em uma espécie de reserva um con-
junto de agentes que, estando privados de todos os trunfos necessários para par-
ticipar dos diferentes jogos sociais, só partilham de sua comum excomunicação.
Além do efeito de estigmatização, o ajuntamento, em um mesmo lugar, de uma
população homogênea na despossessão tem também por efeito redobrar a des-
possessão, notadamente em termos de cultura e de prática cultural (assim como,
inversamente, ele reforça a prática cultural dos mais abastados).
Dentre todas as propriedades que a ocupação legítima de um lugar pres-
supõe, há aquelas – e não são as menos determinantes – que só se adquire pela
ocupação prolongada desse lugar e a frequentação contínua de seus ocupantes
140 estudos avançados 27 (79), 2013
legítimos: este é o caso, evidentemente, do capital social de relações (e muito
particularmente, dessas relações privilegiadas que são as amizades de infância ou
de adolescência), ou de todos os aspectos mais sutis do capital cultural e linguís-
tico, como as maneiras corporais e os sotaques etc. É o conjunto dos traços que
conferem todo o seu peso ao lugar de nascimento (e, em menor grau, ao lugar
de residência).
Para mostrar como o poder e, em particular, o poder sobre o espaço con-
ferido pela posse do capital sob suas diversas espécies, se retraduz no espaço físi-
co apropriado sob a forma de uma distribuição espacial das posses ou das opor-
tunidades de acesso aos bens e serviços raros, privados ou públicos, comecei a
reunir há alguns anos, juntamente com Monique de Saint Martin,16 o conjunto
dos dados estatísticos disponíveis, na escala de cada um dos departamentos fran-
ceses,17 tanto sobre os índices de capital econômico, cultural ou mesmo social,
como sobre os bens e serviços oferecidos nessa escala. O objetivo do empreendi-
mento era tentar apreender tudo o que – naquilo que se imputa frequentemente
a efeitos de espaço físico ou geográfico, por uma submissão inconsciente ao
efeito de naturalização, que opera a transformação do espaço social em espaço
físico apropriado – pode e deve ser imputado, na realidade, ao efeito da estrutu-
ra da distribuição espacial dos recursos e dos bens, privados ou públicos, a qual
não é, ela mesma, senão a cristalização, em um momento dado do tempo, de
toda a história da unidade na base local considerada (região, departamento etc.),
de sua posição no espaço nacional etc. Ainda que não se tenha podido finalizar
o empreendimento por falta de tempo, ele ao menos permitiu concluir que o
essencial das diferenças regionais que se imputam frequentemente ao efeito de
determinismos geográficos (na lógica, por exemplo, da oposição entre “o Nor-
te e o Sul” da França), deve a sua permanência na história ao efeito de reforço
circular exercido continuamente ao longo da mesma história: pelo fato de as
aspirações, notadamente em termos de habitat e, mais geralmente, de cultura,
serem em grande parte o produto da estrutura da distribuição de bens e serviços
no espaço físico apropriado, elas tendem a variar, assim como a capacidade de
satisfazê-las, de modo que o efeito da distribuição desigual das aspirações acaba
por redobrar, a cada momento, o efeito da distribuição desigual dos meios e das
oportunidades de satisfazê-las.
Tendo identificado e medido o conjunto dos fenômenos que, embora
aparentemente ligados ao espaço físico, refletem de fato diferenças econômicas
e sociais, restaria tentar isolar o resíduo irredutível que deveria ser imputado
exclusivamente ao efeito da proximidade e da distância no espaço puramente
físico. Penso, por exemplo, no efeito de blindagem18 que resulta da localização
em um ponto do espaço físico, e do privilégio antropológico que pertence ao
presente diretamente percebido; e, ao mesmo tempo, penso no espaço visível
e sensível dos objetos e dos agentes copresentes, dos vizinhos e da vizinhança:
pode-se observar, assim, que hostilidades relativas à proximidade no espaço fí-
estudos avançados 27 (79), 2013 141
sico (conflitos de vizinhança, por exemplo) podem ocultar solidariedades asso-
ciadas à posição ocupada no espaço social nacional ou internacional; ou, ainda,
que representações impostas pelo ponto de vista associado à posição ocupada
no espaço social local (a aldeia, por exemplo) podem interditar a apreensão da
posição efetivamente ocupada no espaço social nacional.
Notas
1 Comunicação apresentada no Colóquio “Poverty, Immigration and Urban Margi-
nality in Advanced Societies”, realizado na Maison Suger, da Maison des Sciences de
l’Homme em 10-11 de maio de 1991, e complementada por anotações manuscritas
do próprio Bourdieu e visíveis no original. A autoria das anotações foi atestada à
Organizadora do dossiê “O espaço na vida social” por Marie-Christine Rivière, que
foi assistente de Bourdieu e é atualmente responsável por seus arquivos, via e-mail
de 10.4.2013. A Organizadora agradece a Dominique Vidal, Sergio Miceli e Bernd
Schwibs o apoio em relação ao projeto desta publicação; e à Sra. Rivière, a presteza
tanto em colaborar com o projeto e por autorizar a tradução e publicação deste texto
em Estudos Avançados. E é grata em especial a Rainer Domschke por cruciais sugestões
de revisão linguística. (N.O.)
2 No original, “place”, termo bastante polissêmico, passível de ser também traduzido
por “posição”. Aqui, “place” constará como “local”, no intuito de respeitar a distinção
explícita que Bourdieu faz, no texto, entre “place” e “position”. (N.R.)
3 No original, “encombrement”. (N.R.)
4 Elucidativa a esse respeito é em particular a troca de correspondência entre o filósofo
alemão Gottfied Wilhelm Leibniz (1646-1716) e o teólogo inglês newtoniano Samuel
Clarke (1675-1729) em Samuel Clarke, A collection of papers which passed between the
late learned Mr. Leibniz and Dr. Clarke in the years 1715/1716 relating to the prin-
ciples of natural philosophy and religion, de 1717, publicada mais recentemente em
alemão por Volkmar Schüller em Der Leibniz-Clarke Briefwechsel (Berlin: Akademie),
de 1991. (N.R.)
5 No original francês, “sans feu ni lieu”. (N. R.)
6 Cf. a esse respeito em português Pierre Bourdieu, “A casa kabyle ou o mundo às aves-
sas [1969]”, trad. Claude Papavero, Cadernos de Campo, n.8, p.147-59, 1999. (N.R.)
7 No original, “foyer”. (N.R.)
8 No original, “foyer des valeurs culturelles”, levando-se em conta que em francês “foyer”
tem também a acepção figurada de “foco”, isto é, “ponto de convergência”, “centro”,
remetendo a etimologia latina do termo “foco” a “lume”, “fogão”, “fogo”. Cf. de
Maurice Halbwachs, La classe ouvrière et les niveaux de vie, de 1913. (N.R.)
9 Cf. a respeito de Percy Ernst Schramm Die Geschichte des englischen Köngitums m Li-
chte der Krönung (Weimar: Böhlau), de 1937. (N.R.)
10 Cf. a respeito Pierre Bourdieu, A Distinção, trad. Daniela Kern e Guilherme J. F.
Teixeira; rev. técn. Alexandre Dias Ramos, Daniela Kern e Ocadi Luiz Coradini. São
Paulo: Zouk; Edusp, 2007. (N.R.)
142 estudos avançados 27 (79), 2013
11 No original, respectivamente “riantes perspectives” e “Town and Country”, termos que
diferem daqueles usados no livro referido por Bourdieu, na verdade The Country and
The City, de Raymond Williams (London; Reading; Fakenham: Paladin, 1973). Nessa
obra, o escritor galês alude, no sentido evocado por Bourdieu, a “pleasing prospects”,
que foi vertido para o português como “vistas agradáveis”. Cf. a respeito Raymond
Williams, O campo e a cidade. Trad. Paulo Henriques Brito. São Paulo: Companhia
das Letras, 2011, p.167ss. (N.R.)
12 Circunscrição administrativa que divide a capital francesa em subprefeituras. (N. T.)
13 No original, “bidonville”. (N.R.)
14 Trata-se de um conjunto de habitações de aluguel moderado, designado pela sigla
HLM, que corresponde a Habitations à Loyer Modéré. (N.T.)
15 É a denominação dada pelos parisienses ao Centre Georges Pompidou, museu de arte
moderna e contemporânea de Paris. (N.T.)
16 Socióloga e atualmente diretora honorária de estudos da École des Hautes Études en
Sciences Sociales, Monique de Saint Martin era, à época de redação deste texto, codi-
retora do Centre de Sociologie de l’Éducation et de la Culture (entre 1985 e 1995),
fundado por Bourdieu em 1968 (Disponível em: <http://iris.ehess.fr/document.
php?id=740>; acesso em: 11 ago. 2013. (N.R.)
17 No original, “départements français”, divisões administrativas que constituem o se-
gundo nível de divisão territorial da França depois das “regiões administrativas”, que
agrupam os “departamentos”. (N.R.)
18 No original, “effet d’écran”, expressão que comporta, como uma das possibilidades
de tradução, “tela de projeção” (de televisão, de cinema etc.), tela de “proteção”,
de “blindagem”, como a dos diafragmas das câmeras fotográficas. Considerando a
imagem de acepção perspectivística construída por Bourdieu, que, aliás, reaparece na
tradução alemã do texto, optou-se por “blindagem”. (N.T.R.)
resumo – Concebido para um colóquio na Maison Suger e publicado apenas em ale-
mão, antes de sair, agora, em português, este paper, pleno de revisões à mão por Pierre
Bourdieu, lhe serviu de base para a elaboração do capítulo “Effets de lieu [Efeitos de
lugar]” publicado em La misère du monde em 1991 (em português em 1997). No texto,
o autor explicita de maneira até então inédita a sua concepção dos vínculos que o espaço
social, trabalhado por ele em toda a sua obra, nutriria com o espaço físico: o primeiro se
“retraduz” no segundo sob a forma de um determinado arranjo distributivo de agentes
e propriedades, o que tem consequências para a compreensão da gênese da estrutura
do “espaço físico apropriado”, também por ele denominado “espaço social reificado”.
palavras-chave: Espaço físico, Espaço social, Espaço físico apropriado (espaço social
reificado), Lugar (efeito de), Alocação.
abstract – Conceived for a conference at the Maison Suger, and plain of Pierre
Bourdieu’s own hand-written review notes, this paper has only by now been published
in German and in Portuguese. It became the basis of the chapter “Effets de lieu [Effects
of place]”, which was published in La misère du monde in 1991 (and in Portuguese in
1997). In this text the author explains in a previously inedited way his conception on
estudos avançados 27 (79), 2013 143
the links between social space – a constant issue in his work – and the physical space:
the former “retranslates” itself in the latter in the form of a specific distributive arrange-
ment of agents and properties. This concept has consequences for comprehending the
genesis of the structure of the so-called “appropriated physical space”, which he also
calls “reified social space”.
keywords: Physical space, Social space, Appropriated physical space (reified social spa-
ce), Place (effects of), Emplacement.
Pierre Bourdieu (1930-2002), sociólogo francês, foi professor da École Pratique des
Hautes Études entre 1964 e 1984, tornando-se, a partir de 1982, titular da Cátedra
de Sociologia do Collège de France.
Tradução de Ana Cristina Arantes Nasser. Revisão técnica de Fraya Frehse. O original
em francês – Espace physique, espace social et espace physique approprié – encontra-se à
disposição do leitor no IEA-USP para eventual consulta.
Recebido em 23.9.2013 e aceito em 5.10.2013.
144 estudos avançados 27 (79), 2013
Você também pode gostar
- SANTOS, Milton - Espaço e MetodoDocumento65 páginasSANTOS, Milton - Espaço e MetodoMarcio Bezerra Silva100% (7)
- Efeitos de Lugar - Pierre BourdieuDocumento5 páginasEfeitos de Lugar - Pierre BourdieuMárcia Farsura de OliveiraAinda não há avaliações
- Espaços fechados e cidades - Insegurança urbana e fragmentação socioespacialNo EverandEspaços fechados e cidades - Insegurança urbana e fragmentação socioespacialAinda não há avaliações
- FICHAMENTO. Espaço Social e Poder Simbólico. BOURDIEU, PDocumento4 páginasFICHAMENTO. Espaço Social e Poder Simbólico. BOURDIEU, PcadumachadoAinda não há avaliações
- Ruy Moreira - A GEOGRAFIA SERVE PARA DESVENDAR MÁSCARAS SOCIAISDocumento25 páginasRuy Moreira - A GEOGRAFIA SERVE PARA DESVENDAR MÁSCARAS SOCIAISRegina de Held100% (1)
- HAESBAERT, Rogerio - Cap 2 - Definindo Territorio para Entender A Desterritorialização PDFDocumento39 páginasHAESBAERT, Rogerio - Cap 2 - Definindo Territorio para Entender A Desterritorialização PDFAssenav Sednocram80% (10)
- O Conceito de LugarDocumento12 páginasO Conceito de LugarSioneide BrandãoAinda não há avaliações
- LOPES, MARCELO. Praticas EspaciaisDocumento3 páginasLOPES, MARCELO. Praticas EspaciaisPat FreireAinda não há avaliações
- 2007 - Diferenciação SocioespacialDocumento16 páginas2007 - Diferenciação SocioespacialDavid Melo van den BruleAinda não há avaliações
- CORREA A Espacialidade Como Olhar Do Geografo PDFDocumento6 páginasCORREA A Espacialidade Como Olhar Do Geografo PDFLeandro Feliciano0% (1)
- Espaço. Território e Territorialidade - Aspectos Conceituais FundamentaisDocumento19 páginasEspaço. Território e Territorialidade - Aspectos Conceituais FundamentaisMaike SáAinda não há avaliações
- IV Jornada Internacional de Políticas PúblicasDocumento8 páginasIV Jornada Internacional de Políticas Públicasvicentebernardo0077Ainda não há avaliações
- 4311-Texto Do Artigo-11334-1-10-20201224Documento14 páginas4311-Texto Do Artigo-11334-1-10-20201224Maria SilvaAinda não há avaliações
- Território, Territorialidade e Seus Múltiplos Enfoques Na Ciência Geográfica - Denison Da Silva FerreiraDocumento8 páginasTerritório, Territorialidade e Seus Múltiplos Enfoques Na Ciência Geográfica - Denison Da Silva FerreiraPablo Cavalcante CostaAinda não há avaliações
- SANTOS, Milton - Espaço e MetodoDocumento73 páginasSANTOS, Milton - Espaço e MetodoEduardo Sales de LimaAinda não há avaliações
- Revisão Sobre o Conceito de Segregação UrbanaDocumento19 páginasRevisão Sobre o Conceito de Segregação UrbanaEduardo RodriguesAinda não há avaliações
- A Territorialidade SeringueiraDocumento22 páginasA Territorialidade SeringueiraNatalia Ribas GuerreroAinda não há avaliações
- Yves Lacoste Resenha Do Capitulo 4Documento4 páginasYves Lacoste Resenha Do Capitulo 4dawsonricardo56Ainda não há avaliações
- CW Porto Goncalvez - Geografando Nos Varadouros Do MundoDocumento22 páginasCW Porto Goncalvez - Geografando Nos Varadouros Do MundoEmmanuel Quiroga RendónAinda não há avaliações
- Fichamento - Dos Múltiplos Territórios Á MultiterritorialidadeDocumento6 páginasFichamento - Dos Múltiplos Territórios Á MultiterritorialidadeRenanCGAzevedoAinda não há avaliações
- O Poder Simbólico Cap. 6 PDFDocumento30 páginasO Poder Simbólico Cap. 6 PDFBárbara Gabriela S. OliveiraAinda não há avaliações
- Territorialidade: Emília Pietrafesa de GodoiDocumento10 páginasTerritorialidade: Emília Pietrafesa de GodoiLedes De LargeAinda não há avaliações
- Os Conceitos Fundamentais Da Pesquisa Sócio-Espacial - Marcelo Lopes de SouzaDocumento5 páginasOs Conceitos Fundamentais Da Pesquisa Sócio-Espacial - Marcelo Lopes de SouzaLázaro Dias AlvesAinda não há avaliações
- Texto 1Documento19 páginasTexto 1Luiz Felipe Nepomuceno da SilvaAinda não há avaliações
- Roberto Lobato CorreaDocumento2 páginasRoberto Lobato CorreaVinicius BaltAinda não há avaliações
- Desterritorialização e Multiteritorialidade - HAESBAERTDocumento87 páginasDesterritorialização e Multiteritorialidade - HAESBAERTTwyne Soares RamosAinda não há avaliações
- Discussões Sobre o Espaço: Passado e Presente para A GeografiaDocumento2 páginasDiscussões Sobre o Espaço: Passado e Presente para A GeografiaEscola Estadual Padre FirmoAinda não há avaliações
- HEIDRICH - Territórios de Ocupação e Busca Da Cidade - V Seminário ANPURDocumento17 páginasHEIDRICH - Territórios de Ocupação e Busca Da Cidade - V Seminário ANPURÁlvaroLuizHeidrichAinda não há avaliações
- Texto 2 - Organização Espacial - LOBATO - ReofertaDocumento19 páginasTexto 2 - Organização Espacial - LOBATO - ReofertaMarcio Guilherme GonzagaAinda não há avaliações
- Paisagens, Lugares e EspaçosDocumento4 páginasPaisagens, Lugares e EspaçosLuciana CarobaAinda não há avaliações
- O Espaço Como Palavra-ChaveDocumento32 páginasO Espaço Como Palavra-ChaveCarlosFrankiwAinda não há avaliações
- Nao Lugares - Auge ResumoDocumento7 páginasNao Lugares - Auge ResumoAngélica RodriguesAinda não há avaliações
- Seminário Geografia RegionalDocumento15 páginasSeminário Geografia RegionalAndreza SouzaAinda não há avaliações
- Conceito Arquitetonico de Espaço e Lugar - Vitruvius - Arquitextos 087Documento11 páginasConceito Arquitetonico de Espaço e Lugar - Vitruvius - Arquitextos 087unespgAinda não há avaliações
- Resenha 4 - Geografia CulturalDocumento7 páginasResenha 4 - Geografia Culturalyasmin varelaAinda não há avaliações
- Georg Simmel - A Sociologia Do EspaçoDocumento38 páginasGeorg Simmel - A Sociologia Do EspaçoEttore Dias MedinaAinda não há avaliações
- Resumo para Debate Com AllistonDocumento4 páginasResumo para Debate Com AllistonFABIANA BARTIRA DE SOUZA BRITOAinda não há avaliações
- Denise MaldiDocumento39 páginasDenise MaldiValquiria SoaresAinda não há avaliações
- O Conceito de LugarDocumento8 páginasO Conceito de LugarMohammadHalAlAiAinda não há avaliações
- BESSA, Kelly. Diferenciação EspacialDocumento14 páginasBESSA, Kelly. Diferenciação EspacialCláudio SmalleyAinda não há avaliações
- Material Educativo - Um Salto No Espaço PDFDocumento20 páginasMaterial Educativo - Um Salto No Espaço PDFcarolinebonilhaAinda não há avaliações
- BARBOSA, Elisabete. O Conceito de Multiterritorialidade e o Processo de Criação PDFDocumento7 páginasBARBOSA, Elisabete. O Conceito de Multiterritorialidade e o Processo de Criação PDFElisabete BarbosaAinda não há avaliações
- ABC de BourdieuDocumento3 páginasABC de BourdieuPlábio Marcos Martins DesidérioAinda não há avaliações
- Arquitextos 087.10 - O Conceito de Lugar (1) - VitruviusDocumento21 páginasArquitextos 087.10 - O Conceito de Lugar (1) - VitruviusCristiane AraujoAinda não há avaliações
- Resenha Lefebvre - Espaço e PolíticaDocumento17 páginasResenha Lefebvre - Espaço e Políticatatiana.lopesAinda não há avaliações
- Identidade Cultura e Interesses. A Territorialidade Dos Jenipapo Kanindé Do CE. SARAIVA KléberDocumento111 páginasIdentidade Cultura e Interesses. A Territorialidade Dos Jenipapo Kanindé Do CE. SARAIVA KléberCarolinne MeloAinda não há avaliações
- Lugar, Espaço de VivênciaDocumento8 páginasLugar, Espaço de VivênciaconceicaobelfortAinda não há avaliações
- O Sentido de Lugar Livia de OliveiraDocumento9 páginasO Sentido de Lugar Livia de OliveiraRoberta PereiraAinda não há avaliações
- Slide Importante Sobre o Pensamento de Milton SantosDocumento30 páginasSlide Importante Sobre o Pensamento de Milton SantosEverton MeloAinda não há avaliações
- O Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBDocumento27 páginasO Espaço Como Palavra Chave 18625-60953-2-PBSérgio Pereira de Souza Jr.Ainda não há avaliações
- Heterotopias, Dos Espaços OutrosDocumento7 páginasHeterotopias, Dos Espaços OutrosNoéliRammeAinda não há avaliações
- "Espacializando" A Sociologia Da Educação: Pontos de Vista, Pontos de Acesso e Pontos de ObservaçãoDocumento13 páginas"Espacializando" A Sociologia Da Educação: Pontos de Vista, Pontos de Acesso e Pontos de ObservaçãoSérgio LimaAinda não há avaliações
- Capítulo 2 - Rascunho de TextosDocumento8 páginasCapítulo 2 - Rascunho de Textosletícia vieiraAinda não há avaliações
- Resumao de GeografiaDocumento10 páginasResumao de GeografiaLucas FerreiraAinda não há avaliações
- BOURDIEU, Espaço Social e Poder Simbólico PDFDocumento11 páginasBOURDIEU, Espaço Social e Poder Simbólico PDFDaniel GalvãoAinda não há avaliações
- Figuras de Espaço: ensaios de geografia, pesquisa e educaçãoNo EverandFiguras de Espaço: ensaios de geografia, pesquisa e educaçãoAinda não há avaliações
- Paisagem e território de resistência: as frentes de expansão econômica e a cultura XavanteNo EverandPaisagem e território de resistência: as frentes de expansão econômica e a cultura XavanteAinda não há avaliações
- História, Região & GlobalizaçãoNo EverandHistória, Região & GlobalizaçãoNota: 4 de 5 estrelas4/5 (2)
- Michel Foucault: Transversais entre educação, filosofia e históriaNo EverandMichel Foucault: Transversais entre educação, filosofia e históriaAinda não há avaliações
- Análise Conto - A Galinha TeolitIIDocumento2 páginasAnálise Conto - A Galinha TeolitIIHellen RiosAinda não há avaliações
- Slides PHC - para Ler VigotskiDocumento7 páginasSlides PHC - para Ler VigotskiCarol ToffanelliAinda não há avaliações
- Resenha - Livro Bethania AssyDocumento8 páginasResenha - Livro Bethania Assyglautonvarela6090Ainda não há avaliações
- A Religião Na Pré-HistóriaDocumento38 páginasA Religião Na Pré-Históriajose mangoniAinda não há avaliações
- Metodologia de Trabalho Com Crianças e AdolescentesDocumento9 páginasMetodologia de Trabalho Com Crianças e AdolescentesRayane Lula AndradeAinda não há avaliações
- Metodologia CientificaDocumento108 páginasMetodologia CientificaMarcio PereiraAinda não há avaliações
- A Educação Na Republica PlataoDocumento295 páginasA Educação Na Republica PlataoRoberto Marques CastelhanoAinda não há avaliações
- A Territorialização Da Violência UrbanaDocumento13 páginasA Territorialização Da Violência UrbanaMarcia Siqueira100% (1)
- Dissertação Rafael SaldanhaDocumento200 páginasDissertação Rafael SaldanhaAnna KareninaAinda não há avaliações
- A Concepção de Infância Segundo RousseauDocumento15 páginasA Concepção de Infância Segundo RousseauSandra GonçalvesAinda não há avaliações
- Colecao Povos e Comunidades Tradicionais Ed 01 Vol 03 PDFDocumento356 páginasColecao Povos e Comunidades Tradicionais Ed 01 Vol 03 PDFsilviawerterAinda não há avaliações
- Cartilha Bela Conquista OkDocumento34 páginasCartilha Bela Conquista OkLorenzo JuanAinda não há avaliações
- Iluminismo Rev InglesaDocumento8 páginasIluminismo Rev InglesaPedro SilvaAinda não há avaliações
- Práticas Pedagógicas Na Eja em Economia Solidária e Educação AmbientalDocumento141 páginasPráticas Pedagógicas Na Eja em Economia Solidária e Educação AmbientalROSÉIA MARIA DE SOUSA SANTOSAinda não há avaliações
- 02 - Sociologia Do Trabalho - Introdução ConceitualDocumento18 páginas02 - Sociologia Do Trabalho - Introdução ConceitualBruno HerdyAinda não há avaliações
- Resenha Lingua VidasDocumento2 páginasResenha Lingua VidasDebora AlmeidaAinda não há avaliações
- Dissº de Mestrado Sobre Tristes Trópicos PDFDocumento162 páginasDissº de Mestrado Sobre Tristes Trópicos PDFJoaquim MorgadoAinda não há avaliações
- Ordep - Na Trilha Das CriançasDocumento424 páginasOrdep - Na Trilha Das CriançasKauã VasconcelosAinda não há avaliações
- Bourdieu Novas Reflexoes Sobre A Dominacao Masculina PDFDocumento8 páginasBourdieu Novas Reflexoes Sobre A Dominacao Masculina PDFAndreia Schach FeyAinda não há avaliações
- Aulas de Mudança LinguísticaDocumento27 páginasAulas de Mudança LinguísticafrancieleamaralAinda não há avaliações
- Araruama: Baixadas LitorâneasDocumento186 páginasAraruama: Baixadas LitorâneasThaísRochaAinda não há avaliações
- Campo, Cidade, Rural e UrbanoDocumento20 páginasCampo, Cidade, Rural e UrbanoMonique Varella Emer0% (1)
- Teoria Da Escolha RacionalDocumento32 páginasTeoria Da Escolha RacionalCarlos Carphegiany Lima CardosoAinda não há avaliações
- 22 - 06 - 2018 - Marxismo Cultural - Ideologia de Gênero - Doutrinação Ideológica Política Nas EscolasDocumento62 páginas22 - 06 - 2018 - Marxismo Cultural - Ideologia de Gênero - Doutrinação Ideológica Política Nas EscolasSebastião CarvalhoAinda não há avaliações
- PineauDocumento15 páginasPineauCláudia MachadoAinda não há avaliações
- Estatuto AXISDocumento20 páginasEstatuto AXISMateus Braga de CarvalhoAinda não há avaliações
- Aula Sara .Grupos, Organizações e InstituiçõesDocumento21 páginasAula Sara .Grupos, Organizações e InstituiçõesDra. Maria Sara de Lima Dias100% (10)
- Teoria Social ClássicaDocumento5 páginasTeoria Social ClássicaAnderson SilvaAinda não há avaliações
- Sociologia - 1serie - Slides - Aula 03Documento20 páginasSociologia - 1serie - Slides - Aula 03Sofia Talarico0% (1)
- 6 - PROST, Antoine. Social e CulturalDocumento13 páginas6 - PROST, Antoine. Social e CulturalNina Memoriosa100% (1)