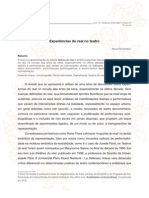Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Rosyane Trotta - Autoralidade Grupo e Encenao
Rosyane Trotta - Autoralidade Grupo e Encenao
Enviado por
Samuel GuerraDireitos autorais
Formatos disponíveis
Compartilhar este documento
Compartilhar ou incorporar documento
Você considera este documento útil?
Este conteúdo é inapropriado?
Denunciar este documentoDireitos autorais:
Formatos disponíveis
Rosyane Trotta - Autoralidade Grupo e Encenao
Rosyane Trotta - Autoralidade Grupo e Encenao
Enviado por
Samuel GuerraDireitos autorais:
Formatos disponíveis
A utoralidade, grupo e encenação
A utoralidade, grupo e encenação
R osyane Trotta
A
prática dos grupos teatrais brasileiros tem no, reúne diversas artes na construção de uma
reivindicado – dos pesquisadores, do po- obra única assinada pelo diretor.
der público, dos patrocinadores – uma Na primeira metade do século XX, pro-
atenção especial ao seu modo de produ- longa-se o debate entre dois territórios autorais,
ção e criação, como também às suas dico- dramaturgia e encenação, colocando em oposi-
tomias e impasses. Apesar da diversidade infini- ção o sentido e a forma. A arte recém inventada,
ta em termos de organização e estética, boa diante dos protestos sobre sua excessiva liberda-
parte destes grupos aponta para um projeto ar- de, ora argumentava que a forma elaborada ha-
tístico composto de três pilares: a criação que via surgido da mais profunda fidelidade ao tex-
conjuga texto e cena na sala de ensaio, a presen- to, ora reclamava o direito de empreender uma
ça do diretor como eixo artístico e organizativo, leitura própria. A delimitação deste novo terri-
a continuidade da equipe. Os três elementos – tório se fazia por meio da interdependência e
grupo, processo e espetáculo – estão historica- da harmonização entre os diversos elementos
mente ligados à origem do teatro como arte au- cênicos que, deste modo, evidenciavam uma
tônoma, encarregada de encontrar seus própri- linguagem específica.
os materiais, sua própria visão de mundo, seu Entre o surgimento da encenação e a
modo específico de formação. transformação que levaria o teatro à autonomia
A possibilidade de trazer transformações reivindicada por Gordon Craig, há um proces-
teatrais em profundidade se vincula, desde o so de meio século. A permanência do elemento
nascimento da encenação, à formação de uma literário como propulsor da encenação alimen-
equipe permanente, entregue a um trabalho re- ta a insurreição artaudiana, na década de 20,
gular. Os diretores propõem técnicas corporais contra o “palco teológico”, governado por um
a serem coletivamente praticadas, de modo a criador ausente da cena. O conceito de autoria,
obter uma disciplina de conjunto e despertar na visão de Artaud, deveria ser associado ao dis-
uma ética necessária à descoberta de uma ex- curso cênico e não à palavra escrita, sendo atri-
pressão própria e à execução coletiva do ato cria- buição do encenador: “para mim ninguém tem
dor. E a própria função do ator encontra novos o direito de se dizer autor, isto é, criador, a não
paradigmas. O espetáculo, em sentido moder- ser aquele a quem cabe o manejamento direto
Rosyane Trotta é pesquisadora e doutoranda do Centro de Letras e Artes da UNI-RIO.
155
R3-A4-Rosyane.PMD 155 23/2/2007, 14:01
s ala p reta
da cena” (Artaud, 1984, p. 149). Em 1946, Jean Se a autoria cênica ganha um novo com-
Vilar, ao mesmo tempo em que defende a su- ponente, a função do diretor permanece pri-
premacia do texto, reconhece que os encenado- mordial, tanto para a referência dos princípios
res vinham sendo, há três décadas, os verdadei- estéticos e ideológicos, quanto para a própria
ros criadores teatrais: concepção da obra (em Akrópolis, por exemplo,
um texto que transcorre na catedral de Varsó-
Considerando que não há poetas, embora haja via, com personagens do imaginário religioso,
tantos autores dramáticos; que a função de transfere-se para um campo de concentração e
dramaturgo não tem sido, nos tempos de hoje, seus prisioneiros condenados à morte).
efetivamente assumida; e que, por outro lado, Esta “outra prática” a que se refere Rou-
os iniciadores, os técnicos, quero dizer, os bine se inicia com grupos como o Living Thea-
diretores, têm ultrapassado, às vezes com fe- tre e o Théâtre du Soleil. O campo autoral do
licidade, as fronteiras que uma moral con- diretor e dos atores avança para além do âmbito
formista do teatro lhes havia fixado, é a estes da interpretação de um texto que, tendo deixa-
últimos que devemos oferecer o papel de dra- do de ser território, deixa de ser também maté-
maturgo, essa tarefa esmagadora; e, uma vez ria-prima da criação, lugar ocupado agora pela
isso admitido, não mais importuná-los nem técnica, pela visão de mundo e pelo exercício
tentar enfraquecer neles o gosto do absoluto cênico que se tornam o vocabulário do proces-
(Vilar, 1963, p. 85). so criativo. A área da sala de ensaio se converte
em tela vazia, espaço em branco onde se farão
A luta contra o textocentrismo ganha um os esboços, as rasuras e a elaboração de uma par-
novo ingrediente no final dos anos 60, com as titura que agrega a um só tempo ação e palavra.
práticas de Jerzy Grotowski. As palavras passam A expressão “escrita cênica”, que surge nos
pelo exercício criativo do ator: podendo ser bal- anos 70, reconhece por fim a arte autoral do
buciadas, omitidas, recortadas, elas são matéria, encenador e o espetáculo como obra autônoma.
instrumento, e não mais território. Já não se tra- No verbete de Pavis, a escrita cênica decorre de
ta de deixar o ator entregue a seus talentos na- uma encenação “assumida por um criador que
turais, nem de reproduzir uma realidade pro- controla o conjunto dos sistemas cênicos, inclu-
posta pelo texto e nem de executar no palco um sive o texto, e organiza suas interações, de modo
desenho criado “em gabinete” pelo encenador. que a representação não é o subproduto do tex-
O ator seria o criador de movimentos e ações; o to, mas o fundamento do sentido teatral”.
corpo, sua gramática. No livro A linguagem da (Pavis, 1999:132)
encenação teatral, Roubine utiliza a expressão Pode-se dizer que a noção de escrita cêni-
“autor coletivo”, para caracterizar a especifici- ca, que sustenta a autonomia da arte teatral,
dade e a transformação que o Teatro Laborató- compreende duas modalidades de estrutura
rio anuncia para a história do teatro moderno: organizativa e de processo de criação do teatro
contemporâneo: de um lado, a estrutura pira-
O ator e a coletividade em que ele se insere midal em cujo topo está o diretor que imprime
participam da elaboração do texto. A partir no espaço e no corpo do ator a escrita de uma
de então, não é mais difícil imaginar uma subjetividade particular; de outro lado, a es-
outra prática, que excluiria a necessidade de trutura circular em que o diretor recolhe o
recorrer a um texto-pretexto, a um texto an- material criado pelos atores e costura a escrita
teriormente construído. De então em diante, de um alfabeto coletivo. O “gosto pelo absolu-
é o conjunto de todos os que representam o to” e a criação coletiva partilham um mesmo
texto que se constitui no seu autor coletivo tempo histórico e, em certos casos, um mesmo
(Roubine, 1982, p. 66-7). espaço cênico:
156
R3-A4-Rosyane.PMD 156 23/2/2007, 14:01
A utoralidade, grupo e encenação
Vale notar que encenadores como Peter Brook (...) para mim, em todo caso, o que interessa
e Ariane Mnouchkine, se dizem grupo e no hoje no teatro é justamente o modo de rela-
entanto são fortemente centralizados. Há as- ção que se institui entre os elementos relati-
sim uma esquizofrenia: por um lado a arte vamente autônomos da representação: o tex-
suprema destas companhias está na encena- to, o espaço, a representação do ator, o tem-
ção, por outro lado coloca-se em questão a po. (...) A essência do teatro não é que o tex-
organização teatral e a relação entre as pesso- to seja representado, mas uma interação de
as (Bruno Tackels, em palestra no Itaú Cul- todos os elementos que o constituem, uma
tural, por acasião do Próximo Ato, São Pau- espécie de prova por que passam os elemen-
lo, novembro de 2006). tos, uns perante os outros. (...) é um combate
entre os diversos elementos que se confron-
Cabe perguntar se esta “esquizofrenia” tam e afrontam e de certa maneira entram
não constitui intrinsecamente o paradoxo do em conflito (Dort, 1984, p. 133).
teatro contemporâneo: valorização do espetácu-
lo como obra assinada por um autor e valoriza- Nos processos criativos em que os ele-
ção da originalidade que emerge de um proces- mentos cênicos, incluindo o texto, permanecem
so coletivo de criação. provisórios, o jogo de construção e desconstru-
ção se opera simultaneamente em todas as áreas,
não havendo um elemento anteriormente aca-
A ausência do coletivo bado nem criações à margem do percurso cole-
tivo. A função-autor pode parecer fragmentada
A configuração da autoria que se ergue sobre ou diluída se tomarmos como parâmetro a lite-
estes dois pilares – coletivo e encenação –varia ratura dramática, comparando um modelo su-
de acordo com cada encenador e cada grupo. postamente pleno (a obra fundada por um dis-
Em um extremo, pode-se colocar o ator que for- curso individual e por isso estilisticamente
nece material bruto, partituras (físicas, verbais, fechado) a um modelo em que a unidade se per-
narrativas) a serem selecionadas e editadas pelo de. No entanto, do ponto de vista da obra-es-
encenador; em outro extremo, o ator participa petáculo, não há diluição e sim pluralidade, e a
do projeto em toda a sua extensão, da concep- idéia de compartilhamento parece mais apro-
ção à composição da obra. Quanto maior a priada por comportar dois movimentos: aquele
flexibilização das funções, maiores os conflitos de compartilhar (distribuir) e aquele de com-
de que se constitui o processo. Esta obra coleti- partilhar de (participar de). Aqui o foco não está
vamente criada tende a ser menos unitária e na obra, mas no processo. A autoria deixa de
menos contínua do que os espetáculos em que ser um atributo do sujeito, tornando-se uma
as individualidades artísticas transitam no ter- ação que mobiliza aqueles que a promovem e se
reno seguro de um texto sobre o qual se dese- consuma no ato recíproco de fazer, que necessi-
nha, antes do início da prática, uma concepção. ta tanto encontrar o consenso dentro do dissen-
Em palestra na Fundação Casa de Ma- so quanto permitir o dissenso dentro do consen-
teus, em Lisboa, 1984, sobre as relações entre o so. Vem daí o seu sentido político – e, podemos
texto e a cena, Bernard Dort analisa que, de- dizer, mais profundamente político do que
pois de sua deposição, nos anos 70, o texto vol- aquele impresso em formulações verbais ou fa-
ta ao teatro e permanece como elemento inte- bulares da obra acabada.
grante de sua linguagem, ocupando diferentes A distinção entre criação coletiva e pro-
posições de acordo com o sistema teatral em que cesso colaborativo, embora já bastante discuti-
se inclui. Ele resume sua visão sobre o teatro da, merece ser reexaminada. Se, aos olhos de al-
contemporâneo nos seguintes termos: guns pesquisadores, o processo colaborativo
157
R3-A4-Rosyane.PMD 157 23/2/2007, 14:01
s ala p reta
parece uma evolução da criação coletiva1, esta Os processos colaborativos, embora este-
análise toma como princípio o modelo da espe- jam associados à pratica de um teatro contínuo,
cialização, da profissionalização e da racionali- geralmente ligada ao trabalho de um grupo ou
zação do processo. Também não parece correto companhia, não se constitui como expressão de
afirmar que ambas as modalidades inserem o uma identidade comum, mas como contrapo-
dramaturgo no processo criativo.2 Os dois mo- sição e justaposição de diversidades individuais
delos abrigam distinções que apontam mais em que o elo comum e o fio condutor é o espe-
para duas concepções distintas de teatro do que táculo. Na criação coletiva, o grupo em geral é
para a persistência de um modo de criação que anterior ao projeto, já está reunido quando tra-
se adapta às condições de seu tempo. ta de se colocar a pergunta “o que faremos”, ao
A criação coletiva, nos grupos brasileiros passo que os espetáculos produzidos em proces-
dos anos 70, aboliu a função do dramaturgo so colaborativo nascem de um projeto pessoal
com o objetivo de fazer do processo de criação do diretor, que reúne a partir de então a equipe
cênica a fonte primordial – e, em muitos casos, de que necessita para empreender a criação.
única – da autoria. Alguns grupos (Asdrúbal Cabe perguntar se a poética do processo cola-
Trouxe o Trombone, Navegando, Pão&Circo, borativo vem conseguindo efetivamente negar
Jaz-o-coração) a utilizaram em determinados o “ator-linha-de-montagem” (Araújo, 2002,
espetáculos, enquanto outros (Pod Minoga, p. 42), e transformá-lo em sujeito, se a função-
Diz-ritmia, Manhas e Manias, Contadores de autor tem tido condições de se formar na práti-
Histórias) fizeram deste processo o elemento ca daqueles que nomeiam colaborativo o pro-
definidor de sua linha de trabalho. A direção cesso que empreendem.
esteve sempre presente nas fichas técnicas, com Um grupo instaura e sofre a contradição
exceção do grupo Pod Minoga, que suprimiu entre os valores que cultiva entre si – e que pre-
também esta função, juntamente com todas as tende afirmar artisticamente – e os valores so-
demais, e assinava unicamente o nome do gru- cialmente aceitos – em relação aos quais ele pre-
po em “criação coletiva”. É curioso notar, no tende se contrapor. Evidentemente os valores
caso do Asdrúbal, o modo como os créditos sociais estão dentro do grupo, ainda que como
mudam ao longo de sua trajetória. Nos pri- via negativa de onde ele tira a motivação que o
meiros espetáculos, que são, mais que releituras, empurra para fora, para fincar sua bandeira fora
triturações de um texto de base, o crédito ao de si. Lá onde se cultivam valores que ele recusa
grupo é feito na função “adaptação”. Na se- é também onde ele imagina encontrar seus pa-
gunda fase, utiliza-se o termo criação coletiva res, o público cúmplice que poderá acompanhá-
creditado, com “direção e texto final” assinados lo, partilhando de suas obras. A tensão entre o
por Hamilton Vaz Pereira. No último espetá- “dentro” e o “fora” do grupo podem ser sua
culo, quando alguns dos integrantes antigos são principal ferramenta no desafio de escapar, pela
substituídos, o diretor assina “concepção, ro- transgressão, de modelos estéticos.
teiro e direção” e já não há crédito autoral para A constituição de um grupo que, com a
o grupo. experiência de diversos processos, tem a opor-
1 Stela Fischer, em sua dissertação, fala sobre “o avanço do coletivo para o colaborativo” (2003, p. 55).
2 Adélia Nicolete escreve que em ambos os procedimentos “o dramaturgo desceu, finalmente, de sua
torre de marfim e foi para a sala de ensaio” (2002, p. 319). No entanto, nas fichas técnicas dos espetácu-
los em que o termo “criação coletiva” aparece, não há a função de dramaturgo.
158
R3-A4-Rosyane.PMD 158 23/2/2007, 14:01
A utoralidade, grupo e encenação
tunidade de amadurecer suas relações pessoais e tido, o coletivo não se instaura pela simples
artísticas e sua intimidade criativa, se apresenta reunião de indivíduos dedicados a um mesmo
como um terreno propício ao exercício da au- projeto, mas depende da construção de uma
toria coletiva. No entanto, o conceito de grupo “cultura de grupo”3 baseada em uma subjetivi-
sofreu substancial transformação nas últimas dade coletiva.
décadas. A palavra, que na década de 70 identi- A criação coletiva, embora tenha emergi-
ficava um coletivo definido por uma ideologia do de um contexto histórico específico, não se
(ou, no mínimo, pela afinidade de gosto) e pela restringe ao passado, sendo praticada ainda hoje
continuidade da maioria dos integrantes, se re- por grupos cujos integrantes se responsabilizam
fere, trinta anos depois, não mais à reunião de não apenas pela cena, mas pelo projeto e sua
determinados artistas, mas ao diretor e à con- continuidade. Nestes grupos – entre os quais
cepção de teatro que ele desenvolve em uma podemos citar a Tribo de Atuadores Oi Nóis
mesma linha de projetos de encenação. Nesta Aqui Traveiz (RS) e o Grupo Pedras (RJ) – os
acepção, grupo é definido como “núcleo artís- atores se ocupam tanto das questões cênicas
tico estável”. Núcleo, que significa ponto cen- quanto extra-cênicas – produção, distribuição,
tral e parte proporcionalmente minoritária do divulgação. Pode-se considerar que a qualidade
todo, difere enormemente da idéia de coletivo. de engajamento e a continuidade necessárias a
A palavra núcleo dimensiona uma estrutura em esta modalidade teatral exigem uma relação es-
que uma minoria concebe, realiza e mantém a treita entre o teatro que se pratica e os valores
continuidade do projeto, enquanto os convi- que orientam a vida pessoal do artista. Talvez
dados, que representam a maioria, entram no por isso sua presença esparsa no cenário mun-
esquema do trabalho avulso. Não é difícil dial. Entrevistas4 com diretores e atores de gru-
deduzir que a esta nova configuração de grupo pos mostram duas variações de resposta para a
corresponde uma também nova configuração origem desta ausência: de um lado, os atores
da autoria. apontam a tendência de centralização do diretor
O centro nervoso do processo de criação em relação a todas as opções que dizem respeito
cênica se localiza nas funções de direção, atua- à obra, informando que a função do diálogo não
ção e dramaturgia, embora outras funções abrigaria de fato uma instância decisória, mas
possam participar do percurso. Podemos consi- apenas uma espécie de ouvidoria; de outro lado,
derar que quanto menor a afinidade e a expe- os diretores apontam a tendência de alienação
riência do coletivo, maior a necessidade de cen- do ator em relação a todas as instâncias que fo-
tralização do processo na figura do diretor. Em gem ao âmbito do personagem e de seu espaço
outras palavras, quanto mais efetivos os elos que na obra. O efeito daquilo que chamamos “au-
ligam os integrantes ao grupo e sua proposta – sência do coletivo” sobre o processo colaborati-
principalmente no que diz respeito a um enten- vo produz uma configuração da autoria muito
dimento comum da concepção que se coloca distinta daquela encontrada na criação coletiva,
em prática e a um vocabulário cênico gerado uma vez que, pela falta de identidade entre os
por experiências anteriores – maior a possibi- participantes, recai sobre o encenador a tarefa
lidade de autonomia destes artistas. Neste sen- de “fabricar” o coletivo autor.
3 Termo empregado por Ferdinando Taviani para definir o trabalho do Odin Theater.
4 A autora vem realizando pesquisa para uma tese de doutorado sobre a autoria coletiva no processo de
criação teatral.
159
R3-A4-Rosyane.PMD 159 23/2/2007, 14:01
s ala p reta
Deste ponto de vista, o processo colabo- mance, mas lidamos com fatos e composições
rativo seria uma modalidade que procura con- da performance e da dança contemporânea.6
jugar ao mesmo tempo individualismo e plura-
lidade, e sua principal utopia estaria expressa no Assim, o processo que parte da noção de
papel preponderante conferido ao diálogo en- performance para a construção da dramaturgia,
tre os sujeitos, na tentativa de exercitar o con- minimiza o problema da falta de identidade co-
senso na ausência de condições propícias para letiva fazendo o trajeto oposto, ou seja, partin-
gerar uma identidade coletiva. Não será por aca- do do indivíduo (“de cada um”) para criar um
so que o processo de criação que conjuga texto ambiente (“de todos”). Este trajeto deixa a con-
e cena, hoje disseminado entre os mais diversos figuração do todo a cargo do trabalho do dire-
grupamentos teatrais (mesmo entre aqueles que tor, sem que haja necessidade de um entendi-
não pretendem ser ou se tornar grupo), se ba- mento coletivo sobre a linguagem, a narrativa,
seie algumas vezes no conceito de performance. a abordagem. Pode-se perguntar se ainda cabe
O performer individualiza a criação, como au- falar de um “ator-autor”, na medida em que ele
tor-ator-encenador que é em si mesmo o espe- é convidado a participar de uma experiência
táculo. O diretor Fábio Ferreira, por exemplo, pré-definida na qual, tendo liberdade para criar
fala sobre o processo do espetáculo Discursos:5 seus próprios textos e cenas, permanece dentro
de um território individual, sem atingir o âm-
Existiu desde o início um desejo meu de traba- bito do espetáculo.
lhar com material de seleção individual e sub- Para sintetizar as características consti-
jetiva, para tornar a cena um lugar de “pro- tutivas das duas modalidades em um quadro
priedade e intimidade” de cada um dos atores comparativo, tomamos por base o processo co-
e de todos. Depois, durante os ensaios exis- laborativo tal como é descrito e definido na dis-
tiu muito espaço para proposições de cena, sertação de Antônio Araújo sobre a Trilogia Bí-
com abertura plena para “estilos” e “soluções” blica e a criação coletiva praticada pelo grupo
particulares. (...) Não chegamos a uma perfor- Oi Nóis Aqui Traveis, de Porto Alegre.
5 Estréia no Sesc Copacabana, Rio de Janeiro, 2005, com direção de Fabio Ferreira. O espetáculo Discur-
sos se estrutura em solos independentes, de que participam eventualmente os demais atores para a com-
posição da cena.
6 Depoimento à autora, Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2005.
160
R3-A4-Rosyane.PMD 160 23/2/2007, 14:01
A utoralidade, grupo e encenação
Criação Coletiva Processo Colaborativo
O texto não existe antes do processo O texto não existe antes do processo
Os atores e o diretor elaboram Os atores participam da construção do espetáculo
em conjunto a concepção, a construção
e a produção do espetáculo
Elimina-se o autor dramático Insere-se o escritor no processo de criação,
como função específica e especializada como função específica e especializada
O ponto de partida para a experimentação O ponto de partida para a experimentação cênica
cênica é a proposta criada pelo grupo e para a criação do texto é o projeto apresentado
pelo encenador
O texto emerge da cena O texto é construído em diálogo com a cena
As escolhas ligadas ao texto cabem As escolhas ligadas ao texto cabem ao escritor
aos atores e ao diretor
Texto e cena são instâncias indissociáveis Cabe ao diretor e ao escritor estabelecer a forma
como se opera o diálogo entre o texto e a cena
O grupo se forma por afinidade entre O grupo se forma por afinidade com o projeto,
os participantes e as funções se estabelecem cada integrante tendo sido convidado pelo diretor
no processo a ocupar determinada função
Campo autoral coletivo, unidade Campo autoral plural, hibridismo
meta-texto, a enfocaria como um processo di-
Encenação e autoralidade nâmico que ocorre no tempo e é efetivamente
produzido pelo ator.” (p.177/178)
Em La Représentation Émancipée, 1988, Bernard A criação em processo coletivo contesta-
Dort identifica o surgimento de uma nova con- ria a própria noção de linguagem, libertando o
cepção de representação que, baseada na auto- teatro da concepção totalitária por meio da qual
nomia dos criadores do espetáculo, “não postu- o encenador estabelecera um outro “palco teo-
la mais uma fusão ou uma união entre as artes” lógico”, em que o conceito antecede a experi-
(Dort, 1988: 181). O teatro contemporâneo ência. O encenador deixa de solicitar ao ator
consistiria na interação – ou mesmo na rivali- que destine suas habilidades a uma concepção
dade, como escreve Dort – entre os sistemas artística elaborada fora de seu corpo, rompen-
significantes que o compõem. Constatando, na do com um sistema teatral inaugurado há um
década de 80, “a renúncia a uma unidade orgâ- século e lentamente implantado ao longo da
nica prescrita a priori” – e à caixa mágica que primeira metade do século XX. A passagem da
contém uma totalidade – Dort defende uma encenação moderna ao que Bernard Dort cha-
crítica a Wagner e a Craig, por “uma nova defi- mou de “representação emancipada” – ou, do
nição de representação teatral que, em lugar de ponto de vista do processo, a passagem da cen-
fazer uma articulação estática de signos ou um tralização para a pluralização da autoria – pode
161
R3-A4-Rosyane.PMD 161 23/2/2007, 14:01
s ala p reta
ser identificada como a abertura das diversas dação das formas e das relações de criação. Ele
áreas do espetáculo à subjetividade de seus res- não pode mais ser comparado ao pintor que as-
pectivos criadores. A partir desta reflexão, po- sina o quadro: ele está diante do espaço vazio e
demos identificar três aspectos da configuração da necessidade de conceber a gênese da autoria,
da autoria na criação teatral: de promover a apropriação dos meios de pro-
dução da subjetividade, individual e coletiva-
1) A dinâmica entre concepção e processo: mente. Sua concepção se refere, antes de tudo,
relação entre a criação que vem do “espaço à função que ele confere a si próprio e aos de-
público” do ensaio e a criação que, ocorren- mais: como configura o coletivo, como coloca
do em um espaço reservado, antecipa-se à em relação os diversos autores, através de que
primeira. De um lado, a concepção que ante- caminhos deflagra a autoralidade.
cede o processo; de outro, a concepção que Se na modernidade admite-se que o su-
emerge do processo. jeito, ao invés de determinar as relações, é jus-
2) A dinâmica entre as funções: de um lado a tamente por elas definido, também a função do
centralização do encenador; de outro, a au- ator se forma na dinâmica do processo. A possi-
tonomia nas funções. bilidade de reconhecer em um grupo a presen-
3) A relação que os elementos cênicos estabe- ça da categoria de “ator-autor” não está ligada à
lecem entre si, caminhando para a pluralida- existência prévia ou não de um texto, à presen-
de ou para a unificação. ça ou não do dramaturgo na sala de ensaio, mas
à concepção do teatro como lugar de uma plu-
A princípio, os três aspectos se agrupa- ralidade autoral, à renúncia ao espetáculo como
riam em duas vertentes: a primeira, reunindo unidade forjada por uma função singular.
anterioridade da concepção em relação ao pro- A noção de espetáculo como unidade cor-
cesso, centralização autoral do encenador e uni- responde a uma configuração piramidal da
dade de linguagem; a segunda comportaria a an- autoralidade. No topo está o autor do espetácu-
terioridade do processo em relação à concepção, lo, função que concentra a concepção da obra e
a autonomia das funções e a pluralidade de sen- centraliza as relações chamando para si cada ele-
tido e forma. A encenação, histórica e estetica- mento e cada criador, que mantém com ele um
mente assimilada, liberta-se de si mesma e pode diálogo privado e exclusivo. A noção de plurali-
ser tomada pelos demais artistas-autores. No dade, ao contrário, postula a autonomia dos dis-
entanto, pluralidade não significa coletivização cursos artísticos, sem que haja predomínio de
– talvez, muito pelo contrário, seja o indicativo um elemento sobre os demais: o encenador, ao
de uma individualização da autoralidade teatral invés de soldar os elementos em uma unidade
– e nem sempre indica uma valorização do pro- de estilo e um sentido comum, promove o afas-
cesso coletivo como fonte de criação. tamento entre eles.
Nas práticas teatrais em que o percurso A autoria coletiva, ao contrário, se confi-
que conduz ao espetáculo já não consiste na re- gura por meio do constante e quase exaustivo
alização de um texto e uma linguagem previa- diálogo coletivo que, se não forma necessaria-
mente definidos, em que a sala de ensaio se tor- mente um sentido unificador, promove a mú-
na o lugar onde se engendra o projeto, o fazer tua interferência e mútua contaminação entre
teatral resulta do diálogo da equipe consigo os autores. O encenador não toma para si a ex-
mesma e a concepção se detém sobre o proces- clusividade de interlocução das demais funções
so. A função do encenador sofre uma transfor- artísticas mas, ao contrário, coloca em circula-
mação paradigmática, uma vez que já não se tra- ção as diversas subjetividades. Nas três concep-
ta da competência de realização de uma idéia, ções, portanto, o diretor desempenha um papel
da fisicalização de uma linguagem, mas da fun- fundamental, embora distinto.
162
R3-A4-Rosyane.PMD 162 23/2/2007, 14:01
A utoralidade, grupo e encenação
A terceira via de configuração da autoria como enigmas e que são seguidas de uma bus-
toma a pluralidade não como objetivo, mas ca incessante de verificações, raciocínios,
como ponto de partida, matéria-prima para o questionamentos, novos materiais, dúvidas e
diálogo e o conflito das diferenças. Neste tipo conclusões, sempre feitas em grupo (Enrique
de processo, a autoralidade avança além dos ter- Diaz, programa do espetáculo Melodrama,
ritórios individuais que produzem fragmentos Centro Cultural Banco do Brasil, Rio de Ja-
criativos a serem inseridos na obra: ela se proje- neiro, 1995).
ta no espaço que se estabelece como território
existencial coletivo. A concepção sai da privaci-
dade para o espaço público da sala. Se ao “eu- A noção de autoralidade nasce em função
autor” plural vem se reunir um “nós-autores”, do processo criativo, quando já não se necessita
pode-se falar então em produção de uma subje- lutar pela autonomia do teatro em relação à li-
tividade, fonte para a coletivização da autoria. teratura, quando o encenador foi liberado de
Neste caso, ao invés da “esquizofrenia” delimitar o seu território em uma autoria indi-
apontada por Bruno Tackels, talvez se possa fa- vidual. As três concepções de autoralidade –
lar em hibridismo, como no exemplo da Cia dos como unidade, como pluralidade e como cole-
Atores (RJ), em que, no campo das decisões ar- tivização – divergem estética e eticamente. Teo-
tísticas, “ora as escolhas são totalmente do dire- ricamente, o teatro de grupo seria a modalida-
tor, ora são coletivas” (Santos, 2004, p. 58). O de organizativa mais propícia ao exercício de um
diretor Enrique Diaz, ao se referir ao modo de modo coletivo de criação, mas apenas se admi-
criação do grupo, considera que os atores são tirmos que o conceito “grupo” tem uma moti-
ghosts directors, uma vez que... vação político-existencial que antecede a obra e
se instaura na fundação do coletivo-autor, pas-
em todos os espetáculos há sempre uma ou sando inevitavelmente pelo modo como o dire-
mais proposições estéticas que são lançadas tor e os atores exercem suas funções.
163
R3-A4-Rosyane.PMD 163 23/2/2007, 14:01
s ala p reta
Referências bibliográficas
ARAÚJO, A. Trilogia bíblica. Dissertação (Mestrado). São Paulo: Universidade de São Paulo, 2002.
ARTAUD, A. O teatro e seu duplo. São Paulo: Max Limonad, 1984.
DERRIDA, J. A escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1995.
DORT, B. La représentation émancipée. Paris: Actes Sud, 1988.
_______. “Palestra realizada em 27 de abril de 1984 na Fundação Casa de Mateus”. In: O texto e o
acto: 32 anos de teatro (1968-2000). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian/Serviço de Belas-
Artes, 1984.
FISCHER, S. R. Processo colaborativo: experiências de companhias teatrais brasileiras nos anos 90.
Dissertação (Mestrado). Campinas: Instituto de Arte da Universidade Estadual de Campinas,
2003.
FOUCAULT, M. O que é um autor. Cascais: Vega-Passagens, 1992.
NICOLETE, A. “Criação coletiva e processo colaborativo: algumas semelhanças e diferenças no
trabalho dramatúrgico”. In: Sala Preta, Revista do departamento de artes cênicas, São Paulo:
Eca/USP, 2002.
PAVIS, P. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 2001.
ROUBINE, J.-J. A Linguagem da Encenação Teatral 1880-1980. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
SANTOS, F. C. dos. Processos criativos da Cia dos Atores. Dissertação (Mestrado). Centro de Letras
e Artes, UNI-RIO, 2004.
VILAR, J. De la tradition théâtrale. Paris: Gallimard, 1963.
164
R3-A4-Rosyane.PMD 164 23/2/2007, 14:01
Você também pode gostar
- SARRAZAC, Jean Pierre. A Oficina de Escrita Dramática PDFDocumento13 páginasSARRAZAC, Jean Pierre. A Oficina de Escrita Dramática PDFAlmandoStorckJúniorAinda não há avaliações
- Sequência Didática 2016.2: Quem É Você? A Identidade Na Construção Do "Eu".Documento9 páginasSequência Didática 2016.2: Quem É Você? A Identidade Na Construção Do "Eu".Josielio Marinho67% (3)
- Estudar Pro ConcursoDocumento8 páginasEstudar Pro ConcursoJúlia Salim FrançaAinda não há avaliações
- Dramaturgia ColetivaDocumento13 páginasDramaturgia ColetivaThaïsVasconcelosAinda não há avaliações
- TROTTA, Rosyane - Autoralidade, Grupo e EncenaçãoDocumento10 páginasTROTTA, Rosyane - Autoralidade, Grupo e EncenaçãoDiogo LiberanoAinda não há avaliações
- Como Se Configura o Caráter Narrativo DaDocumento5 páginasComo Se Configura o Caráter Narrativo DaJosué MenezesAinda não há avaliações
- C. ZurbachDocumento4 páginasC. ZurbachJorge AreiasAinda não há avaliações
- E o Verbo Se Fez Carne Nina CaetanoDocumento11 páginasE o Verbo Se Fez Carne Nina CaetanoLuciana MizutaniAinda não há avaliações
- O Que É Direção TeatralDocumento11 páginasO Que É Direção TeatralRodrigo CorreiaAinda não há avaliações
- FORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorDocumento13 páginasFORJAZ, Cibele. Notas Sobre o EncenadorEnjolras de OliveiraAinda não há avaliações
- MACIEL Diogenes Das - Novas - Escritas - Dramaturgicas - RapsodiaDocumento14 páginasMACIEL Diogenes Das - Novas - Escritas - Dramaturgicas - RapsodiaHUGO MARTINS CASTILHOAinda não há avaliações
- MMM silviaFernandesTeatrContempDocumento14 páginasMMM silviaFernandesTeatrContempMaria FlorAinda não há avaliações
- Laura MoreiraDocumento5 páginasLaura MoreiraOhana AbreuAinda não há avaliações
- Espaço e Corpo No Teatro Italiano Atual - Sara RojoDocumento21 páginasEspaço e Corpo No Teatro Italiano Atual - Sara RojoIpojucan PereiraAinda não há avaliações
- A Representação Emancipada - Bernard DortDocumento9 páginasA Representação Emancipada - Bernard DortAnaLuz08Ainda não há avaliações
- Paulo Caldas - Coreografia e Dramaturgia - Sentido e (M) AtoDocumento15 páginasPaulo Caldas - Coreografia e Dramaturgia - Sentido e (M) AtoPaulo CaldasAinda não há avaliações
- Artaud Explicado É Artaud TraidoDocumento13 páginasArtaud Explicado É Artaud TraidoHugo CastilhoAinda não há avaliações
- 9555-Texto Do Artigo-32952-2-10-20170731Documento14 páginas9555-Texto Do Artigo-32952-2-10-20170731Pietra ReisAinda não há avaliações
- ENCENACAO - P.PavisDocumento9 páginasENCENACAO - P.PavisMatheus MarquesAinda não há avaliações
- Dramaturgia Do PertencimentoDocumento23 páginasDramaturgia Do PertencimentoEdson FlávioAinda não há avaliações
- Possíveis Processos de Escrita ContemporâneaDocumento7 páginasPossíveis Processos de Escrita ContemporâneaVini CairesAinda não há avaliações
- Jacó GuinsburgDocumento5 páginasJacó GuinsburgJoão Paulo AraújoAinda não há avaliações
- Roberto Ives Abreu Schettini - Dramaturgia Da Sala de EnsaioDocumento4 páginasRoberto Ives Abreu Schettini - Dramaturgia Da Sala de EnsaiocabozeroAinda não há avaliações
- Cauê KrügerDocumento13 páginasCauê KrügerLika RosáAinda não há avaliações
- Cenografia Aula 1 - CompressedDocumento69 páginasCenografia Aula 1 - CompressedAdamiAinda não há avaliações
- 06537622832, Railson AlmeidaDocumento12 páginas06537622832, Railson AlmeidaHUGO MARTINS CASTILHOAinda não há avaliações
- 4 PBDocumento12 páginas4 PBDiana MouraAinda não há avaliações
- TORRES, Walter Lima - O Que É Direção TeatralDocumento11 páginasTORRES, Walter Lima - O Que É Direção TeatralJefferson AlmeidaAinda não há avaliações
- Presença Auditiva e Escuta em PresençaDocumento14 páginasPresença Auditiva e Escuta em PresençaVitor CamiloAinda não há avaliações
- ESCRITURADRAMÁTICADocumento2 páginasESCRITURADRAMÁTICAJonatas Tavares da SilvaAinda não há avaliações
- ARAUJO Gesse Poeticas SentidosDocumento10 páginasARAUJO Gesse Poeticas SentidosLuiz OliveiraAinda não há avaliações
- Resenha - Antitratado de Cenografia 38 A 62Documento2 páginasResenha - Antitratado de Cenografia 38 A 62Artur Ferreira SilvaAinda não há avaliações
- Teatro Na EscolaDocumento9 páginasTeatro Na EscolaAline CarvalhoAinda não há avaliações
- Commédia DellarteDocumento9 páginasCommédia DellarteRafaela Maria França GuimarãesAinda não há avaliações
- Capítulo 1Documento65 páginasCapítulo 1Pilar Soares PozesAinda não há avaliações
- Dramaturgia Do CorpoDocumento19 páginasDramaturgia Do CorpoIaci MenezesAinda não há avaliações
- O Texto e A Encenação - Edélcio MostaçoDocumento5 páginasO Texto e A Encenação - Edélcio MostaçoLuciano Flávio de OliveiraAinda não há avaliações
- Critica e Performance Teatral - Sara Rojo PDFDocumento4 páginasCritica e Performance Teatral - Sara Rojo PDFLuiziane SilvaAinda não há avaliações
- 1 PBDocumento12 páginas1 PBGabriel FreitasAinda não há avaliações
- Experiências Do Real No TeatroDocumento11 páginasExperiências Do Real No TeatroErnesto Lula Da Silva ValençaAinda não há avaliações
- DramaturgiaDocumento9 páginasDramaturgiaGivaldo Moisés de OliveiraAinda não há avaliações
- Sobre o Dr. Dapertutto PDFDocumento6 páginasSobre o Dr. Dapertutto PDFWeber CooperAinda não há avaliações
- Anne UbersfeldDocumento3 páginasAnne UbersfeldAna BaiãoAinda não há avaliações
- A Investigação Do Modo Melodrmático de Interpretar Nos Circos-Teatros BrasileirosDocumento5 páginasA Investigação Do Modo Melodrmático de Interpretar Nos Circos-Teatros BrasileirosBruna Aparecida da SilvaAinda não há avaliações
- Caixa Cênicapreta Eé Jogo de SignificaçãoDocumento13 páginasCaixa Cênicapreta Eé Jogo de SignificaçãoErnesto Lula Da Silva ValençaAinda não há avaliações
- Texto e Cena, Cena É Texto: Apontamentos Sobre A Produção Do Enunciado Cênico No Teatro ContemporâneoDocumento18 páginasTexto e Cena, Cena É Texto: Apontamentos Sobre A Produção Do Enunciado Cênico No Teatro ContemporâneoMiguel SegundoAinda não há avaliações
- Ensaio - Hamlet - Artigo PDFDocumento9 páginasEnsaio - Hamlet - Artigo PDFRenato Forin Jr.Ainda não há avaliações
- Escrita de Si Angelica Liddel PDFDocumento10 páginasEscrita de Si Angelica Liddel PDFMarina StuchiAinda não há avaliações
- 2 - Teatralidade e Producoes de Espacialidades PDFDocumento451 páginas2 - Teatralidade e Producoes de Espacialidades PDFLara MatosAinda não há avaliações
- Implicações Da ImprovisaçãoDocumento13 páginasImplicações Da ImprovisaçãoFernando FariaAinda não há avaliações
- Capítulo - Barba - O NOVO TESTAMENTO DO TEATRODocumento2 páginasCapítulo - Barba - O NOVO TESTAMENTO DO TEATROFernando LeãoAinda não há avaliações
- Ajcirillo, ART 05 - Motta 02Documento22 páginasAjcirillo, ART 05 - Motta 02Kelly KettyAinda não há avaliações
- O Que e Direcao Teatral PDFDocumento13 páginasO Que e Direcao Teatral PDFLucas DalbemAinda não há avaliações
- Dramaturgia ExpandidaDocumento17 páginasDramaturgia ExpandidaDani LimaAinda não há avaliações
- O Papel Do Coro No Teatro GregoDocumento4 páginasO Papel Do Coro No Teatro GregoLisa NogmaAinda não há avaliações
- Texto - Estética TeatralDocumento7 páginasTexto - Estética TeatralPéricles MartinsAinda não há avaliações
- Ora, Direi Ouvir As Estrelas - Tania BrandãoDocumento19 páginasOra, Direi Ouvir As Estrelas - Tania BrandãoPietra GomesAinda não há avaliações
- 26 - Ora Direis Ouvir Estrelas Historiografia e Historia Do Teatro Brasileiro - Tania BrandaoDocumento19 páginas26 - Ora Direis Ouvir Estrelas Historiografia e Historia Do Teatro Brasileiro - Tania BrandaoHumberto IssaoAinda não há avaliações
- ENCENAÇÃODocumento3 páginasENCENAÇÃOkellp22Ainda não há avaliações
- PEDAGOGIAS EM TRÂNSITO: ESTUDOS PARA UMA ECOLOGIA DE SABERES EM ARTE EDUCAÇÃONo EverandPEDAGOGIAS EM TRÂNSITO: ESTUDOS PARA UMA ECOLOGIA DE SABERES EM ARTE EDUCAÇÃOAinda não há avaliações
- La magia de lo verosímil: ensayos de la literatura y lingüísticaNo EverandLa magia de lo verosímil: ensayos de la literatura y lingüísticaAinda não há avaliações
- Formação, práticas e técnicas do artista teatralNo EverandFormação, práticas e técnicas do artista teatralAinda não há avaliações
- O Papel Da Violência Simbólica Na Sociedade Por Pierre BourdieuDocumento14 páginasO Papel Da Violência Simbólica Na Sociedade Por Pierre BourdieuLara Ferreira DiasAinda não há avaliações
- Monólogo - A Arte Do Monólogo - Texto de Rogério VianaDocumento18 páginasMonólogo - A Arte Do Monólogo - Texto de Rogério VianarogeriovianaAinda não há avaliações
- A Cigarra e A Formiga PDFDocumento6 páginasA Cigarra e A Formiga PDFSalomé SilvaAinda não há avaliações
- Inovacao em Biblioteconomia Temas Transversais PDFDocumento209 páginasInovacao em Biblioteconomia Temas Transversais PDFLucelia Mara Dos Santos100% (1)
- Imagens Do Pensamento - FoucaultDocumento111 páginasImagens Do Pensamento - Foucaultcarolinebonilha100% (1)
- Alberto Pimenta - EterogemeasDocumento4 páginasAlberto Pimenta - EterogemeasjoaoAinda não há avaliações
- Sugestçao de Metodologia Do Projeto de LeituraDocumento3 páginasSugestçao de Metodologia Do Projeto de LeituraSandra SantosAinda não há avaliações
- A Sequência Básica - Procedimento Didático-Metodológico Proposto Por Rildo CossonDocumento10 páginasA Sequência Básica - Procedimento Didático-Metodológico Proposto Por Rildo CossonEmanuelle AlmeidaAinda não há avaliações
- A Literatura Na Educação Básica e As Novas Tecnologias EducacionaisDocumento16 páginasA Literatura Na Educação Básica e As Novas Tecnologias EducacionaisEvandroAinda não há avaliações
- Leis GrafismoDocumento6 páginasLeis GrafismoMarcelo PalharesAinda não há avaliações
- Não Há Regresso. Do Sentido Evolutivo Do "Primeiro Eça"Documento15 páginasNão Há Regresso. Do Sentido Evolutivo Do "Primeiro Eça"Silvio AlvesAinda não há avaliações
- Triângulo AmorosoDocumento6 páginasTriângulo AmorosoHeloisa Carreiro100% (1)
- Black and White Minimalist Ancient Greece History Education Report PresentationDocumento11 páginasBlack and White Minimalist Ancient Greece History Education Report PresentationjofcfuiuAinda não há avaliações
- Atividade de Literatura Sobre Texto Literárioe Texto Não LiterárioDocumento8 páginasAtividade de Literatura Sobre Texto Literárioe Texto Não LiterárioBruna AssisAinda não há avaliações
- Trabalho Sujeito FiccionalDocumento3 páginasTrabalho Sujeito FiccionalAnace FilhaAinda não há avaliações
- Tese Andre Luis RodriguesDocumento0 páginaTese Andre Luis RodriguesMariana QuadrosAinda não há avaliações
- ENC 1 - TEXTO 6 TRADUÇÃO - Has Management Studies Lost Its Way - En.ptDocumento25 páginasENC 1 - TEXTO 6 TRADUÇÃO - Has Management Studies Lost Its Way - En.ptJéssicaNascimentoAinda não há avaliações
- Portugues Instrumental Aula 01 Volume1Documento16 páginasPortugues Instrumental Aula 01 Volume1Eveline Soledade100% (1)
- O Pessoa de Passo e Fico, Como o Universo, de Joaquim Pinto Da Silva, Por Francisco Miguel ValadaDocumento6 páginasO Pessoa de Passo e Fico, Como o Universo, de Joaquim Pinto Da Silva, Por Francisco Miguel ValadaFrancisco Miguel ValadaAinda não há avaliações
- 10462-Texto Do Artigo-42862-1-10-20201210Documento12 páginas10462-Texto Do Artigo-42862-1-10-20201210Jennifer CandeiasAinda não há avaliações
- Teste Compreensão Do Oral - 1ºperíodo - V2Documento2 páginasTeste Compreensão Do Oral - 1ºperíodo - V2luprof tp0% (1)
- Capas Amazing Spider-Man, The (1963) - Marvel Comics - Guia Dos QuadrinhosJDocumento2 páginasCapas Amazing Spider-Man, The (1963) - Marvel Comics - Guia Dos QuadrinhosJmariodefrnAinda não há avaliações
- Questão - O Que É DesconstruçãoDocumento3 páginasQuestão - O Que É Desconstruçãojaqueline souzaAinda não há avaliações
- Correspondências de Clarice Lispector Da RemetenteDocumento8 páginasCorrespondências de Clarice Lispector Da RemetenteTobias Del CastilloAinda não há avaliações
- Poesia Marginal Lirica e Sociedade em TeDocumento11 páginasPoesia Marginal Lirica e Sociedade em TeWalter ArcelaAinda não há avaliações
- Della Volpe Crítico de LukacsDocumento10 páginasDella Volpe Crítico de LukacsJogador NbaAinda não há avaliações
- P8 PlanificacoesDocumento12 páginasP8 PlanificacoesDianaSaraiva0% (1)